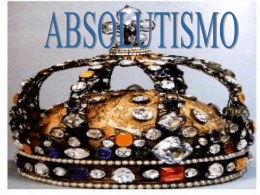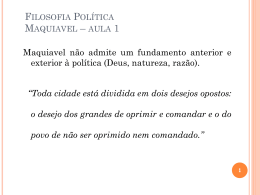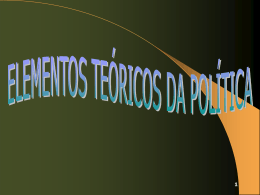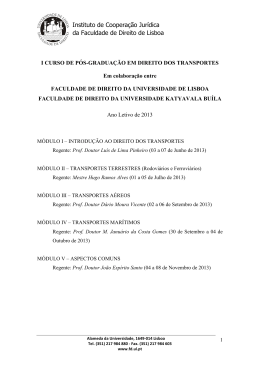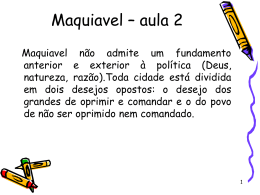2º Centenário das Invasões Francesas A Corte Portuguesa no Brasil (1808 – 1821) – 1ª Parte -A Por Carlos Jaca (Historiador – Braga, Julho – 2008) [Com a colaboração de Jorge Freitas] Diário do Minho, 9 e 16 de Julho de 2008 O presente trabalho, intitulado «A Corte Portuguesa no Brasil», vem na sequência dos já publicados neste mesmo Suplemento de Cultura entre Outubro de 2007 e Janeiro de 2008, («A neutralidade portuguesa no conflito franco – inglês») e integra-se nas comemorações do 2º Centenário das Invasões Francesas a que o «Diário do Minho» se tem vindo a associar através do referido Suplemento. Convém, antes de iniciar a narração referente à presença da Corte portuguesa no Brasil, recordar, e até acrescentar mais alguns pormenores, acerca das razões que levaram D. João VI a tomar a decisão de se retirar, e permanecer, durante alguns anos, na nossa antiga colónia do continente americano, bem como a odisseia da viagem. A ameaça napoleónica. Em Outubro de 1807, as tropas associadas em Baiona, comandadas pelo exembaixador em Lisboa, o general Junot, começaram a dirigir-se para a fronteira portuguesa, onde a vanguarda, os primeiros destacamentos, entraram, pela Beira Baixa, a 18 de Novembro. Dois dias antes aportava ao Tejo uma armada inglesa, comandada por Sir Sidney Smith, transportando uma força de 7.000 homens de desembarque, preparada para escoltar a Família Real para o Brasil, ou bloquear o porto, tentando evitar, deste modo, que os navios mercantes ou de guerra de Portugal fossem tomados pelos franceses. Com efeito, o almirante Smith e o embaixador Strangford decidiram-se pelo bloqueamento, comunicando ao Gabinete lisbonense que os despachos do Foreign Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 1 Office, só admitiam que o bloqueio fosse levantado mediante a pronta entrega da frota portuguesa ou a sua partida para o Brasil transportando a Família Real. Foi nestas circunstâncias que chegou a Lisboa um correio extraordinário remetido pelo nosso embaixador em Londres, Domingos de Sousa Coutinho. O correio era portador de uma notícia bem preocupante. Trazia a cópia de um artigo de fundo publicado, a 11 de Novembro, no «Moniteur», órgão oficioso do governo francês. Referindo-se à situação em que a Inglaterra deixava Portugal, declarava, abertamente, que o Imperador resolvera eliminar a Casa de Bragança: «…O príncipe Regente deste reino perde o seu trono, e perde-o influenciado pelas intrigas dos ingleses; perde-o por não ter querido apreender as mercadorias inglesas que estão em Lisboa. Que faz, portanto, a Inglaterra, esta sua aliada tão poderosa? Ela olha com indiferença para o que se passa em Portugal. Que fará ela, quando for tomado este reino? Ir-se-á assenhorear do Brasil? Não: se os ingleses fizerem esta tentativa, os católicos os expulsarão. A queda da Casa de Bragança ficará portanto sendo uma nova prova de que é inevitável a perda de qualquer que se ligar aos ingleses». Reproduzia, ainda, o Tratado de Fontainebleau e, obviamente, a intenção do Imperador de proceder ao desmembramento do território nacional «em função das conveniências da sua política europeia». Pelo menos, desde 21 de Novembro que se sabia em Lisboa qual a posição e progressão acerca do exército de Junot que, por essa altura, estava em marcha entre Vila Velha de Ródão e Com Junot já em Abrantes, Araújo de Azevedo (Ministro dos Estrangeiros) sugere ao Príncipe Regente que convoque sem demora o Conselho de Estado (que viria a reunir-se da 24 de Novembro, no Palácio da Ajuda. Abrantes. Precisamente naquele mesmo dia, perante o perigo que se avizinhava, Araújo de Azevedo, Ministro dos Estrangeiros e Guerra, dirige uma carta a D. João a sugerir que convocasse, sem demora, o Conselho de Estado. Desde logo, o Príncipe Regente incumbiu o Ministro de convocar o referido Conselho, sendo já com inteiro conhecimento dos termos do Tratado de Fontainebleau e da presença do exército francês em Abrantes, que os conselheiros se reuniram, pela última vez, na manhã de 24 de Novembro, no Palácio da Ajuda. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 2 Depois dos conselheiros terem tomado conhecimento de uma nota do embaixador Strangford solicitando uma audiência a S. A. R. e de um ofício de Sir Sidney Smith, comandante da esquadra que bloqueava o porto, anunciando o tratamento hostil que praticaria se as disposições de Portugal não fossem amigáveis, deliberou-se que: «Pareceu aos Conselheiros de Estado que havendo-se esgotado todos os meios de negociação e não havendo esperança alguma discreta que por tais expedientes se removesse o perigo iminente que ameaça a existência da Monarquia, soberania e independência de S. A. R., achando-se entradas nelas tropas francesas, se não devia perder um só instante em acelerar o embarque de S. A. R. o Príncipe Regente Nosso Senhor e de toda a Real Família para o Brasil; Que em tais circunstâncias se devia responder a Lord Strangford participandolhe a conferência que S. A. R. lhe concedia; Que ao ofício de Sir Sidney Smith haja de se responder significando-lhe as disposições de Sua Alteza Real a receber a esquadra inglesa nos seus portos e os seus desejos de que lhe haja de entrar quanto antes; Que as tropas que se acham actualmente guarnecendo as margens, fortalezas e baterias do Tejo hajam de se retirar daquelas posições e passarem a ocupar os sítios que S. A. R. lhes destinar, expedindo-se ordens aos governadores das torres e fortalezas para que hajam de franquear a entrada do porto, a todos os navios ingleses, assim de guerra como mercantes. Que resolvendo-se S. A. R. a passar para o Brasil deverá estabelecer-se um Conselho de Regência na forma que se tem praticado em ocorrências tais e nas ocasiões em que este Reino se tem achado sem legítimo soberano, devendo esta Regência, com os poderes régios que lhe forem delegados por S. A. R., ser composta das principais e de altas graduações militares que S. A. R. houver de eleger. Palácio de Nª. Sª da Ajuda, 24 de Novembro de 1807». Seguem-se as assinaturas dos conselheiros. A ideia não surgiu apenas a 24 de Novembro, quando o Conselho de Estado sancionou a transferência, era um processo que tinha vindo a amadurecer. Desde Agosto que os trabalhos nos estaleiros e no Arsenal estavam em intensa laboração, suscitando a curiosidade popular e alimentando rumores cada vez mais insistentes sobre a iminente partida. O facto de terem decorrido, somente, três dias entre a Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 3 deliberação do Conselho de Estado e a saída da Corte, parece provar que a partir de determinado momento a situação se tornou irreversível. E mais, Araújo de Azevedo já tinha considerado, perspicaz como era, o «alcance proveitoso da ida do Príncipe da Beira, D. Pedro, para o Brasil, ainda antes da mudança dos restantes membros da Família Real, ida essa que factos ponderosos detiveram». Como já se referiu, os rumores sobre a próxima partida do Príncipe Regente circulavam há muito entre o povo de Lisboa, a movimentação atarefada na cidade, particularmente junto ao porto, onde era notória a acumulação de fardos e caixotes pertencentes à Corte e aos particulares que se preparavam para partir, não podia deixar de causar algum constrangimento. Não deixaria de ser algo dolorosa, particularmente num regime paternalista, como foi o nosso até ao advento do “miguelismo”, a separação do Príncipe, «amado por seus súbditos, do povo que o ama e o venera». Com efeito, a preocupação do Príncipe Regente não seria propriamente pela segurança do embarque que a progressão de Junot poderia pôr em perigo, mas antes as eventuais dificuldades que poderiam resultar dum amotinamento da população de Lisboa, tanto assim que a Família Real se manteve em Mafra até ao dia 27, tendo aproveitado os dias 24, 25 e 26 para preparar o seu embarque e de todos os elementos da Corte que a acompanhavam. Foi precisamente a 26 de Novembro, véspera do embarque, que o Príncipe Regente dava a conhecer, através da publicação do real decreto, a sua intenção de transferir a sede do Governo para o Rio de Janeiro: «Tendo procurado por todos os meios possíveis conservar a neutralidade, de que até agora têm gozado os meus fieis e amados vassalos, e apesar de exaurido o meu Real Erário, e de todos os mais sacrifícios, a que me tenho sujeitado, chegando ao excesso de fechar os portos dos meus reinos aos vassalos do meu amigo e leal aliado, o rei da Grã-Bretanha, expondo o comércio dos meus vassalos à total ruína, e a sofrer por este motivo grave prejuízo nos rendimentos da minha Coroa, vejo que pelo interior do meu reino marcham tropas do Imperador dos franceses e rei de Itália, a quem eu me havia unido no continente, na persuasão de não ser mais inquietado, e que as mesmas se dirigem a esta capital; e querendo eu evitar as funestas consequências, que se podem seguir de uma defesa, que seria mais nociva que proveitosa, servindo só de derramar sangue em prejuízo da humanidade, e capaz de acender mais a dissenção de umas tropas, que têm transitado por este reino, com o anúncio e promessa de não cometerem a menor hostilidade; conhecendo igualmente que elas se dirigem muito Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 4 particularmente contra a minha Real Pessoa, e que os meus leais vassalos serão menos inquietados, ausentando-me eu deste reino...». “Fuga”, ou transmigração da Corte para o Brasil? Desde já, pode afirmar-se, e peremptoriamente, que não se tratou de uma retirada precipitada e muito menos de uma “fuga”, como a historiografia liberal em peso pretendeu divulgar, desde Alexandre Herculano, a Luz Soriano e, sobretudo Oliveira Martins, condenando a política de conciliação e «apresentando-a como uma consequência da fraqueza do Príncipe D. João, típica da hesitação de um espírito fraco, que não sabia o que queria e balançou até ao último momento, sem rumo e sempre sujeito à opinião do último com quem falava». De facto, alguns críticos, por estarem, talvez, muito próximos dos acontecimentos, interpretaram de forma negativa a atitude corajosa, decidida e decisiva tomada pelo Príncipe Regente. Oliveira Martins escrevia: «Três séculos antes, Portugal embarcara, cheio de esperanças e cobiça para a Índia; em 1807 (Novembro, 29) embarcava um préstito fúnebre para o Brasil… Tudo o mais era vergonha calada, passiva inépcia, confessada fraqueza. O Príncipe decidira que o embarque se fizesse de noite, por ter a consciência da sua fuga…». Neste aspecto, mais expressivo, ainda, terá sido o capitão – tenente Alexandre Lucas Boiteaux: Ao ver as forças inimigas talando o território pátrio, o lendário patriotismo luso não mais explodiu como nos heróicos tempos de Nuno Álvares; mas, entorpecido por letal e criminosa indiferença, degenerou em terror vergonhoso. A Família Real, compartilhando desta fraqueza, foi a primeira a dar o exemplo, embarcando para o Brasil a 27 de Novembro, no maior desespero e confusão e levando na sua cauda um exército de poltrões, enfatuados, fidalgos e parasitas de toda a casta, degenerada progénie de um passado heróico…». Neste alinhamento, e na primeira metade do século passado, podemos ainda incluir alguns brasileiros, como é o caso de Rocha Pombo, Tobias Monteiro e Jónatas Serrano. Já no nosso tempo, parece-me de todo estranho o facto de alguns historiógrafos continuarem a insistir no tema da fuga. Muito recentemente, o brasileiro Laurentino Gomes na sua publicação «1808 – Como uma rainha louca, um príncipe medroso e Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 5 uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a História de Portugal e do Brasil», escrevia: «Com a fuga do rei, (Príncipe Regente) Portugal deixava de ser Portugal, um país independente, com governo próprio. Passava a ser um território vazio e sem identidade. Os seus habitantes ficavam entregues aos interesses e à cobiça de qualquer aventureiro que tivesse força para invadir as suas cidades e assumir o trono. Por que fugia o rei?...». Igualmente, Lília Moritz Schwarcz, numa obra de grande fôlego, «A Longa Viagem da Biblioteca dos Reis», intitula o 6º capítulo de «Hora de sair de casa: a difícil neutralidade e a fuga para o Brasil», acrescentando, pouco depois, em subtítulo «A fuga precipitada: homens ao mar». Porém, são muitos os autores de renome internacional a sustentarem, e provam-no, que a acção do Príncipe Regente, considerada por monarcas portugueses anteriores como estratégia alternativa desde a descoberta do Brasil foi, de facto, uma “jogada” brilhante. D. João não «fugiu» para o Brasil: «…Tenho resolvido, em benefício dos mesmos meus vassalos, passar com a Rainha Minha Senhora e Mãe, e com toda a Real Família para os Estados da América, e estabelecer-me na cidade do Rio de Janeiro até à paz geral». O Príncipe Regente, enquanto pôde, negociou e cedeu, esgotando todos os meios que evitassem a ocupação do País, já que a resistência militar, por todos os motivos, se revelava impossível. A mudança de capital aparecia como medida de recurso, de emergência e temporária, sendo no caso presente a solução mais aconselhável, prudente e mais de acordo com o interesse nacional; terá sido o meio mais eficaz de preservar a dignidade da Coroa e com ela a liberdade política conservando-se, assim, o direito de intervenção nos sucessos internacionais. Efectivamente, perante os factos, a tese da fuga nem sequer é frágil, não tem é qualquer consistência. Embora correndo o risco da repetição, não deixarei de apresentar aqui algumas das mais abalizadas opiniões, que deitam por terra a tese da “fuga”. Vejamos: Oliveira Lima, referência incontornável da cultura brasileira, homem de letras, historiador e académico de notável mérito, quando das comemorações do 1º centenário da chegada da Família Real Portuguesa ao Rio de Janeiro, ao publicar a reabilitadora obra, «D. João VI no Brasil», declarava que «Retirando-se para América, o Príncipe Regente, sem afinal perder mais do que o que possuía na Europa, escapava a todas as Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 6 humilhações sofridas por seus parentes castelhanos, depostos à força, e além de dispor de todas as probabilidades para arredondar à custa da França e da Espanha inimigas o seu território ultramarino, mantinha-se na plenitude dos seus direitos, pretensões e esperanças. Era como que uma ameaça viva e constante à manutenção da integridade do sistema napoleónico. Qualquer negligência, qualquer desagregação seria logo aproveitada. Por isto é muito mais justo considerar a trasladação da corte para o Rio de Janeiro como uma inteligente e feliz manobra política do que como uma deserção cobarde. De resto não foi ela adoptada repentinamente como um recurso extremo e irreflectido…». Igualmente, o brasileiro João Pandiá Calógeras, na sua «Formação Histórica do Brasil», afirmava que «Em torno desses acontecimentos se formou uma lenda de fuga pura e simples, vergonhosa e covarde. E, entretanto, tratava-se de executar um plano madura e politicamente delineado, o mais acertado nas condições peculiares de Portugal». Depois de o expor minuciosamente, conclui: «Nada é mais mister acrescentar para tornar evidente quão superficial é o conceito dos que opinam ser mera evasão ou pânico, tal acto de importância capital para ambos os países». Afonso Zúquete, na sua obra «Nobreza de Portugal e do Brasil», também faz o elogio da estratégia do Príncipe Regente: «(…) a retirada para o Brasil com que se argumentou nesse sentido, com total inépcia, foi um acto habilíssimo, que salvou a Realeza e que garantiu a independência de Portugal (…)». Dos quatro países envolvidos, Portugal, Brasil, Grã – Bretanha e França, seria apenas este último a lamentar o acontecimento. Óbvio! Alguns historiadores têm como certo, Napoleão admitir que a sua queda começou quando invadiu Portugal, e pretendendo acabar com a dinastia de Bragança, a Família Real embarcou para o Brasil. Tal certeza, julgo ter sido colhida no «Mémorial», já escrito no seu exílio de Santa Helena: «A Inglaterra, desde então, poderia continuar a guerra; as portas da América do Sul (Brasil) foram abertas; criou uma armada na Península, e desde aqui, tornou-se o agente vitorioso, o nó redutível, de todas as intrigas que se puderam formar no Continente…Foi isto que me perdeu!». Robert Southey, eminente historiador inglês, dá conta na sua «História do Brasil» que mais de uma vez a Casa de Bragança havia encarado a possibilidade de ser expulsa do seu Reino por um inimigo superior em forças e, assim, embarcando ainda em tempo, salvou a monarquia e determinou o fecho da história colonial do Brasil. Joaquim Romero de Magalhães, em «Palavras Prévias» do catálogo da Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 7 exposição «D. JoãoVI e o Seu Tempo», no Palácio da Ajuda, referiu a necessidade de «subtrair a Rainha demente D. Maria I, o Príncipe D. João e os demais familiares à iminência de uma captura que viesse desembocar numa abdicação forçada a favor do Imperador Napoleão». Deste modo, a partida da Família Real para o Brasil manteve o poder no Rei, «de forma legítima e inquestionada», tanto em Portugal como no estrangeiro. Também o escritor português Luis Norton, «A Corte de Portugal no Brasil», assegurou que «O Príncipe Regente D. João, transferindo voluntariamente a sua Corte para os domínios portugueses da América, salvara a monarquia com todas as suas colónias ultramarinas, evitando uma expatriação ignominiosa, com prisão no lugar do desterro, como aquele que Napoleão impusera aos Reis de Espanha». Aconteceu, de facto, quando tarde e a “más horas” o rei Carlos IV de Espanha quis seguir o exemplo de D. João, e transferir-se para o México, foi desencadeado o motim de Aranjuez em 17 de Março de 1808, em que os Guardas do Corpo se ufanavam «de ter mais coragem que o povo de Lisboa». Os soberanos espanhóis acabaram humilhados e aprisionados por Napoleão. Quanto a D. João, demarcando-se dos émigrés franceses de 1791, diria sempre: «Eu não emigrei; transferi a minha Corte e uma parte do meu reino para outra». A transmigração – um antigo plano dos estadistas portugueses. Com efeito, D. João não se ausentou do País para no exílio pedir protecção de qualquer soberano amigo, não saiu dos seus domínios. Deslocou-se dentro desses domínios, conservando o seu poder soberano intacto e dando, assim, continuidade à governação do Estado. O Príncipe Regente além de manter a independência e a unidade nacionais, conseguiu com a sua política que o Brasil viesse a ter o processo autonómico menos perturbado de toda a América do Sul. Além de significar «uma conversão de instintiva defesa contra o poder invencível do furor napoleónico», a transferência da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, não tinha apenas um interesse nacional, uma vez que essa transmigração política interessava à Europa inteira: assegurava a continuidade dos princípios unitários das monarquias continentais europeias, defendendo-lhes, afinal, «os ideais de autonomia contra a concepção autocrática de um só imperialismo francês; salvava o Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 8 sistema monárquico europeu da subversão dos Estados, cujos soberanos eram prisioneiros ou reféns de Napoleão e cujas fronteiras eram por ele e para ele traçadas, ampliadas ou suprimidas, no sonho da Monarquia universal que visionara». Com alguma frequência, a crítica histórica tem demonstrado que a transferência da Corte para o Brasil fora o resultado inteligente de um plano preconcebido. Seria, sem dúvida, o único meio de fazer subsistir a monarquia portuguesa, impedindo o seu fatal desaparecimento. A mudança da Corte para o Brasil não aparecia agora pela primeira vez, era uma ideia antiga e sempre renovada em épocas de crise política e de gravidade para a independência nacional. A este propósito, parece que a primeira sugestão conhecida se deve ao donatário da capitania de S. Vicente, Martim Afonso de Sousa, organizador da colonização sistemática. Conta-se («Anais de D. João III», de Frei Luis de Sousa), que em conversação com D. João III, acerca «da bondade e largueza da terra do Brasil», perguntou-lhe o Rei o seu parecer, quanto à passagem da Corte para a colónia. O antigo navegador, profeticamente, respondeu-lhe que «doidice seria viver um Rei na dependência de seus vizinhos, podendo ser monarca de outro mundo maior», revelando a D. João III a extensão dos seus domínios no continente americano e o «valor prodigioso das suas riquezas que nele se encontravam profusamente distribuídas». Alguns anos depois, quando da crise dinástica da sucessão do Cardeal D. Henrique, este teria aconselhado a mais legítima pretendente ao trono, a Infanta D. Catarina, Duquesa de Bragança, a que aceitasse as propostas que outro candidato, o Rei Filipe II de Espanha, lhe havia feito. O monarca castelhano prometia elevar, a favor da Infanta, a colónia do Brasil à categoria de reino independente e que poderia o Duque, seu marido, tomar o título de Rei. Após a Restauração (1640), sucederam-se, naturalmente, momentos difíceis. D. João IV receando pela independência, admitia, como propusera o Padre António Vieira («uma retirada segura») a transferência da Corte para o Rio de Janeiro. Malogrado este projecto, nem por isso D. João IV desistiu de considerar a colónia americana como refúgio possível da sua dinastia, porquanto, foi encontrado no segredo do seu Gabinete um papel assinado por ele, com três cruzes, no qual manifestava o desejo, em caso de perigo, a sua viúva ser transportada com os filhos para o Brasil. Mais tarde, durante a menoridade de D. Afonso VI, a Regente, D. Luísa de Gusmão, quando a sorte das armas lhe foi adversa, na guerra com a Espanha, igualmente, pensou em fazer passar Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 9 para a colónia americana o herdeiro da Coroa. Já no século XVIII, foi outro estadista português, D. Luis da Cunha, a lembrar a conveniência da mudança de D. João V para o Brasil, fazendo-o da forma seguinte: «Considerei talvez visionariamente que S. M. se achava em idade de ver potentíssimo aquele imenso continente do Brasil; e nele tomasse o título de Imperador do Ocidente; que viesse estabelecer a sua Corte levando consigo as pessoas que de ambos os sexos o quisessem acompanhar, que não seriam poucas, com infinitos estrangeiros, e na minha opinião o lugar mais próprio da sua residência seria a cidade do Rio de Janeiro». O mesmo plano foi equacionado no tempo do Ministério Pombalino, por ocasião do Terramoto e, também, em 1762, quando novamente a capital do Reino esteve ameaçada de uma invasão espanhola, Carvalho e Melo ordenou que algumas naus fundeassem em frente do Paço para conduzirem a Família Real ao Brasil, no caso de Lisboa ser conquistada pelo inimigo. Com todos estes antecedentes, não causa espanto, pois seria perfeitamente natural, uma renovação do plano, ou proposta, quando ao iniciar-se o século XIX, outra guerra com a Espanha, embora provocada por Napoleão, colocava novamente em perigo o território e a independência nacional. Nesta conjuntura, não faltou quem aconselhasse o Príncipe Regente a tomar a resolução que, meia dúzia de anos depois, levou à prática. Fê-lo D. Pedro de Almeida Portugal, 3º Marquês de Alorna, em expressivo documento de 1801, no qual salientou a conveniência da transmigração para «o grande Império» de que dispunha a Coroa portuguesa no Brasil: «…A balança da Europa está tão mudada que os cálculos de há 10 anos saem todos errados na era presente. Em todo o caso o que é preciso é que Vossa Alteza Real continue a reinar, e que não suceda à sua coroa, o que sucedeu à da Sardenha, à de Nápoles e o que talvez entra no projecto das grandes Potências que suceda a todas as coroas de segunda ordem na Europa. V. A. R. tem um grande Império no Brasil, e o mesmo inimigo que ataca agora com tanta vantagem, talvez que trema, e mude de projecto, se V. A. R. o ameaçar de que se dispõe a ir ser Imperador naquele vasto território donde pode facilmente conquistar as Colónias Espanholas e aterrar em pouco tempo as de todas as Potências da Europa. Portanto é preciso que V. A. R. mande armar com toda a pressa todos os seus navios de guerra, e todos os de transporte, que se acharem na Praça de Lisboa – que meta neles a Princesa, os seus Filhos, e os seus Tesouros, e que ponha tudo isto pronto a partir sobre a Barra de Lisboa…». Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 10 Considerando a impossibilidade da manutenção da neutralidade portuguesa perante os conflitos suscitados na Europa pela política napoleónica, igualmente se dirigiram a D. João dois dos seus futuros ministros no Brasil, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, depois Conde de Linhares, e Silvestre Pinheiro Ferreira. Sublinhe-se que Sousa Coutinho já em 1798 apresentara uma exposição à Corte, onde afirmava que os domínios na Europa tinham deixado de constituir a capital e o centro do Império Português, defendendo a ideia de transferir a sede da Corte para o Brasil, entendendo que, reduzido a si mesmo, Portugal não tardaria a tornar-se uma província da Espanha. O futuro Conde de Linhares, parecia saber bem do que falava: propunha a abolição do regime colonial no Brasil e voltou a insistir com o Príncipe Regente a transferir a Corte para o Rio, quando as tropas espanholas, em 1801, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, futuro Conde de Linhares, foi um dos que recomendou ao príncipe Regente a partida para o Rio de Janeiro (recomendação, aliás, com que já havia avançado em 1801, quando as tropas espanholas invadiram Olivença…) invadiram a praça de Olivença. Dois anos depois, em 1803, voltava à carga, dirigindo uma memória ao futuro D. João VI: «…Quando se considera que Portugal por si mesmo muito defensável, não é a melhor, e mais essencial parte da Monarquia; que depois de devastado por uma longa e sangrenta guerra, ainda resta ao seu Soberano, aos seus povos o irem criar um poderoso império no Brasil, donde se volte a reconquistar, o que se possa ter perdido na Europa, e donde se continue uma guerra eterna contra o fero inimigo, que recusa reconhecer a neutralidade de uma Potência, que mostra desejar conservá-la…Quaisquer que sejam os perigos que acompanhem uma tão nobre e resoluta determinação, os mesmos são sempre muito inferiores aos que certamente hão-de seguir-se da entrada dos franceses nos portos do reino, e que ou hão-de trazer a abdicação de V. A. R. à sua Real Coroa, a abolição da Monarquia, ou uma opressão fatal, qual a que geralmente se diz, que experimentam os napolitanos e a dilaceração dos vastos domínios da Coroa de V. A. R. …». De facto, a resistência militar parecia loucura. Defendia o Dr. Silvestre Pinheiro Ferreira, homem de grande prestígio junto do Príncipe Regente, «que a resistência era Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 11 impossível, de que estavam bem persuadidos os que a aconselharam antes do embarque, porque nunca Portugal pôde, nem poderá defender-se das forças coligadas da França e da Espanha, a não ser apoiado por todo o poder da Inglaterra; mas esta nação estava em 1807 bem longe de se querer medir no continente com o exército francês, que acabava de aterrar as formidáveis legiões russas, ao mesmo tempo que Napoleão havia feito entrar Alexandre na liga contra aquela potência, e obtido o consenso do autócrata para a anexação de Espanha e Portugal ao Império francês». Igualmente, numa minuta de representação a Sua Majestade sobre o Estado da Causa Pública e Providências Necessárias, redigida em 1814, a pedido de D. João, pelo mesmo Silvestre Pinheiro Ferreira, este acentuava que «…já no ano de 1803 me abalancei a representar, perante o régio trono, em competente ofício pela respectiva repartição, que à lusitana monarquia nenhum outro recurso restava, senão o de procurar quanto antes nas suas colónias um asilo contra a hidra então nascente, que jurava a inteira destruição das antigas dinastias da Europa». Em 1807, quando Napoleão intimou Portugal a aderir ao Bloqueio, ameaçando ocupar-lhe o território, e o general Junot iniciava a concentração de tropas em Baiona, cidade da fronteira de Espanha, o Conde da Ega, embaixador em Madrid, transmitia uma nota para Lisboa alertando o Príncipe Regente: «Ou Portugal há-de fechar os seus portos aos ingleses e correr o risco de perder por algum tempo a posse das suas colónias, ou o Príncipe, Nosso Senhor, abandonando o seu reino na Europa, ganhado e conservado pelo suor de seus antepassados, irá estabelecer no Novo Mundo uma nova monarquia que, bem que possa vir a ser um império da maior consideração, produzirá uma Em Outubro de 1807, as tropas associadas em Baiona, comandadas pelo ex-embaixador em Lisboa, o general Junot, começaram a dirigir-se para a fronteira portuguesa, onde a vanguarda, os primeiros destacamentos, entraram pela Beira Baixa, a 18 de Novembro semelhante medida a maior de todas as revoluções no sistema geral político». Efectivamente, em tal conjuntura, a dependência económica de Portugal em relação ao Brasil não permitia ao Príncipe Regente alternativa, senão a que o nosso embaixador em Madrid propusera: transferir a Corte para a América do Sul, com todas as consequências políticas que daí Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 12 pudessem advir. Em 8 de Setembro de 1807, Strangford, ministro inglês em Portugal, comunicou ao Foreign Office que Araújo de Azevedo lhe dissera que, uma vez no Brasil, D. João estabeleceria «um grande e poderoso império, que protegido, em uma primeira infância, pela superioridade naval da Inglaterra, poderia com o tempo rivalizar com qualquer outro estabelecimento político do universo». Em conclusão: se olharmos para a nossa história, e em face do que ficou dito, verifica-se que a transferência da Corte para o Rio de Janeiro, em situação de emergência, fora encarada, por mais de uma vez, constituindo «um ponto assente na nossa política». A operação Brasil. Entretanto, os rumores da viagem em projecto, confirmada pelos constantes preparativos da esquadra portuguesa, chegaram naturalmente à Espanha e à França, cujos governos tentaram convencer os nossos diplomatas, acreditados nas respectivas capitais, que semelhante resolução era desnecessária, tendo sido mesmo propalada, nos primeiros dias de Novembro, a notícia de que não haveria invasão. Só que esta esperança foi-se desvanecendo. Os conturbados acontecimentos em Espanha com a prisão do Príncipe das Astúrias e a deslocação das tropas espanholas para Madrid, bem como de forças francesas dirigindo-se para a nossa fronteira, demonstravam plenamente que a invasão de Portugal seria irreversível. Acrescente-se, ainda, o autêntico turbilhão político que pairava sobre a Europa de 1807: O rei de Espanha mendigava em solo francês a protecção de Napoleão; o rei da Prússia andava foragido por via da sua capital estar ocupada pelos soldados franceses; o Stathouder, quase rei da Holanda, refugiava-se em Londres; o rei das Duas Sicílias exilado em Nápoles; as dinastias da Toscana e Parma não tinham “poiso” certo; o rei do Piemonte estava reduzido à Corte de Cagliari; o Doge e os 10 “enxotados” da cena política; o Czar solicitando entrevistas e protestando a sua amizade e fidelidade para se manter em Petersburgo; a Escandinávia próxima de aceitar um herdeiro dentre os marechais de Bonaparte; o Imperador do Sacro Império e o próprio Pontífice Romano obrigados, de quando em vez, a abandonar os seus tronos que se consideravam Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 13 eternos e intangíveis. Perante tal quadro, isto é, olhando ao que estava a acontecer às casas reinantes europeias, os Braganças não podiam, certamente, esperar melhor sorte; por conseguinte, havia necessidade imperiosa de adoptar medidas adequadas e tratar, friamente, com tempo da sua execução, para não se cuidar de tudo à última hora e com precipitações prejudiciais. Praticamente, de todos os quadrantes se insistia para que se preparasse a solução mais indicada, porquanto as notícias das últimas vitórias de Napoleão e do poder militar dos exércitos franceses, coligados com as forças das nações vencidas, teriam feito mudar de opinião aqueles que não desejavam a mudança da capital do Reino para o Rio de Janeiro. De facto, uma vez que a debilidade do País, em contraste com a robustez militar do inimigo impossibilitaria, em caso de guerra, um desfecho favorável a Portugal, e com a agravante de se desenrolar no nosso território, não era vergonha alguma ausentar-se um soberano, temporariamente, dos seus Estados. Já em Agosto de 1807, o Conselho de Estado recomendava a D. João que fosse preparada, com alguma urgência, uma esquadra para partir, embora tivesse surgido alguma discussão sobre quem devia partir e quando. Inicialmente, prevaleceu a tese de que só o príncipe herdeiro, D. Pedro, devia embarcar para o Brasil, medida considerada suficiente para garantir a continuidade do Soberano. Porém, pouco tempo depois, entendia-se que, estando a resistência fora Em 8 de Setembro de 1807, Strangford, ministro inglês em Portugal, comunicou ao Foreign Office que Araújo Azevedo lhe dissera que, uma vez no Brasil, D. João estabeleceria “um grande e poderoso império, que protegido, em uma primeira instância, pela superioridade naval da Inglaterra, poderia com o tempo rivalizar com qualquer outro estabelecimento do universo”. de causa, não faria sentido manter D. João em Portugal, onde, facilmente, seria aprisionado pelos franceses. Sem dúvida, permanecendo em Lisboa, disposto a resistir, seria prisioneiro, refém e joguete do Imperador, sujeito à humilhação, à farsa de uma aliança com os vencedores, à guerra com a Grã – Bretanha e à perda do império colonial. O exemplo do sogro e do cunhado devem tê-lo posto de sobreaviso. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 14 Desde Setembro que Lord Strangford, ministro britânico em Lisboa, pressionava insistentemente a Corte para se transferir de imediato para o Brasil. O Príncipe Regente dizia concordar «em princípio», mas a decisão definitiva só seria tomada quando a invasão espanhola entrasse em território nacional. De qualquer modo a operação Brasil não era descurada, pois começou a proceder-se à rápida concentração em Lisboa de todos os navios em condições de navegar. Ao mesmo tempo, a Corte de Lisboa procurava afincadamente ganhar tempo, através de múltiplas concessões e cedências de última hora; inclusivamente ainda procurou serenar os ímpetos de Napoleão com a oferta de régios presentes, como é o caso seguinte: em meados de Novembro, o Marquês de Marialva partia de Portugal com uma quantidade não revelada de diamantes, mas que foi avaliada em cerca de um milhão de dólares e uma espada de ouro guarnecida de brilhantes. O Marquês levava, igualmente, instruções de D. João para negociar o casamento de D. Pedro, quando este chegasse à idade, com a sobrinha de Bonaparte, filha de sua irmã Carolina e do General Murat. Na sua missão, devia também informar o Imperador de que as exigências feitas por ele tinham sido cumpridas e que, portanto «não havia razão para agir contra Portugal». É que o tempo era preciosíssimo, mais umas semanas, ou até alguns dias, «representavam mais velas que se conseguiam aprontar, mais instituições que era possível embarcar, mais portugueses ilustres que escapavam à ocupação; havia mesmo a esperança de que, com alguma sorte, a chegada do Inverno levasse a França a adiar a invasão para a Primavera seguinte». Contudo, mesmo ponderando esta hipótese, D. João não se iludia e jogava pelo seguro, assinando um acordo secreto com o Governo Londrino, concordando na retirada da Corte para o Brasil em caso de invasão e comprometendo-se a abrir os portos da nossa colónia americana em troca do apoio da Royal Navy. O primeiro grande sinal de que a invasão seria uma realidade tem a ver com a entrada da esquadra russa no porto de Lisboa e que, dizia-se, aqueles navios traziam a bordo quatro mil soldados para desembarcarem na cidade quando se aproximassem os exércitos franceses. Com efeito, um documento da época, de autor anónimo, refere que «no dia 11 de Novembro de 1807 entrou no Tejo a esquadra russa do Almirante Seniavine com cinco embarcações de guerra, devendo entrar mais quatro nos dias seguintes; como era contra os tratados entrarem mais de seis, recusou-se isto, porém, o Almirante declarou que sempre entraria, quis também conservar a pólvora a bordo, e tudo se lhe consentiu…». Julga-se que esta chegada a Lisboa da esquadra russa não Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 15 seria mais que o efeito da nova aliança de Tilsit e, consequentemente, trazia intenções hostis. Obviamente, a missão da esquadra russa era de guerra mas, o certo é que se manteve como mera observadora e é o próprio Junot, mais tarde, a queixar-se a Napoleão que, após ter chegado a Lisboa ainda não vira um único oficial russo! Teria sido pelo facto de, mal esquadra russa ter entrado a barra do Tejo, surgir, ao largo, uma esquadra inglesa comandada pelo Almirante William Sidney Smith, constituída por cinco navios e que ficou a bloquear a costa portuguesa? Assim parece. A 21 de Novembro, a fragata inglesa «Confiance» ao aportar a Lisboa era portadora de um exemplar do jornal francês «Moniteur», datado do dia 11, que continha o decreto de 27 de Outubro de 1807 (já anteriormente referido), pelo qual Napoleão decidira que «a Casa de Bragança deixara de reinar em Portugal». Face a este documento não havia outra alternativa. A solução que mais interessava a Portugal e a única que nesta ocasião se impunha, e que tinha de ser tomada de imediato e de maneira nenhuma podia ser protelada, era a saída da Corte para o Brasil. Por maior que fosse o esforço defensivo desenvolvido pelas nossas tropas, pouco A 16 de Novembro, aportava ao Tejo uma armada inglesa comandada por Sir Sidney Smith, transportando uma força de 7000 homens de desembarque, preparada para escoltar a Família Real para o Brasil, ou bloquear o porto, tentando evitar, deste modo, que os navios mercantes ou de guerra de Portugal fossem tomados pelos franceses. tempo poderiam resistir às forças francesas e espanholas e, neste caso, seria em pleno Inverno, época em que as tempestades assolando a nossa costa impediriam a saída de qualquer embarcação. Assim, seria contraproducente a veleidade de oferecer resistência ao que parecia irresistível e, por conseguinte, a Família Real ficaria à mercê dos invasores o que era um dos grandes objectivos de Napoleão. Perante tais perspectivas, em 24 de Novembro, reuniu-se o Conselho de Estado. Tomás António de Vila Nova Portugal, valido de S. M., apresenta a proposta do embarque da Família Real e de todos que a quisessem acompanhar. Não foi difícil reconhecer que a situação era tal que todas as alternativas estavam esgotadas e, sendo assim, a Família Real devia partir para o Brasil, servindo-se da esquadra que se tinha Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 16 aparelhado para o Príncipe da Beira (D. Pedro) e de todos os navios ancorados no Tejo, de guerra ou mercantes, que ainda se pudessem aprontar. Ficou também decidido que, na ausência de D. João, e enquanto fosse conveniente permanecer no Brasil, seria nomeado um Conselho de Regência com poderes delegados por S. M. Embora tivessem fracassado todas as diligências diplomáticas do Gabinete Lisbonense europeias, dilatórios, junto os das Cortes seus processos muitas vezes “adormecendo” Napoleão e a sua “entourage”, ainda que à custa de enormes sacrifícios pecuniários, ouro e diamantes, deram-lhe tempo para estudar a situação internacional, A 24 de Novembro de 1807, o Conselho de Estado reúne-se no Palácio da Ajuda e propõe ao Príncipe Regente que parta para o Brasil e que nomeie um Conselho de Regência conceber e executar um notável plano de salvação. Com efeito, a transferência da sede do Governo para o Rio de Janeiro correspondia a um acto político de grande alcance, percursor de factos a que o decorrer do tempo se encarregaria de dar a devida relevância. Pedro Calmon, eminente figura da cultura brasileira, afirma que «Nenhum rei europeu pensara em mudar-se, com a Corte, o Tesouro, os arquivos, o séquito, dezenas de milhares de pessoas, para o outro lado do oceano. A resolução do Príncipe Regente foi espantosa – e os governos continentais só se aperceberam dela quando já a esquadra luso - inglesa velejava para o ocidente abarrotada com as bagagens de uma monarquia. O golpe foi magistral…nenhum dos parceiros que jogaram com Napoleão os destinos do mundo vibrara tão inesperada cartada. Pela segunda vez – depois de Trafalgar – o oceano venceu o Imperador». Não há dúvida que o Príncipe Regente teve a coragem e a perspicácia de fazer precisamente o que devia, tanto mais que a ocupação francesa não era suficiente para a posse de Portugal, porquanto a legitimidade nacional era inerente ao futuro D. João VI que a levava consigo para o Brasil. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 17 O embarque. Embora a saída do Príncipe Regente e da Família Real para o Brasil tivesse sido ponderada cuidadosamente, pelo menos desde a reunião em Mafra do Conselho de Estado, em 19 de Agosto de 1807, parece não haver dúvida que o embarque terá sido apressado pela invasão, que até à ultima hora se procurou evitar, ou adiar, tanto mais que só pouco antes da partida se transportou a Família Real de Mafra para Lisboa com parte do pessoal dependente da Corte. De facto, o embarque pode ter sido efectuado à pressa, desorganizado e na maior das confusões, mas a preparação da esquadra e até o carregamento dos caixotes com o recheio das principais instituições tinha começado muito antes; nem de outra forma se explicaria que tivesse havido tempo, «numa terra clássica de imprevidência e morosidade», para depois de se estar ao corrente do anúncio da entrada das tropas francesas no território nacional, embarcar numa esquadra formada por quinze navios da Armada Real e duas ou três dezenas de navios mercantes. A partida só aconteceu no “último momento” pelo facto de estar dependente das resoluções (quase sempre fulminantes) de Napoleão Bonaparte. Foi precisamente no dia seguinte à decisão do Conselho de Estado que o nosso Governo teve conhecimento concreto que as tropas comandadas por Junot já se encontravam em Abrantes, julgando, até então, que o General se encontrava em Salamanca. Certificando-se de que a invasão progredia, e estando ainda muito por ultimar, e não havendo tempo a perder, D. João convocou Joaquim José de Azevedo, tesoureiro da Casa Real, nomeando-o superintendente-geral do embarque, que se havia de executar, impreterivelmente, na tarde de 27. O mordomo-mor, o administrador da Real Ucharia (depósito de géneros alimentícios), o guarda-jóias e o guarda tapeçarias Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 18 foram, igualmente, incumbidos de providenciar no que dizia respeito às necessidades da Família Real, nomeadamente apetrechos domésticos e alimentos a transportar para o Brasil. O almirante Manuel da Cunha Sottomayor, comandante da esquadra-geral portuguesa era encarregado de apresentar mapas das disposições dos navios. Foram ainda tomadas providências no sentido de transferir os tesouros régios (Palácio das Necessidades e Patriarcal), para bordo dos navios, devendo o superintendente dirigir-se para o cais de Belém, onde, munido dos mapas entregues pelo almirante mandou armar uma barraca «para ali repartir as famílias pelas embarcações, segundo a escala de seus cómodos, assim como para enviar todos os volumes do Tesouro que chegavam, lida que continuou até ao momento do embarque de D. João». Porém, a pressa impedia que os procedimentos ocorressem de modo organizado, tanto mais que as autorizações, licenças, nomeações e ordens de embarque vinham de várias fontes. Para agravar a situação, Lisboa estava a ser fustigada por forte ventania e chuvas torrenciais que transformavam as ruas e caminhos em autênticos lamaçais, dificultando as idas e vindas até ao cais de Belém para o transporte da imensa e volumosa bagagem. E mais, «o temor de que o mau tempo impedisse a partida antes da invasão das tropas francesas tumultuava o já complicado trâmite». A precipitação dos últimos preparativos, a ansiedade, perante o avanço das tropas francesas em território nacional e a autorização dada pelo Príncipe Regente a todos aqueles que desejassem acompanhar a Corte, «desde que encontrassem transporte em navio mercante», não deixava de causar enormes dificuldades à organização do embarque. Efectivamente, com a vanguarda do exército de Junot «à vista», a confusão e a desordem instalaram-se no cais de partida. Segundo um dos Conselheiros Régios, nos dias 24, 25 e 26 foram «três dias de tormenta que hoje são difíceis de descrevê-los» e para um autor contemporâneo nesses dias «o terror desvairou a Corte». O embarque realizou-se a 27 de Novembro. Porém, as condições meteorológicas desfavoráveis não favoreciam a saída da barra à esquadra, causando natural ansiedade a bordo, temendo que os franceses chegassem de um momento para o outro e, apoderando-se das fortalezas que defendiam a barra, impedissem a «transmigração». Terá sido nestas circunstâncias que o Príncipe Regente se dirigiu ao Almirante Sottomayor, dizendo: «Preferia perecer num naufrágio a cair nas mãos de Bonaparte; porque esta desgraça seria pior para mim, do que aquela que sucedeu a Francisco I, prisioneiro de Carlos V». Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 19 A fim de salvaguardar o futuro da monarquia, e como aconselhava a prudência, considerou-se, ajuizadamente, evitar que todos os herdeiros embarcassem num mesmo navio, uma vez que a travessia do atlântico era uma viajem longa e perigosa. No entanto, na precipitação da partida essa precaução foi ignorada, o que «um eventual naufrágio desse navio levaria para o fundo do oceano três gerações da dinastia de Bragança». Assim, a esquadra régia, conforme comunicação dirigida pelo comando português, Cunha Sottomayor, ao almirante britânico, Sidney Smith, era constituída pelas naus «Príncipe Real», levando a bordo D. João com a Rainha-Mãe, D. Maria I, os Infantes D. Pedro e D. Miguel (herdeiros do trono) e o Infante de Espanha D. Pedro Carlos, que depois foi seu genro; a «Afonso de Albuquerque» transportava a bordo a Princesa D. Carlota Joaquina, com suas filhas, Infantas D. Maria Isabel Francisca, D. Maria da Assunção, D. Ana de Jesus e Princesa da Beira, Infanta D. Maria Teresa; na «Príncipe do Brasil», a Princesa viúva, D. Maria Francisca Benedita e a Infanta D. Maria Ana, ambas irmãs de D. Maria I; na «Rainha de Portugal», viajavam as Infantas D. Maria Francisca de Assis e D. Isabel Maria, também filhas de Carlota Joaquina. Além da Família Real embarcaram os seguintes membros da Corte com as suas famílias: os Duques de Cadaval, os Marqueses de Angeja, Vagos, Lavradio, Alegrete, Torres Novas, Pombal (o filho primogénito de Carvalho e Melo) e Belas; os Condes de Redondo, Caparica, Belmonte, Calvário; o Visconde de Anadia; o Ministro e Secretário de Estado dos Negócios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho; D. João de Almeida, António de Araújo de Azevedo, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. Fernando José de Portugal, Tomás António de Vila Nova Portugal; Monsenhores Valadares, Almeida, Cunha e Nóbrega; Cónegos Pizarro e Menezes e vários outros, viajando a bordo das diferentes naus, que eram a «Conde D. Henrique», a «Medusa», «D. João de Castro» e a «Martim de Freitas». Quatro fragatas, três brigues (pequeno navio de guerra de dois mastros), uma escuna (embarcação de dois mastros com vela latina no da popa) e duas ou três dezenas de navios mercantes completavam a frota. Segundo o historiador Kenneth Light, especialista da história naval desse período, estimou que terão embarcado entre 12 a 15 mil pessoas e baseado em consultas nos livros de bordo dos navios ingleses que acompanharam a esquadra portuguesa, afirma que o navio «Príncipe Real» transportava 1054 pessoas. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 20 Entre as pessoas que acompanharam o Príncipe D. João na viagem para o Brasil incluíam-se pessoas da nobreza, conselheiros reais e militares, juízes, advogados, comerciantes e suas famílias, médicos, bispos padres, damas de companhia, camareiros, pajens, cozinheiros e moços de estrebaria. Ao fim e ao cabo era a sede do Estado português que mudava de continente, com o seu aparelho administrativo e burocrático, o seu Tesouro, as suas repartições, secretarias, tribunais, os seus arquivos e funcionários. Por via da pressa do embarque a grande maioria dos viajantes não foi registada ou catalogada. Uma multidão heterogénea procurava alojamento na esquadra e nos cerca de trinta navios da Marinha nacional, precipitando-se sobre todas as embarcações e transportando para elas tudo o que pudera salvar, havendo barcos que levavam a bordo, com os porões abarrotados, três vezes o número de pessoas permitido numa navegação normal. Muitas pessoas importantes tiveram de regressar a casa depois de tentar baldadamente chegar aos navios, como foi o caso do Núncio Apostólico, D. Lourenço de Caleppi, de 67 anos, convidado por D. João a acompanhá-lo na viagem, reservando-lhe as naus «Martim de Freitas» ou «Medusa». Numa ou noutra, Caleppi deveria viajar acompanhado do seu secretário particular Camilo Rossi. Porém, no dia combinado, compareceram no cais e não encontraram vaga em nenhuma das naus, uma vez que já estavam completamente lotadas, pelo que o Núncio só chegaria ao Brasil em Setembro de 1808, quase um ano depois da partida da Família Real. A bordo a confusão era indescritível, ninguém encontrava o que era seu. As últimas horas que antecederam a partida terão sido vividas num estado de verdadeiro pandemónio. A confusão dos últimos momentos foi tal, que as ordens do Príncipe Regente, Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 21 datadas de 28 de Novembro, já a bordo do «Príncipe Real», autorizando os gastos indispensáveis para completar a aguada, os «stocks» de lenha e outras necessidades, só foram entregues ao Visconde de Anadia um ano depois, em 11 de Dezembro de 1808! Existem várias narrativas do embarque e todas elas descrevendo, com grau variável a total confusão. Eusébio Gomes, almoxarife do Palácio de Mafra, registou no seu diário: «É impossível descrever o que se passou no cais de Belém na ocasião do embarque da Real Família que saiu de Mafra a toda a pressa para embarcar, porque à mesma hora se soube que os franceses estavam a chegar a Lisboa. Que grande confusão houve então no cais de Belém! Todos a quererem embarcar, o cais amontoado de caixas, caixotes, baús, malas, malotões e trinta mil coisas, que muitas ficaram no cais tendo os seus donos embarcado, outras foram para bordo e seus donos não puderam ir. Que desordem e que confusão; a Rainha sem querer embarcar por forma alguma, o Príncipe aflito por este motivo!!! Foi o Laranja (Francisco Laranja, capitão de fragata e patrão mor das galeotas reais) quem fez com que a Rainha embarcasse. E então o Príncipe deu beija-mão às pessoas que ali estavam e entre lágrimas e suspiros começaram a embarcar, e não se pode descrever o que aqui se passou». Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 22 A partida. Junot… a “ver navios”. Na época em que a Corte decidiu transferir-se para o Brasil, no início do século XIX, as viagens, nomeadamente as de longo curso, eram uma aventura extremamente arriscada, exigindo um rigoroso planeamento e uma preparação minuciosa e demorada. O trajecto Lisboa – Rio de Janeiro, calculado em cerca de dois meses e meio, estava sujeito às tempestades, calmarias, aos ataques inesperados da pirataria frequente no Atlântico e, até, muitas vezes, ao mau estado das embarcações, atendendo à duração dessas viagens. A possibilidade de retorno era escassa, por isso os que partiam preocupavam-se em deixar minimamente organizada a sua vida e despedir-se dos parentes e amigos. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 23 Os perigos eram de tal ordem que a Marinha de Sua Majestade Britânica, à época a mais experiente, organizada e bem equipada força naval do mundo, considerava «aceitável a média de uma morte para cada trinta tripulantes nas viagens de longo curso». Antigas e mal equipadas, as naus e fragatas portuguesas que viajaram para o Brasil Entrada em Lisboa do exército francês (mas ficou a ver navios, porque a Família Real já havia zarpado do cais…) há duzentos anos eram «cápsulas de madeira hermeticamente lacradas». As pequenas escotilhas, que se mantinham fechadas a maior parte do tempo, tornavam o ambiente interior asfixiante, sem ventilação; durante o dia, sob o sol equatorial, transformavam-se em verdadeiras “saunas flutuantes” e, para mais, com as embarcações navegando apinhadas de gente. Como não havia água corrente (e a que havia era racionada) nem casas de banho para satisfazer as necessidades fisiológicas, eram usadas as latrinas, ou “cabeças”, plataformas amarradas ao bojo da ré suspensas sob a amurada dos navios, por onde os dejectos eram laçados directamente ao mar. A alimentação a bordo era composta de biscoitos, lentilhas, azeite, carne de porco salgada e bacalhau. Porém, quando se navegava sob o calor sufocante das zonas tropicais, os ratos, baratas e carunchos invadiam os depósitos de alimentos; a água deteriorava-se facilmente contaminada por fungos e bactérias, motivo pelo qual os ingleses bebiam cerveja com regularidade, e os portugueses e espanhóis vinho de má qualidade. Uma das situações mais temidas durante as longas travessias oceânicas era o escorbuto, doença provocada pela falta de frutas e alimentos frescos originando a ausência de vitamina C, o que levava ao enfraquecimento do doente, febres altíssimas e dores insuportáveis. A gengivas gangrenavam e os dentes caiam ao mínimo toque. A fim de evitar ou diminuir as doenças e o surto de outras pragas, determinavase que as roupas e as dependências dos navios estivessem sempre limpas, sob pena de Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 24 rigorosos castigos, o que neste aspecto a Marinha britânica servia de exemplo. Após dois dias de ansiedade e incertezas devido às condições meteorológicas adversas, o tempo mudou e o vento também estava de feição. Assim, às 7 horas da manhã do dia 29 de Novembro o Príncipe Regente dava ordem de partida e a esquadra portuguesa zarpava do porto de Lisboa, que no dia seguinte seria ocupado pelas tropas francesas. Efectivamente, às oito horas da manhã, Junot surgia em Lisboa comandando a vanguarda das tropas francesas «que ainda terão podido vê-los afastando-se no horizonte», tendo o general expressado ao Imperador a sua pena por não ter podido cumprir a missão de impedir a partida do Príncipe e, certamente, a sua prisão, conforme consta de uma longa carta, cuja cópia se encontra no «Copiador de Correspondência de Junot», na Biblioteca do Palácio da Ajuda. Ao mesmo tempo mostrava estar bem informado do que se tinha passado em Lisboa antes da sua chegada: «Há muito tempo que a esquadra portuguesa se teria posto em estado de sair…a minha intenção era apenas que se soubesse que eu estava bem perto da cidade, e que isso pudesse levar o povo a impedir a saída da Esquadra. No dia 28 o vento era contrário, e o Príncipe não pôde sair. No dia 29 pela manhã, apesar do vento não ser bom, a esquadra portuguesa saiu com a maré… …(os) navios estão carregados de gente duma maneira horrível, há mais de duas mil pessoas no «Príncipe Real», e uma tal confusão, que, no dia seguinte ao seu embarque, uma Princesa Real pôde apenas obter uma porção de arroz. Estão acumulados leitos e carruagens, e a água estava já corrompida no segundo dia, porque fora posta em tonéis novos, visto terem-se vendido os que pertenciam à Marinha. Sire, V. M. deve pensar quanto desgosto eu tive por ver escapar-se, tão perto de mim, o fim de tantas fadigas e privações de todo o género…». Nunca, como neste caso, relativo a Junot e às suas tropas, se poderá dizer com tanta propriedade que ficaram a ver navios! Napoleão estava «burlado», escreveu Oliveira Martins numa passagem menos negativa do seu estudo sobre D. João VI. Apesar da confirmação da protecção da esquadra britânica ter sido obtida no dia 28 de Novembro, durante a audiência que D. João concedeu, na nau «Príncipe Real», ao embaixador Lord Strangford, informações colhidas a partir dos diários de bordo dos Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 25 navios ingleses revelam que, nos momentos imediatos à saída de Lisboa, o clima entre os dois aliados não correspondia ao tom amistoso que algumas fontes quiseram fazer crer. O clima era de expectativa, tensão e desconfiança. Efectivamente, todos os comandantes britânicos, sem excepção, registaram nos seus diários que, «ao avistar as embarcações portuguesas a sair do porto de Lisboa, entre as oito e as nove da manhã do dia 29 de Novembro, ordenaram que os seus navios se preparassem para a acção, formando uma linha de combate». O que parece, pelo menos aparentemente, é que todos eles se precaviam contra a hipótese de que Portugal se tivesse rendido às exigências de Napoleão e tentasse à força romper o bloqueio naval britânico. Porém, esses breves momentos de incerteza e desconfiança, diluíram-se, de imediato, quando a frota portuguesa cruzou a barra do Tejo e a nau «Príncipe Real», onde viajava D. João, se aproximou da nau capitania da esquadra britânica, «HMS Hibernia», para reafirmar as intenções de paz, seguindo-se entre os dois aliados as saudações da praxe: uma salva de 21 tiros. A bordo da nau «Hibernia», Lord Strangford enviava para o primeiro ministro britânico, Lord Canning, a seguinte mensagem: «Tenho a honra de comunicar que o Príncipe Regente de Portugal se decidiu pelo nobre e magnânimo plano de se retirar de um reino em que mais não pode manter-se a não ser como vassalo da França; e que Sua Alteza Real e a Família, acompanhados pela maior parte dos navios de guerra e por multidão de fiéis defensores e súbditos solidários, partiu hoje de Lisboa, estando agora em viagem para o Brasil sob a guarda da armada inglesa». Na tarde do primeiro dia de viagem, a esquadra laçou âncora nas proximidades do litoral português, juntando-se à esquadra britânica a fim de se proceder a inspecções de última hora, antes da travessia do Atlântico. Pouco depois, pelas quatro horas, Lord Strangford e o Almirante Sidney Smith foram a bordo do «Príncipe Real» apresentar os seus respeitos a D. João, constatando que as acomodações da embarcação portuguesa estavam muito aquém das necessidades de Sua Alteza. O ambiente a bordo era sombrio e depressivo, como regista o ministro britânico, num dos seus despachos para Londres: «É impossível descrever a situação dessas pessoas ilustres, o seu desconforto, a paciência e a resignação com que elas têm suportado as privações e dificuldades decorrentes da mudança». Perante tal situação, o Almirante Smith sugeriu a D. João que passasse para bordo de um dos navios ingleses, mais novo e confortável. O Príncipe recusou, talvez, consciente que a atitude cairia mal nos companheiros de viagem e, provavelmente, também porque a Corte portuguesa já Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 26 se sentia, de algum, modo, refém e dependente da Inglaterra; viajar como hóspede do comandante britânico poderia ser… «politicamente incorrecto». Depois, durante algum tempo, conferenciaram e discutiram acerca dos últimos detalhes da viagem. O plano previa que todos os navios deveriam navegar em conserva (em conjunto) e, caso alguns fossem separados por qualquer imprevisto durante a travessia, far-se-ia o “ponto de encontro” na ilha de Santiago, em Cabo Verde, onde a esquadra se reagruparia antes de seguir para o Rio de Janeiro. Só a nau «Medusa», que levava a bordo os ministros Araújo de Azevedo, José Egídio e Tomás António Vila Nova, deveria seguir directamente para a Baía, a fim de levar o “aviso” da ida da Família Real. Quatro vasos de guerra britânicos – «HMS Marlborough», «Bedford», «London» e «Monarch» - escoltariam a frota portuguesa; os restantes, após a acompanharem até meio do percurso para a Madeira, regressariam a Portugal e reintegrariam o bloqueio de Lisboa. A viagem. Fragilidade da frota Real. Um “inferno” vivido entre o céu e o mar. O tempo bonançoso que permitiu a saída de Lisboa foi sol de pouca dura, a travessia cedo começou a enfrentar dificuldades de toda a ordem. Logo que terminou a reunião a bordo do «Príncipe Real», a armada foi surpreendida por violenta e inesperada tempestade que provocou o pânico, nomeadamente na maioria não acostumada, temendo que a aventura terminasse a qualquer momento. Ao anoitecer, o vento, que até então corria favorável ao rumo planeado, inverteu a direcção e soprando de través, em rajadas fortíssimas, ameaçava empurrar a frota de volta à costa portuguesa, já ocupada pelas tropas francesas. Após alguns momentos de angústia e tensão, em que grupos de nobres e cortesãos aterrorizados se amontoavam no convés das embarcações, «pálidos de ansiedade e enjoo», os comandantes decidiram tirar partido da força da ventania e rumar na direcção noroeste, como se estivessem a dirigir-se para o Canadá, em vez do Brasil, manobra efectuada com o objectivo de manter os navios em alto mar, evitando, assim, o seu arrastamento para o litoral. Só no quarto dia, a 1 de Dezembro, a tempestade amainou, podendo então corrigir as velas e rumar para sudoeste, em Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 27 direcção ao Brasil, quando já tinha percorrido mais de 160 milhas náuticas, isto é, o equivalente a cerca de 300 quilómetros. Neste ponto, já bem afastados da costa portuguesa, houve necessidade de proceder a uma nova inspecção, em consequência da qual um pequeno barco de guerra, considerado incapaz de fazer a travessia foi despachado de volta para Lisboa. Todos os outros, embora sem as condições ideais, acabaram por seguir viagem depois de terem sido executados os consertos indispensáveis e possíveis. Conquanto nenhuma embarcação naufragasse, algumas chegaram ao Brasil em estado lastimável. Em 5 de Dezembro, sensivelmente a meio caminho entre Lisboa e Funchal, na Ilha da Madeira, o Almirante Sidney Smith decidiu que o perigo de encontrar navios inimigos tinha diminuído e que, conforme o planeado, a frota dividir-se-ia em duas: uma parte sob o seu comando retornava ao bloqueio de Lisboa, ocupada pelas tropas francesas; a outra, composta, como já se referiu, pelos navios «Marlborough», «London», «Bedford» e «Monarch», sob o comando do capitão Graham Moore, continuaria a escoltar a esquadra portuguesa até ao Brasil. D. Manuel Sottomayor, a bordo do «Príncipe Real», decidiu acerca do ponto de encontro: «A primeira coisa, a qual eu estava ansioso que ficasse perfeitamente entendida entre o vice-almirante português e eu era o ponto de reunião, o qual foi fixado por ele primeiramente ao largo da extremidade oeste da Madeira, posteriormente ao largo da Ilha de Palma, e finalmente em Praia, na Ilha de S. Tiago». Três dias depois, a 8 de Dezembro, quando se aproximavam do arquipélago da Madeira o estado do mar voltou a alterar-se e um denso nevoeiro caiu sobre a frota: «estava tão carregado que não conseguíamos ver além da distância equivalente a três vezes o comprimento do navio», escreveu o capitão James Walker a bordo do «HMS Bedford». A situação agrava-se quando, ao anoitecer, uma violenta tempestade começou a assolar os navios com as vagas a lançarem, de tempos a tempos, água gelada sobre o convés cheio de gente e ventos fortíssimos fustigando as velas apodrecidas. Como se isso não bastasse, havia, ainda, um perigo maior a rondar a armada – a Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 28 zona conhecida por «Oito Pedras». Localizada a norte de Porto Santo, era um conjunto de rochedos, parcialmente submersos, constituindo uma armadilha já causadora de inúmeros naufrágios e, neste caso, de alto risco, por via da escuridão da noite e cobertos pelo nevoeiro. Assim, para não correr esse risco, que poderia ser fatal, os comandantes decidiram parar, esperando que o tempo amainasse. Surpreendentemente, ao romper do dia, uma parte dos navios tinha desaparecido. A esquadra, sem que os marinheiros se apercebessem, tinha sido dispersada, durante a noite, pela força dos ventos. Como era natural, os estragos foram maiores nos navios portugueses. Alguns deles punham a nu o péssimo estado em que se encontravam e que as apressadas reparações da última hora não tinham podido corrigir: metiam água abundantemente, o cordame era velho e os mastros e vergas estavam meio podres. Entre outras embarcações forçadas a realizar reparações por alturas da Madeira, é notório o caso da nau «Medusa», onde se passaram momentos de grande aflição quando o mastro principal se despedaçou e veio abaixo, deixando-a à deriva no meio do oceano. O ministro Araújo de Azevedo, que viajava na referida nau, não deixou de apresentar um relatório esclarecedor que nos remete para a forma deficiente como fora preparada a frota Real: «O mastro principal partiu-se…porque estava completamente podre; os cabos estavam num estado lamentável; tudo conspirava para pôr as nossas vidas em perigo, devido à conduta e às decisões tomadas pelo comandante e alguns oficiais. Para que Vossa Majestade tenha uma ideia do estado miserável em que este barco está, basta dizer que se, por acaso, os criados de José Egídio não tivessem trazido algumas sacas de fio para fazer uma peça de tecido, não teríamos com que coser as velas». Dispersada pelos ventos a esquadra seguiu rumos diferentes. Metade dos navios, incluindo o «Príncipe Real» e o «Afonso de Albuquerque», nos quais viajava o núcleo da Família Real, navegaram na direcção noroeste, enquanto a restante frota se dirigiu para o local combinado, a Ilha de Santiago, no arquipélago de Cabo Verde. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 29 Como as condições tivessem melhorado, em águas calmas e em pleno oceano, D. Carlota e as filhas desceram das naus que as transportavam e, tomando lugar numa galeota, resolveram fazer uma visita à Rainha, ao Príncipe e aos Infantes D. Pedro e D. Miguel, regressando depois ao «Afonso de Albuquerque». Foi precisamente neste ponto que D. João decidiu rumar à Baía, em vez de navegar para o Rio de Janeiro como estava planeado à partida de Lisboa. No tempo total da viagem, estavam apenas a meio caminho – umas cinco semanas de mar encapelado e sujeitos ainda a outros contratempos. Atendendo à má organização dos preparativos, à enorme confusão da partida e à odisseia de toda a viagem, bem se pode aceitar ter sido uma aventura que poderia ter redundado para Portugal num enorme desaire, de consequências trágicas difíceis de imaginar. Nos primeiros dias de viagem, enquanto ainda navegavam no hemisfério norte, a forte ondulação projectava água gelada sobre o convés sobrelotado, onde a tripulação trabalhava com dificuldades por via do nevoeiro e das rajadas de vento frio. Com o casco a meter água frequentemente, muitas embarcações tinham as velas e as cordas apodrecidas, o madeirame gemendo sob a força das ondas e dos ventos, o pânico espalhava-se entre aqueles passageiros que não estavam habituados a tais andanças. De facto, os ventos e as tempestades tornavam a viagem muito desagradável para os passageiros, naturalmente assustados com a fúria das vagas, contudo o medo, as náuseas colectivas e a agitação do mar revolto constituíam apenas uma parte das razões que tornavam quase insuportável a vida quotidiana a bordo dos navios. A sobrelotação era a principal causa dessa situação desconfortável. O navio almirante da frota portuguesa, o «Príncipe Real», calcula-se que transportava para cima de 1000 pessoas (possivelmente 1600, segundo as estimativas mais elevadas) e mesmo com três convés de armas e um espaçoso porão, nem assim havia espaço livre; o «Minerva» fez-se ao mar com mais de700 passageiros; o «Martim de Freitas» ia a abarrotar com um número sensivelmente igual de passageiros, misturados com carga que já não cabia nos porões. Mesmos os mais ilustres viajavam, e dormiam, amontoados nos tombadilhos. À medida que o tempo decorria, começava a fazer sentir-se a escassez de água e outros mantimentos, tendo sido necessário reduzir o consumo tomando medidas de Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 30 racionamento, queixando-se os passageiros da qualidade e quantidade das provisões. Aliás, esta situação foi detectada logo à partida, e é o próprio Lord Strangford quem o denuncia: «A frota deixou o Tejo com tamanha pressa que pouquíssimos dos navios mercantes têm víveres ou água para mais de três semanas a um mês. Muitos navios de guerra encontram-se no mesmo estado, e Sir Sidney Smith «é de opinião que a maior parte do comboio deve rumar para Inglaterra a fim de completar as suas provisões». Porém, tal não foi possível e os navios seguiram para o Brasil com as deficiências que um relatório, publicado na véspera, registava: «Rainha de Portugal» – precisa de 27 tonéis de água, pois os tem vazios; Fragata «Minerva» – tem só 60 tonéis de água; «Conde D. Henrique» - tem seis tonéis vazios, precisa de medicamentos; «Golphinho» – tem seis tonéis vazios, faltam medicamentos, galinhas e lenha; «Urânia» – falta lenha; «Vingança» - falta água e lenha; - «Príncipe Real» – precisa de uma farmácia, galinhas, cabo, cera, 20 tonéis de água, marlim e linha de barca, e lenha; «Voador» - faltam três tonéis de água; «Príncipe do Brasil» - faltam azeite, cera, cabo,30 tonéis de água, lenha e linha de barca». As carências e outras dificuldades agudizavam-se à medida que a esquadra ia avançando. Quando já navegava por alturas do Equador, o frio do Inverno europeu deu lugar a um calor insuportável, em que as temperaturas em Dezembro chegam a 35 graus centígrados, situação agravada pela ausência de ventos. Um outro aspecto desagradável das calmarias, com o andamento muito vagaroso dos navios, era o problema dos detritos, dos dejectos que tendiam a acumular-se no mar, em torno do navio, dando origem a uma «massa nauseante e malcheirosa que ficava pior à medida que o tempo esquentava». Por outro lado, o excesso de passageiros, a falta de higiene e o facto de a maioria das mulheres não ter levado consigo mais do que a roupa que trazia no corpo no dia do embarque, porque na precipitação da partida não conseguiram preparar a bagagem, favoreceram a proliferação de pragas. No «Afonso de Albuquerque», onde viajava a princesa Carlota Joaquina, uma infestação de piolhos espalhou-se pelo convés a abarrotar, obrigando as mulheres a lançar ao mar as suas perucas, a rapar os cabelos, sendo as carecas untadas com banha de porco e pulverizadas com pó anti-séptico. A este propósito, parece-me interessante transcrever o comentário de Tobias Monteiro na sua «História do Império» editada no Rio de Janeiro em 1927: «Tamanha foi a invasão de piolhos, que todas elas, inclusive a Princesa Real, tiveram de cortar os cabelos para Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 31 atacar eficazmente os parasitas com banha e pós de Joanna. Quando as vissem chegar tonsuradas, todo o belo sexo do Rio de Janeiro haveria de tomar a operação como requinte da moda e, dentro de pouco tempo, as fartas cabeleiras das cariocas cairiam, uma a uma, devastadas à tesoura». Sobre a vida do dia a dia, a bordo da frota, na longa e atribulada viagem da Família Real para o Brasil, os testemunhos nem sempre merecem inteiramente crédito. Refiro, apenas, o caso do cronista de meados do século passado, Luiz Edmundo, que apresenta alguns retratos românticos, onde homens e mulheres aparecem a cantar ao som das guitarras e a jogar cartas em convés iluminados pelo luar, o que, de facto, parece de todo improvável, num ambiente quase sempre dramático e sem condições para que tal acontecesse. E mais, também pouco ou nada convincente, é a história em que descreve o herdeiro do trono, D. Pedro, de nove anos, «encantado com a experiência», em correrias pela ponte do navio e colaborando com a tripulação a calcular a longitude. De facto, para que tenhamos uma visão mais realista da travessia do oceano, temos que recorrer fontes às primárias que chegaram até aos nossos dias, como é o ocaso do depoimento de um oficial português que acompanhou parte da esquadra rumo ao Brasil: «Tão grande foi o número de pessoas (…) e tão apinhados estavam todos os navios, que mal havia espaço para que elas se deitassem nos conveses. As damas (…) desprovidas de qualquer traje, à excepção do que estavam a usar. Como os navios tinham apenas pequenas provisões, logo se tornou necessário solicitar ao almirante britânico que acolhesse a bordo da sua esquadra uma grande quantidade de passageiros. E (para esses) foi uma enorme sorte, pois os que permaneceram foram Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 32 realmente objecto de piedade de Lisboa à Baía. A maior parte dormia no tombadilho, sem cama nem cobertas. A água era o artigo principal a reclamar a nossa atenção; a porção que recebíamos dela era mínima e a comida, da pior qualidade e deficiente de tal forma que a própria vida se tornou um fardo. A nossa situação era tão horrível que a ninguém desejo que a chegue um dia a experimentar ou mesmo testemunhar. Homens, mulheres e crianças formavam juntos o mais desolador dos quadros». A bordo de um dos navios da esquadra («HMS London») viajava Thomas O’Neill (primeiro tenente irlandês), uma personagem considerada muito influente no processo da mudança da Família Real para o Brasil. Como oficial do referido navio testemunhou o embarque da Corte portuguesa e os acontecimentos que marcaram a viagem até à nossa antiga colónia da América. Os seus relatos são vivos, plenos de emoção e pormenores dramáticos, como é o exemplo do trecho em que descreve o desconforto das mulheres da nobreza que viajavam a bordo das embarcações portuguesas: «Mulheres de sangue real e das mais altas estirpes, criadas no seio da aristocracia e da abundância (…) todas obrigadas a enfrentar os frios e as tempestades de Novembro através de mares desconhecidos, privadas de qualquer conforto e até mesmo das coisas mais necessárias da vida, sem uma peça de roupa para trocar ou camas para dormir – constrangidas a amontoarem-se, na maior promiscuidade, a bordo de navios que não estavam em absoluto preparados para recebê-las». Um outro depoimento que merece o maior crédito é o do arquivista Luiz Joaquim dos Santos Marrocos. Trabalhava na Biblioteca Real portuguesa, uma das mais notáveis da Europa, situada num pavilhão do Palácio da Ajuda. Em Março de 1811, já com a Corte instalada no Rio, embarca para o Brasil a fim de zelar pela segunda remessa de livros da Biblioteca. Pouco depois da chegada, Luiz Joaquim Marrocos envia uma carta a seu pai onde dá uma ideia do tormento que era atravessar o Atlântico num navio à vela, sobrelotado, com muitas fragilidades e batido pelas ondas de um lado para o outro: «Meu prezadíssimo pai e senhor do meu coração: É coisa muito de se ponderar o incómodo que sofre qualquer pessoa não acostumada a embarcar e muito principalmente que tenha moléstias de maior perigo e cuidado, a que é nocivo o tossir, o espirrar, o assoar-se (…). É perniciosíssimo, e de toda a consequência, expõe-se ao enjoo marítimo que faz (parece) arrancar as entranhas e rebentar as veias do corpo, durando este tormento dias, semanas e muitas Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 33 vezes a viagem inteira. Além disto, o susto do mar, trovoadas e aguaceiros, balanços, submersões do navio não são coisas ridículas para quem não é grosseiro». Não será de estranhar que algumas das situações já referidas, não tivessem deixado de provocar um ambiente dominado pela insatisfação e pelo azedume, lamentando o que a pressa obrigara a deixar para trás: bens, parentes, a incerteza do futuro próximo e, até às vezes, as coisas mais simples. Um registo anónimo faz referências, ainda que breves, à carga emocional dos que iam a bordo: «Um deixara em Lisboa um bule que fazia o melhor chá do mundo; outro esquecera-se de trazer um cofre que continha muitos pertences importantíssimos». A partir destas pequenas lembranças que iam dando lugar a censuras veladas, começaram a transparecer as frustrações, «e chegou-se à conclusão de que a viagem fora muito mal planeada, de que deviam ter disposto de mais tempo e de que o grande número de embarcações que se encontrava no Tejo deveria ter sido preparado como navios de transporte». D. João manteve-se calmo, a sua consternação apenas foi revelada a dois ou três dos seus servidores mais fiéis. Porém, com o aumento da murmuração, e para lhe pôr cobro, o Príncipe que até aí se mantivera com grande serenidade e contenção, determinou a «regra de silêncio, proibindo quaisquer queixas dos acertos e erros da decisão de deixar Lisboa». A partir de então, diz o cronista, (parece que ironicamente) o mar tornar-se-ia o único assunto de conversa. Presume-se que o cronista, apesar de anónimo, devia ser personalidade bem conhecida, só que… por razões óbvias, não se identificava, nem dizia o que pensava, mas pensava o que dizia. Mesmo sob a lei do silêncio, as questões políticas não podiam deixar de estar presentes; e, isto, porque, a bordo, as tensões não seriam apenas de ordem emocional, mas também de carácter político, pois à medida que a armada se aproximava do seu termo, muitos dos ilustres que nela seguiam, iam-se posicionando, pelo menos em espírito, para ocupar o lugar que mais ambicionavam na nova administração. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 34 O fim da odisseia. Chegada a S. Salvador da Baía. A recepção. Como já se referiu, a grande tempestade ocorrida ao largo da Madeira acabou por dispersar os navios. Alguns entre os quais o «Príncipe Real» e o «Afonso de Albuquerque» em que seguia a Família Real, e o «Bedford», que os escoltava, desviaram-se da rota previamente combinada e por decisão do Príncipe Regente tomaram rumo à Baía, não podendo, assim, juntar-se aos restantes, conforme estava determinado à partida de Lisboa, na Ilha de Santiago, velejando estes directamente para o Rio de Janeiro. A partir daí não houve mais contacto entre as duas frotas, julgando-se, até há pouco tempo, que uma se havia afastado da outra, perdendo-se completamente da vista. No entanto, os registos que constam nos diários de bordo britânicos testemunham que, desconhecendo-o, mutuamente, as duas frotas navegaram em «curso paralelo e bem próximos entre si até à altura da costa do Brasil». À medida que a esquadra real, em direcção à Baía, se aproximava do equador e entrava numa zona de calmaria – a mesma que assustava os navegadores portugueses de Quinhentos e que, oficialmente, obrigou Pedro Álvares Cabral a mudar o curso da viagem quando se dirigia para a Índia – a velocidade dos navios baixava de forma preocupante por via da falta de ventos. Relata o capitão Walker: «…Estávamos sendo detidos pelas calmarias, que mantinham os ventos e as chuvas pesadas do lado norte, e levamos 10 dias para avançar 30 léguas…». Com um bom vento, um navio veloz cobriria esta em distância em cerca de 20 horas. Ultrapassado este obstáculo, o vento levantou-se de novo e os passageiros animaram-se com a perspectiva da chegada a Terras de Santa Cruz, além de que um bergantim, proveniente do Recife transportava vários géneros bem necessários, sobretudo, frutos tropicais. Para os passageiros e tripulantes foi mais um alento, depois de quase dois meses sujeitos a uma alimentação à base de carne salgada, biscoitos secos, vinho avinagrado e água insalubre. O navio fora enviado pelo Governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, após ter sido alertado para a provável posição da frota pelo comandante da «Medusa», já aportada ao Recife para as indispensáveis reparações. Dias depois, do convés, avistava-se ao longe um contorno rasteiro da costa. Já mais próximo do porto, divisava-se uma cidade colonial, com as suas telhas vermelhas, Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 35 paredes caiadas, silhuetas de palmeiras no alto das colinas, campos de cana do açúcar, plantações de tabaco e pomares de citrinos. Efectivamente, vista à distância, na entrada da Baía de Todos-os-Santos, o panorama deslumbrava os visitantes estrangeiros, como se pode atestar pela descrição da inglesa Maria Graham, quando ali chegou em Outubro de 1821: «Esta manhã, ao raiar da aurora, os meus olhos abriram-se diante de um dos mais belos espectáculos que jamais contemplei. Uma cidade, magnífica de aspecto, vista do mar, está colocada ao longo da cumeeira e na declividade de uma alta e íngreme montanha. Uma vegetação riquíssima surge intercalada com as claras construções e além da cidade estende-se ao extremo da terra, onde ficam a pitoresca igreja e o convento de Santo António da Barra. Aqui e ali, o solo vermelho vivo harmoniza-se com o telhado das casas. O pitoresco dos fortes, o movimento do embarque, os morros que se esfumam à distância, e a própria forma da baía, com as suas ilhas e promontórios, tudo completa um panorama encantador; depois, há uma fresca brisa marítima que dá ânimo para apreciálo, não obstante o clima tropical». A odisseia chegara ao fim, e já com o litoral brasileiro à vista, e a nau «Príncipe Real» a poucas horas de aportar a S. Salvador da Baía, D. Domingos de Sousa Coutinho, nosso ministro em Londres, jubilosamente, oficiava a D. João congratulando-se com o feliz acontecimento: «Graças ao Altíssimo, – Está Vossa Alteza salvo! Salva a Real Família, a Monarquia e o Nome Português. Agora sim que recordando as palavras da Sagrada Escritura pode todo o Bom Português, olhando para o futuro que se lhe apresenta, morrer descansado! Está a Monarquia posta a salvo para sempre dos golpes da amizade como de inimizade de Bonaparte…» Com efeito, no dia 22 de Janeiro, uma sexta-feira, após 54 dias de mar e cerca de 6400 quilómetros percorridos, D João chegava finalmente à sua residência de alémmar, atracando numa das primeiras cidades que os portugueses fundaram no Novo Mundo, e que até 1763 fora a sede do governo da América lusitana e a maior do Vice Reino: Salvador, na Baía de Todos os Santos. O restante da esquadra, velejando Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 36 directamente de Cabo Verde, tinha chegado ao Rio no dia 17 de Janeiro. De terra, a esquadra tinha sido avistada e mensageiros foram alertados para alertar o governador em Salvador, o qual deixou escrito sobre a chegada: «No dia 22 de Janeiro deste ano, pelas duas horas da madrugada, me foi dada a notícia de se terem avistado embarcações grandes na costa do norte, no dia 21, pelas quatro horas da tarde; redobrei as vigias ordinárias, e sucessivamente, se me comunicou, aparecerem três naus, uma galera e dois bergantins, dando-se por certo serem embarcações inglesas; nesta certeza me conservei até ao meio dia, em que, diferençando-se as bandeiras, se reconheceu o pavilhão real; mandei logo tirar balas às peças das baterias para se darem as respectivas salvas». O Governador da capitania, João de Saldanha da Gama, 6º Conde da Ponte, embora tivesse conhecimento, havia mais de dez dias, da retirada da Família Real, ignorava completamente que a cidade de Salvador seria o seu primeiro destino. Daí, compreender-se, que o acontecimento não tivesse a pompa que se poderia imaginar, uma vez que parte da armada real chegara de surpresa, entrando na baía em canoas, não havendo, pois, tempo, nem condições para receber, com brilho, a Rainha, o Príncipe Regente e os outros membros da Corte e da Casa Real que, naturalmente, se terão mostrado surpreendidos pelo facto de o cais se encontrar deserto. Logo que a notícia chegou aos seus ouvidos, o Governador da Baía subiu a bordo do «Príncipe Real» para saudar D. João e os que o acompanhavam e, também, para acertar a forma que deveria ter a recepção, a qual foi adiada para o dia seguinte, a fim de dar tempo aos que chegavam de se recomporem de tão atribulada viagem e aos residentes preparar condignamente a recepção. No dia seguinte, pelas 4 horas da tarde, ao contrário do que sucedera na véspera, agora com o cais da ribeira apinhado de gente, a Família Real – excepto D. Maria, por óbvias razões de saúde – e demais nobreza, pisavam solo brasileiro, deparando com uma calorosa recepção, debaixo de salvas de canhões disparadas das fortalezas e gritos de entusiasmo misturados com o badalar dos sinos das inúmeras igrejas da cidade. Por entre as saudações da multidão, entraram nas carruagens que os esperavam e seguiram «pela rua da Preguiça, tomaram a Ladeira da Gameleira até ao Largo do Teatro (…). Aí desceram das carruagens porque a Câmara Municipal os esperava com o pálio, e sob este, seguiram a pé (…) até à igreja da Sé, entre alas de soldados que lhes faziam as continências, repicando ao mesmo tempo todas as igrejas (…) em acção Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 37 de graças ao Omnipotente, não só pela feliz viagem dos soberanos, como pela dita de ver o Brasil ser a sede da monarquia portuguesa». Na Igreja da Sé, o Arcebispo, D. Frei José de Santa Escolástica, celebrou um «Te Deum Laudamus» em acção de graças pelo êxito da travessia oceânica. Os sinos continuavam a repicar saudando a chegada do Príncipe Regente e da Família Real, hóspedes inesperados e que, agora, a população podia ver em “carne e osso”, facto único na história do colonialismo europeu, pois até àquele momento nenhum monarca havia viajado até ao continente americano nem sequer em visita e, muito menos, para fixar lá a sua Corte. À noite, depois das cerimónias de boas vindas terem terminado, D. João, D. Maria e o Infante D. Pedro ficaram alojados no Palácio do Governador, enquanto D. Carlota Joaquina ficou a bordo da nau «Afonso de Albuquerque» por mais cinco dias, antes de se instalar no edifício do palácio da Justiça, no centro da cidade. Nos dias em que a Corte permaneceu em Salvador, não faltaram cerimónias litúrgicas «repletas de ouro e jacarandá», música, espectáculos nocturnos pelas ruas da cidade, cerimónias de beija-mão em que o Príncipe Regente recebia, incansavelmente, longas filas de súbditos: agricultores, comerciantes, padres, militares, funcionários públicos e pessoas humildes que lhe vinham prestar homenagem, bem como ouvir as suas preocupações e pretensões. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 38 A abertura dos portos do Brasil – O fim do monopólio. Durante o mês que passou na Baía sendo alvo de frequentes manifestações de júbilo e numerosas festas e celebrações, o Príncipe Regente teve ensejo de promulgar uma série de medidas importantes que haveriam de mudar os destinos do Brasil. Embora a capital da colónia tivesse sido transferida para o Rio de Janeiro em 1763, por via da exploração aurífera e da consequente mudança para o Centro-Sul da actividade económica do Brasil, a região da Baía, com a cidade de S. Salvador à cabeça, continuava a ser um centro de fundamental importância para a agricultura mercantil colonial. O porto de S. Salvador da Baía encontrava-se situado num ponto fulcral em que a criação de gado, a produção de peles, açúcar e especialmente tabaco criavam excelentes oportunidades de exportação, proporcionando uma articulação entre alguns dos principais fluxos de comércio que animavam o império. Além disso, a grande necessidade de mão-de-obra tornava o seu porto num dos principais centros do tráfico negreiro, com a vantagem da sua relativa proximidade da costa africana e, assim, os traficantes baianos controlavam um activo comércio directo com a costa da Guiné. E mais, como escala praticamente obrigatória na carreira da Índia, a Baía estava ligada ao comércio oriental, sendo o tabaco o principal produto exportado e importando panos de algodão da Índia, usados para consumo local e, também, como moeda de troca na aquisição de escravos. Acontece que, quando da chegada da Corte ao Brasil, havia já algum tempo que o comércio daquele Estado sofria as consequências do processo conjuntural europeu, nomeadamente devido ao embargo posto à navegação do País e, posteriormente, pela ocupação das tropas de Junot. A aliança com a Inglaterra constituía o motivo para a França obstruir as nossas relações comerciais com o Brasil, resultando de tal facto uma quebra do movimento portuário não só da Baia, mas também de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Maranhão e de outros portos de mar, com particular incidência em S. Salvador, onde se vivia um situação aflitiva. Com Portugal e o porto de Lisboa ocupados pelos franceses, o comércio do Reino estava virtualmente paralisado e, assim, não era de estranhar que o Príncipe Regente ao chegar à Baía encontrasse o porto repleto de barcos à espera de largar o Brasil, transportando mercadorias para a Europa. Os armazéns abarrotavam de produtos Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 39 vindos do interior, muitos dos quais corriam o risco da deterioração; criadores de gado, senhores de engenho, produtores de cana e de tabaco, negociantes, tendeiros viviam numa situação preocupante que não podia deixar de reflectir-se na população. Acrescente-se, ainda, a carência, nas lojas e mercados, de artigos manufacturados e alguns géneros de origem europeia fornecidos pelo comércio português. Logo, após a chegada, D. João foi alertado para o que se estava a passar, podendo depreender-se, até, que nem sequer necessitava de ser informado; ele próprio o terá verificado, ou confirmado, porquanto, era sabedor que, por ordem do Visconde de Anadia, Secretário de Estado da Marinha e Ultramar, fora proibida, em 7 de Outubro de 1807, a saída de navios dos portos brasileiros. De qualquer modo, este “statu quo” foi apresentado a D. João a quem foram pedidas urgentes providências e que, de imediato, foram atendidas. De facto, decidiu com surpreendente rapidez. Uma semana depois da sua chegada, a 28 de Janeiro, sem a presença dos seus principais ministros e conselheiros, e depois de mais uma cerimónia do «Te Deum», D. João outorgava ao Brasil uma verdadeira carta de alforria: a carta de abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Um documento da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, redigido por Tomás António Vila Nova Portugal, esclarece o modo pelo qual foram abertos os portos brasileiros aos navios das nações amigas. Diz o referido documento que chegando o Príncipe Regente à Baía, era Ministro de Estado D. Fernando José de Portugal e Castro, depois Conde e Marquês de Aguiar, ex – Governador daquela capitania e ex – Vice-Rei do Brasil, o qual foi convencido por José da Silva Lisboa, deputado e secretário da Mesa da Inspecção da cidade do Salvador, no sentido de ser obtido de D. João a abertura dos portos do Brasil aos navios estrangeiros. Para isso, o Conde da Ponte, Governador da Baía, perante o Príncipe Regente, mostraria os inconvenientes da suspensão do comércio marítimo, em consequência da invasão de Portugal pelos franceses. Assim foi feito e, em resposta ao memorial recebido, ao seu signatário dirigiu D. João a seguinte carta régia: «Conde da Ponte, do meu Conselho, Governador e Capitão – General da Baía, Amigo. Eu, o Príncipe Regente, vos envio muito saudar, como àquele que amo. Atendendo à representação que fizestes subir à minha Real presença, sobre se achar interrompido o comércio desta Capitania, com grave prejuízo dos meus vassalos e da minha Real Fazenda, em razão das críticas e públicas circunstâncias da Europa; Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 40 e querendo dar sobre este importante objecto alguma providência pronta e capaz de melhorar o progresso de tais danos: Sou servido ordenar interina e provisoriamente, enquanto não consolido um sistema geral, que efectivamente regule semelhantes matérias, o seguinte: Primo: que sejam admissíveis nas Alfândegas do Brasil todos e quaisquer géneros, fazendas e mercadorias, transportadas ou em navios estrangeiros das potências que se conservam em paz e harmonia com a minha Real Coroa, ou em navios dos meus vassalos, pagando por entrada 24 por cento; a saber, 20 de direitos grossos, e 4 do donativo já estabelecido, regulando-se a cobrança destes direitos pelas pautas ou aforamentos, por que até o presente se regulam cada uma das ditas Alfândegas, ficando os vinhos, águas ardentes e azeites doces, que se denominam molhados, pagando o dobro dos direitos que até agora nelas satisfaziam. Secundo: Que não só os meus vassalos, mas também os sobreditos estrangeiros, possam exportar para os portos que bem lhes parecer, a benefício do comércio e agricultura, que tanto desejo promover, todos e quaisquer géneros e produções coloniais, à excepção do paubrasil ou outros notoriamente estancados, pagando por saída os mesmos direitos já estabelecidos nas respectivas Capitanias, ficando entretanto como em suspenso e sem vigor todas as leis, cartas – régias ou outras ordens, que até aqui proibiam neste Estado do Brasil o recíproco comércio e navegação entre os meus vassalos e estrangeiros. O que tudo assim fareis executar com o zelo e actividade que de vós espero. Escrita na Baía, aos 28 de Janeiro de 1808 «Príncipe» Mais do que benevolência para com os seus anfitriões, o Príncipe Regente considerando o bom fundamento do parecer não hesitou em deferir a solicitação, o que correspondia ao interesse do comércio baiano, além de que a abertura dos portos era uma medida inevitável. A decisão, certamente, não deixou de ser condicionada pelas circunstâncias de isolamento em que se encontrava o Brasil, mas tinha muito a ver com a dívida que D. João tinha para com a Inglaterra, que era o preço a pagar pela protecção contra a França, devidamente acordado na convenção de Londres em Outubro de 1807, pelo nosso embaixador D. Domingos de Sousa Coutinho. Acrescente-se, ainda, que na véspera da partida, em Lisboa, Lord Strangford reunindo com Araújo de Azevedo preveniu que o Almirante Sidney Smith só levantaria o bloqueio naval e permitiria a saída da esquadra portuguesa mediante as seguintes condições: «A abertura dos portos Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 41 do Brasil, a concorrência livre e reservada para a Inglaterra, marcando-lhe logo uma tarifa de direitos insignificantes; e até que um dos portos do Brasil (o de Santa Catarina) fosse entregue à Inglaterra». Apesar da oposição do nosso ministro, o facto é que com excepção do porto exclusivo de Santa Catarina, todas as exigências tiveram cumprimento após a chegada ao Brasil. A carta régia de abertura dos portos «a todas as nações amigas» significava, nesse momento, a Inglaterra, pois era a única potência marítima que não era aliada de Napoleão. Efectivamente, a abertura ao comércio internacional queria dizer que, em relação à Europa, os portos estavam somente abertos aos britânicos e a ocasião era bem propícia, porquanto o comércio abria-se, precisamente, numa conjuntura em que a maioria dos mercados habituais estavam fechados para a Grã – Bretanha. Sublinhe-se que, e já se referiu, de Portugal, ocupado pela França, não saíam as mercadorias necessárias, e fundamentais, para a vida no Brasil onde, praticamente tudo era importado, por via do monopólio que vigorava desde o início do século XVI. Ora, é obvio que a Inglaterra beneficiando das vantagens da aliança, mas, e principalmente, das condições impostas e que tivemos de suportar, iria tirar partido de tal situação. Assim, logo de início, começaram a chegar ao Brasil, fazendas de algodão, lã e seda; peças de vestuário, alimentos, móveis, vidros, cristais, louças, porcelanas, panelas de ferro, cutelaria, quinquilharia, carruagens… Acontece que, os comerciantes ingleses, começaram a exportar uma quantidade enormíssima de mercadorias, muito para além da capacidade de absorção do mercado brasileiro, o qual, «tomado por numerosa população escrava – que em princípio não consumia –, e pelas elites, a recém – chegada e a da terra, mal-e-mal dava conta do seu cotidiano». Conquanto enviassem produtos apropriados para o mercado brasileiro e alguns géneros de boa qualidade mas pouco adequados às necessidades e hábitos de consumo na colónia, outros eram absolutamente impróprios, como a exportação de patins de gelo, espartilhos para senhoras (de uso desconhecido naquelas paragens), bacias de cobre para aquecimento de casas, grossos cobertores de lã, etc. Com um mercado restrito e pouco elástico, os referidos géneros tiveram que ser adaptados a outras situações e escoados em hasta pública ou em vendas facilitadas. De qualquer modo, nada impediu que o comércio inglês conseguisse forte implantação e durante largo tempo controlasse em absoluto o mercado brasileiro, nomeadamente depois do Tratado de Comércio e Navegação, assinado em 1810, e que privilegiou a taxação tarifária dos produtos ingleses exportados para o Brasil, tornandoCarlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 42 os mais competitivos que os dos restantes países, inclusive em relação a Portugal. A decisão do Príncipe Regente ao abrir os portos às “nações amigas”, leia-se Inglaterra, não deixou de ter a oposição dos agentes do comércio colonial português que, vendo o fim de uma era de proteccionismo marítimo, foram obrigados a abdicar de um privilégio, um monopólio, que nasceu, pode dizer-se, com a viagem de Cabral em 1500. Ao fim e ao cabo, o Brasil do início de Oitocentos foi libertado de um administrador colonial (Portugal), para ficar dependente de outro (Inglaterra). Publicado o famoso decreto histórico, D. João ainda se demorou na Baía cerca de um mês. Sabendo da sua partida para o Rio, todos os baianos tentaram, em vão, que permanecesse entre eles, considerando o bem que representava para a cidade a fixação ali da Corte portuguesa, porquanto, ainda tivera tempo de promulgar uma série de medidas que muito valorizaram a terra que o recebeu. Representantes da Câmara Municipal, em nome da população, tentaram demovê-lo da nova viagem, prometendo angariar fundos para a construção de um luxuoso palácio e sustentar as despesas da Corte na cidade. D. João, naturalmente, recusou a oferta, não só porque S. Salvador era mais vulnerável a um eventual ataque francês, mas também pelo facto de ter anunciado, solenemente, quando da sua despedida do Reino, no decreto de 27 de Novembro, a intenção de vir a estabelecer-se no Rio de Janeiro e que, isso mesmo, havia sido comunicado aos governos estrangeiros. Assim, a 26 de Fevereiro, dia da partida, uma multidão juntava-se para dizer adeus à Família Real. Nota: os elementos bibliográficos relativos a esta 1ª Parte (A e B) serão incluídos numa 2ª fase deste tema, respeitante ao período de permanência da Corte no Rio de Janeiro, a publicar oportunamente. Carlos Jaca “2º Centenário das Invasões Francesas”- A Corte Portuguesa no Brasil Parte A 43
Download