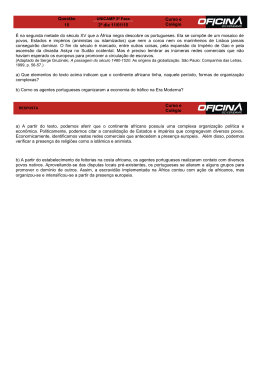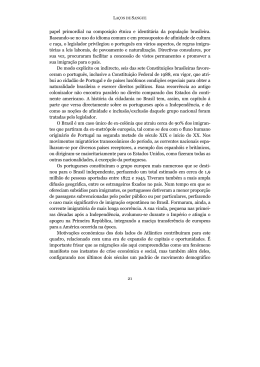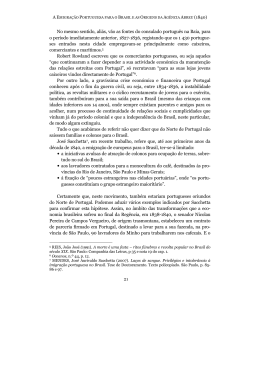g g y p 500 ANOS... DE PORTUGUESES A BRASILEIROS PIERRE SANCHIS Professor Emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Doutor em Antropologia pela Universidade de Paris [email protected] Five hundred years... from Portuguese to Brazilians RESUMO A chegada dos portugueses às costas brasileiras representou para aquele grupo humano uma das transferências de hábitat mais drásticas que a história conheceu: desde uma terra de raiz até um espaço sem limites, onde quase impossível tornava-se o enraizamento, mas imperativa, a relação ao “outro”. O artigo pretende sugerir que um fato social aparentemente tão simples pode ter projetado suas conseqüências sobre a “longa duração” da história brasileira, chegando mesmo a desenhar, quem sabe até os dias de hoje, algumas características do campo religioso no Brasil. Palavras-chave Portugal – Brasil – espaço – nomadismo – sincretismo religioso. ABSTRACT The arrival of the Portuguese on the Brazilian coast represented one of the most radical transferences of habitat that history has ever known: people who were first so deeply rooted started living in an unlimited space, in which rooting was nearly impossible and the relationship with “the other” was imperative. The article suggests that such an apparently simple social fact may well have had long-run consequences in Brazilian history. It may even account for some very recent features of our religious field. Key words Portugal – Brazil – space – nomadism – religious syncretism. 47 impulso nº 27 g g y p 5 “aquela passagem que, precisamente 500 anos atrás, transformou os portugueses em “brasileiros” ” 00 anos!... Tantos são os aspectos que poderiam ser escolhidos para comentar esta data!... Escolhi um, que parecerá, quem sabe, bastante superficial num primeiro momento: a relação com o espaço onde vive ajuda um grupo humano a se construir em sua particularidade histórica, cultural e social. No caso, duas relações, comparadas: a dos portugueses com o seu minúsculo Portugal, a dos brasileiros com o seu imenso Brasil. E, mais ainda do que uma comparação estática, a visão da passagem histórica do primeiro tipo de relação ao segundo: aquela passagem que, precisamente 500 anos atrás, transformou os portugueses em “brasileiros”.1 Está se tornando cada vez mais comum na ciência social contemporânea (Scheller, Dumont, Norbert Elias, Giddens etc.) a alusão à problemática do espaço: a relação com o lugar de sua inserção (o topos) contribui para definir a vida social de um grupo. Velha problemática da geografia humana, que a história de há muito assumiu (O Mediterrâneo, de Braudel)2 e que parece impor-se atualmente às ciências sociais: é importante o nicho ecológico em que se insere o homem, a dimensão, a extensão, a proporção... e a desproporção, o equilíbrio ou a desmedida, o definido e o sem fim. Por sua vez, Michel Foucault atribui qualificações propriamente políticas a essa referência ao espaço: “Território é sem dúvida uma noção geográfica, mas é antes de tudo uma noção jurídico-política: aquilo que é controlado por um certo tipo de poder”.3 Com todas as conseqüências que o fato implica. É nesta perspectiva que quero falar de Portugal e do Brasil. PORTUGAL, ESPAÇO FEITO DE ALDEIA E DE MAR De que Portugal falarei? Não do Portugal da grande cultura e dos expoentes históricos, também não do das cidades importantes e dos fluxos contemporâneos de modernidade, mas daquele, nos interiores, que um contato modesto de pesquisa, há trinta anos, me deu a conhecer: o aldeão no seu quotidiano e nas suas festas, quem sabe próximo ao grande número daqueles que, há 500 anos, povoavam as caravelas, mais tarde os paquetes, daqueles que afinal começaram a fazer o Brasil. Ora, o que minha experiência de campo me sugere sobre esta problemática da relação ao espaço neste Portugal profundo poderia ser resumido em dois pontos. 1 Boa parte das idéias deste texto foi desenvolvida em SANCHIS, 1997a e 1997b. BRAUDEL (1949), 1966. 3 FOUCAULT, 1979, p. 156. Herodote, o dialogante de Foucault neste capítulo, insiste: “Entre o discurso geográfico e o discurso estratégico, pode-se observar uma circulação de noções: a região dos geógrafos é a mesma que a região militar (de regere, comandar) e província o mesmo que território vencido (devincere). O campo remete ao campo de batalha...” (Ibid., p. 158). 2 impulso nº 27 48 g g y p Antes de tudo, o português (do Norte e Centro) que conheci era o homem de sua aldeia. Encontrei na obra recente sobre Portugal de Miguel de Almeida, um antropólogo português que visita freqüentemente o Brasil, dois subtítulos significativos no mesmo sentido: “A terra natal como umbigo da história” e “História de vida, história de aldeia”.4 É de fato ali, neste topos limitado e concreto, que se enraizam – e se particularizam – os dois universais que, em outro plano, abrem o português para o mundo: o sentimento de sua pátria, a adesão à sua religião. Português e católico, o aldeão, antes de tudo, é filho de sua terra. São muitas as lembranças das conversas, das trocas e reflexões que me impuseram esta convicção: “Mandar os nossos rapazes combater no ultramar, não!”, diziam-me durante a guerra colonial. “Ainda se fosse para defender nossa aldeia...”. Quanto ao catolicismo (objeto de minha pesquisa, lá e aqui), sobretudo no Norte ou Noroeste – precisamente de onde terão ido os futuros brasileiros –, era um catolicismo visivelmente enraizado numa identidade local, mais presente em muitos casos do que o da identidade regional ou nacional. Referências históricas inscritas na topografia, as narrativas familiares, as genealogias, os patronímicos, que articulavam, através do casamento, esta identidade local a outras de mesmo tipo no interior de uma rede regional de aldeias, mais do que a uma identidade regional propriamente dita; cristalizações simbólicas de tipo emblemático, não exclusivamente, mas o mais das vezes de natureza religiosa: o vigário, a igreja, os padres aposentados que, até havia pouco, costumavam voltar a viver em casas de suas linhagens, os santuários de romaria e os caminhos que levam a eles, santuários e caminhos que, todos, continuavam marcando o mapa imaginário e sentimental da região, o calendário, “os trabalhos e os dias” locais, as festividades que os acompanham; o próprio Santo, o “padroeiro”, quase inscrito nas tábuas genealógicas da comunidade (“O São Bento daqui é primo do de Santo Tirso”; ou ainda: “São Torcato apareceu, São Bento não o pode porque ainda tem irmãos vivos”, “São Bento, não, não conheci; já não é do meu tempo”...); a Confraria, que recapitula os vivos (presentes ou ausentes por emigração) e os mortos – os vivos, aliás, enquanto futuros mortos (as missas encomendadas com antecedência, que tecem entre si as gerações); as festas, enfim, romarias ou não, emblemas, às vezes agressivamente fechados, da comunidade local ou, ao contrário, operadoras da articulação entre a comunidade local e o espaço regional. Uma identidade religiosa – e mais amplamente social – que se constituía sobre a base ao mesmo tempo do local (topos) e do passado num processo unitário, ao termo do qual a Igreja, referência fundamental, era vivida como autóctone, nascida desta terra, identificando-se com ela e com suas raízes históricas. 4 ALMEIDA, 1995. 49 impulso nº 27 g g y p E esse passado, que encontrei ainda vivo, também impõe ao historiador a permanente imagem matricial de uma aldeia. Sobre ela insistem nos dias de hoje os medievalistas, situs de fixação das populações bárbaras, que tornou-se “paróquia” já na época carolíngia, definitivamente implantada como estrutura fundamental do catolicismo nos séculos XI-XIII, e que acaba envolvendo Portugal numa trama geográfico-social e demográfica que articula e trança, de um lado, o fio das comunidades locais, com a sua tendência para a organização autônoma muitas vezes apoiada pelo poder real; de outro lado, os fios variados das forças de senhorialização, com as relações de dependência, em nível militar, judiciário e religioso, que elas conseguem pouco a pouco implantar. Mas, em todos os casos, é em referência a um espaço determinado (“chão”, domínio, terra, território, denotação de um acidente geográfico) que se constrói uma identidade comunitária, com dois pólos: o castelo e, com ele ou contra ele, a paróquia, com sua igreja e seus santuários, que se constitui em centro, fulcro difusor, emblema e cristalização desta identidade local. Mesmo quando os paroquianos perdem o direito de eleger o seu cura, nem por isso a igreja deixa de constituir, afinal, um dos principais vínculos da solidariedade campesina. É nela, pertencente ou não ao senhor, que todos os habitantes da freguesia se reúnem para celebrar coletivamente os ritos de passagem, de entrada na vida e na morte, aí que pedem a benção divina para os filhos, os animais e as searas, aí que se refugiam quando chegam os cavaleiros para praticarem violências e abusos.5 Palavras de historiador, referidas à Idade Média. Mas pouco deveria mudar o etnógrafo para falar do quase hoje (25, 30 anos atrás...) de muitas aldeias, ou melhor freguesias (paróquias), no seu quadro geográfico, real e imaginário, com seu conjunto de atividades associadas aos ciclos naturais e às suas redes próprias de sociabilidade. Um Portugal medieval, outro ainda contemporâneo, os dois construídos na base destas redes de identidades locais, topologicamente de-terminadas, de-limitadas. Como não pensar, então, entre estes dois momentos – a Idade Média e uma época recente – no Entre-Douro-e-Minho do século XVI, celeiro das primeiras levas portuguesas que implantarão o Brasil? É preciso, com efeito, acrescentar a esta primeira característica da relação portuguesa com o espaço uma outra, aparentemente contraditória. Um Portugal inclinado em anfiteatro para o mar, território pequeno, cercado pela Espanha e situado na extremidade da Europa, não tendo outra possível expansão senão o mar. 5 MATTOSO, 1985, p. 294. Aliás, é bom notá-lo, do mesmo historiador que acaba de coordenar a edição de um livro sobre as mudanças espantosas do Portugal imediatamente contemporâneo. impulso nº 27 50 g g y p Por isso, o homem da aldeia é também o do Oceano. “A força atrativa do Atlântico, este grande mar povoado de tempestades e de mistérios, foi a alma da nação e foi com ele que se escreveu a História de Portugal”, diz Jorge Dias.6 Num primeiro momento, esta força atrativa faz acumular no litoral as aglomerações urbanas, ao contrário da vizinha Espanha, que implanta no seu centro a sua capital. Mas esse passo é só primeiro: o mesmo português aldeão, preso a um horizonte marcado, balisado pela história, diferenciado até o detalhe, pouco globalizado e todo voltado para o círculo interior, é também atraído pela voragem do não marcado, do imensamente aberto, do sem limites. De costas para – e sempre preso à – origem que o sustenta, o nutre por dentro mas o lança rumo ao desconhecido; ele precisa, mesmo neste arrancar ativo a si mesmo, da continuidade do laço que define e identifica.... Um enraizado, mesmo se viajante, ou então, se ficou, aquele cuja permanência articula-se sempre à referência a uma parte de si que se foi. Desde que se conhece por gente, Portugal sonhou com os seus que o deixaram – sem deixá-lo, pois o levavam consigo. E continua até os dias de hoje. Mas na imensidão não marcada do mar é só possível traçar caminhos. Impensável nele criar raízes, novas raízes, para substituir aquelas que foram arrancadas lá. No mar, era impossível implantar um novo Portugal. Em terras, apesar de infinitas, oceano florestal, era pelo menos pensável. Aqui se situa a metamorfose. Melhor, talvez, a inversão. Um desenraizado, errante longe de suas referências, mas encostado ainda no seu imaginário, ao passado de seu torrão natal, encontra um horizonte no qual – utopicamente – pode pensar em criar novas raízes. Do seu topos tradicional à atopia do mar, o português; da utopia da floresta infinita em direção ao novo topos de outro assentamento, o brasileiro. Movimentos arrevesados, que desde há séculos não acabam de acabar. BRASIL, ESPAÇO SEM LIMITES Num primeiro momento, imagine-se o espanto que a descoberta do espaço brasileiro criou em tais viajantes! Da aldeia e dos santuários familiares para um mundo sem limites, no qual a imensidão geográfica implicava, impartida por um Estado e uma Igreja pouco presentes no quotidiano, uma tarefa desestruturadora. Pouco mais de um século depois, constata Caio Prado Junior, (...) no tratado de Madri (1750), já as fronteiras atuais do Brasil foram quase que definitivamente fixadas, em nome da povoação efetiva: “Cada 6 DIAS, 1971, p. 15. 51 impulso nº 27 g g y p parte há de ficar com o que atualmente possui”. Isto já nos mostra, a priori, que de fato a colonização portuguesa ocupara esta área imensa que constituiria o nosso país. (...) Obra considerável, não há dúvida, daquele punhado de povoadores capazes de ocupar e defender efetivamente (...) um território de oito milhões de quilômetros quadrados (...) mas, ao mesmo tempo, ônus penoso que pesará sobre a colônia e depois sobre a nação, provocando como provocou esta disseminação pasmosa e sem paralelo que afasta e isola os indivíduos, cinde o povoamento em núcleos esparsos de contato e comunicações dificeis, muitas vêzes até impossíveis.7 É uma nova relação com o espaço que assim se instaura. Para durar. Se é dentro do quadro de determinado meio cósmico socialmente assumido que se elabora uma visão do mundo, se estrutura um universo de valores e implanta-se a segurança afetiva e psicológica dos indivíduos, através de uma rede de relações que definem o grupo e o inserem em perspectivas que o ultrapassam, este primeiro contato com o continente novo devia funcionar, como o dirá Bastide, “à maneira de uma carga de dinamite que fez essa sociedade [portuguesa] explodir em pedaços (...). As forças centrífugas predominam sobre as forças de coesão”.8 Logo intervêm as tentativas de reagrupamento. Marcadas todas por um duplo fator: mobilidade, mistura. É nas bandeiras que se delineia o Brasil, vetores de penetração, marcas num mapa imaginário, cotejo do homem com um espaço que lhe é desproporcional – e, ao mesmo tempo, instrumentos de contacto com a presença humana neste espaço. Já que esta natureza tinha dono, por mais que o imaginário social tenha tentado convencer o brasileiro – conforme o escrevia, há poucos anos ainda, uma professora primária – de que “quando os portugueses chegaram ao Brasil, não encontraram aqui nada: só tinha mata e índios”... A relação com o espaço então torna-se imediatamente relação com o que era percebido como o lado humano da mesma natureza. Relação captadora, mas relação: “O sertanista e o bandeirante” – descreve Darcy Ribeiro – “dominavam uma técnica terrível de, com arma de fogo, com cães, muito cuidado, aprisionarem índios. Havia bandeiras que eram cidades ambulantes, conduziam milhares de pessoas, iam fazendo roças, se fixando, e depois se deslocando”.9 Até as “cidades” eram nômades..., mas já congregavam vários “outros” em busca do outro “natural”: rapidamente estes “milhares de pessoas” não eram mais só portugueses – ou portugueses sós. Este povo desenraizado tinha assimilado outro povo na mesma condição: o índio “manso”, já destribalizado e seduzido à força pelo novo sistema de tro7 8 9 PRADO Jr., 1969, pp. 36-37. BASTIDE, 1971, pp. 56-57. RIBEIRO, 1981, p. 90. impulso nº 27 52 g g y p cas culturais. Nessa operação de transmutação em “cultura” (o “índio manso”) daquele segmento de humanidade anteriormente representado como “natureza” (o “índio bravo”), a religião jogou o papel decisivo. Com efeito, a possibilidade de recriar, na nova terra, as condições de assentamento e convivência local que haviam permitido, na Lusitânia, a eflorescência de um determinado catolicismo a partir das sedimentações religiosas anteriores (préceltas, celtas, romanas) foi rapidamente descartada. Um cristianismo “inculturado”, conforme o ideal da pastoral católica contemporânea10 só teria sido possível em conseqüência de uma evangelização topologicamente fixada no próprio “local” – um local, aliás, também ele nômade –, onde os indígenas estruturavam tradicionalmente o seu universo. Mas em três curtos anos os jesuítas foram levados a renunciar a esse ideal. Visto que os índios mostravam-se apegados a seus vícios: matavam, comiam carne humana, tinham várias mulheres. O único meio de convencê-los dos valores da civilização seria educar os seus filhos em colégios (já em 1550!) e reagrupar os adultos, confundidas as origens e as culturas, em aldeamentos cristãos. Nesse tipo transfigurado de fixação “aldeana”, os índios poderiam, pelo menos durante um tempo, tocar as suas flautas ou dançar as suas danças, mas todo esse vocabulário cultural seria compelido a falar uma língua que não era a sua.11 Para um período posterior e sobretudo para a região amazônica, Carlos de Araujo Moreira Neto12 descreverá assim a “missão”: “A missão é o centro por excelência de destribalização e de homogeneização deculturativa daqueles ‘restos de nações menos bravias’,13 concentrados nos aldeamentos catequéticos. O produto final é o índio privado de sua identidade étnica, o tapuio”.14 Estratégia de destribalização, que se inicia pela erradicação, a supressão das perspectivas topográficas ancestrais móveis e amplas e sua substituição por uma nova convivência local, estável mas culturalmente promíscua. Baseada numa mudança de quadro geográfico, instaura-se a dialética entre a “mistura” e a “pureza” que, desde as primeiras gerações, desembocará na criação de um produto típico, fator decisivo na flexibilização e relativização das identidades que começam então a processar-se: o mameluco. 10 SUESS, 1994. AZEVEDO, 1966, pp. 140-164. Toda uma literatura estuda esse processo de desenraizamento cultural e religioso nos aldeamentos indígenas. Entre outros: HOORNAERT, 1974 e 1977, e, neste mesmo livro, a contribuição de AZZI, 1979; LACOMBE, 1973, MOREIRA NETO, 1988; NEVES, 1978; PAIVA, 1982, etc. 12 MOREIRA NETO, 1988, p. 23. 13 A citação é de Azevedo (1930): “As aldéias de indios mansos, que eram os centros de onde havia de irradiar a civilização, em todo o extenso Amazonas, eram para mais de 60. Alí se aglomeravam os restos das nações menos bravias, desaparecendo a olhos vistos, ao contato dos brancos, e sob a influência fatal da escravidão” (AZEVEDO, 1966, pp. 228-229, in: MOREIRA NETO, 1988, p. 23). 14 MOREIRA NETO, 1988, p. 23. 11 53 impulso nº 27 g g y p Nas primeiras bandeiras, é esse mameluco que constitui o elemento demograficamente dominante, um desenraizado na própria operação de seu re-enraizar, que acompanha o pai lusitano perdido em direção a horizontes imaginários. E rapidamente vem juntar-se a eles um terceiro povo de desenraizados, ainda mais radicalmente cortado do quadro material e mítico de sua socialização: o negro. De novo Bastide: “O lugar onde se nasce não é um mero sistema de acidentes geográficos, montanhas, lagos ou rios, é um todo social-geográfico onde os mitos locais, a divisão das tribos no solo, os locais determinados de reunião das sociedades secretas etc., constituem um só e mesmo todo”.15 Gostaria de pensar no duplo processo que se instaura então. Um macroprocesso de procura e captura de mão-de-obra, de instrumentalização racional e cruelmente levada a efeito por todos os meios, de genocídio quando convém, de etnocídio intencional sempre. Não se trata, pois, de negar ou minimizar esta dimensão impiedosa da história do Brasil; mas de constatar que, no avesso deste macroprocesso e nos seus interstícios, insinuou-se outro, quotidiano e feito de microrrelações, através do qual estas três cepas destocadas em algum nível entrelaçavam ramos ou até raízes, nem que seja simplesmente para juntar, naquelas intermináveis conversas noturnas nos acampamentos, os seus jeitos atávicos de conjurar os perigos, escapar aos desafios e proteger-se das ameaças constantes de uma natureza grandiosa e fascinante, mas difícil de domar. Acompanhavam as bandeiras altares portáteis, santos, capelães, erigiam-se oratórios nos acampamentos – e devia reproduzir-se a cena ilustrada por Vitor Meireles da Primeira Missa, em que um paramentado barroco celebrava diante de indígenas boquiabertos. Mas estavam também presentes os símbolos sagrados, os ritos – indígenas e, mais tarde, africanos – objetos e gestos furtivos de encantamento e reverência aos poderes telúricos, que por sua vez fascinavam os rudes portugueses – lembrando-lhes, aliás, muitos costumes atávicos do seu próprio universo de “bruxaria”. Assim a rede de proteção mágico-religiosa estendia-se densa, feita de todos os fios entrecruzados que a comunicação entre estes grupos,16 perdidos juntos em meio a um cosmos ameaçador, podia tecer. Provavelmente, até nessa operação, índios e mamelucos podiam subrepticiamente recuperar a primazia, “naturais da terra” que eram, e herdeiros dos encantos susceptíveis de domesticá-la. 15 BASTIDE, 1971, p. 120. A “idolatria”, diz Gruzinski a propósito do México, “tecia uma rede densa e coerente, consciente ou não, implícita ou explícita de saberes nos quais se inscrevia e se desenvolvia a totalidade do quotidiano”; além dos sistemas intelectuais e estruturas simbólicas, um mundo de “práticas, de expressões materiais e afetivas de que ela é totalmente indissociável”. Para esses antigos mexicanos, tratava-se, segundo o autor, de resistência, “barreira ao processo de ocidentalização projetado pelo colonialismo” (GRUZINSKI, 1988, p. 195). No fenômeno das bandeiras e, mais geralmente, dos mamelucos, queremos ler também, e pelo menos num segundo momento, uma modalidade particular desta resistência, pela fagocitose dos universos simbólicos e a porosidade das identidades. 16 impulso nº 27 54 g g y p Começa-se atualmente a conhecer mais em profundidade os resultados desses intercâmbios, universos simbólicos emanados notadamente do grupo social que cristalizava como que por nascença a crescente porosidade das identidades, os mamelucos: as Santidades,17 sem dúvida insurreições indígenas contra o cristianismo colonial, mas, rapidamente, e através de cruzamentos simbólicos e de adesões recíprocas a elementos dos respectivos universos religiosos, nova realidade mística, capaz de mobilizar os “negros da Guiné”, atraente também para alguns cristãos brancos – não necessariamente os mais socialmente desprovidos... –, e que a história oficial, passado o momento da repressão, tendeu a ignorar. Ainda não se mede o seu alcance, pois a documentação a seu respeito, oriunda das instâncias eclesiásticas, tende a privilegiar os casos em que ameaçavam instituir-se de modo permanente. Mas, como sempre em situações semelhantes, o “clima” geral deve ter ultrapassado de muito o quadro dessas institucionalizações, incipientes ou consumadas. É mais ainda nessas margens indefinidas que devemos perscrutar para ilustrar esse novo processo de construção identitária que vem substituir o processo aldeão tradicionalmente português: não mais o crescimento orgânico de uma identidade coesa no plano da consciência, cujas alteridades de raiz vão sendo inconscientemente recapituladas e sucessivamente subsumidas na eflorescência única do “mesmo” (o cristão), mas uma construção somatória, em processo nunca acabado, no decorrer do qual o “idêntico” aceita tomar emprestado parte do seu ser ao “outro” encontrado no espaço aberto de suas erranças. Porosidade de identidades desta vez em contato sincrônico.18 Outra vertente da mesma problemática seria dada pela referência ao espaço sagrado. Mais exatamente aos lugares de hierofanias – onde reside o sagrado e onde se dá o encontro com ele – que polarizam os espaços sociais, criam suas versões imaginárias, identificam e hierarquizam seus segmentos e os caminhos que os atravessam. Falando desses lugares, o historiador Antoine Dupront assim se expressa: “É necessária no indefinido do espaço físico, vivenciado como homogêneo, a existência de lugares de natureza diferente daquela do meio ambiente, heterogênea a esta, lugares caraterizados como uns tantos pontos de um alhures determinado, que orientam e fixam a procura de um estado ‘outro’”.19 17 VAINFAS, 1995. O uso do termo sincretismo pode eventualmente criar problemas. Por exemplo, VAINFAS (1995, p. 45): “Estaria, de qualquer sorte, de acordo com Carlos Fausto, para quem chamar tais movimentos ‘simplesmente de sincréticos’ (...) não nos leva... etc.”; e, em sentido aparentemente contrário (p. 68): “Inúmeros casos paraguaios ilustram à exaustão a ocorrência de sincretismos (...). Na parte luso-brasileira, o caso mais notável nesse domínio de amálgamas e mimetismos...”. Ou ainda, mais explicitamente: “Foi por defrontarme com tamanha diversidade de olhares e sensibilidades que evitei a palavra sincretismo, refugiando-me nos conceitos de circularidade e hibridismo cultural” (p. 159). Mas tenho a impressão de que uma análise do “sincretismo” em termos estruturais (SANCHIS, 1994) poderia permitir solucionar tais ambigüidades. 19 DUPRONT, 1987, pp. 412-413. 18 55 impulso nº 27 g g y p Nessas condições, “a experiência peregrina [implica] uma potência sacral, que pode acumular-se quando se visitam vários lugares santos”. Experiência peregrina que fazia parte do habitus português, sobretudo daqueles portugueses do Norte, que serão os futuros brasileiros. Deles também pensamos ter mostrado, estudando as suas romarias,20 que se poderia escrever: O lugar sagrado torna-se assim, para o mundo peregrino, lugar de fonte ou de eterno recomeçar. Para ele convergem os caminhos da sacralização e nele cristaliza a espera de voltas periódicas no imaginário coletivo. A atitude peregrina tende assim a se concentrar mentalmente, como expectativa de peregrinação efetiva ou como rememoração, sobre o locus que ela destaca dentro do espaço quotidiano. E isto inscreve no espaço arredor a consciência fisico-psíquica de um “oriente” de espaço sacral, imaginário espacial do caminho através do qual se atingirá a fonte.21 No Brasil, sem dúvida o espaço foi visto primeiro como um “contínuo” homogêneo – e, aliás, curiosamente vazio. Mas pode-se imaginar a saudade desse “oriente do espaço sacral” desencadeada nos portugueses recém-chegados pela ausência das referências epifânicas constituídas pelas suas romarias familiares.22 Rapidamente começou a transferência dessa tradição, a fim de permitir que as populações advenientes pudessem reconhecer sua identidade no continente novo. Mais tarde, por exemplo em Minas, será notável este caráter transferencial de determinadas romarias, mas desde o início esse habitus interferiu com a mobilidade peregrina das populações tupi, tradição carregada de mitologia, que a chegada dos portugueses só fez recrudescer, mudar de sentido topográfico (em direção ao interior das terras) e, em parte, de significação mística, carregá-lo de ressentimento e resistência. As primeiras romarias “brasileiras” implantaram-se assim em meio lusoindígena, na esteira da memória de São Tomé, feito o herói Sumé.23 Logo multiplicaram-se, acompanhando as modalidades de povoamento e criando através do sertão, das serras ou, em Minas, à beira dos caminhos de acesso às povoações mineradoras, eixos de circulação e comunicação em que os fluxos culturais (e religiosos) continuaram a cotejar-se, entrecruzar-se e, em muitos casos, articular-se sem confundir-se, num único empreendimento ritual. NOMADISMO E POROSIDADE DAS IDENTIDADES A ocupação dinâmica do território e a relação ao espaço que implica tinham tomado rapidamente duas formas distintas.24 O enraizamento também viria na 20 21 22 23 SANCHIS, 1983. DUPRONT, 1987, pp. 412-413. Sobre a importância das romarias portugueses desde a Idade Média, cf. MATTOSO, 1985, vol. 1. AZZI, 1979. impulso nº 27 56 g g y p história do Brasil: bandeira e casa-grande opõem-se como duas modalidades de relacionar-se com um topos, que determinaram também na historiografia duas linhas interpretativas opostas da realidade nacional,25 exemplarmente representadas por Cassiano Ricardo e Gilberto Freyre. O primeiro,26 intérprete de um Brasil “conquistado pedestremente”,27 para quem a bandeira, “fenômeno ‘espacial’ e ‘étnico’”, “geografia em função política”, é que acabou dando ao brasileiro a “alegria do espaço”, “este nosso apego à liberdade física de ir e vir”, mobilidade física que identificou-se, nesse começo, e apesar de todas as opressões políticas, culturais e religiosas, com essa “incrível mobilidade com que o bandeirante caminha no espaço que vai entre sua cultura de origem e a do selvagem, para ser índio à hora que bem entende e voltar a ser branco quando bem lhe apraz”.28 O “bandeirante”... Que dizer então do mameluco, “fonte étnica de onde surgiu a marcha para o Oeste”,29 fruto de casamentos e sobretudo de intercurso sexual entre homens portugueses e mulheres índias, num primeiro momento, mas também, numa segunda geração, destes filhos de índia e branco com “as moças brancas das melhores famílias piratininganas”? Mamelucos, como dirá mais tarde Vainfas, que “eram homens que viviam em dois mundos distintos, espelhando sua ambivalência em todos os domínios (...). Eram homens dilacerados pelo colonialismo, e sua identidade era fluída com a própria colonização”.30 Da mobilidade geográfica para a fluência no espaço identitário, cultural e religioso…31 O segundo, o intérprete da casa-grande, teórico da fixação espacial e até de certo enraizamento autocentrado, que implanta miniuniversos e permanentes dinastias. Mas é preciso matizar a simples oposição em vários pontos. Em primeiro lugar, é possível insistir sobre uma sucessão cronológica de momentos nessa relação fundamental ao espaço no Brasil. Veio primeiro o espaço da aventura expansionista criativa e daquele encontro ocasional/sistemático de “outra natureza” (“Terra e homem estavam em estado bruto”),32 que é então trans24 Sem contar o assentamento mineiro, diretamente ligado à profundidade topológica das “minas”, e que gerará uma identidade religiosa específica – até quase os dias de hoje – mais próxima daquela, enraizada, do catolicismo português original. 25 AZEVEDO, 1989. 26 RICARDO (1940), 1970. 27 Ibid., p. 66. “É algo inverossímil pra nós que os homens da bandeira tivessem atravessado o Brasil andando a pé...”. 28 Ibid., p. 111. 29 Ibid., p. 109. 30 VAINFAS, 1995, p. 158. 31 E político. Visto que não se trata simplesmente de “encontro cultural”, mas de “situação colonial”: “Homens que transitavam com desenvoltura entre o mundo indígena do sertão e o mundo colonial do litoral. (...) Homens que viviam ora como índios, ora como gendarmes do colonialismo” (VAINFAS, 1995, p. 155). 32 FREYRE, 1983, p. 24. 57 impulso nº 27 g g y p formada. É num segundo momento que o assentamento daria à casa-grande, pelo menos em algumas regiões específicas, o caráter gerador de um grupo social solidamente fixado a seu espaço, sua terra, sua casa, os círculos concêntricos que, a partir desta, tornam o cosmos significativo. (Um terceiro momento seria o da implantação urbana generalizada, mineira antes de outras, que veio transformar definitivamente a paisagem ecológica do Brasil). Em segundo lugar, e ao contrário, essas duas relações ao espaço – a do “território” e a da “propriedade” – coexistirão genética e dialeticamente no decorrer de toda a história do Brasil. Por um lado, as bandeiras e outros errantes criaram cidades (pense-se, em Minas, no exemplo de Divinópolis), tipo específico de fixação em que o encontro do “outro” (“dos outros”: no caso, bandeirantes paulistas, índios fugindo dos aldeamentos, negros quilombolas, aventureiros...) se tornará sistemático de mil maneiras diferentes. Será também caracteristicamente urbano o fenômeno da reinstitucionalização dos cultos afro33 e do seu deslizamento progressivo de “culto étnico”, a “religião universal”, aberta à participação interétnica e intercultural.34 Mas, por outro lado, nem por se fixar em terras de cultivo delimitadas o agricultor brasileiro deixará de ser nômade. Sergio Buarque de Holanda, citando documentos da segunda metade do século XVII,35 escreve: “Dos lavradores de São Paulo dizia, em 1677, d. Luiz Antonio de Souza, seu capitão general, que iam ‘seguindo o mato virgem, de sorte que os fregueses de Cutia que dista desta cidade sete léguas, são já hoje fregueses de Sorocaba que dista da dita Cutia vinte léguas’. E tudo porque, ao modo do gentio só sabiam ‘correr trás do mato virgem, mudando e estabelecendo o seu domicílio por onde o há’”.36 Em terceiro lugar, e finalmente, um fator estrutural atravessa a história do Brasil, que contribui para perpetuar e constantemente para fortalecer esse habitus nômade: a sucessão de ciclos econômicos, que desloca a ênfase do interesse e orienta em direção a meios, geográficos e sociais, constantemente “outros”. Saint Hilaire, viajando pelo Brasil em princípio do século passado, notará, com a acuidade de sua visão, a extrema mobilidade da população brasileira. A preocupação dominante das zonas novas já existia então; emigrava-se, às vezes, por nada, e com simples e vagas esperanças de outras perspectivas. Todo mundo imaginava sempre que havia um ponto qualquer em que se estaria melhor que no presente. Pensamento arraigado e universal que nada destruía, nem experiências e fracassos sucessivos. Isto que impressionava o viajante francês, habituado a um continente em que 33 34 35 36 BASTIDE, 1971. PRANDI, 1992, e SILVA, 1996. Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo XXIII. São Paulo, 1896, p. 4ss. BUARQUE DE HOLANDA, 1976, p. 40. impulso nº 27 58 g g y p havia séculos o povoamento se estabilizara, é a feição natural de todo território semi-virgem da presença humana, onde a maior parte da área aínda está por ocupar e onde as formas de atividade mais convenientes para o Homem ainda não foram encontradas; onde, numa palavra, o individuo não se ajustou bem a seu meio, compreendendo-o e o dominando. Os deslocamentos correspondem aí a ensaios, tentativas, novas experiências, à procura incansável do melhor sistema de vida. No Brasil, este fato é particularmente sensível pelo caráter que tomara a colonização, aproveitamento aleatório, em cada um de seus momentos (...) de uma conjuntura passageiramente favorável. Daí a (...) instabilidade (da população), com seus reflexos no povoamento, determinando nele uma mobilidade superior ainda à normal dos países novos.37 Em conseqüência de tal processo formador, bem poderia ter-se plasmado com certa consistência uma estrutura psicossocial específica.38 Buarque de Holanda, por exemplo, parece afirmá-lo: “A vida íntima do brasileiro não é bastante coesa, nem bastante disciplinada, para envolver e dominar toda a sua personalidade, integrando-a, como peça consciente, no conjunto social. Ele é livre, pois, para se abandonar a todo o repertório de idéias, gestos e formas que encontre em seu caminho, assimilando-os freqüentemente sem maiores dificuldades”.39 “No fundo, o ritualismo40 não nos é necessário. (...) Normalmente, a reação ao meio em que vivemos não é uma reação de defesa”.41 E Buarque de Holanda explicita os resultados desse traço psicossocial, que ele não julga diretamente ligado a formas “socioeconômicas”, senão como duas conseqüências paralelas, sem que uma seja a causa da outra: “Outro visitante, de meados do século passado, manifesta profundas dúvidas sobre a possibilidade de se implantarem, algum dia, no Brasil, formas mais rigorosas de culto. Conta-se que os próprios protestantes logo degeneram aqui, exclama. E acrescenta: ‘É que o clima não favorece a severidade das seitas nórdicas. O austero metodismo ou o puritanismo jamais florescerão nos trópicos’”.42 O que equivale a falar, em termos confessionais, da identidade kantiana autônoma e racionalmente “definida”, a identidade da modernidade. É o que sublinha também a radicalidade do desafio 37 PRADO Jr., 1969, pp. 62-63. Foucault, a propósito da referência escolar histórico-geográfica ao espaço (especialmente espaço das nações, fronteiras), fala de uma referência “tendo com efeito a constituição de uma identidade. Pois minha hipótese é de que o indivíduo não é o dado sobre o qual se exerce e se abate o poder. O indivíduo, com suas características, sua identidade, fixado a si mesmo, é o produto de uma relação de poder que se exerce sobre corpos, multiplicidades, movimentos desejos, forças” (FOUCAULT, 1979, pp. 161-162). 39 HOLANDA, 1976, p. 112. 40 O contexto orienta a interpretação dessa categoria para o sentido de formas rígidas de identidade religiosa, que se traduzem em universos simbólicos e culturais exclusivos. 41 BUARQUE DE HOLANDA, 1976, p. 112. 42 BUARQUE DE HOLANDA, 1976, p. 112, citando EWBANK (1856, p. 239). 38 59 impulso nº 27 g g y p posto à “tradição brasileira” pelos últimos desdobramentos da situação no campo religioso nacional. Mas abordar esse ponto nos levaria para outra seara. “Eu e o outro”, “Eu é o outro”, tal parecia (parece?), com efeito, ser uma das leis fundamentais, e polimorfa, no campo religioso brasileiro. Desde os antigos tupis,43 para quem o seu ser mais profundo é o do outro, que permanentemente se procura alcançar,44 até a população brasileira atual, da qual provavelmente mais da metade pertence a uma religião de “possessão”, fazendo a experiência de uma múltipla personalidade,45 enquanto outros – ou os mesmos – não sabem mais dizer, como o expressava recentemente uma militante católica que descobria as riquezas do candomblé: “Qual das duas [religiões] é mais minha?”. De fato, a base morfológica (uma delas) desse fenômeno “persistente e de longa duração”, a de intensa transitividade espacial, acompanha a história do Brasil até hoje: Pelo censo de 1980, cerca de 40 millhões de pessoas estavam vivendo num município diferente daquele em que haviam nascido. Estes números elevadíssimos escondem, entretanto, uma parcela ponderável dos fluxos migratórios: eles deixam de registrar aquela migração de uma propriedade agrícola para outra, na mesma municipalidade, aquela freqüentíssima e primeira na experiência do migrante, da zona rural para a zona urbana dentro do mesmo município e não dão conta ainda do fenômeno corrente dos que estão na segunda, terceira, quinta, décima ou vigésima mudança.46 O estudo do sistemático desenraizar que esse fenômeno continua a acarretar e das suas persistentes conseqüências em termos de “porosidade das identidades” – entre outras, religiosas – nos levaria a outro tema. Basta dizer que a problemática do “sincretismo” acompanha até nossos dias as da miscigenação (cf. as recentes pesquisas na UFMG sobre a complexa composição genética da parte da população brasileira dita “branca”47) e da mestiçagem cultural. Trata-se, aliás, de “problemática” complexa, e não de tranqüila afirmação. ASSIM O BRASIL, OU O NOVO MUNDO? Mas, para voltar às “origens”, uma objeção ocorre imediatamente: “Brasil”, ou “Américas”?, Nova Lusitânia ou, simplesmente, Novo Mundo? 43 44 45 46 47 CASTRO, 1986. Esse ponto particularmente sublinhado em COMBES, 1986. VELHO, 1982. BEOZZO, 1992, p. 5. PENA et al., 2000. impulso nº 27 60 g g y p Uma observação fundamental decorre do nosso presente enfoque. Conquistadores do Sul, e pioneiros do Norte elaboraram de antemão uma relação diferente com o espaço. Escreve Jean Monod: Essa distinção permite marcar a diferença essencial entre a atitude dos ingleses na América do Norte e a dos espanhóis e dos portugueses na América do Sul. Os segundos foram colonos, depois de ter sido conquistadores. Não é impossível imaginar que os Conquistadores pudessem ter sido assimilados insidiosamente pelas civilizações cujo sistema político acabavam de desmantelar (...). Em todo o caso, a colonização, embora mortífera, situava-se desde o início aquém da eventualidade da destruição física e total das pessoas: a sociedade que lhes roubava as terras contava com sua força de trabalho para edificar-se. É a situação inversa que prevaleceu na América do Norte, onde os colonos entendiam administrar entre si uma terra esvaziada de seus primeiros ocupantes. A Espanha prometia um estatuto de ser humano ao selvagem disposto a voltar ao caminho da graça divina, os Norte-Americanos nunca pensaram cohabitar com os índios.48 Não entendida como a apologia de um dos modos de dominação colonial diante o outro, mas simplesmente como o apontar de diferenças, essa observação é significativa. E essas diferenças dizem respeito diretamente à representação utópica – programática, de fato – do espaço. Gusdorf, por exemplo, mostra que a Inglaterra pensava proibir a instalação de seus colonos além de uma linha geográfica, marcando o “Oeste”, para deixar esse território à disposição exclusiva dos índios.49 Tentativa, por conseguinte, de “segregação”, ou “separação”. Os arranjos com os povos indígenas ganharam sempre – pelo menos até o último quartel do século XIX – a forma de “tratados” entre nações,50 que o esforço missionário não parece ter tomado, inicialmente, por alvo. Em contraste com o intenso entrelaçamento social – e religioso – implantado de chofre no espaço compartilhado do Brasil. Sem retomar os termos gerais da oposição articulada por Moog,51 e mais ainda por Morse,52 entre uma “descoberta” (“invasão”) à maneira protestante e à maneira católica, é certo que, nos séculos XVII e XVII, as comunidades puritanas emigradas na América do Norte se consideravam como destinadas a implantar o reino do evangelho “puro” no meio do deserto, encontrado tal qual ou criado pelo rechaço dos seus habitantes primitivos, enquanto no Sul tratava-se de um evangelho vocacionado a expandir-se através de um corpo assimilador “católico”. 48 49 50 51 52 MONOD, 1972, p. 387. GUSDORF, 1978. KEITH, 1972, pp. 23-25. MOOG, 1964. MORSE, 1988. 61 impulso nº 27 g g y p Isso, para o contraste entre os dois hemisférios. Mas é preciso acrescentar um outro contraste: enquanto os espanhóis encontraram Estados fortes, grupos sociais e étnicos implantados localmente “em pedra e cal”, os portugueses se depararam com pequenos grupos seminômades ou até em plenas migrações à procura do “Outro”, exatamente num espaço “vazio”, ou melhor, aberto ao infinito. Percebese o campo maior, inerente à tal situação de contato, franqueado à porosidade das culturas, das civilizações, das religiões. Qualquer que seja o valor reconhecido às afirmações de Gilberto Freyre sobre o substrato étnico dos portugueses – cuja diferença embasaria tais diversidades entre as duas colonizações ibéricas, e mesmo sem recusá-las de antemão como um dos fatores possíveis do processo que nos ocupa53 –, não resta dúvida de que somente se articuladas ao pano de fundo histórico das considerações, que precedem, essas afirmações abrem pistas plausíveis para a interpretação. Um último cotejo pode, enfim, ser significativo, ao qual nos introduz naturalmente o paradoxo implicado nestas notas. O cotejo com o nosso atual momento histórico. Tentamos aqui seguir a pista de algo como uma modalidade de construção de identidade – nômade, plural e fluida, nunca encerrada – inscrita na tradição sociocultural do Brasil, em continuidade e ruptura com a sua homóloga portuguesa. Esse cruzar de caminhos teria algo a ver com a nossa atualidade? É preciso imediatamente notar que aquilo aqui descrito como uma propensão ao nomadismo – que implica a necessidade (dramática) de construir-se a partir da articulação nunca fechada de traços identitários encontrados no “outro”, traços que, ressemantizando-se ao contato da identidade de que se é portador, por sua vez, contribuem a ressemantizar a matriz que os acolhe – tende a tornar-se atualmente clássica nas descrições da identidade (nacional?, regional?, étnica?, religiosa?) “pós-moderna”. Faz parte da pauta contemporânea dos problemas de civilização. Mais ainda: a famosa “bricolagem” em toda parte detectada, além de objeto de descoberta e análise, colora-se, com cada vez mais freqüência, de um caráter de programa e até de remédio possível para a ameaça, muito presente, de surgimentos de novos fundamentalismos e formas renovadas de identidades fechadas e de exclusão. 53 AZEVEDO (1989, p. 23ss.) mostra muito bem que, para Freyre, o português existe enquanto se cameloniza, ao contato do semita, do afreja, menos godo que o espanhol. “O menos gótico e o mais semita, o menos europeu e o mais africano: em todo caso o menos definitivamente uma coisa ou outra” (FREYRE, 1983, pp. 55-56; destaque meu). Haveria, pois, um substrato, que faria do “português” um ser préordenado ao processo “sincrético”. Bem aquém das conseqüências ideológicas e políticas que se quiseram tirar de afirmações desse tipo, e também negando-lhes o seu caráter generalizante e apodíctico, tais intuições de Gilberto Freyre merecem, parece-me, receber nova consideração (cf., recentemente, ARAUJO, 1994). impulso nº 27 62 g g y p Nessa conjuntura pós-moderna, poderia servir de inspiração, à revelia da tradição etnocidária que então se iniciava, o tipo de relação ao espaço e de construção flexível de identidades que observamos no processo de pré-modernidade desde o início vivido pelo Brasil? Uma resposta univocamente positiva seria simplista. Aliás, o movimento da história não a permitiria mais: a modernidade, a das identidades kantianamente definidas e dos espaços segregados, também está hoje em dia a transtornar profundamente as relações sociais no Brasil. E Portugal? Portugal ciclicamente continua se esvaindo, e/ou se expandindo. Por um lado, os portugueses imaginam levá-lo consigo para aonde vão. Por outro, trazem até ele, quando voltam, os sinais do seu nomadismo em meio ao “outro”. Mais ainda. Para ele também a história está a tornar caduca a parte ensimesmada do retrato que pintei no início deste texto. Numa emissão literária recente da televisão francesa, o coordenador insistia com autoridade sobre o fato de que, “entre todas as nações da Europa, Portugal é hoje sem dúvida aquela em que a fermentação cultural é a mais brilhante e criativa”... Duas modernidades, pois, a brasileira e a portuguesa, provavelmente tão contrastadas quanto o foram as duas tradições sobre as quais e contra as quais elas vêm se firmar (uma, indo do enraizamento à universalidade, a outra, da “espantosa dispersão” à pronúncia mais clara de uma identidade), mas que, em se cruzando novamente, poderiam trazer, num equilíbrio dinâmico, sua contribuição ao projeto maior (e problema candente) do mundo contemporâneo: a superação dos conflitos em toda a parte oriundos da penosa – e necessária – reformulação das relações dos grupos humanos com sua(s) identidade(s), e destas identidades com o seu invólucro co-formador: o espaço. Um problema que estamos vendo hoje espalhar-se, de forma difusa ou dramaticamente escancarada, em numerosos conflitos regionais, mas que, mais localizado e em outra escala, já conheceu determinada versão na época das grandes descobertas. Se é ainda possível, por ocasião dos 500 anos, celebrar o acontecimento que encetou então a sua solução, não pode ser pelo enaltecer do processo sangrento da expansão de si à custa da eliminação do outro, mas talvez porque nas dobras – ou no âmago e ao arrepio – deste processo possa ler-se, mais tênue mas obstinado, outro tipo de experiência histórica: a de uma construção aberta e porosa de identidades capazes de, juntas, se haver com um espaço em constante remodelação. Experiência de resultados sem dúvida ambíguos. Mas que assim mesmo pode trazer ao debate contemporâneo sobre as identidades sociais uma imagem “diferente”, fruto do processo histórico que – bem ou mal, bem e mal – começou a ser vivido aqui há 500 anos. 63 impulso nº 27 g g y p Referências Bibliográficas ALMEIDA, M.V. de. Senhores de Si.Lisboa: Fim de Século, 1995. ALMEIDA, R. de. Jorge Dias na encruzilhada do folclore luso-brasileiro. In: INST. DE ALTA CULTURA (ed.). In memoriam Antonio Jorge Dias. Lisboa: IAC-Jicu, 1974. ARAUJO, R.B. Guerra e Paz. Casa grande & senzala e a obra de Gilberto Freyre. Rio de Janeiro: 34, 1994. AZEVEDO, J.L. de (1930). Os Jesuítas no Grão Pará, suas Missões e a Colonização. 2.ª ed., Coimbra: Universidade de Coimbra, 1966. AZEVEDO, V.M.R. de. Espaço e movimento nucleando visões do Brasil: Freire, Ricardo e Moog. Caxambu: ANPOCS, 1989. [Mimeo]. AZEVEDO, T. de. Cultura e Situação Racial no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966. AZZI, R. As romarias no Brasil.Revista de Cultura Vozes, 73 (4): 39-54, mai./79. BASTIDE, R. As Religiões Africanas no Brasil. São Paulo: Bibl. Pion. de C.S./USP, 1971. BEOZZO, J.O. Brasil: quinhentos anos de migrações. São Paulo: Paulinas, 1992. BRAUDEL, F. (1949) La Méditerranée et le Monde Méditerranéen à L’époque de Philippe II. Paris: Armand Colin, 1966. BUARQUE DE HOLANDA, S.Raízes do Brasil. 9.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. CASTRO, E.V. de. Araweté: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Zahar/ANPOCS, 1986. COMBES, I. Être ou ne pas être: à propos d’Araweté: os deuses canibais,d’Eduardo Viveiros de Castro, in: Journal de la Société des Américanistes, 72: 211-220, 1986. DIAS, J. Estudos do Caráter Nacional Português. Lisboa: Junta de Investigações do Ultramar, 1971. DUPRONT, A. De Sacré. Croisades et pélerinages. Images et langages. Paris: Gallimard, 1987. EWBANK, T. Life in Brazil or a journal of a visit to the land of the cocoa and the palm. New York, 1856, in: HOLANDA, S.B. de. Raízes do Brasil. 9.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. FOUCAULT, M. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. FREYRE, G. Casa-Grande e Senzala. 22.ª ed., Rio de Janeiro: José Olympio, 1983. GRUZINSKI, S. La Colonisation de L’imaginaire – sociétés indigènes et occidentalisation dans le Mexique espagnol (XVIe-XVIIe siècle). Paris: Gallimard, 1988. GUSDORF, G. La Conscience Révolutionnaire. Les idéologues. Paris: Payot, 1978. HOORNAERT, E. Formação do Catolicismo Brasileiro. 1551-1800. Petrópolis:Vozes, 1974. ________. História da Igreja no Brasil. Petrópolis:Vozes, 1977. KEITH, S. Les indiens d’Amérique du Nord: un peuple en voie de disparition. In: JAULIN, R. Le Livre Blanc de l’Ethnocide en Amérique. Paris: Fayard, 1972. LACOMBE, A.J. A Igreja no Brasil Colonial. In: HOLANDA, S.B. de. História Geral da Civilização Brasileira, 1- A época colonial; 2- Administração, economia, sociedade. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1973. impulso nº 27 64 g g y p MATTOSO, J. Identificação de um País. Ensaio sobre as origens de Portugal 1096-1325. Lisboa: Estampa, 1985. MONOD, J. Vive l’Ethnologie. In: JAULIN, R. Le Livre Blanc de L’ethnocide en Amérique. Paris: Fayard, 1972. MOOG, V. Bandeirantes e Pioneiros. Paralelo entre duas culturas. 7.ª ed., Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1964. MOREIRA NETO, C. de A. Índios da Amazônia. Petrópolis:Vozes, 1988. MORSE, R. O Espelho de Próspero. Cultura e idéias nas Américas. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. NEVES, L.F.B. O Combate dos Soldados de Cristo na Terra dos Papagaios. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1978. PAIVA, J.M. de. Colonização e Catequese. São Paulo: Cortez, 1982. PENA, S. et al.Retrato molecular do Brasil.Ciência Hoje, 27 (159): 17-26, 2000. PRADO Jr., C. Formação do Brasil Contemporâneo. Colônia (9.ª ed.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1969. PRANDI, R. Os Candomblés de São Paulo. São Paulo: Edusp, 1992. RIBEIRO, D. Antropologia ou a Teoria do Bombardeio de Berlim.Revista Civilização Brasileira, 81-100, 1981. RICARDO, C. (1940). Marcha para o Oeste. Rio de Janeiro: José Olympio, 1970. SANCHIS, P. Arraial, a Festa de um Povo. As romarias portuguesas. 2.ª ed., Lisboa: Publicações D. Quixote, 1983. ________. Pra não dizer que não falei de sincretismo.Comunicações do ISER, 13 (45): 411, 1994. ________. Portugal e Brasil, influências e metamorfoses. Convergência Lusíada, Revista do Real Gabinete Português de Leitura, Rio de Janeiro,14: 15-22, 1997a. ________. Topos, raízes, identidade: um enfoque sobre o Brasil. Lisboa, Atalaia, 3: 83100, 1997b. SILVA,V.G. da. Orixás na Metrópolis. São Paulo: Edusp, 1996. SOUZA, A.F. de. Notícias geográficas da capitania de Rio Negro, no grande Rio Amazonas.Revista do Instituto histórico e geográfico Brasileira, 10: 411-504, 1848. SUESS, P. Inculturação. Desafios de hoje. Petrópolis:Vozes, 1994. VAINFAS, R. A Heresia dos Índios. Catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. VELHO, G. Indivíduo e religião na cultura brasileira. Questões preliminares. Museu Nacional-UFRJ. Comunicação, (8): 6-19, 1982. 65 impulso nº 27 g g y p impulso nº 27 66
Baixar