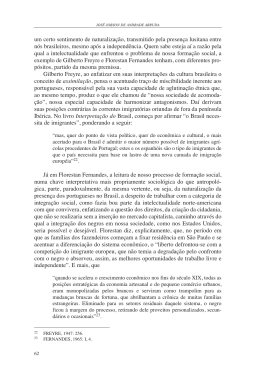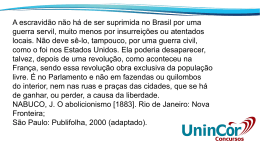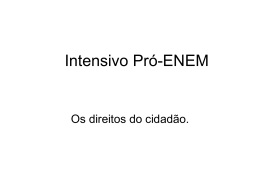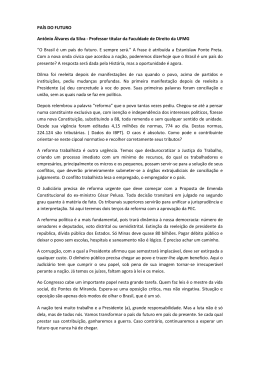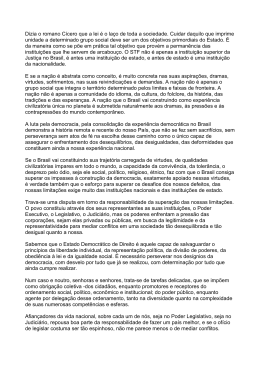1 “Questão Nacional” e “Questão Racial” no Pensamento Social Brasileiro Alexandro Dantas Trindade1 O objetivo do texto é apresentar algumas das principais controvérsias a respeito da formação social brasileira, através da leitura que intelectuais, considerados “intérpretes do Brasil”, elaboraram ao longo dos séculos XIX e XX. Temos como foco central a formação da nação e a chamada “questão racial”, explorando suas dimensões intelectuais e os efeitos políticos de certas teses sobre nossa constituição nacional. 1 INTRODUÇÃO O objetivo deste texto é percorrer algumas leituras do pensamento social brasileiro desde o século XIX, tendo como foco central a formação da nação e a “questão racial” no Brasil. Exploraremos como esta dimensão foi pensada por alguns intelectuais que se colocaram como intérpretes do Brasil e da formação do povo. Especificamente, buscaremos compreender como a chamada “questão racial” foi lida ao longo do século XX no Brasil, tanto pelo pensamento social mais amplo como pelas análises sociológicas comprometidas em entender nossa complexa formação social. Além disso, discutiremos as pesquisas mais recentes sobre as relações raciais, o papel e a trajetória dos movimentos sociais de combate às desigualdades, assim como os efeitos das recém-implantadas políticas públicas que visam reduzi-las, como as ações afirmativas, por exemplo. No entanto, para que possamos começar a discutir os temas acima propostos, acreditamos que uma breve introdução aos temas da construção da 1 Professor Associado I do Departamento de Ciência Política e Sociologia da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em 2004, com a tese intitulada: “André Rebouças: da Engenharia Civil à Engenharia Social”. Coordenador do Grupo de Pesquisa CNPq “Pensamento Social, Intelectuais e Circulação de Ideias” (UFPR) e membro do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (NEAB / UFPR). (E-mail: [email protected]) 2 nação, da escravidão e das interpretações elaboradas pelo pensamento social acerca da miscigenação e da formação do povo são fundamentais para entendermos tanto o alcance e os limites das pesquisas sobre as relações raciais como o papel dos movimentos sociais e as respostas do Estado frente a esse fenômeno. Assim, esperamos que este texto possa contribuir como uma leitura preliminar para esta tarefa. 2 PECULIARIDADES DA FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA: O BRASIL-NAÇÃO COMO IDEOLOGIA Para entendermos o alcance e o sentido que o tema das relações raciais teve e ainda tem na sociedade brasileira, não poderíamos deixar de compreender um aspecto que tem apresentado desafios às ciências sociais e à historiografia contemporâneas: o processo de construção da identidade nacional. Como entender, afinal, o “Brasilnação”. Mais precisamente, o que entender por nação? A rigor, não há uma definição unívoca, unânime e universalmente aceita para o termo “nação”. Embora saibamos que a humanidade subdivide-se em diversas culturas, que se diferenciam por línguas, costumes, religiões, e que comportam unidades políticas, cujos grupos comprometem-se com a ajuda mútua e submetem-se a estruturas de autoridade, nem por isso podemos identificar, com nitidez absoluta, suas fronteiras culturais ou políticas - as tradições culturais, como linguagem, devoção religiosa ou costume popular, frequentemente se entrecruzam; as jurisdições políticas podem sobrepor-se umas as outras; e, de maneira geral, as fronteiras políticas e culturais raramente são convergentes. De acordo com um teórico político contemporâneo, Ernest Gellner, num verbete para o Dicionário do Pensamento Social do Século XX (1996), “é impossível aplicar o termo ‘nação’ a todas as unidades que são cultural ou politicamente caracterizáveis”, já que isso implicaria tanto num número excessivo de nações, como no fato de que vários indivíduos teriam múltiplas identidades nacionais (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 507). A pergunta sobre como um grupo que compartilha uma identidade linguística, cultural, religiosa, étnica etc., poderia se constituir numa nação, ou em que 3 medida uma unidade política pudesse representar uma ou mais identidades culturais, a rigor, só teria sentido a partir de um processo histórico específico. Mais precisamente, com o advento da modernidade e do Estado-nação. Isto é, a sociedade urbana e industrial, palco da mobilidade social e de um estado organizado, ao substituir comunidades locais, tribais, baseadas em grupos de parentesco ou desprovidas de uma autoridade central, construiu igualmente a ideia de nação como aspecto central para garantir a legitimidade diante destas transformações na estrutura social. Assim, foi na virada do século XVIII para o XIX que o termo “nação” passou a ter uma importância central para a vida de milhões de indivíduos, a ponto de legitimar rebeliões em massa, processos de independência política, domínio de outros povos, formas de resistência a outros grupos, e assim por diante. Segundo a filósofa Marilena Chauí, a etimologia da palavra “nação” remonta ao verbo latino nascor (nascer), e de um substantivo derivado deste verbo, natio ou nação. Originalmente significou “indivíduos nascidos ao mesmo tempo de uma mesma mãe, e, depois, os indivíduos nascidos num mesmo lugar” (CHAUÍ, 2006, p. 14). No final da Antiguidade e no início da Idade Média, a Igreja Católica passou a usar nationes, no plural, para se referir aos pagãos e distingui-los do populus Dei, o “povo de Deus”. Ou seja, enquanto a palavra “povo” designava um grupo de indivíduos organizados institucionalmente, obedientes a regras e leis comuns, traduzindo, portanto, um conceito jurídico-político, a “nação” era um conceito biológico, que significava apenas um grupo de descendência comum, usado para referir-se tanto aos pagãos (em contraposição aos cristãos), como aos estrangeiros (os judeus, que eram os “homens da nação” em Portugal, por exemplo, ou as “nações indígenas” que viviam “sem fé, sem rei e sem lei”, segundo a ótica dos colonizadores). Assim, antes da invenção histórica da nação, como fruto do processo de unificação política e do advento do Estado-nação, os termos políticos empregados eram “povo” e “pátria”. Esta última era derivada do vocábulo latino pater, pai, entendido não como genitor dos filhos, mas como “senhor”, “chefe” ou aquele que possui a propriedade absoluta da terra e do que nela existe, isto é, do patrimonium. (Idem, p. 15). A partir do século XVIII, com as revoluções norte-americana, holandesa e francesa, “pátria” passou a significar o “território cujo senhor é o povo organizado sob 4 a forma de Estado independente”, e este vocábulo esteve presente também nas revoltas que antecederam o processo de Independência no Brasil, quando se falava em “pátria mineira”, “pátria pernambucana”, e não em uma “pátria brasileira” (Idem, p. 16). Todavia, o significado etimológico de palavras como nação, nacionalidade, nacionalismo, em si mesmas, nos diz muito pouco acerca dos usos políticos, das representações com que foram usadas, em suma, dos processos históricos que as tornaram uma referência ideológica central no mundo moderno. Contudo, a escassez de teorias plausíveis sobre o fenômeno da nação e do nacionalismo não tem sido obstáculo para que autores como Eric Hobsbawm (1990) e Benedict Anderson (2008), para citarmos talvez os mais influentes, realizassem estudos importantes visando sua compreensão. Para o primeiro, além da ênfase quanto à ideia de vincular a nação ao desenvolvimento do Estado moderno, o elemento de “artefato, da invenção e da engenharia social que entra na formação das nações” é de fundamental importância. A visão da nação como algo “natural”, “divino”, ou como “destino político” de um povo, presente em muitos discursos nacionalistas, não passa de um “mito”. Na verdade, o discurso nacionalista do Estado é o que cria as possibilidades para se pensar a nação, e não o oposto. (HOBSBAWM, 1990, p. 19). Esta ideia de construção, invenção ou artefato é, digamos, radicalizada em Benedict Anderson (2008), para quem tanto a condição nacional quanto o nacionalismo são entendidos enquanto “produtos culturais específicos” do final do século XVIII. Mais precisamente, o autor propõe definir nação, antropologicamente, como sendo uma “comunidade política imaginada”: ela é imaginada, “porque mesmo os membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a imagem viva da comunhão entre eles” (ANDERSON, 2008, p. 32). Neste exercício de imaginação da nação, os intelectuais desempenharam e continuam a desempenhar um papel destacado, pois são os “artífices dessa construção de imaginários coletivos” (COSTA, 2008, p. 10). Seguindo essa última ideia, cabe-nos agora indagar sobre como teria sido o processo de constituição do Brasil-nação, sendo um caminho possível o estudo das 5 distintas representações elaboradas pelos intelectuais. Na verdade, um tema que tem intrigado sociólogos, historiadores, economistas, cientistas políticos e outros pesquisadores tem sido o tema do descompasso entre a criação do Estado e a formação da Nação brasileira, ou mais exatamente, da complexidade da nossa “identidade nacional”. O fascínio pela chamada “questão nacional” é algo que perpassa a história do pensamento brasileiro. Sobretudo em épocas de crise, a questão nacional mobiliza diversos intelectuais, gerações inteiras que se voltam para tentar “repensar” a nação, esboçar-lhe um sentido, dar-lhe alguma coerência. Algumas representações têm sido mais vigorosas, mais frequentes ou hegemônicas, tais como o “motivo edênico”, isto é, a visão paradisíaca do Brasil. Esta visão presente, pelo menos desde a carta de Pero Vaz de Caminha, em 1500, foi expressa de modo exemplar por Rocha Pita, em História da América Portuguesa, publicado em 1730: Em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madruga mais bela a aurora; o sol em nenhum outro hemisfério tem raios tão dourados, nem os reflexos noturnos tão brilhantes; as estrelas são mais benignas e se mostram sempre alegres; os horizontes, ou nasça o sol, ou se sepulte, estão sempre claros; as águas, ou se tomem nas fontes pelos campos, ou dentro das povoações nos aquedutos, são as mais puras; é enfim o Brasil Terreal Paraíso descoberto, onde tem nascimento e curso os maiores rios; domina salutífero clima; influem benignos astros e respiram auras suavíssimas, que o fazem fértil e povoado de inumeráveis habitadores. (ROCHA PITA, 1730, p. 3-4, apud CARVALHO, 1998, p. 2). A ideia de que o Brasil é “gigante pela própria natureza”, terra de um povo pacífico e ordeiro, sem revoluções, terremotos ou grandes rupturas, é igualmente parte deste grande “mito” sobre a identidade nacional. Da mesma forma que a ideia de sermos um povo formado pela mistura de três raças unidas por uma “democracia racial”. Entretanto, ao lado destas, houve diversas outras representações, correspondentes a momentos distintos do nosso processo de formação social. Foram vários os símbolos e emblemas criados pelas elites intelectuais ao longo do tempo. Em momentos de crise das instituições, de mudanças sociais intensas, ou em tempos de incerteza, elas podem ser vistas como tentativas de se criar uma narrativa que dê 6 sentido e uma certa homogeneidade ao que, na verdade, é caótico e contraditório, sujeito a várias leituras possíveis. Segundo Octávio Ianni, visto numa perspectiva histórica ampla, o Brasil revela-se como uma formação social caleidoscópica, um arquipélago, uma espécie de labirinto de elementos culturais e étnicos, simultaneamente às diferentes formas de organização do trabalho e da produção. Essa é uma formação social em que convivem formas de sociabilidade constituídas em distintas épocas e em diferentes regiões; regiões que por muito tempo, até meados do século 20, compunham uma espécie de arquipélago, em lugar de um país socialmente articulado. (IANNI, 2004, p. 160). Uma nação em busca de um conceito - ainda segundo o autor, “o Brasil ainda não é propriamente uma nação”, embora possa ser um Estado nacional, no sentido de um aparelho estatal organizado, abrangente e forte, que acomoda, controla ou dinamiza tanto estados e regiões como grupos raciais e classes sociais (IANNI, 2004, p. 199). Em suma, o Brasil revela uma “vasta desarticulação”, a despeito de seus símbolos, como a língua, a bandeira, a moeda, o mercado, seus santos e heróis, etc. Apenas aparentemente podemos pensar “uma” cultura brasileira. Todavia, a “identidade nacional” é forte o suficiente a ponto de naturalizarmos nossa condição de “brasileiros”. Este aspecto contraditório é, na verdade, produto de uma situação paradoxal que se verificou não apenas no Brasil, mas que foi extensivo às nações do Novo Mundo. É que, diferentemente das nações europeias, “cuja estratégia fora a de estreitar os vínculos com um passado tanto mais glorioso quanto mais remoto, na América a Independência significou o rompimento político com metrópoles que eram importantes matrizes identitárias” (COSTA, 2008, p. 4). Ou seja, ao mesmo tempo em que os países americanos rompiam com suas metrópoles, não podiam renunciar à sua ligação com o mundo europeu do ponto de vista cultural e político, tampouco afastarse do sistema mundial de Estados-nações, mas teriam que pertencer a ele de outra maneira. No caso brasileiro, o paradoxo deste processo de Independência foi até mais evidente, pois a manutenção da unidade territorial do domínio português correspondeu muito mais a uma visão da antiga metrópole do que a uma demanda 7 dos próprios colonos, ao contrário do que aconteceu no restante do continente sulamericano. A América Espanhola fragmentou-se em tantos países independentes quanto eram suas antigas subdivisões administrativas coloniais. Além disto, enquanto aqueles países experimentaram processos mais ou menos intensos de balcanização, caudilhismo e instabilidade política, embora com maior mobilização popular, o Brasil assistiu a um processo de redução do conflito nacional, juntamente com a limitação da mobilidade social e da participação política. O resultado foi que o Estado brasileiro se constituiu numa espécie de “flor exótica” no contexto latino-americano ao manter-se, ao longo da maior parte do século XIX, como uma monarquia e um país escravista ao lado de repúblicas formalmente livres. Uma explicação para o fenômeno é dada por José Murilo de Carvalho, para quem tal quadro teria sido o resultado da maior unidade ideológica da elite política brasileira, em comparação com as dos demais países (CARVALHO, 1996, p. 209). Segundo o autor, a maior continuidade com a situação pré-independência levou a manutenção de um aparato estatal mais organizado, mais coeso, e também mesmo mais poderoso. Além disso, a coesão da elite, ao reduzir os conflitos internos aos grupos dominantes, reduziu também as possibilidades ou a gravidade de conflitos mais amplos da sociedade. A ausência de conflitos políticos que levassem a mudanças violentas de poder tinha também como conseqüência a redução de um dos poucos canais disponíveis de mobilidade social ascendente. Em vários outros países da América Latina, os caudilhos eram frequentemente recrutados em camadas populares. A manutenção da escravidão, um compromisso da elite com a propriedade da terra, reforçou mais ainda o aspecto de redução da mobilidade social. (Idem, p. 36). É exatamente sobre esta questão que Carvalho aponta um traço singular do processo político brasileiro: tratar-se-ia do paradoxo de o canal de mobilidade mais importante para os elementos não inseridos no sistema econômico agrário-escravista ter sido a própria burocracia. O Estado, ao mesmo tempo em que dependia da manutenção da grande agricultura e da escravidão, tornava-se refúgio para os “elementos mais dinâmicos que não encontravam espaço de atuação dentro dessa agricultura”. Tal quadro, entretanto, tendia a favorecer a atuação da própria elite política: “Instalava-se dentro do próprio Estado uma ambigüidade básica que dava à elite política certa margem de liberdade de ação” (Idem, p. 38). Isso permitiu a concordância acerca de pontos básicos, tais como a manutenção da unidade do país, a 8 condenação dos governos militares, a defesa do sistema representativo e da monarquia, e, sem dúvida, também a necessidade de preservar a escravidão. Tais questões estavam no cerne da reflexão e da ação política de um funcionário de alto escalão do Império Português que, pela força das circunstâncias, acabou ficando à frente do processo de independência do Brasil, em 1822: José Bonifácio de Andrada e Silva (1763-1838). Podemos dizer que o pensamento político e social de Bonifácio é exemplar de um tipo de reflexão, ou de um estilo de pensamento, que tem como pressuposto uma sociedade civil que carece de formas de auto-organização, dependendo por sua vez de um Estado forte. Nesta representação, a sociedade, o povo, a nação, devem ser orquestrados, tutelados por este ator político fundamental que é o Estado. Vejamos um pouco o contexto em que este autor formulou questões posteriormente retomadas pelos intelectuais. Entre 1808 e 1821, o Rio de Janeiro fora a capital de Portugal e das possessões portuguesas na África e na Ásia. Este acontecimento, sem precedentes na história colonial, marcaria profundamente a evolução nacional brasileira. A transferência da administração e da Coroa portuguesas lançava as bases da Independência do Brasil, numa relação direta com o enfraquecimento do sistema colonial metropolitano. Além disto, assolada pelas guerras napoleônicas, a Dinastia de Bragança só pôde ser salva mediante a intervenção da Inglaterra, e isto traria graves desdobramentos políticos, o principal deles incidindo sobre a manutenção do tráfico negreiro. Um fato até então incomum no mundo colonial seria responsável por meio século de atritos diplomáticos entre Inglaterra, Portugal e Brasil: a internacionalização da questão do tráfico negreiro. As pressões britânicas pela sua abolição deslocariam aquele comércio do âmbito exclusivo da política colonial portuguesa para um domínio internacional, sujeito à covigilância britânica. Pressões essas que levaram Portugal a coibir o comércio de escravos, mas que tiveram uma consequência imprevista: sua clandestinidade. (ALENCASTRO, 1986, p. 430). Ao longo da primeira metade do século XIX, e a despeito da máquina de guerra naval britânica, a “síndrome da falta de africanos” do Brasil levou o comércio negreiro “ilícito” a proporções jamais vistas até então. Desde o século XVI, o Brasil era, de longe, o agregado político e econômico que recebeu o maior número de escravos africanos. Todavia, entre 1810 e 1850, o Brasil exerceu um quase monopólio na 9 compra de escravos: do século XVI até 1850, perto de 10 milhões de africanos foram transportados para o outro lado do Atlântico, sendo que desta cifra, perto de 38% vieram para o Brasil, 17% para a América espanhola, 17% para as Antilhas francesas, 17% para as Antilhas britânicas, 6% para as Antilhas holandesas, e 6% para os Estados Unidos. No período entre 1810-1850, dos cerca de 1.900.000 africanos clandestinamente desembarcados na América, o Brasil captou 80% daquele conjunto (Idem, passim). A importância do tráfico negreiro e da escravidão, mais do que simples heranças da era colonial, repercutiriam diretamente sobre a ordem política da nova nação. O projeto civilizador de José Bonifácio pretendia viabilizar este novo país, e tinha que contar com a adesão dos proprietários de terra e de escravos e com os traficantes e escravos, isto é, a base econômica essencial de uma economia agrícola montada sobre o trabalho escravo africano. E isso num momento em que esta mesma base de sustentação política e econômica começava a ser posta em causa pelo contexto internacional, fator que trazia problemas para a legitimidade da soberania nacional. Assim, de um lado, como obter o consenso dos poderosos proprietários rurais e dos traficantes de escravos? De outro lado, como viabilizar uma ordem política com a presença de escravos africanos de diversas procedências, escravos estes que, ao compor a essência das relações de trabalho e, portanto, fator constitutivo dos interesses da classe senhorial, isto é, interesses privatistas por excelência, punham em causa a própria sobrevivência do Estado moderno e da ordem liberal, calcada na igualdade política? Em suma, como fazer com que estes interesses, que se excluíam mutuamente e, mais do que isto, expressavam a mais gritante heterogeneidade e desigualdade, constituíssem uma só e mesma nacionalidade? Assim é que a reflexão de José Bonifácio situa-se num momento ímpar da história do Brasil. Nos dois anos em que esteve à frente dos principais acontecimentos políticos – entre 1821 e 1823, como ministro de Estado –, Bonifácio teve um “papel fundamental na articulação da Independência, da construção de um Estado nacional e da conquista de um império brasileiro” (DOLHNIKOFF, 1998, p. 19). O conjunto fragmentado de seus escritos, reunidos sob o título de Projetos para o Brasil, expressam muito bem suas oscilações e ambiguidades, mas também suas convincentes certezas. Em sua Representação à Assembléia Geral Constituinte e 10 Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura, escrito em 1823, Bonifácio atenta para a essência do que seria uma “nação homogênea”. Sua crítica dirige-se diretamente contra o tráfico negreiro para, a partir de sua extinção, ir constituindo uma ordem social e política que subvertesse, gradualmente, o legado da escravidão. Afirma Bonifácio: É tempo pois, e mais que tempo, que acabemos com um tráfico tão bárbaro e carniceiro; é tempo também que vamos acabando gradualmente até os últimos vestígios da escravidão entre nós, para que venhamos a formar em poucas gerações uma nação homogênea, sem o que nunca seremos verdadeiramente livres, respeitáveis e felizes. É da maior necessidade ir acabando tanta heterogeneidade física e civil; cuidemos pois desde já em combinar sabiamente tantos elementos discordes e contrários, e em amalgamar tantos metais diversos, para que saia um todo homogêneo e compacto, que se não esfarele ao pequeno toque de qualquer nova convulsão política. (ANDRADE E SILVA, 1998, p. 48-9). O sistema colonial teria fomentado um povo “mesclado e heterogêneo, sem nacionalidade, e sem irmandade” porque interessava à sua própria manutenção. Todavia, uma vez nação independente, como “poderia haver uma Constituição liberal e duradoura em um país continuamente habitado por uma multidão imensa de escravos brutais e inimigos?” (Idem, p. 48). Com efeito, Bonifácio compreende que sem a abolição do tráfico negreiro e a gradual emancipação da escravatura, não apenas a “liberal Constituição”, como a própria estrutura do Estado moderno, ficariam comprometidos. No entanto, o que nos parece ilustrar melhor sua argumentação, embora não se esgote nela, está na sua perspectiva sobre a formação nacional. O incentivo à miscigenação, a proteção à família – num sentido amplo, fosse ela composta por escravos, por negros livres, brancos ou índios –, bem como o incentivo à imigração europeia, delineiam uma política populacional que deveria estabelecer os parâmetros da nacionalidade. Nesse sentido, o Estado, para Bonifácio, deveria ser uma espécie de “escultor prudente, que de pedaços de pedra faz estátuas. Misturemos os negros com as índias, e teremos gente ativa e robusta – tirará do pai a energia, e da mãe a doçura e bom temperamento” (idem, p. 155-6). Esta preocupação também está presente nos seus Apontamentos para a civilização dos Índios bravos do Império do Brasil, apresentado à Assembleia 11 Constituinte em 1823. Dentre as medidas do Tribunal Conservador dos Índios, que também postula, está a de introduzir nas aldeias já civilizadas “brancos e mulatos morigerados para misturar as raças, ligar os interesses recíprocos dos índios com a nossa gente, e fazer deles todos um só corpo da nação, mais forte, instruída e empreendedora, e destas aldeias assim amalgamadas [ir] convertendo algumas em vilas (...)” (idem, p. 119). Bonifácio considerava que o Estado deveria ser o gerenciador dos conflitos e das relações de trabalho, anulando o arbítrio senhorial. Defende uma espécie de “despotismo esclarecido” que daria ao governo a legitimidade da “tutela” de uma sociedade que, a seu ver, era profundamente heterogênea, disforme e incapaz de guiar-se por si mesma. Algumas reflexões de José Bonifácio seriam recuperadas no final do século XIX por um político e intelectual que, comprometido em recriar o país à altura do que se considerava a “civilização”, buscou compreender as condições e possibilidades de progresso, de industrialização, urbanização, modernização; em suma, buscou explorar as diversas possibilidades de “civilizar” o país. Assim, Joaquim Nabuco (1849-1910) fez da análise sobre os efeitos sociais e políticos da escravidão seu principal tema. Em seu livro O Abolicionismo, escrito em 1883, Nabuco percebia a necessidade de um projeto civilizatório nos trópicos. A escravidão, segundo ele, operava uma cisão social, política e jurídica entre a “boa sociedade”, assimilada ao modelo europeu e projetada como o que deveria ser a nação, e sua base social real, identificada com a natureza e a “barbárie”. Mais importante, Nabuco percebeu que a escravidão produzia efeitos perversos não apenas sobre o escravo, mas principalmente sobre as camadas livres da sociedade, resultando com isso a ausência efetiva de cidadania. Nabuco entendia a escravidão como uma instituição totalizante, e tal interpretação era, em si, uma intuição quase sociológica. Mais do que isso, tratava-se de uma perspectiva radical, reveladora de um pensamento liberal democrático: ao compreender a escravidão como um fato global, e demandando, portanto, uma reforma global, Nabuco teria introduzido, segundo Marco Aurélio Nogueira, uma novidade política: “considerando com inteligência a distinção entre escravidão visível e ‘escravidão que não se vê’, [Nabuco] realizou uma devastadora crítica da instituição e de seu regime social, dando 12 ao abolicionismo uma consistência doutrinária até então inexistente” (NOGUEIRA, 1984, p. 111). Segundo Nabuco, a escravidão em si constituía o principal obstáculo à construção da nação. Citando José Bonifácio, afirmava que com a escravidão não haveria “patriotismo nacional, mas somente patriotismo de casta, ou de raça”. Assim, o “sentimento que serv[iria] para unir todos os membros da sociedade” subverter-seia com a presença da escravidão, passando a ser “explorado para o fim de dividi-los”: Para que o patriotismo se purifique, é preciso que a imensa massa da população livre, mantida em estado de subserviência pela escravidão, atravesse, pelo sentimento da independência pessoal, pela convicção da sua força e do seu poder, o longo estagio que separa o simples nacional – que hipoteca tacitamente, por amor, a sua vida à defesa voluntária da integridade material e da soberania externa da pátria – do cidadão que quer ser uma unidade ativa e pensante na comunhão a que pertence. (NABUCO, 1999, p. 188). Entretanto, a perspectiva de Nabuco a despeito de sua plataforma política liberal-democrática, de sua esperança na difusão da cidadania e do diagnóstico dos entraves para a modernidade, recai no mesmo dilema de José Bonifácio: diante de uma sociedade civil dilacerada por interesses conflitantes, amorfa e fragilizada, não restaria senão ao Estado a incumbência de destruir a escravidão, instaurar a cidadania e formar a nação. Na verdade, o poder da escravidão era de tal magnitude que o “Governo” não seria mais do que o resultado da “abdicação geral da função cívica por parte do nosso povo”. Contudo, mesmo sendo o resultado desta apatia política, o “Governo” seria a única força capaz de destruir a escravidão, da qual, aliás, dimana, ainda que, talvez, venham a morrer juntas. Essa força, neste momento, está avassalada pelo poder territorial, mas todos vêem que um dia entrará em luta com ele, e que a luta será desesperada, quer este peça a abolição imediata, quer peça medidas indiretas, quer queira suprimir a escravidão de um jato ou, somente, fechar o mercado de escravos. (NABUCO, 1999, p. 211). A representação do Brasil-nação em José Bonifácio e Joaquim Nabuco, para ficarmos apenas com estes dois autores emblemáticos do século XIX, figurava numa perspectiva modernizadora, ainda que em compasso de espera: diante de uma sociedade em processo de formação, de uma nacionalidade heterogênea e amorfa, 13 sem identidade, restava a promessa de um futuro moderno a ser conduzido pelo Estado, Estado este “tutelar” para Bonifácio, “civilizador” para Nabuco. Apesar do diagnóstico negativo sobre a sociedade, não lhes ocorria deixar de apostar numa perspectiva positiva de superação do “atraso”. 3 MOTIVOS IBÉRICOS E A MODERNIDADE NO BRASIL Contudo, um outro conjunto de representações sobre o povo e a nação sinalizava para algo diverso ao desta perspectiva progressista. Embora também possua raízes nos momentos chave da construção do Estado brasileiro – isto é, durante a Independência e ao longo dos anos 1850, quando o Estado consolidou-se, viabilizado mediante um processo de centralização política e administrativa –, tal representação foi melhor exposta ao longo das primeiras décadas do século XX. Em geral, atribui-se a certas representações que avaliam positivamente a herança portuguesa e o legado colonial, ou ainda que os consideram como ilustração inequívoca de uma cultura “genuinamente” luso-brasileira, o nome de “iberismo”. Sinteticamente, podemos entender o iberismo como sendo a valorização ou a recuperação das “raízes ibéricas” da nacionalidade brasileira, caminho trilhado por autores que desconfiavam que a modernização das relações sociais, que o liberalismo político, ou que o princípio da representação política e mesmo da democracia pudessem ser adotados no Brasil, uma vez que estas instituições não corresponderiam à realidade das nossas tradições e costumes políticos. O iberismo pressupõe a ideia de que Portugal e Espanha não teriam sido formações culturais e políticas tipicamente “europeias” ou “ocidentais”, mas regiões nas quais valores centrais do mundo moderno, como o individualismo, o contratualismo, o mercado, a competição, o conflito de interesses e a democracia burguesa não teriam sido importantes no estabelecimento de suas tradições políticas. Ao invés destes valores, estabelece outros ideais para a sociedade, tais como a cooperação, a integração, o predomínio do interesse coletivo e comunitário sobre o individual, o personalismo, o patriarcalismo, etc. Pode-se dizer que o iberismo é uma tradição alternativa ao “Ocidente” anglo- 14 saxão, puritano, calcado numa ética do trabalho de matriz protestante. (CARVALHO, 1991, p. 89). Trata-se, portanto, de uma tese antiliberal. Um dos autores mais influentes desta linha de reflexão foi Paulino José Soares de Souza, o visconde de Uruguai (1807-1866). Escrevendo e atuando politicamente em meados do século XIX, Uruguai foi uma das principais figuras do “núcleo duro” do Partido Conservador durante o Império. Partido este que tinha também Rodrigues Torres e Eusébio de Queiróz como os membros do que se entende por “Trindade Saquarema”: este grupo se notabilizou como um árduo defensor do processo de centralização do Estado e da manutenção da unidade territorial, contra as ideias federalistas e as teses liberais representadas pelas elites regionais. (FERREIRA, 1999). Para estadistas como Uruguai, os “usos, costumes, hábitos, tradições, caráter nacional e educação cívica” de cada povo eram particularidades que deveriam ser levadas em conta para a ação política. Isto é, os povos tinham diferentes tradições políticas, e “implantar instituições de uns em outros podia ser desastroso ou, no mínimo, inócuo” (CARVALHO, 1991, p. 87). Um autor muito representativo desta tradição “saquarema”, já nos anos 1920, foi Oliveira Viana (1883-1951). Pode-se dizer que sua obra revela orientações comuns a vários intelectuais do período compreendido entre a Abolição da Escravatura, em 1888, e os primeiros anos da República Velha. Em várias interpretações do Brasil, embora com resultados analíticos diversos, os intelectuais se debruçaram sobre a colonização portuguesa, procurando os nexos fundamentais que constituíram a formação do País. A pergunta fundamental era esta: somos ou não uma efetiva nação? A originalidade de Oliveira Viana foi a de, ante ao desafio de desvendamento colocado acima, ter elaborado uma análise da realidade que transcendeu os limites do discurso de seu tempo, predominantemente de caráter jurídico, debruçando-se antes num amplo leque de disciplinas que ia da Antropologia à História, da Sociologia ao Direito e à Etnologia. Neste sentido, poderíamos situar a mesma pergunta sob dois registros diferentes: o que constitui uma nação? e, concomitantemente a ela, quais as tarefas necessárias para a sua constituição?, de tal forma que a originalidade do autor estaria em equacioná-las e elaborar uma visão prospectiva e de conjunto do Brasil. Ao lado de uma atitude fatalista e racialista, ponto comum do debate intelectual daquele contexto, Viana superou alguns dos dilemas de seu tempo. De uma forma 15 geral, apontou soluções mais “otimistas”, dadas particularmente pela “eugenia” e pelo papel destinado às elites. Vem dele uma atitude nova perante a heterogeneidade da população brasileira. Além disto, prescreveu uma nova ordem social que pudesse superar o que entendia ser o divórcio entre o “Brasil legal” e o “Brasil real”, isto é, entre as instituições e a realidade, entre a letra da Lei e a frágil e amorfa sociedade. Para isso, Viana criticou os pressupostos do evolucionismo de cunho darwinista, que concebia uma linha evolutiva única para a humanidade, com povos “superiores” e “inferiores”. Na verdade, o autor descarta esta vertente universalista ao postular uma pluralidade de linhas evolutivas, cujas raças se desenvolveriam a partir de um conjunto de causas, como o espaço geográfico, a história, as instituições, a cultura, além do aspecto propriamente biológico. Deste particularismo, Vianna concluía ser impossível uma perfeita integração interétnica: “cada agregado humano é hoje, para a crítica contemporânea, um caso particular, impossível de assimilação integral com qualquer outro agregado humano”, e a atuação de todo um complexo causal acabaria por promover “entre eles diferenças irredutíveis, mesmo entre os que vivem mergulhados na mesma atmosfera de civilização” (VIANA, 1933, p. 19-24). É que das diferenças de estrutura social, histórica, etc., surgiriam diferenças “sutis de mentalidade” que o autor denomina de “complexos”. Uma decorrência fundamental desta afirmação é a crítica à “transplantação” das ideias e das instituições. A defesa que faz do “realismo” e da objetividade frente às soluções “idealistas” e “liberais” é desta ordem. Da ação poderosa de uma complexidade de agentes resultaria a singularidade de um povo, e, portanto, a não intercambialidade de seus valores e modos de vida; consequentemente, de suas instituições políticas: O grande movimento democrático da Revolução Francesa; as agitações parlamentares inglesas; o espírito liberal das instituições que regem a República Americana, tudo isto exerceu e exerce sobre os nossos dirigentes políticos, estadistas, legisladores, publicistas, uma fascinação magnética, que lhes daltoniza completamente a visão nacional dos nossos problemas. Sob esse fascínio inelutável, perdem a noção objetiva do Brasil real e criam para uso deles um Brasil artificial, e peregrino, um Brasil de manifesto aduaneiro, made in Europe – sorte do cosmorama extravagante, sobre cujo fundo de florestas e campos, ainda por descobrir e civilizar, passam e repassam cenas e figuras tipicamente européias. (VIANA, 1987a, p. 19). 16 Por fim, a defesa da eugenia foi outro aspecto importante nas teses de Oliveira Viana: através dela, fez considerações sobre a potencialidade do branqueamento da população (via imigração europeia), e estabeleceu uma interpretação sobre a formação da sociedade brasileira que passava pela valorização positiva do papel do latifúndio. Este, por exemplo, era assim concebido por Vianna, em sua obra mais conhecida, Evolução do Povo Brasileiro, escrita em 1923: O latifúndio cafeeiro, como o latifúndio açucareiro, tem uma organização complexa e exige capitais enormes: pede também uma administração hábil, prudente e enérgica. É, como o engenho de açúcar, um rigoroso selecionador de capacidades. Só prosperam, com efeito, na cultura dos cafezais as naturezas solidamente dotadas de aptidões organizadoras, afeitas à direção de grandes massas operarias e à concepção de grandes planos de conjunto. O tipo social dela emergente é, por isso, um tipo social superior, tanto no ponto de vista das suas aptidões para a vida privada, como no ponto de vista das suas aptidões para a vida pública. Daí formar-se, nas regiões onde essa cultura se faz a base fundamental da atividade econômica, uma elite de homens magnificamente providos de talentos políticos e capacidades administrativas. (VIANA, 1933, p. 104). Com base nestas considerações, a identidade nacional brasileira passaria pela própria história do latifúndio, como organizador e selecionador dos indivíduos não brancos, de acordo com suas “potencialidades”. O latifúndio seria assim, o “grande medalhador” do povo brasileiro, cuja essência era e permaneceria rural aos olhos de Viana. Além disto, em função mesmo do papel do latifúndio, o autor elabora uma história do Brasil na qual não existem rupturas, conflitos, revoluções, e que culminaria na fixação de uma particular “psicologia política” no povo. Ou seja, Oliveira Viana defende explicitamente a adoção de formas autoritárias de poder político, com base num suposto diagnóstico de fragilidade da sociedade, das instituições liberais, da ausência de espírito de associação. Senão, vejamos: O nosso homem do povo procura um chefe, e sofre sempre uma como que vaga angústia secreta todas as vezes que, por falta de um condutor ou de um guia, tem necessidade de agir por si, autonomamente. (...). É essa certeza intima de que alguém pensa por ele e, no momento oportuno, lhe dará o santo e a senha de ação, é essa certeza íntima que o acalma, o assegura, o tranqüiliza, o refrigera. Do nosso campônio, do nosso homem do povo, o fundo da sua mentalidade é esta. Esta é a base de sua consciência social. Este o temperamento do seu caráter. Toda a sua psicologia política está nisso. (VIANA, 1987b, p. 67). 17 Há um aspecto importante a ser analisado aqui. As chamadas ideias “raciológicas” ou racistas, tiveram sua origem por volta de 1840, mas estavam sendo severamente questionadas já no final do século XIX na Europa, de onde também haviam surgido. Elas haviam exercido uma forte influência intelectual e política nos discursos nacionalistas de então, discursos estes que fizeram dos “estudos” raciais uma chave importante de legitimação para a valorização de uns e inferiorização de outros povos. Mas o que dizer a respeito de autores brasileiros que escreveram ainda em 1920, como no caso de Oliveira Viana, com base em pressupostos questionados cientificamente? Segundo Renato Ortiz, tais teorias raciológicas tornavam-se precisamente hegemônicas no Brasil no mesmo momento em que entravam em declínio na Europa, onde a explicação sociológica e cultural ganhava força frente ao discurso biológico das “raças humanas” (ORTIZ, 2006, p. 29). É que parte da elite intelectual brasileira preocupava-se, na passagem do século XIX para o XX, em efetivamente “construir uma identidade nacional”, e para isso, tinham que se reportar às “condições reais de existência do país”, isto é, a Abolição, o aproveitamento do ex-escravo como proletário, a imigração estrangeira, a consolidação da República, questões particulares daquele contexto no Brasil. Se a nação vivia, por exemplo, a questão da imigração estrangeira, até como forma de resolver a transição para a ordem capitalista, a questão da raça [era] a linguagem através da qual se apreend[ia] a realidade social, ela reflet[ia] inclusive o impasse da construção de um Estado nacional que ainda não se consolid[ara]. Nesse sentido, as teorias ‘importadas’ [tinham] uma função legitimadora e cognoscível da realidade. (ORTIZ, 2006, p. 30). Este cenário começa a mudar ainda em 1920, com a ascensão do modernismo enquanto movimento intelectual, e se cristaliza ao longo de 1930. Com a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, o Brasil viveu uma espécie de precipitação das potencialidades das crises e controvérsias herdadas do passado, delineando mais claramente distintas correntes de pensamento. A marcha do processo político e das lutas sociais, de par com a crise da cafeicultura, os surtos de industrialização, a urbanização, a emergência de um proletariado incipiente, os movimentos sociais de base agrária, tais 18 como o cangaço e o messianismo, tudo isso repunha, desenvolvia e criava desafios urgentes para cada setor e o conjunto da sociedade nacional. (IANNI, 2004, p. 24). Assim, ao longo daquela década, algumas das interpretações clássicas sobre a sociedade brasileira foram desenvolvidas tendo como fio condutor um processo de sistematização do conhecimento sociológico acerca da identidade nacional. Paralelamente, aquela década foi decisiva para a reorientação da historiografia e das ciências sociais. Ao lado de grandes transformações políticas, de aceleração do processo de urbanização, de complexificação das relações sociais, um Estado centralizado procurava então orientar o próprio desenvolvimento social e econômico. Neste quadro, as teorias raciológicas tornavam-se obsoletas, precisavam ser superadas em razão de novas demandas sociais e políticas. Precisamente naquele contexto histórico, um autor se destacava no conjunto dos chamados “intérpretes do Brasil” por recuperar e revalorizar a representação da nação nos termos do iberismo: Gilberto Freyre (1900-1987). Com a publicação de seu Casa Grande & Senzala, em 1933, Freyre reeditou a temática racial e a identidade nacional, constituindo-as em chave para a compreensão do Brasil. Contudo, não as faz a partir do critério racista, ou raciológico, como na abordagem de Oliveira Viana. Tampouco elegeu o Estado como o agente central do processo de formação social. Ao contrário, Gilberto Freyre opera uma dupla inversão de termos: ao invés da raça, pensa a cultura; ao invés do Estado, pensará a Sociedade. No que diz respeito à questão “racial”, a utilização do conceito de cultura permite a superação de uma série de dificuldades anteriormente encontradas a respeito da “herança atávica” negativa da mestiçagem, e Freyre a transforma em valor extremamente positivo. Na verdade, muito mais do que ter superado alguns temas anteriores baseado em novos recursos metodológicos, Freyre foi o primeiro a lançar mão de uma visão positiva sobre o país, tal qual ele era de fato. De um lado, rejeita as considerações de ordem racial, particularmente a sociobiologia, e introduz novos instrumentos teóricos como as análises culturalistas. Não é sem razão que grande parte de sua popularidade tenha advindo da desconstrução, ao menos em tese, do discurso racista da inferioridade atávica por conta da hereditariedade biológica de negros e índios. Ao menos em tese, porque, na verdade, há um remanejamento da 19 questão racial: Freyre adota, segundo Ricardo Benzaquem Araújo, uma noção “neolamarckiana” de raça, segundo a qual se admite a hereditariedade de caracteres adquiridos, isto é, a possibilidade de “raças artificiais ou históricas” (ARAÚJO, 1994, p. 39). Por exemplo, Freyre alude à experiência colonial portuguesa no Brasil atribuindo ao brasileiro o caráter de ser “quase outra raça”, com apenas um século de distância da península ibérica (FREYRE, 2005, p. 36). Além disto, supõe uma hierarquia, não mais racial, mas cultural, vale dizer, tendo como parâmetro a maior ou menor complexidade cultural ou grau de cultura. Assim sendo, empreendeu um estudo das etnias africanas presentes no Brasil, tendo em vista a caracterização deste grau cultural. Ser escravo “ladino” ou “boçal” (isto é, já aclimatado ou recém-chegado) seria precisamente uma referência à origem e ao grau desta cultura. Daí a refutação do argumento racista que, todavia, repunha a desigualdade, embora aparentemente disfarçada. Diz ele, revelando sua ambiguidade em relação a esta temática: Fique bem claro, para regalo dos arianistas, o fato de ter sido o Brasil menos atingido que os Estados Unidos pelo suposto mal da ‘raça inferior’. Isto devido ao maior número de fula-fulos e semi-hamitas – falsos negros e, portanto, para todo bom arianista, de estoque superior ao dos pretos autênticos – entre os emigrantes da África para as plantações e minas do Brasil. (FREYRE, 2005, p. 388). Evidentemente, permanece a distinção entre maior e menor capacidade intelectual, a menção a vocações profissionais, a valores e orientações religiosas como marcas e elementos que não se alteram, mas que, postos em contato com outros povos e etnias, resultam numa composição híbrida. Isto porque uma outra particularidade da análise gilbertiana acerca da miscigenação é precisamente a ideia de que não haveria uma fusão de valores e aptidões entre etnias distintas: a miscigenação seria antes de tudo um processo de hibridização, sob a qual permaneceriam as características e propriedades de cada agrupamento humano. (ARAÚJO, 1994, p. 44). Outra questão importante refere-se à reinterpretação da eugenia. Percebe-se que a preocupação com a mobilidade e o caráter eugênico da participação do negro na sociedade brasileira é constantemente colocado. Concorreria para isso o caráter 20 “liberal” do patriarcalismo, liberalidade esta entendida no sentido de certa frouxidão moral, promovendo o livre intercurso sexual de brancos dos melhores estoques – inclusive eclesiásticos, sem dúvida nenhuma, dos elementos mais seletos e eugênicos na formação brasileira – com escravas negras e mulatas (...). Resultou daí grossa multidão de filhos ilegítimos – mulatinhos criados muitas vezes com a prole legítima, dentro do liberal patriarcalismo das casas-grandes; outros à sombra dos engenhos de frades; ou então nas ‘rodas’ e orfanatos. (FREYRE, 2005, p. 531). A miscigenação teria promovido ainda a construção de um elemento social e “eugenicamente superior” que seria o mestiço. Percebe-se, todavia, que a questão da inter-relação entre etnias e culturas acompanha a caracterização que o autor faz da família patriarcal. Sua importância concorreria para a constituição no país de uma “democracia racial”, e questões como a eugenia podem ser lidas a partir da análise do papel da “família patriarcal”, precisamente, do sistema patriarcal e do “complexo da casa grande”. A importância deste sistema decorreria de sua capacidade singular em, face à escravidão, ter mantido a harmonia e o equilíbrio sociais. Para Gilberto Freyre, a escravidão no Brasil, longe de fortalecer a desigualdade e estabelecer um fosso intransponível entre dominantes e dominados, teria sido desenvolvida de maneira singular, diferenciando-se, por exemplo, daquela praticada no sul dos Estados Unidos, aliás comparação bastante recorrente. Freyre chama a atenção para a “leniência”, ou brandura, do regime escravocrata por conta da ação eficaz da “família senhorial” em contemporizar dominantes e dominados, brancos e não brancos, reduzindo as distâncias entre a “casa grande” e a “senzala”. Em suma, para Freyre, a história da formação do povo brasileiro confunde-se com a história da família patriarcal. Responsável pelo clima edulcorado do regime escravo, teria sido a base essencial para a miscigenação em larga escala, criando “zonas de confraternização” entre vencedores e vencidos, e promoveu a eugenia dos negros “ladinos” ou islâmicos, bem como a das mulheres, possibilitando sua ascensão social. A menção ao equilíbrio pode ser lida aqui como a evidência de uma cultura política da “conciliação”: ela seria expressão da competência da família senhorial em não permitir que momentos de crise desembocassem em rupturas profundas. Aliás, o próprio “método” de análise de Freyre condiz com esta interpretação: foca sempre o 21 espaço da casa, a esfera íntima, as cartas e os diários deixados pelas grandes famílias senhoriais. Assim, as transformações que culminaram na República são interpretadas por Freyre tendo como referência, não a mudança vinda das ruas, dos movimentos sociais, das novas relações sociais advindas com a transição para a modernidade, mas tão somente como indícios da “decadência” da família patriarcal frente aos processos de urbanização. Embora profundas, tais transformações não chegariam a romper com esta cultura da conciliação. Pelo contrário, para Freyre a “casa grande” não desapareceu, mas continuou influenciando, como nenhuma outra força, a formação social do brasileiro, agora no espaço urbano. Por fim, há um último aspecto em Gilberto Freyre que revela seu compromisso com certos motivos ibéricos, qual seja, a defesa da “rusticidade” como um traço, “aparentemente ingênuo”, dos portugueses vindos ao Brasil. Através da rusticidade, Freyre revela sua resistência à homogeneização burguesa, admitindo contudo a “aceitação de inúmeras formas culturais dificilmente assimiláveis dentro do gabarito estreito da civilização” (BASTOS, 1998, p. 51), conforme definida pelas sociedades industriais. Assim, para Freyre o analfabetismo não seria um problema, na medida em que culturas “ágrafas”, isto é, sem escrita, seriam transmitidas oralmente e mesmo beneficiadas pelo Rádio e pela TV. A rigor, o processo de alfabetização em massa era visto por Freyre como potencial destruidor da “riqueza” imaginativa de formas culturais pré-modernas. Por um lado, como resultado da leitura leniente da escravidão e da ação sábia do patriarcado em contemporizar dominantes e dominados, pode-se perceber o quanto para Freyre a democracia política seria desnecessária, substituível pela “democracia racial”, resultado, esta sim, da sabedoria com que o patriarcalismo exerceu a conciliação entre dominantes e dominados; por outro lado, resultante da defesa da “rusticidade”, encontramos uma leitura desconfiada da modernização, entendida por Freyre como destruidora de formas culturais mais ricas em nome da homogeneidade e igualdade entre os indivíduos. Em suma, trata-se da formulação de que haveria certas “vantagens do atraso”, tais como a conciliação e a acomodação frente a processos que poderiam desencadear rupturas e conflitos agudos na sociedade. Todavia, vale à pena observar que tanto a tese de que o Estado seria o formador da sociedade, presente, por exemplo, em Oliveira Viana, como a de que a sociedade 22 civil seria patriarcal, como a exposta em Gilberto Freyre, complementam-se e servemse reciprocamente. Como afirma Octávio Ianni, “se a sociedade é inocente, logo se depreende que o Estado se defronta com uma missão excepcional: construir, orientar, administrar ou tutelar a sociedade, isto é, o povo, os setores sociais subalterno. Justifica-se que o Estado seja patriarcal, oligárquico, benfeitor, punitivo, deliberante, onisciente, ubíquo” (IANNI, 2004, p. 46). Em suma, são ambas manifestações distintas de uma mesma perspectiva iberista quanto à formação do Brasil-nação, e que como tal impõem resistências às mudanças e rupturas em direção à ideia de um Brasil moderno. 4 MODERNISMO E IDENTIDADE NACIONAL Como pudemos notar, desde as últimas décadas do século XIX, quando importantes teorias científicas foram incorporadas pelos intelectuais, estes se empenharam em compreender as condições de modernização do país. Tornava-se cada vez mais evidente a preocupação com as implicações sociais, econômicas, políticas e culturais da extinção do regime de trabalho escravo, do término da monarquia, da imigração europeia, da implantação da República. As diferentes ideias de Brasil moderno tornam-se ainda mais explícitas conforme determinadas regiões do país se industrializavam, se urbanizavam e se tornavam cada vez mais complexas em sua estrutura social. Na passagem do século XIX, assiste-se ao avanço do capital nas florestas da Amazônia, com a extração da borracha, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, a urbanização de Manaus e Belém; a economia cafeeira expande-se para além do Vale do Paraíba e do oeste de São Paulo; o Rio de Janeiro vivencia sua primeira grande reforma urbana, expulsando do urbe a população pobre para dar lugar ao panorama de uma “higiênica” e “saneada” capital do país; a cidade de São Paulo crescia a taxas galopantes, dobrando de tamanho a cada ano (20.000 habitantes em 1872, 70.000 em 1890, 300.000 em 1919, 1 milhão em 1931), tornandose o destino da maioria dos estrangeiros que ingressavam no país; também em São Paulo assistem-se às primeiras greves gerais de 1917 a 1919 e à emergência da “questão social”. Diversas regiões do país engrenavam na esteira da Segunda Revolução Industrial, ou revolução científico-tecnológica, iniciada em meados do 23 século anterior na Europa, em que a base eram os avanços tecnológicos que tornaram possível a utilização de novas fontes de energia, sobretudo o petróleo, o gás e a eletricidade. Vivenciava-se, ao menos naquelas regiões do país melhor sintonizadas com o capitalismo internacional, um novo ritmo: feérico, galopante, cosmopolita; mas também explosiva, revelando novos mecanismos de exploração da força de trabalho e reiterando padrões históricos de desigualdades. Uma nova forma de compreensão igualmente se fazia presente, uma atitude melhor condizente com esse espírito do tempo. O centro da vida nacional também se deslocava com o avanço do capital: do nordeste, simbolicamente Recife, para o centro-sul, simbolicamente São Paulo. Em certa medida, a realização da Semana de Arte Moderna em São Paulo, em 1922, simboliza a emergência de outras inquietações e propostas, que passarão a predominar. Mas o deslocamento não é nem rápido nem drástico. Alguns escritores revelam dúvidas, ambigüidades, vacilações, falta de clareza. Foi complicado esse processo de deslocamento do centro da vida nacional, desde o nordeste até o centro-sul, simbolizado por Recife e São Paulo. (IANNI, 2004, p. 32). O ano de 1922 é uma data carregada de dramaticidade e peso simbólico: ano do Centenário da Independência, da fundação do Partido Comunista e do Centro Dom Vital, de orientação católica, do episódio do Forte de Copacabana, indicando a ascensão do movimento tenentista, da Semana de Arte Moderna. Episódios que demandavam aos intelectuais uma nova narrativa da nação. O movimento modernista surge neste contexto, e de certa forma pode ser visto como a expressão de uma ruptura histórica. É como se a sociedade como um todo, e em alguns de seus setores em especial, estivesse entrando em outro patamar, quando se abrem outros dilemas e horizontes. Está em curso o desafio de compreender, esclarecer ou explicar a formação da sociedade brasileira. Procuram-se as raízes do que teria sido o “Brasil Colonial”, quais as peculiaridades do “Brasil Monárquico” e quais as dificuldades e perspectivas do “Brasil Republicano”. Escritores, cientistas sociais e filósofos buscam as origens e as transformações, de modo a esclarecer os momentos decisivos da formação sociocultural e político-econômica do Brasil. São várias e notáveis as narrativas que expressam e instituem o Modernismo na arte e no pensamento. (IANNI, 2004, p. 181). 24 Estar sintonizado com este espírito do tempo é, na verdade, abraçar a modernidade. Esta pode ser lida como uma determinada experiência de tempo e espaço, de situações, vivências etc., que têm unificado a espécie humana desde o momento em que um conjunto de grandes transformações permitiu aos homens e mulheres reinterpretarem o mundo, a natureza e a própria ideia de indivíduo e humanidade. Segundo o Dicionário do Pensamento Social do Século XX, a modernidade é um “conceito de contraste”: extrai seu significado tanto do que nega como do que afirma, e seu dinamismo implica necessariamente conflito. Ao contrário das sociedades tradicionais, a sociedade moderna sente que o passado não tem lições para ela, seu impulso é constantemente em direção ao futuro, ao novo, às potencialidades transformadoras do homem, ainda que esse mesmo movimento ponha em risco todas as conquistas materiais, científicas e culturais criadas em virtude da modernidade (OUTHWAITE; BOTTOMORE, 1996, p. 473). Este aspecto contraditório já se manifestava nos primeiros textos dos jovens escritores modernistas: compreender a exigência de modernização com uma caracterização mais precisa da própria identidade nacional, ou, em suma, conciliar a modernidade com a tradição, o universal com o particular. Tratava-se de acertar as contas com o passado, no caso, representado pelas manifestações artísticas classicistas, como o parnasianismo e o romantismo, assumindo muito do que as vanguardas estéticas europeias elaboravam (futurismo, cubismo, impressionismo, etc.). Vejamos melhor como ocorreu esta configuração. De um lado, a exigência da incorporação à ordem moderna requisitava o acesso à racionalidade. Nesse sentido, os primeiros escritos modernistas faziam uma crítica ao Romantismo, interpretando-o como o estágio pré-moderno da civilização e como sentimento irracional. O Romantismo brasileiro pode ser lido como o início de uma literatura nacional, cujo traço mais marcante foi o “indianismo”. Por exemplo, José de Alencar, alicerçado no ideário romântico europeu, expunha em Iracema, de 1865, uma representação heroicizada do índio, sacralizando uma historiografia que, ao idealizar os tipos formadores da nação brasileira, o alçava à condição de símbolo de origem do nosso povo. Outra característica do romantismo era a valorização do amor à terra, à paisagem ancestral, à comunidade, em suma, a formulação de um “caráter nacional”. 25 Nesse sentido, o romantismo de José de Alencar aproveitava essa valorização do passado mítico “para fundamentar o sentido de identidade do brasileiro, que, assim, poderia se orgulhar de sua ascendência (nobre e bela)” (BALBO, 2006, p. 2). Também Silvio Romero e Euclides da Cunha podem ser inscritos neste contexto romântico, ao elegerem, respectivamente, o “mestiço” e o “sertanejo” como símbolos da nação. Já em seus primeiros desdobramentos, o movimento modernista propunha construir uma outra narrativa, não mais a da valorização deste passado mítico e paradisíaco, mas a captação do próprio fluxo desconexo, caótico e intenso da vida moderna. Estar sintonizado com a modernidade enquanto o “espírito de uma época” era captar a vida em movimento, “marcada de forma impressionista pelo ritmo da cidade onde se abrigam desordenadamente os mais variados elementos. Velocidade e variedade são atributos da vida urbana e moderna e como tal positivamente qualificada” (MORAES, 1988, p. 225). Assim, num primeiro momento, o modernismo se propunha a estabelecer uma literatura que pudesse inscrever o Brasil no concerto das nações, alçá-lo à altura das exigências da condição moderna, daí a crítica ao passadismo, ao romantismo, etc. Contudo, não podemos entender o movimento modernista como uma corrente de pensamento homogênea, sem conflitos internos. Havia inúmeras polêmicas acerca do sentido da modernidade, assim como da missão que deveria ser empreendida pelos intelectuais, e aos poucos, o modernismo foi ganhando novas dimensões. Na ótica de Mário de Andrade, um dos expoentes do movimento modernista, o que estava em jogo era a necessidade de “dessacralizar” ou desconstruir, sobretudo, o “olhar estrangeiro” com que se imaginava o Brasil e os brasileiros. Por exemplo, ao escrever Macunaíma, em 1928, Mário de Andrade retratava o brasileiro como sendo o “herói sem nenhum caráter”, criado a partir da integração entre os mitos indígenas e africanos e a presença do colonizador branco. Na verdade, a ausência de caráter do herói brasileiro indicaria um caráter ainda em formação, “que representaria a cultura brasileira e seu caráter inacabado. Em Macunaíma inexistem, portanto, traços inalteráveis de caráter, nele, como na mentalidade cultural brasileira, o escritor vê inúmeras possibilidades de mudança” (BALBO, 2006, p. 10). Enquanto o “índio”, o “mestiço” ou o “sertanejo” eram concebidos como personagens-modelo exclusivamente virtuosos, o anti-herói modernista possuía virtudes, mas, igualmente, 26 defeitos, pois, supostamente livre de ideologias, não precisaria se restringir a nenhum modelo pré-concebido. Esta destruição de modelos ritualizados foi uma das primeiras propostas do movimento modernista, caracterizando a “Antropofagia”: termo utilizado pelos modernistas, cujo sentido metafórico consistiu em ‘devorar’ e ‘digerir’ os valores culturais herdados dos colonizadores, ou seja, sob uma visão crítica, assimilar ou rejeitar estes valores e ainda destacar os valores nacionais anulados pela situação de dependência cultural do Brasil. (BALBO, 2006, p. 10). Entretanto houve, ao longo da década de 1920, uma reorientação do movimento modernista. Recuperava-se aos poucos um ideário nacionalista e uma proposta de brasilidade, mantendo, contudo, o reconhecimento da dimensão moderna da ordem mundial. Era como se o ingresso do Brasil nesta ordem exigisse uma produção cultural própria, tornando sua literatura um caso particular e específico de modernidade. Era assim que se expressava Mário de Andrade em 1924, numa carta a Joaquim Inojosa: (...) nós temos que criar uma arte brasileira. Esse é o único meio de sermos artisticamente civilizados. (...) Veja bem: abrasileiramento do brasileiro não quer dizer regionalismo nem mesmo nacionalismo = o Brasil pros brasileiros. Não é isso. Significa só que o Brasil pra ser civilizado artisticamente, entrar no concerto das nações que hoje em dia dirigem a civilização da Terra, tem que concorrer pra esse concerto com a sua parte pessoal, com o que o singulariza e individualiza, parte essa única que poderá enriquecer e alargar a Civilização. (...) nós teremos nosso lugar na civilização artística humana no dia em que concorrermos com o contingente brasileiro, derivado das nossas necessidades, da nossa formação por meio da nossa mistura racial transformada e recriada pela terra e clima, pro concerto dos homens terrestres. (MÁRIO DE ANDRADE apud MORAES, 1988, p. 232-3). Este impulso levou escritores, artistas, cientistas sociais e historiadores a elaborarem uma série de “retratos do Brasil”, valorizando a dupla sensibilidade: quanto ao sentido de modernidade e quanto à releitura da nossa história cultural. Era preciso, portanto, desvendar os próprios fundamentos da nacionalidade, e atingir o país para além das aparências, da superfície, e da visão calcada na importação de ideias estrangeiras. Como prova da impossibilidade de concebermos o modernismo como uma corrente homogênea de pensamento, é possível perceber que, apesar de suas diferenças explícitas, autores como Oliveira Viana e Gilberto Freyre podem ser entendidos como beneficiários desta produção de “retratos do Brasil”. Todavia, talvez 27 o autor que em 1930 pode ser considerado um representante tardio do modernismo seja Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982). Em seu livro Raízes do Brasil, publicado em 1936, Sérgio Buarque procurou identificar quais traços “arcaicos” e tradicionais estavam sendo superados, e quais as perspectivas de mudança avistavam-se no horizonte. Sérgio Buarque não reconstruiu historicamente a sociedade brasileira, mas examinou, em cada período histórico distinto, formas de sociabilidade, padrões culturais, inquietações intelectuais, instituições e mentalidades, que tiveram continuidade e/ou foram ou estavam sendo superados. Buscou compreender a “cultura personalista”, presente nas sociedades ibéricas (Portugal e Espanha), e como elas foram difundidas através da colonização nas Américas; os efeitos da ausência de uma “ética do trabalho” e o predomínio de uma “ética da aventura” sobre as relações sociais, originando com isso formas de associação extremamente frágeis entre os indivíduos; o peso que o “patriarcalismo” teve na cristalização de nossas heranças rurais; o valor dado pelos brasileiros às relações pessoais em detrimento dos valores tipicamente burgueses, tais como o princípio da impessoalidade, do individualismo etc., os quais tinham pouco a ver com uma sociedade tipicamente liberal e burguesa. Sérgio Buarque preocupava-se com a implantação efetiva e segura de uma ordem social e política plenamente democrática. No Brasil, afirma o autor, a democracia sempre foi um “mal entendido”, visto predominarem traços personalistas, clientelistas, autoritários e, portanto, “ibéricos”, distantes de um padrão ideal anglo-saxão democrático e universalista. “Em terra onde todos são barões não é possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável e temida” (HOLANDA, 2006, p. 21), dizia o autor. Contudo, uma lenta revolução acontecia. Propiciada pela independência política, pelo contínuo processo de urbanização, pela substituição da aristocracia açucareira pela cultura empresarial da cafeicultura, pela abolição da escravatura, Sérgio Buarque percebia uma nova mentalidade emergindo, deixando para trás as [...] sobrevivências arcaicas, que o nosso estatuto de país independente até hoje não conseguiu extirpar. Em palavras mais precisas, somente através de um processo semelhante teremos finalmente revogada a velha ordem colonial e patriarcal, com todas as conseqüências morais, sociais e políticas que ela acarretou e continua a acarretar. (HOLANDA, 2006, p. 199). 28 Em suma, pudemos notar o quanto a temática da identidade nacional tem sido não apenas uma construção simbólica, mas, igualmente, uma questão política, implicando tanto no passado quanto no presente, perspectivas que remetem a distintas formas pelas quais é possível conceber formas de solidariedade ou conflito, manutenção ou mudança. O próximo item tem como objetivo, de um lado, concluir este texto, e de outro, iniciar nossa discussão sobre o alcance das pesquisas sobre as relações raciais, entendendo que elas não podem ser desvinculadas do debate acerca da identidade nacional e do processo de modernização por que passou a sociedade brasileira. 5 OS DILEMAS DO BRASIL MODERNO E A GÊNESE DAS PESQUISAS SOBRE AS “RELAÇÕES RACIAIS” Acompanhamos nos itens anteriores o seguinte fato: entre o início do século XIX e meados do ano de 1930, um conjunto de representações, ideias e teorias sobre a sociedade brasileira foram formuladas por escritores dos mais distintos campos do conhecimento (Direito, Medicina, Engenharia, História, Geografia, etc.). Esses indivíduos não tinham preocupações puramente intelectuais, mas também políticas. Também vimos as primeiras reflexões de caráter sócio-histórico ou “pré-sociológico” presentes nas grandes sínteses sobre o Brasil no início do século XX. Em todas elas, os dilemas a respeito da formação da sociedade, da identidade nacional e das expectativas de um futuro a ser construído cruzavam-se com as cogitações que se faziam a respeito do processo de modernização do Brasil. Esse processo de modernização foi acelerado entre o final de 1930 e 1970. Neste período, o Brasil passou por várias transformações políticas: a ditadura do “Estado Novo” (1937-1945), a redemocratização a partir de então, os sucessivos governos com perfil industrialista e modernizante (segundo governo de Vargas, governo JK) e a instauração de uma ditadura militar em 1964. Nessa mesma temporada, sofremos profundas modificações em nossa dinâmica demográfica, duplicamos nossa população e nos tornamos urbanos em pouco mais de 30 anos: em 1940, éramos 41,2 milhões de habitantes, já em 1970, 93 milhões; em 1940, 28 milhões de pessoas (68,7%) viviam no 29 campo, contra 12,8 milhões nas cidades (31,2%); Já em 1970 a população urbana ultrapassaria em 11 milhões a população rural (55,9% urbana, 44% rural). Além disso, vivenciamos um intenso processo de migrações internas, principalmente do Nordeste para o Sudeste, mas também do Sul para o Centro-Oeste. No plano econômico, o Brasil diversificou sua produção deixando de ser uma economia exclusivamente agrária: no final de 1950 completou-se o processo de substituição de importações de bens de consumo não duráveis e uma infraestrutura de transportes e energia foi construída. Durante o governo JK (1956-1961), intensificou-se a produção industrial, que cresceu a uma taxa média de 10% ao ano e ramificou-se em setores como produção de aço, petróleo, metais, celulose, papel, química pesada, etc. Esse processo se desacelerou no início de 1960, e foi retomado de forma intensa entre os anos 1969 e 1973, quando se assiste ao que ficou conhecido como o “milagre brasileiro”, período em que o PIB cresceu a uma média anual de 11,2%. Podemos refletir aqui não tanto sobre essas mudanças em si (assunto preferencial da economia, da demografia, ou da geografia urbana), mas sobre a compreensão sociológica que se construiu sobre elas. A análise sociológica foi uma das formas privilegiadas para a compreensão desse processo todo de modernização. A partir dos anos 1930, a Sociologia passou a ter um discurso próprio, não mais comprometido com preocupações filosóficas, morais, jurídicas ou políticas. A Sociologia brasileira converteu-se num tipo de análise crítica, realizada através de instrumentos metodológicos de alcance universal. O que ela buscava era, basicamente, explicar as dimensões estruturais do processo de mudança social do país. Neste sentido, cabe a pergunta: como a Sociologia acadêmica interpretou o processo de modernização capitalista do Brasil? A partir da obra de Florestan Fernandes (1920-1995), pode-se dizer que um novo estilo de pensar a realidade social, bem como os dilemas da mudança social, é inaugurado entre nós. Seus primeiros estudos, ainda em 1940, são reveladores desse interesse: ao pesquisar o papel do “folclore” na cidade de São Paulo, Florestan preocupava-se com a função social dos antigos costumes, trocadilhos, brincadeiras infantis, cantigas, práticas de cura numa cidade que se urbanizava rapidamente e congregava imigrantes das mais distintas nacionalidades (italianos, japoneses, sírio-libaneses, etc.). 30 Os estudos anteriores sobre o folclore valorizavam costumes e práticas ancestrais como se esses fossem representativos apenas de pessoas analfabetas e das áreas rurais. Para Florestan, ao contrário, o folclore era parte do conjunto maior da sociedade, e deveria ser analisado a partir de suas funções para o processo de socialização dos indivíduos. Assim, através de pesquisas sobre o folclore na cidade de São Paulo, de urbanização recente e de população heterogênea, Florestan demonstraria que sua presença tinha uma função precisa: garantir a ordem social. Numa sociedade cuja estrutura social não correspondia mais aos laços de parentesco, vizinhança e identidades locais, mas que se abria para novas formas de convivência (maior individualismo, racionalização, secularização, etc.), o folclore permitia, por exemplo, integrar os imigrantes, reproduzir certos estereótipos, manter e recriar hierarquias sociais. Longe de ser uma mera sobrevivência do passado, um resto cultural, ou se restringir às pessoas pobres e analfabetas, o folclore perpassava todas as classes sociais, embora com funções diferentes em cada uma delas. Um dos aspectos do folclore que mais tarde receberia um tratamento aprofundado por Florestan Fernandes seria o preconceito racial. A sociologia da mudança social não se restringiu ao estudo das cidades. Além de Florestan Fernandes, autores como Antonio Candido (1918-) e José de Souza Martins (1938-) também focaram as transformações por que passava o mundo rural. No caso de Antonio Candido, seu livro Os parceiros do Rio Bonito, publicado em 1964, mas reunindo pesquisas feitas entre 1948 e 1954 no interior do estado de São Paulo, é um estudo clássico sobre o lugar ocupado pela cultura tradicional camponesa, mais precisamente “caipira”, no processo de modernização. Segundo Antonio Candido, a sociedade caipira caracteriza-se por sua estrutura simples, pela precariedade dos recursos materiais, pelo cunho coletivo das invenções, pela obediência estrita a certas normas religiosas. A sociedade caipira tradicional no Brasil, tendo assimilado traços culturais indígenas e portugueses, havia elaborado técnicas que permitiam estabilizar as relações do grupo com o meio, através do conhecimento satisfatório dos recursos naturais, de sua exploração sistemática e de uma dieta compatível com o mínimo vital, formando em seu conjunto uma economia de subsistência de tipo fechado, isto é, sem trocas com o exterior. A convivência, o auxílio 31 mútuo e as atividades lúdico-religiosas (festas, principalmente) eram componentes fundamentais da sociedade/cultura caipira. Essa cultura caipira de subsistência, contudo, convivia em graus diversos de contato com as primeiras vilas e, sobretudo, com as grandes fazendas de cana, gado e, depois, café, cujos proprietários tinham uma relação mais direta com as cidades e seus circuitos de troca. A grande agricultura mercantil, embora predominantemente de base escravista ao longo da Colônia e do Império, abrigava também essa categoria de sitiantes, posseiros e agregados que define a economia caipira de subsistência. O caipira, vivendo sem garantias jurídicas mínimas quanto à ocupação da terra, também não conseguiu desenvolver uma cultura que o predispusesse ao progresso e à mudança. Ou seja, o acesso à terra era fundamental para a manutenção da cultura camponesa em seu estado tradicional de isolamento, trabalho doméstico, cooperação, lazer, etc. Com a expansão da lavoura cafeeira e mais tarde das cidades médias em seu entorno, e diante da impossibilidade da posse ou ocupação de fato da terra, o caipira ou se tornava agregado nas grandes fazendas, ou era empurrado para as áreas despovoadas do sertão, ou ainda se tornava retirante, vivendo nos subúrbios das grandes cidades. Tais condições eram responsáveis pela desestruturação social que, em linguagem sociológica, se conhece por “anomia social”. No imaginário social, a figura do caipira preguiçoso, desleixado, morando em seu casebre precário, desconfiado e ressentido em relação ao comércio do “turco”, ou a operosidade do “italiano”, é uma representação forjada pela literatura de Monteiro Lobato (1882-1948), particularmente em seu livro Urupês (1918), e ganha ampla repercussão nos filmes de Amâncio Mazzaropi (1912-1981). Ao longo dos anos 1950 e 1960, o pensamento sociológico paulista problematizou as razões, o perfil e os efeitos do atraso no Brasil. Em linhas gerais, as várias pesquisas dessa escola tinham como pressuposto a recusa da visão dualista. A visão dualista concebia o processo de modernização a partir da oposição entre princípios básicos: o tradicional e o contemporâneo; o atrasado e o adiantado; o rural e o urbano; o industrial e o comercial, etc. Esses princípios dessemelhantes seriam essencialmente antagônicos e o desenvolvimento de um (da economia industrial, por exemplo) implicaria na decadência de outro (da economia rural, no caso). 32 Segundo a visão dualista, haveria dois Brasis, um “atrasado” e outro “moderno”. Para a escola sociológica paulista, tal distinção era incorreta: as transformações afetavam de maneira desigual as classes, os grupos sociais e as diferentes regiões do país, e isso tanto no espaço urbano como no rural. Assim, a reprodução da desigualdade social mesmo num contexto de mudança estrutural intenso era o “x” da questão. Em A integração do negro na sociedade de classes (1964), Florestan Fernandes voltou a um tema caro aos intérpretes do Brasil que escreveram na década de 1930: a questão racial. Nessa obra, Florestan entende que a integração do negro é um problema numa sociedade de classes como a brasileira. O autor busca explicar o porquê a própria sociedade de classes no Brasil foi, ela mesma, problemática. Para isso, analisa o entrelaçamento entre a sociedade de castas e a sociedade de classes, pois uma não teria sucesso sem a outra. Assim, a integração precária dos ex-escravos na sociedade de classes se deu em função de obstáculos estruturais à plena vigência daquilo que Florestan denomina de “ordem social competitiva”, isto é, uma ordem social que contemplasse as virtudes da meritocracia, da igualdade de oportunidades, da competição justa, etc. Ao contrário, o que o Brasil conheceu logo após a Abolição da escravatura foi a completa desatenção ao antigo contingente de trabalhadores cativos que, sem condições materiais e morais para competir com os trabalhadores imigrantes já acostumados à ética do trabalho, tiveram o pior ponto de partida no contexto de emergência da sociedade capitalista. Segundo Florestan: Evidencia-se, aí, como a modernização tem ocorrido, na esfera das relações raciais, como um fenômeno heterogêneo, descontínuo e unilateral, engendrando um dos problemas sociais mais graves para a continuidade do desenvolvimento da ordem social competitiva na sociedade brasileira. Por conseguinte, a análise converte-se em um estudo da formação, consolidação e expansão do regime de classes sociais no Brasil do ângulo das relações raciais e, em particular, da absorção do negro e do mulato. (FLORESTAN, 2008, p. 22). O verdadeiro dilema do processo de transição para a modernidade no Brasil é que, para Florestan, nossa sociedade nunca chegou a se constituir, efetivamente, como uma sociedade de classes. Isto é, a ordem social competitiva enfrentou obstáculos quase intransponíveis. No caso da pesquisa, ela revelou que o “negro” 33 encontrou pela frente toda sorte de dificuldades em seu processo de ascensão social. Entre tais dificuldades, talvez a principal fosse o preconceito racial, que se traduzia em resistências abertas ou dissimuladas para sua admissão em pé de igualdade com os brancos. Em outras palavras, o preconceito de cor e a discriminação racial atuaram como elementos impeditivos, verdadeiros obstáculos à formação de uma sociedade de classes. Na verdade, tais manifestações eram indicadores de padrões socioculturais tradicionalistas, conservadores, muitas vezes opostos à racionalidade capitalista. Contudo, atuavam como mecanismos sutis de reprodução de desigualdades em meio ao processo de modernização. REFERÊNCIAS ALENCASTRO, Luiz Felipe. Le commerce des vivants: Traite d’esclaves et ‘pax lusitana’ dans l’Atlantique Sud. These (Doctorat en Histoire) - Université de Paris X, 1986. ANDERSON, Benedict. Comunidades Imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo. São Paulo: Cia das Letras, 2008. ANDRADE E SILVA, J. B. Projetos para o Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1998. BALBO, Luiza M. L. A Identidade Nacional: matizes românticos no Projeto Modernista. Revista Boitatá [on-line], v. 1, jan./jun. 2006. Disponível em: <http://www2.uel.br/revistas/boitata/volume-1-2006/Artigo%20Luiza%20Baldo.pdf>. Acesso em: 05/10/2009. BASTOS, Elide R. Iberismo na obra de Gilberto Freyre. Revista USP, n. 38, junh./ago. 1998. CANDIDO, Antonio. Os parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Livraria Duas Cidades, 1977. CARVALHO, J. Murilo. A Construção da Ordem: a elite política imperial; Teatro de Sombra: a política imperial. Rio de Janeiro: Editora UFRJ/Relume Dumará, 1996. ______. O Motivo Edênico no Imaginário Social. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 13, n. 38, 1998. ______. A Utopia de Oliveira Viana. Estudos Históricos, v. 4, n. 7, p. 82-99, 1991. 34 CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2006. COSTA, Wilma P. Anotações para uma reflexão sobre os relatos de viagem e a questão da identidade nacional no Brasil. In: ENCONTRO REGIONAL DE HISTÓRIA. 19., 2008. Anais... São Paulo, ANPUH. DOLHNIKOFF, Miriam. Introdução. In: ANDRADE E SILVA, J. B. Projetos para o Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 1998. FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. São Paulo: Globo, 2008. FERREIRA, Gabriela N. Centralização e Descentralização no Império: o debate entre Tavares Bastos e visconde de Uruguai. São Paulo: Editora 34/DCP/USP, 1999. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala. São Paulo: Editora Record, 2005. HOBSBAWM, Eric. Nações e Nacionalismos desde 1870. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. IANNI, Octavio. Pensamento Social no Brasil. Bauru: Edusc/Anpocs, 2004. MORAES, Eduardo J. Modernismo revisitado. Estudos Históricos, v. 1, n. 2, 1988. NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. Petrópolis: Vozes, 1999. ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2006. OUTHWAITE, W.; BOTTOMORE, T. (Orgs.). Dicionário do Pensamento Social do Século XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1996. VIANA, Oliveira. Evolução do Povo Brasileiro. São Paulo: Cia Editora Nacional, 1933. ______. Populações Meridionais do Brasil. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada/Universidade Federal Fluminense, 1987a, v. 1. ______. Instituições Políticas Brasileiras. Rio de Janeiro: Editora da UFF / USP / Itatiaia, 1987b. 35 INDICAÇÕES DE FILMES Histórias Cruzadas Quase Dois Irmãos (Lucia Murat, 2004) 5 vezes Favela (as duas versões) Relação com Integração do Negro na Sociedade de Classes Cadillac Records Para discutir mobilidade social Hans Staden Como era gostoso meu Francês Para discutir a questão indígena, inclusive a partir do texto de José Bonifácio O Som ao Redor Para discutir o patriarcalismo, as relações entre classe media e pobres, etc
Download