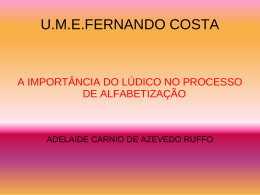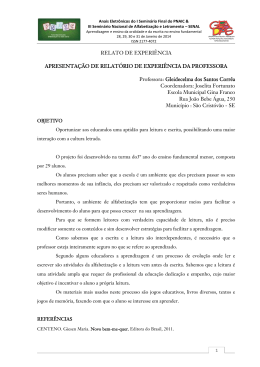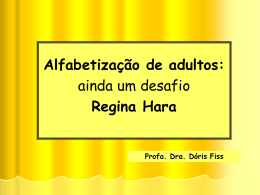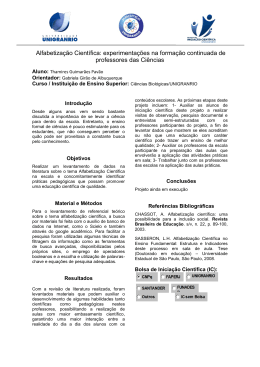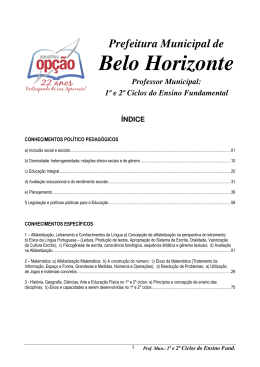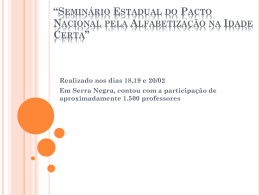Projeto LICOHIS – Língua, Comunidade e História Um perfil de adultos em processo de alfabetização: produtos e processos LEITE, Marcelo Andrade (USS)1 Resumo: Entender os processos de aquisição de norma escrita de uma língua por parte de um adulto foi o ponto de partida para os trabalhos desse projeto. De um viés social, passando pelas práticas educacionais, até uma leitura dos entraves lingüísticos desse processo, muitas vezes tortuosos e pouco eficientes, cruzamos este caminho para fazer um breve retrato das práticas e dificuldades na alfabetização de adultos. Abstract: We tried to understand the writing acquisition process in adults as our starting in this research project. From a social view, through the practice in education, to comprehesion of linguistic obstacles in this process, often twisting and inefficient, we crossed the path to make a brief portrait of practices and difficulties in adults alfabetization. Palavras-chave: Alfabetização, ensino de adultos, aprendizagem de escrita. Keywords: alfabetization, adults teaching practice, writing acquisiton Introdução O projeto LICOHIS (2004-2007), financiado e mantido pela Universidade Severino Sombra, teve como objetivo, no âmbito social, fazer um retrato das práticas docentes, da realidade e das perspectivas do ensino de adultos em processo de alfabetização. Num segundo momento, o projeto volta-se para os entraves técnicos na aquisição de uma norma escrita que, muitas vezes, choca-se com a realidade da prática oral dos alunos2. A partir de questionários com orientação sócio-variacionista (LABOV, 1994), foram coletados dados que permitiram ao grupo tecer hipótese sobre o objeto de estudo: o processo de alfabetização no adulto. Considerou-se que a realidade social que envolve o trabalho é também variável participativa dos resultados obtidos. Assim, também o fez SOARES (1995), ao considerar que os objetivos definidos pelas classes sociais irá interferir na aprendizagem e formato de escola no Brasil. Coletados os dados, que serão brevemente comentados neste artigo, passou-se para a etapa de descrição dos fatos gramaticais observados neste processo em que o aluno sai de uma realidade plenamente oral e se vê obrigado a adequar sua expressividade em códigos gráficos. Buscamos, no decorrer dos trabalhos, responder e/ou entender as questões que nos assomavam nos níveis social, gramatical e lingüístico da proposta do projeto. Adultos X Letras: um esboço social Alunos3 do curso de Letras envolvidos com o projeto de pesquisa, a partir de reuniões do grupo, montaram questionários que visavam a saber de onde vinha o aluno adulto em 1 Doutor em Língua Portuguesa pela UFRJ, professor da Universidade Severino Sombra, coordenador do Curso de Letras e coordenador do projeto desde 2004. 2 A preocupação com este tema originou-se em razão das altas taxas de analfabetismo no Brasil. Índices oficiais já apontavam em 1992 para 16,4% da população (aprox. 24 milhões) e, em 2003, dados do IBGE indicavam estimativas de 16 milhões (aprox. 9%). Oficialmente, números animadores, mas, na prática, ainda lamentáveis. 3 Participaram do Projeto LICOHIS os alunos: DIAS, Rosimárcia Teixeira de Abreu, CARRETIERO, Ana Paula Ferreira de Medeiros, LEAL, Tiago Duarte, RESENDE, Sonia da S. França, SANTOS, Aline Avelar, SANTIAGO, Ada Vieira, SILVA, Joelma Vieira, CRUZ, Camilla da Costa. 2 processo de alfabetização; o professor alfabetizador e qual o perfil da escola alfabetizadora. A fim de reduzir o chamado paradoxo do observador (LABOV) e ter nossos dados contaminados pela presença do aluno pesquisador in loco, adotamos um processo de inserção do aluno nos grupos de forma gradativa para que a intimidade crescesse na medida do convívio. Aos poucos eram sugeridas atividades práticas de escrita como cartas, bilhetes e avisos gerais que iam se tornando eventos não necessariamente programados como uma bateria de testes, mas como atividades decorrentes das necessidades cotidianas dos alunos. Dado, então, o formato do texto e o objetivo, começou a estruturação do corpus de estudo. Paralelo a isso, outra equipe de alunos desenhava o perfil social do adulto alfabetizando que, conforme demonstraram os dados, ficou predominantemente restrito a uma faixa etária de 30 a 40 anos, em uma média salarial individual de 1 e ½ salário mínimo, possuindo imóvel de moradia próprio, na maioria das vezes, localizado na zona rural e, podendo ser definidos como integrantes de núcleo familiares com média de 6 pessoas por residência. Tal retrato, permitiu-nos concluir que a procura do adulto pela alfabetização ainda se dá na idade economicamente ativa e decorre, muitas vezes, de necessidade do mercado de trabalho. A baixa renda reflete isso e o aluno busca o aumento desta. Para eles, o estudo é visto como o meio de ascensão mais viável conforme constatamos em depoimentos4. Por fim, o acesso ao ensino realmente se democratizou, já que muitos moram na zona rural e não precisam se deslocar longas distâncias para estudar, pois as escolas oferecem esse tipo de curso e em horário viável. Todavia, crescimento de quantidade não significa a melhoria da qualidade do ensino, como observaremos no decorrer do trabalho de pesquisa. A maioria dos alunos começou a trabalhar, em média, aos 14 anos e possui um histórico de idas e vindas nas escolas. Começar e parar os estudos é uma prática comum e motivada por razões financeiras, pessoais ou mesmo institucionais, quando se constata que algumas escolas, por motivos diversos interromperam suas atividades em certos momentos. O aluno, que deixa a escola por razões financeiras, retorna a ela pelas mesmas razões, mas dessa vez visando a melhorar seu padrão econômico. Professores X realidade: o ponto X da questão social No meio desse processo, o professor, que serve como ponto de intersecção entre os alunos e a expectativa de melhoria de vida destes. Entretanto, o levantamento feito a princípio mostra que o mesmo professor é também um profissional em desencanto e, muitas vezes, desiludido com a prática docente5. Face à inexistência de métodos próprios, nos locais pesquisados, para a situação de alfabetização de adultos, os professores adotam uma metodologia mais intuitiva e pautada na boa vontade do que na técnica de objetivos e resultados. Sem apoio, sem treinamento, sem material e, em muitos casos, alocados para a função aleatoriamente, os docentes tentam obter êxito depositando a crença no improvável, porém, não impossível sucesso na alfabetização de um adulto. Soma-se a isso o baixo salário que impede o professor de buscar, com recursos próprios, uma melhor qualificação6. Os recursos são restritos para cópias e textos, não há preparo ou acompanhamento do 4 (SOARES (1995) também observa o mesmo fato) Alguns pesquisadores apontam esta situação com Síndrome de Burnout. Tal problema, cada vez mais registrados em professores é um termo psicológico para a descrição do estado de exaustão prolongada e diminuição de interesse, especialmente em relação ao trabalho. O termo "burnout" (do inglês "combustão completa") descreve principalmente a sensação de exaustão da pessoa acometida. A chamada Síndrome de Burnout é definida por alguns autores como uma das conseqüências mais marcantes do estresse profissional, e se caracteriza por exaustão emocional, avaliação negativa de si mesmo, depressão e insensibilidade com relação a quase tudo e todos (até como defesa emocional). 6 Em questionário docente constatou-se que os professores além de só possuírem o ensino médio como formação maior, não tem restrito acesso a revistas, periódicos diversos e internet. 85% dos professores declararam que lêem menos de dois livros por ano. Sem prática de leitura e com acesso limitado a sua própria formação, o professor segue fazendo seu trabalho cotidiano. 5 3 alfabetizador de adultos, a maioria dos professores só possuem ensino médio, está trabalhando com adultos a menos de dois anos e 80% afirmam nunca ter tido nenhum tipo de treinamento ou acompanhamento no processo. Dessa forma, concluem as alunas RESENDE e SANTOS que qualquer trabalho que venha a ser feito para uma efetiva melhora no ensino de adultos em alfabetização passa inicial e obrigatoriamente pela qualificação do professor e no acesso dos mesmos a recursos que viabilizem seu trabalho. Só contar com a boa vontade docente, esperando dele devoção como antigamente se dizia, “magistério é sacerdócio”, é desumano com o professor, com o aluno, com a nossa sociedade. Não inserimos uma análise dos espaços físicos, mas cabe notar a precariedade das instalações, em todos os casos, desprovidas de recursos suficientes para um trabalho eficiente. Quanto aos métodos, também foi difícil obter qualquer dado, uma vez que os mesmos são inexistentes assim como qualquer acompanhamento avaliativo e de treinamento docente. Análise dos dados Observamos que as inadequações apresentadas nos textos decorriam muito mais de não reconhecimento de limites entre as regras da oralidade e texto escrito do que propriamente de um problema específico de escrita. Para a categorização, adotamos o formato que nos sugere NASCIMENTO (2002, 33-60) com as devidas adaptações ao corpus e a realidade focada na nossa pesquisa. Concordamos parcialmente com as considerações propostas pelos integrantes do projeto Ceale7 ao afirmarem que o foco é o processo. Procuramos não reincidir em equívoco anteriormente cometido quando se focava somente o produto (no caso, as inadequações) que davam origem a inúmeros trabalhos de morfologia e fonologia que relatavam, mas não davam conta dos porquês desses fatos. Entendemos processo e produto numa continua interação em que o produto aponta-nos para possíveis hipóteses que nos ajudam a entender o fato em questão e os processos descritos, inquestionavelmente, auxiliam a desenvolver raciocínios que tornem os produtos previsíveis. Não criamos distinções nas ocorrências, mas nas abordagens. Tanto em uma situação com em outra as ocorrências refletem a transição de um universo oral de linguagem para um universo gráfico, escrita e isso implica em processo de transposição de características. O alfabetizando, às vezes, demora para reconhecer os limites que separam estas duas formas de expressar o pensamento através da língua. Sendo assim, num primeiro momento, recorremos a uma base de estudo descritivo que auxilie a compreensão do nível processual em que ocorrem os fatos estudados na língua. Afirmativa como de ABAURRE & CAGLIARI (1986) de que procedimento de foco em métodos descritivos podem ser adequados para descrever os produtos, mas não ajudam a compreender o processos subjacentes ao discurso oral e escrito não nos parece totalmente correta uma vez que a descrição do produto é parte da compreensão do processo. Enxergar o processo sem produtos parece-nos uma atitude tão inconsistente quanto tentar entender um produto sem os processos que o geram. Os estudos preliminares com adultos recém-alfabetizados apontam para o fato de que os problemas decorrentes da assimilação da modalidade escrita da língua se repetem, guardadas as devidas proporções, tanto na criança como no adulto. O que nos leva a concluir que a questão está necessariamente focada sobre assimilação de uma nova forma de comunicar as idéias. Seja para um adulto ou para uma criança, esse processo envolve o desenvolvimento de um novo modo de pensar e expressar que se dissocia da língua oral em diversos aspectos. Texto 001 7 Projeto Centro de Estudos da Alfabetização e Leitura é desenvolvido na UFMG e envolve os Institutos de Letras e Educação da Universidade. Tem como objetivo expandir-se para todo o Estado. 4 Paulo vose não vio ainda nosso escritorio jatiam as prateleiras jabotarao luste estou com muitas saudades de vosce e de Maria Sylvia Texto 002 Cameque vai cêm eta eleição eu não sei im você sabe eunão zei de nata. Socei que eum son brazileira. Voum doze bom Brazi melho. Que nuca acaba o vede do noço Brazi. Soça com que batido. Com base em NASCIMENTO (2002), observamos que o primeiro tipo de categoria seria a que nós denominaremos como tipo A. Nesse caso, ocorrem violações do sistema de escrita decorrentes de intervenções não propriamente lingüísticas. O aluno não percebeu quais são as unidades que a escrita alfabética representa. Daí apresentar combinações estranhas ao português como bt, dx etc.. (ex. bde em lugar de bonde) No corpus estudado por nós, não encontramos casos como este ou mesmo relevância em ocorrências que poderiam ser classificadas como dignas de menção nesse artigo. Ainda dentro dessa categoria A, encontramos em grande quantidade casos de alunos que desenham uma letra em lugar de outra. A freqüência com que observamos tais casos nos permite supor que o aluno assimila o campo visual da letra, mas automaticamente ele o dissocia do som representado. Quadro 01 noide predendo profição vizitar apremdi ...em vez de... noite pretendo profissão visitar aprendi Os primeiros exemplos propostos nos permitem supor que essa alternância /t/ e /d/ decorre não somente da similaridade na representação gráfica, mas de uma relação concernente ao ponto de articulação da consoante uma vez que são consoantes homorgânicas pré-existente no sistema fonológico da Língua Portuguesa. O mesmo comentário é válido para casos como /b/ e /p/. A categoria do tipo B apresenta fatos em desacordo com a norma culta vinculados ao campo fonológico da palavra (relações entre fonemas e grafemas). Muitas vezes, o aluno apresenta-se confuso em face de um fonema que se encontra representado por meio de grafemas distintos ou mesmo de um grafema que se realiza em fonemas distintos. vose você 5 vizitar cincero faso visitar sincero faço Em alguns textos, observaram-se casos em que a representação de uma vogal nasalizada vem no formato de V8n / Vm constituindo um dígrafo vocálico. ananfazia /An/ não fazia O terceiro caso apresentado aqui é o tipo C. Tal categoria incorpora ocorrências que registram a violação da representação gráfica oficial de um fonema devido às relações opacas que se estabelecem entre este fonema e seus alofones. Muitas dessas relações são registradas devido às formas presentes na oralidade como a vocalização da consoante lateral /l/ final dos vocábulos. legau legal É importante mencionar que o registro dessa forma vocalizada é um traço característico de variantes diatópicas do Português.9 Esses casos de inadequação são muito freqüentes e encontram-se registrados em textos de diferentes grupos etários. O mais comum mesmo é a constante confusão que faz o falante entre mal (advérbio) e mau (adjetivo). O que faz com que as gramáticas tradicionais tragam capítulos dedicados a esses problemas de homofonia no português. Outra situação percebida dentro deste tipo de ocorrência são as de relações opacas oriundas da fala não-padrão como a que ocorre no apagamento do /r/ final das formas verbais. leva faze levar fazer As relações opacas oriundas de condicionamento lexical de certos processos fonológicos também se fazem presentes nos textos do corpus analisado. O fato mais freqüente é o de alunos que associam, dessa vez não só o fonema, mas todo o vocábulo a outro já existente na língua. eleitões eleitores O aluno associou, obviamente, o campo visual10 da palavra eleições ao de eleitores. Além disso, podemos observar que o compartilhamento do campo lexical de ambas não cria estranheza ao aluno alfabetizando. Entretanto, são mais comuns casos em que não há qualquer relação entre os vocábulos. É uma mera associação de campo visual. nuca batido nunca partido Por fim, concluímos os estudos dessa categoria de ocorrência com as considerações das relações opacas que surgem da reinterpretação de seqüência de fonemas em seqüência de 8 V Æ Vogal Em nossa região, a pronúncia é tipicamente vocalizada enquanto no sul do Brasil, o registro não é de vogal, mas sim da própria consoante lateral. /alto/ 10 Entendemos como campo visual o espaço ocupado pela palavra no papel e os seus contornos que também são internalizados por quem aprende uma língua escrita. Uma prova disso é que utilizamos como recurso legítimo escrever uma palavra quando temos duvidas sobre sua grafia e olharmos para a forma escrita a fim de detectar ou não alguma estranheza na imagem, no campo visual da palavra. 9 6 fones. Os casos que melhor ilustram tais fatos são os de ditongação e monotongação. esto moaniversário estou meu aniversário A realização dessas monotongações são muito comuns na oralidade fazendo com que formas como peixe sejam pronunciadas pexe, caixa/caxa, louco/loco etc. Todavia, não registramos muitos desses casos no nosso corpus. O fato que mais nos chama atenção é o de registro freqüente de ditongações como os colocados a seguir. alimeinto alimento A incidência desse tipo de ditongação se deu com significativa freqüência em ambientes fonológicos nasais. E o mais curioso é que o epêntese da semivogal /i/ na fala em nossa região não pode ser considerado como característico de nossa variante lingüística. E, por fim, destacamos ocorrências do que denominam os estudos gramaticais como metátese11. peugidica preifetura prejudica prefeitura A categoria D de ocorrências nos textos do adulto alfabetizando são representadas por casos de violação gráfica de seqüência de palavras. Na verdade, foi o que mais nos chamou atenção pois se verificou que o aluno não consegue estabelecer distinção entre os vocábulos morfológicos e tende a reunir em grupos de uma só unidade mórfica elementos que a língua escrita registra como distintos e não agrupáveis tedizer paracome lidiz te dizer para comer lhe diz Os casos analisados são com freqüência ocorrências do tipo Conectivo + Nome ou Pronomes (os que em inglês são denominados como pronome objeto e em português chamamos de oblíquo) + Verbos. A partir de um corte sincrônico, vemos que a Língua Portuguesa rejeita combinações dessa natureza12. Entretanto, há situações sui generis como a que apresentamos abaixo com o caso de um advérbio + um verbo. Encontramos outro caso similar a esse em texto das referências bibliográficas, mas não mais no mesmo corpus que utilizamos. Talvez possamos inserir aqui um viés para tentar descrever o advérbio já como um item lexical em processo de gramaticalização via aspectos da oralidade. japaso já passou Ocorrência de separação de um vocábulo em duas unidades mórficas também se faz registrar, mas com menor incidência. a sinada assinada 11 Para CÂMARA Jr., metátese é a mudança fonética que consiste na transposição de um fonema dentro de um vocábulo. Considera o que é um fator comumente presente na deriva da língua e tem sua realização mais conhecida em casos como o de primariu > primairo > primeiro e tenebras > trevas. 12 O que não ocorre em espanhol que apresenta formas como amandote. Em português, tal registro lexical de justaposição do pronome com o verbo é rejeitado pela deriva da língua em sua forma escrita. 7 Aqui caberá um estudo de motivações a fim de identificar de que forma os processo de hipercorreção agem nessa situação e buscar o delineamento das regularidades presentes na assimilação da escrita. Outro caso que se assemelha ao anteriormente citado é o de relações opacas entre palavras morfológicas e grupos de força. Nessas ocorrências, o aluno registra grupos de palavras como se fosse uma só palavra na língua. Não observamos até o presente momento uma regularidade nesses casos como o foi no que citamos acima. nalatalixo na lata de lixo. Texto 03 A exceção de um tipo de haplologia existente com relação à preposição de no sintagma (texto 03) , temos um caso de junção conforme nos apresenta NASCIMENTO (in ROJO: 1998) Dentro de uma deriva da língua, cabe aqui deixar expresso que, muitos casos aqui observados foram estudados no projeto LICOHIS como um processo natural de deriva da língua e que, submetidos a uma análise diacrônica comprovam sua validade. Tal estudo comparativo foi feito por SANTIAGO e SILVA em que as referidas alunas do projeto comparam as inadequações à norma culta com textos extraídos do jornal O Vassourense publicados nas duas últimas décadas do século XIX. “...pudemos observar que determinados desvios gráficos encontrados hoje em dia, tanto em textos de crianças em processo de alfabetização quanto nos dos adultos, foram detectados nesses textos jornalísticos. Sabemos que nossa língua deriva de várias outras e que até o século XIX havia uma gramática que estudava somente a origem da língua, mas não a uniformidade do léxico. Assim, o fato de não haver uma norma padrão possibilitava várias grafias para uma única palavra.” Nos trabalhos das referidas alunas pesquisadoras, elas destacam que as inadequações sugerem uma possibilidade inerente ao idioma, visto que, uma norma e escrita oficial, no Brasil, só surgiu na primeira metade do século XX. Dessa forma, as “inadequações” atuais, não devem ser consideradas desvios absurdos porque há um precedente diacrônico para essas ocorrências, pois todas estão dentro da deriva da língua. Não desconsideramos as devidas observações a serem feitas aos alfabetizandos, apenas não devemos nos escandalizar, por exemplo, ao encontrar num texto do século XIX, um signo que deva ser escrito com "n", grafado com "m" mesmo porque esse som nasalizado nos possibilita diversas grafias. A oralidade é um fator primordial nesse caso. Se conseguirmos distinguir os sons poderemos escrever bem, mas se não houver uma boa visualização do significante haverá um desvio na grafia. Por exemplo: visita/vizita. Por fim, nesse estudo diacrônico, pudemos observar cinco casos diferentes de inadequações: Na primeira categoria, encontramos em grande quantidade casos de uma letra em lugar de outra. A freqüência com que observamos tais casos nos permite supor que o aluno assimilava o campo visual da letra, mas, automaticamente, ele o dissocia do som representado. Texto do século XIX 8 “Antes de publicar a sua descoberta, o medico quis fazer uma experiencia em cadaveres de animaes que elle cobria de bagaço, e sua observação foi plenamente confirmada.” “A’folia, rapaziada! É bom gozar emquanto é tempo! Nymphas, cherubins e sereias vos esperão! Na segunda, há fatos em desacordo com a norma culta vinculados ao campo fonológico da palavra (relação entre fonemas e grafemas). Muitas vezes, o usuário se apresenta confuso em face de um fonema que se encontra representado por meio de grafemas distintos ou mesmo de um grafema que apresenta que se realiza em fonenas distintos. Adultos em alfabetização pucivio maraviloza ...em vez de... ...em vez de... possível maravilhosa Texto do século XIX “Chama-se bagaço a canna de assucar depois de ter passado pelos engenho para espremer o succo.” Na terceira categoria, Observamos os casos em que a representação de uma vogal nasalizada vem no formato V3n / Vm constituindo um dígrafo vocálico. Adultos em alfabetização estocão / tação ...em vez de... estou com Texto do século XIX “Hesitei antes de escrever-te; mas quando as necessidades fallão alto, cessão as hesitações. Depois de restaurado o castello, não podia deixar, de receber, como recebo, alguns amigos, que á noite tomão chá comigo, e jogão, estes o voltarete, aquelles a manilha, outros o lasquenet.” Na quarta categoria, relações opacas que surgem da reinterpretação de seqüência de fonemas em seqüência de fones. Os casos que melhores ilustram tais fatos são os de ditongação e monotongação. Adultos em alfabetização mutasudade ...em vez de... muita saudade Texto do século XIX “O sr. José de Vasconcellos não poude realisar a conferência que havia annunciado para o dia 3 do corrente, por não ter havido concurrencia.” Por última, a quinta categoria, apresenta a violação gráfica de seqüência de palavras, em que não se consegue estabelecer distinção entre os vocábulos morfológicos e tende-se a reunir em grupos de uma só unidade mórfica elementos que a língua escrita registra como distintos e não agrupáveis. Adultos em alfabetização estoção ...em vez de... estou com 9 Texto do século XIX “... uma de 26 de setembro tambem proximo passado, convidando a camara a auxiliar a sociedade de Geographia de Lisbôa, no Brazil, no desejo de concorrer á exposição industrial e agricola que se hade realisar naquella cidade.” Dessa forma, podemos concluir que, até aqui, o problema não era a grafia das palavras, mas sim como fazer o aluno entender que oralidade e escritas trabalham com níveis de formalidade e informalidade que permitem as mesmas operarem com formas de representação distintas. Parece-nos que esta é a principal conclusão do estudo que empreendemos: como trabalhar a questão da textualidade em todos os seus níveis no ensino de adultos. Adotamos, então, a partir daqui um foco maior sobre o discurso a fim de buscar um proposta de abordagem da alfabetização que permita ao aluno, mais do que decorar um código escrito, mas reconhecer no mesmo as variações e níveis de formalidade e, assim, sentir-se um usuário da língua em seu sentido mais amplo. A partir deste ponto a professora Rogéria Costa de Paula, deu prosseguimento a este enfoque da pesquisa. Conclusão No aspecto sócio-educacional, os trabalhos desenvolvidos nos permitem concluir que os programas de alfabetização para adultos promovidos nos locais estudados são inócuos uma vez que não possuem uma metodologia que atenda a realidade discente, uma política educacional de metas e recursos técnicos e materiais que possibilitem a atividade docente. Somado a isso, seria necessário um trabalho de treinamento do profissional de educação para que o mesmo pudesse promover um trabalho localizado de metas e objetivos no processo de ensino da norma culta escrita da Língua Portuguesa. Quanto aos aspectos gramaticais dos textos, observamos que a grande dificuldade do aluno se dá no momento de transição da oralidade para a escrita, mas que isso não constitui entrave no processo e um trabalho de leitura e de escrita continuado em sala permitiriam a formação de léxico em nível da memória visual do aluno. Como constatado, as variações de ortografia não são “aberrações” e, muitas vezes, constituem algo previsto na deriva da língua. No aspecto textual, percebemos que um dos caminhos para o efetivo trabalho de alfabetização/letramento passa pela definição de gêneros e elaboração de metodologia voltada para aplicação destes gêneros de acordo com a realidade discente, uma aprendizagem situada e levando em conta os aspectos culturais do aluno. Enfim, há caminhos para um programa regional de alfabetização eficiente que passa pelos governos municipais com uma política de metas, pelos professores com um treinamento e acompanhamento do processo, das equipes de pesquisa para o desenvolvimento de materiais cada vez mais flexíveis e adaptáveis à realidade das escolas de nossa região. Referências bibliográficas ABAURRE, Maria Bernadete M. et alii. Cenas de aquisição da escrita. O sujeito e o trabalho com o texto. Campinas: Mercado das Letras, 2001. LABOV, William. Principles of linguistic change; internal factors. Oxford: Blackwell, 1994. ____. The intersection of sex and social class in the course of linguistic change. In: CALLOU, Dinah M.I. História da língua portuguesa. Rio de Janeiro: UFRJ, Departamento de Letras Vernáculas, 1997. MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita. Atividades de retextualização.3.ed. São Paulo: Cortez, 2000. 10 NASCIMENTO, Milton do. A alfabetização como processo de estudo. In: ROJO, Roxane (org.). Alfabetização e Letramento. Campinas: Mercado das Letras, 1998. ROJO, R.H.R. A prática de linguagem em sala de aula: Praticando os PCN´s, São Paulo. EDUC. Campinas: Mercado das Letras. 2004.
Download