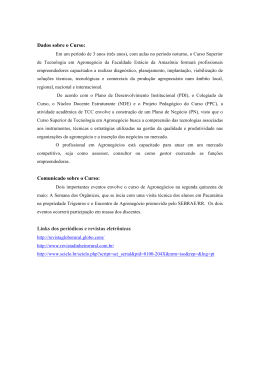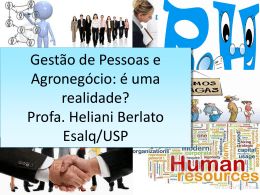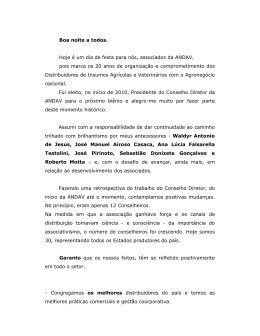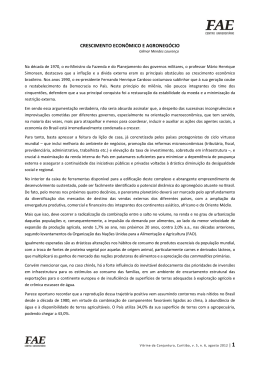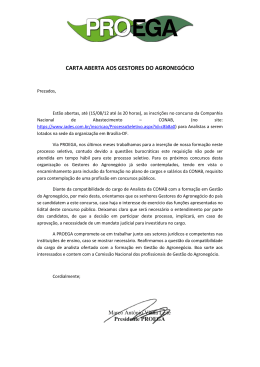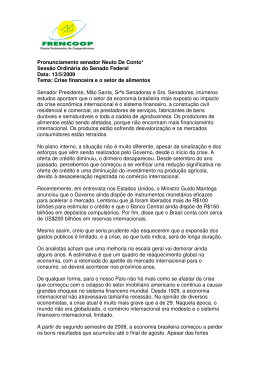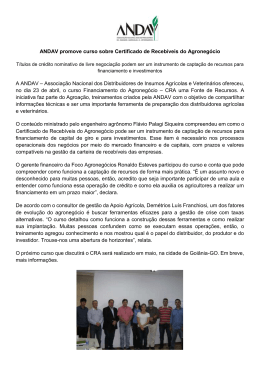VIII EPEA - Encontro Pesquisa em Educação Ambiental Rio de Janeiro, 19 a 22 de Julho de 2015 Concepções de educação ambiental de professores participantes do programa “Agronegócio na escola”: desafios à educação ambiental crítica Jandira L.B.Talamoni – UNESP campus Bauru Carolina B. Mendes – UNESP campus Bauru Resumo: O objetivo desta pesquisa foi conhecer e analisar a concepção de Educação Ambiental (EA) de professores das escolas públicas dos municípios de Pradópolis, Dumont, Jaboticabal e Rincão, participantes do programa “Agronegócio na Escola” oferecido pela Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG). Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas que nos possibilitaram constatar que a inserção da ABAG nas escolas é viabilizada pela própria concepção de EA trazida pelos professores, coerente com aquela que favorece o modelo do agronegócio, bem como pela compreensão da EA para o Desenvolvimento Sustentável (DS). Defendemos que um posicionamento político comprometido, assumido pelos professores, especialmente a partir de uma formação inicial e continuada em EA pautada na perspectiva crítica, contribuiria para a recusa não somente deste Programa, como de outras atividades ofertadas por instituições também externas às escolas públicas, assim possibilitando o trabalho docente comprometido com uma EA que defenda a transformação social e a emancipação dos sujeitos. Palavras-chave: Associação Brasileira do Agronegócio. Escola pública. Abstract: The purpose of this study was to identify and analyze the concept of environmental education (EE) of teachers in public schools in the municipalities of Pradópolis, Dumont, Jaboticabal and Rincão, that were participants of the program "Agribusiness in School", offered by the Brazilian Agribusiness Association (ABAG). Semi-structured interviews were conducted to allow us to verify that the insertion of ABAG in schools was made possible by the design of EE of the teachers, consistent with one that favors the agribusiness model and the understanding of EE for Sustainable Development (SD). We think that a engaged political position assumed by the teachers, especially from an initial and continued training in EE based in the critical perspective, would help to refuse that program and other activities also offered by external institutions to public school, thus enabling the engaged teaching on a EE that advocate social change and emancipation of the subjects. Key-words: Brazilian Association of Agribusiness. Public school. Introdução A Educação Ambiental (EA) é, atualmente, um campo de estudo consolidado no Brasil, mas sua institucionalização se fez permeada de vasta diversidade de correntes político-pedagógicas, coerentemente com o processo de amadurecimento da área e com as transformações ocorridas na sociedade, em especial devido ao agravamento da crise societária. O ambiente escolar é um dos contextos que recebe grande interferência dessa variação de concepções e ideologias presentes na EA e, exatamente por ser o espaço por nós compreendido como um dos que possibilitam a humanização e emancipação dos sujeitos, por meio da educação, merece especial atenção. Acreditamos que esta atenção, voltada às ações desenvolvidas nas escolas públicas a partir da EA, bem como ao interesse das instituições externas às mesmas em se inserirem no contexto educacional, não é sem propósito. Refletindo sobre as ações, especialmente a partir da EA, que vêm sendo desenvolvidas nas escolas públicas por instituições externas de grande importância econômica no Brasil, apontamos o Programa “Agronegócio na Escola”, 1 Realização: Unirio, UFRRJ e UFRJ oferecido pela sede regional da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG), estabelecida em Ribeirão Preto (SP). Visto que a inserção da ABAG nas escolas públicas conta com a adesão e participação dos professores, propusemo-nos a investigar e analisar as concepções de EA destes, participantes do Programa “Agronegócio na Escola”, nos municípios de Pradópolis, Dumont, Jaboticabal e Rincão, localizados na região de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. A realidade presente nos municípios analisados, fortemente dependentes do agronegócio, econômica e culturalmente, orientou a necessidade de investigarmos sobre as concepções de EA dos professores, através da realização de entrevistas semi-estruturadas, visando ao conhecimento sobre a coerência – ou não – existente entre a compreensão e posicionamento dos mesmos e da ABAG no que concerne à EA e à própria problemática ambiental. Assumindo o materialismo histórico-dialético como fundamento teórico deste trabalho e, portanto, posicionando-nos a favor da EA crítica, apontamos a necessidade de adentrarmos em discussões que transcendam as da EA como possibilidade - ou dificuldade - para que os professores a desenvolvam coerentemente com o seu trabalho docente e sua compreensão de educação. A ABAG e o Programa “Agronegócio na Escola”. A representatividade da ABAG no cenário nacional e internacional é abrangente e relevante, especialmente como instancia responsável pela difusão da importância do agronegócio na vida das pessoas e de sua responsabilidade ambiental, segundo o site da associação (ABAG, 2014). Sua inserção no Brasil é constatada pela sua integração em diversos conselhos, comissões, câmaras setoriais e fundos administrativos, consultivos e superiores no país, além de ser composta por representantes dos mais diferentes setores dos segmentos do agronegócio brasileiro, inclusive integrando os setores industriais, financeiros, comerciais e midiáticos. De acordo com Lamosa (2013), a ABAG teve suas origens atreladas ao momento em que a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) ganhou visibilidade no cenário nacional, a qual foi presidida - até o momento de fundação da Associação - por Roberto Rodrigues. Este, juntamente com Ney Bittencourt, foi quem encabeçou a criação da ABAG. Esse momento de “união de forças”, portanto, foi permeado por importantes disputas político-econômicas, com grande representatividade histórica no que diz respeito ao entendimento do momento de nossa sociedade em relação ao setor agrário (união entre agricultura e indústria, por exemplo) e à perpetuação do patronato rural nacional1. Ainda sem nos aprofundarmos, ressaltamos que a aliança ABAG- OCB representa, ainda hoje, a força hegemônica do patronato rural, segundo Mendonça (2008) citado por Lamosa (2013), ainda que atualmente atuem de forma diferente, condizente com o momento da sociedade contemporânea. Ainda que a ABAG tenha sido fundada em 1993, sua regional em Ribeirão Preto (ABAG-RP) foi criada em 2001, por iniciativa de diversas lideranças do setor do agronegócio na região e composta por empresários das diferentes cadeias produtivas, apresentando como missão: “Integrar, fortalecer e valorizar institucionalmente o agronegócio regional” (ABAG/RP, 2014). Buscando difundir seus interesses e valorizar a imagem do agronegócio, a ABAG/RP passou a agir, desde então, também por um viés pedagógico, criando o programa educacional “Agronegócio na Escola”, cujo objetivo é apresentar o agronegócio à sociedade, favorecendo a imagem do setor rural e, ainda, 1 Discussão embasada em Mendonça (2008): “O Patronato Rural Brasileiro na atualidade: dois casos de estudo” 2 “atuar em várias frentes seja política, institucional, educacional, social ou ambiental, e estar o mais perto possível da sociedade”, como se pode ler no site oficial da associação (ABAG/RP, 2014). Ainda no site oficial da ABAG é possível encontrarmos apontamentos relativos à “responsabilidade social” e ao compromisso com a “sustentabilidade”, cujas ações ficam sob os cuidados do instituto ARES (Agronegócio Responsável). Também há acesso às características do Programa “Agronegócio na Escola”, realizado em parceria com as SMEs da região de Ribeirão Preto e que “trabalha temas relativos ao Agronegócio com professores, coordenadores e alunos das duas últimas séries do ensino fundamental, ou seja, jovens na faixa etária entre 13 e 14 anos”. Os objetivos propostos merecem análise, tais como: (...) levar conceitos fundamentais do agronegócio aos alunos e, através de visitas às empresas associadas, possibilitar a conexão entre teoria e prática, levando a realidade do setor e da região para a sala de aula, e vice-versa. Revelar assim a interdependência campo-cidade, a dimensão e a importância do setor para a economia, valorizar as atividades agroindustriais locais e com isso, a comunidade onde o aluno está inserido, e resgatar o orgulho de pertencer a esta região (site oficial da ABAG/RP, 2014. Grifos nossos). O Programa oferece capacitação de professores e coordenadores, distribuição gratuita de materiais específicos destinados ao aluno e ao professor, concurso de desenhos e de redações que relatem, através da perspectiva construída pelo aluno sobre o agronegócio, a ideia de valor e importância do setor, ou melhor, da dependência irrefutável da população ao setor. A metodologia é própria para o desenvolvimento de suas ações, ou seja, de palestras e realização de visitas às empresas associadas à ABAG e, portanto, vinculadas ao setor do agronegócio. Segundo exposto no site, “Somente após essa fase é que os professores desenvolvem o tema de forma interdisciplinar com seus alunos, ao longo do ano letivo. Os alunos também têm a oportunidade de ver de perto o agronegócio: roteiros especiais de visitas são oferecidos para todas as escolas”. Lamosa (2013) nos apresenta a ligação da ABAG com outros importantes veículos pedagógicos no país, como o PENSA (Programa de Estudos e Negócios do Sistema Agroindustrial), da Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP) e o GV Agro (Centro de Estudos do Agronegócio), da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP), sendo estes responsáveis por pesquisas científicas que manifestam o interesse do setor do agronegócio (LAMOSA, 2014, p. 130-131). Não podemos desconsiderar a associação destes importantes meios de formação intelectual do nosso país ao meio privado, nem tão pouco a relação estabelecida nessa cadeia de ligações, com respeito à difusão da valorização do agronegócio por meios pedagógicos. No contexto de uma sociedade baseada nos meios de produção capitalista, é importante retomarmos aqui uma pauta: contra qual imagem a ABAG está lutando, quando ressalta seus grandes esforços para a valorização da imagem do agronegócio (justificativa utilizada, inclusive, para o desenvolvimento do próprio Programa “Agronegócio na escola”)? A concepção sobre o agronegócio e a responsabilidade socioambiental para o desenvolvimento sustentável, difundida pela ABAG aos professores e à comunidade daquele entorno, possibilita ou contribui para a reprodução das ideologias hegemônicas da sociedade e da crise ambiental? 3 Por se tratar de uma associação que representa um dos setores que mais contribui para o crescimento do PIB2 no país, entender realmente até onde se estendem seus interesses, por meio desse braço pedagógico representado pelo Programa, possibilitaria reflexões mais críticas por parte de seus participantes, especialmente os professores. Vale lembrar que mesmo se configurando como uma associação sem fins lucrativos, a ABAG/RP também fornece suporte e mantêm filiadas empresas que visam, acima de tudo, a obtenção de lucro, podendo este ser alcançado de diferentes maneiras, inclusive por meio de parcerias, de ações nomeadas de responsabilidade socioambiental, de captação de mão de obra abundante, entre outras. Lamosa e Loureiro (2014) destacam uma das formas como isso ocorreu no meio empresarial e, especialmente, na ABAG: Para organizar a difusão da “responsabilidade social” e o “compromisso do agronegócio com a sustentabilidade”, termos retirados de seu próprio site, a ABAG criou, em 2008, o Instituto para o Agronegócio Responsável (ARES). Estes são “ideias-força” que ganharam espaço na política nacional e internacional pós anos 1990, com a difusão da proposta de “terceira Via3”, assumida no Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso (...). A responsabilidade social e ecológica passou a fazer parte da estratégia política de diversas empresas (...). (LAMOSA; LOUREIRO, 2014. p. 542). Nesse sentido é que reiteramos a compreensão destes autores sobre o Programa “Agronegócio na Escola” se configurar como um programa de EA, ainda que em momento algum este tenha sido descrito desta maneira pela ABAG. Consideramos tal afirmação coerente e pertinente por compreendermos a EA por uma perspectiva crítica, ou seja, ainda que esta não esteja presente nos meios de divulgação da ABAG e do Programa, compreendemos que ao adentrar as escolas o objetivo desta - de difundir uma imagem favorável do agronegócio - traz consigo uma apreensão de conceitos (técnicos, científicos, sociais e ambientais) segundo uma ideologia dominante. Compreendemos o alcance do Programa na perpetuação de uma visão hegemônica com relação a alguns elementos como a ciência, a agricultura, a pecuária, o desenvolvimento social e a preservação ambiental, reduzindo-os ao conceito de “agronegócio”, como se essa compreensão fosse possível (e verdadeira) apenas sob a ótica deste setor. Com base em Loureiro (2012), nossa compreensão corrobora o que Lamosa (2014) descreve, ao analisar o discurso difundido pela ABAG, através das ações de seu braço pedagógico: A associação criou, ao longo de duas décadas, um braço pedagógico, responsável por formar os dirigentes de seus associados, difundir seus interesses e valorizar a imagem do agronegócio no país, defendido enquanto o meio mais moderno de desenvolvimento econômico no campo, superior, portanto, ao latifúndio e às práticas produtivas de camponeses e demais trabalhadores rurais, vistas como resquícios de um passado a ser superado. Do ponto de vista do ideário ambiental, este é um discurso com apelo junto a amplos setores sociais que reproduzem o senso comum ambientalista, uma vez que o sentido de moderno posto pelo agronegócio indica ideologicamente uma 2 Para exemplificar o peso econômico que a ABAG representa no país, podemos destacar os dados existentes no próprio site da empresa (ABAG, 2008), ou seja, “cerca de 30% do PIB, 40% das exportações, mais de 60% do fluxo de caixa interno, 40% de toda a força de trabalho do país e 70% do consumo das famílias brasileiras” (LAMOSA; LOUREIRO, 2013, p. 5). 3 A terminologia “Terceira Via” foi introduzida, inicialmente, por Anthony Giddens em sua obra “Terceira Via: reflexões sobre o impasse político atual e o futuro da social-democracia”. 4 associação direta com a urgência de se promover um tipo de desenvolvimento sustentável [...] (LAMOSA, 2014, p. 101). Percebemos, assim, uma tentativa – aparentemente bem sucedida - de imposição da ideia de que a forma de fazer ciência, agricultura e desenvolver a sociedade sob uma concepção ambientalmente correta só é possível por meio das práticas do setor em questão, desprezando todas as alternativas de plantio de alimentos, geração de renda para a parcela mais pobre da população, bem como de projetos e ações a partir da EA crítica. É em decorrência dos tantos contextos e vieses em que se insere o braço pedagógico desta associação que se torna pertinente uma investigação mais aprofundada sobre a aceitação do Programa “Agronegócio na escola” por parte dos professores. Para isso, é importante compreender suas concepções de EA, já que os reconhecemos como importantes representantes da organização escolar, cujo trabalho educativo tem por finalidade a transformação do real (RIBEIRO, 2001) e, consequentemente, é por meio do qual podemos compreender a realidade da educação pública, especialmente no contexto estudado. Compreendendo as concepções de EA dos professores e sua aceitação ao Programa “Agronegócio na Escola”. Nossa amostra de professores entrevistados contou com seis participantes e, para manter-lhes o anonimato, utilizaremos nomes fictícios (Camila e Bruna, do município de Dumont; Tatiana, Pedro e Joana, de Pradópolis; Danilo, de Jabuticabal). Dentre estes, uma professora possuía formação inicial em Geografia e Pedagogia, e uma especialização em Direito Educacional. Outro, também formado em Geografia, possuía especialização em EA. Dois professores tinham formação inicial em Biologia e Pedagogia, sendo que um deles era mestre em Educação e o outro possuía três especializações (didática, engenharia ambiental e educação ambiental). Este afirmou ter frequentado um grupo de pesquisa em EA por um ano, visando preparar-se para o ingresso no mestrado em EA. Outra professora, também Bióloga, possuía especialização em Biotecnologia e mestrado em Biologia Molecular. Por fim, contamos com a presença de uma professora formada inicialmente em História e Pedagogia, que estava finalizando o seu mestrado em Educação. Primeiramente, realizamos uma entrevista com uma das professoras do município de Dumont (Camila), que ministrava as disciplinas Geografia e Atualidades e que era a responsável - na escola em que atuava - pelo Programa “Agronegócio na escola”. Camila apontou ter tido contato com a EA em sua formação, por meio de leituras e “atividades relacionadas ao tema”, apesar de não fazer referência específica a algum tema próprio dos conteúdos estudados durante as graduações que cursou ou ao tema “Educação Ambiental”. Buscando compreender o que a professora entendia por EA, deixamos que se expressasse livremente para expor as concepções que possuía, os objetivos que associava à EA e os trabalhos e atividades que realizava: “[...] a EA porque é um problema mundial [...] cada pessoa precisa ser reeducada ‘pra’ EA, desde aqui na escola, a gente já começa, tacar um papel no chão, ou mesmo estragar uma folha do caderno... Então a gente acredita que é importante trabalhar isso pelas atitudes, desde, é... Do aluno na sala de aula, do local, é, ao global [...]. A gente vê, a gente fala muito com eles da sujeira na rua, de casa, importância de separar o lixo [...] o problema ambiental ‘tá’ acontecendo no mundo inteiro, mas por quê? Porque ninguém ‘tá’ contribuindo ou poucos contribuem... E pra amenizar o problema todos tem que se envolver, em todos os setores [...] Com programas ambientais...”. Percebemos que a professora associava a EA ao que, na verdade, seriam problemas ambientais, os quais, em seu discurso, eram colocados como questões 5 pontuais (sujeira das ruas, jogar papel no chão, estragar uma folha de caderno), embora a entrevistada apontasse que, em se tratando da temática ambiental, fazia-se necessária a expansão das preocupações locais ao nível global. Outro ponto que nos chamou a atenção foi o fato da docente ter afirmado que todos “devem fazer sua parte”. Essa colocação evidenciou que a mesma não possuía a compreensão de que os principais responsáveis pelos grandes problemas ambientais (locais e globais) não devem ser culpabilizados na mesma proporção que as pessoas que “jogam um papel” no chão, ainda que estes últimos também estejam contribuindo para a poluição. Ainda que seja importante todos se envolverem em prol da preservação ambiental - começando pelas ações pontuais por parte dos estudantes, na escola - não é possível comparar a gravidade e magnitude das ações degradantes ocasionadas pelas grandes indústrias, usinas e empresas com aquelas que podem ser causadas por um estudante ou mesmo por toda a comunidade escolar. Um exemplo sobre isso pode ser evidenciado pelo consumo de água no Brasil, para o qual a contribuição doméstica é de apenas 6%, enquanto nas indústrias esta alcança os 22% e no agronegócio ultrapassa os 70%. Da mesma forma, é ingênuo acreditar que as consequências dessa degradação são igualmente sentidas pelas diferentes camadas sociais. A professora Bruna, docente na mesma escola que Camila e graduada em Biologia, com especialização em Biotecnologia e título de mestre em Biologia Molecular, afirmou estar atuando como docente há um ano e meio e evidenciou não ter tido contato com a EA durante a sua formação, a não ser por meio da disciplina de ecologia que, segundo ela, “envolvia os temas ambientais”. Aquele era o primeiro ano em que a professora participava do Programa oferecido pela ABAG/RP. Quando questionada sobre a sua compreensão de EA, mostrou uma fala diretamente associada à “correção de comportamentos errados”, pelo fato de atuar dessa maneira ao trabalhar os conteúdos específicos de ciências que considerava pertinentes à EA: “[...] Sempre ‘tô’, é... Tentando fazer com que eles enxerguem, assim, atitudes erradas pra gente melhorar... Eu discuto muito a questão do aquecimento global, né... Até nos primeiros dias de aula, que eles [direção] pedem, assim, até por não ter a presença de todo mundo, ainda não começar a trabalhar os conteúdos em si, né [...] Até esse ano foi, eu trabalhei a questão do aquecimento global, né...”. A presença de concepções vinculadas à corrente conservacionista (LAYRARGUES, LIMA, 2011) esteve presente na fala de Bruna, provavelmente como fruto da sua formação na área biológica que, naturalmente, considera a valorização das mudanças de comportamento na busca da preservação dos recursos naturais e, também, pela ausência de contato anterior com a EA, especialmente aquela cuja visão lhe possibilitasse a superação dos aspectos conservacionistas relativos ao ambiente. Assim, a professora entendia que a sua práxis em EA devia se basear nos problemas ambientais em pauta no atual momento histórico, expostos pela mídia, compreendendo que ao discutir com os alunos suas mudanças de atitudes individuais estaria abordando a EA. Como aponta Leff (2008), são muitas as situações em que a EA é reduzida à incorporação de conteúdos ecológicos e à fragmentação do saber ambiental, especialmente quando as possibilidades práticas são apresentadas durante aligeirados processos de capacitação que versam sobre problemas pontuais. Há um predomínio de práticas educativas centradas na crença de que a desejada transformação social apenas resultaria da somatória de mudanças individuais, fruto do pressuposto de que “cada um deve fazer a sua parte”. É óbvio que não discordamos totalmente desta ideia e nem acreditamos que seja um erro assumir tais práticas em EA, no entanto, enxergamos grandes limitações à formação crítica dos sujeitos sob essa concepção de EA identificada como conservadora e comportamentalista (LAYRARGUES; LIMA, 2011). 6 Em uma escola de outro município, três professores foram entrevistados: Joana, Tatiana e Pedro. Dois deles já haviam anteriormente participado do Programa “Agronegócio na Escola”, exceto a professora Tatiana. Esclareceram que no ano em curso a escola não participaria do Programa, mas que ainda assim participariam da capacitação oferecida pela ABAG aos professores. Embora tal situação se configurasse diferente daquelas presentes nas demais escolas analisadas e participantes do Programa no mesmo ano, a coleta de dados se mostrou pertinente devido ao fato de um dos professores já ter sido premiado pelo Programa em anos anteriores, bem como pela oportunidade de analisarmos a compreensão de outras duas professoras - com formações distintas - sobre o referido Programa, conhecer suas concepções de EA e suas atuações docentes. Entrar em contato com as concepções de profissionais de diferentes áreas de estudo foi essencial para esta pesquisa, que buscava analisar uma pluralidade de agentes atuantes na e para a EA. Na entrevista realizada com Joana - graduada em Biologia e Pedagogia, com especialização em psicopedagogia e mestrado em Educação - a professora afirmou ter desenvolvido sua dissertação vinculando a Educação Infantil com a EA, pesquisando quais projetos de EA eram realizados pelos professores da rede infantil de Pradópolis. No entanto, quando questionada sobre a sua compreensão de EA, não se posicionou de forma clara com respeito à concepção que sustentava a sua prática, apenas enfatizando a importância da EA ser trabalhada transversalmente e as diferentes compreensões existentes na área: “Muitos enxergam EA [...] isoladamente... Por exemplo, vou trabalhar a dengue, já ‘tô’ trabalhando a Educação Ambiental, [...] vou trabalhar o lixo, já ‘tô’ trabalhando... [...] ela [a EA] não deve ser vista apenas como uma disciplina, um projeto... Na verdade [...] Tem várias defesas aí, né... [...] Mas, assim, na minha concepção a Educação Ambiental ela é ampla, ela tem que ser trabalhada por todos, é... Independente da área do conhecimento...”. Tal compreensão sobre a complexidade de atores envolvidos no campo da EA, realmente, por vezes, se faz necessária para que seja alcançada uma visão mais ampla da temática ambiental, facilitada pela contribuição que as diferentes áreas do conhecimento podem trazer para que a complexidade da questão em pauta seja evidenciada e compreendida. No entanto, é preciso estar atento para que esta configuração participativa não seja apenas mais uma tentativa de homogeneização de intenções relacionadas à EA, simplificando os objetivos de cada ação realizada, como se os diferentes campos de conhecimento e atores envolvidos “falassem a mesma língua” e, portanto, buscassem alcançar o mesmo resultado, ainda que por caminhos ideologicamente diferentes. Isso, ao invés de contribuir para uma transversalidade na educação, reduz os aspectos pedagógicos, políticos, sociais e epistemológicos das concepções de EA (LAYRARGUES; LIMA, 2011). Brugger (2005) também discorre sobre as questões interdisciplinares e transdisciplinares que emergiram no campo da EA, embora salientando que pouco se avançou com relação às mesmas. A interlocução entre as diversas áreas do conhecimento ainda se mantém associada a aspectos técnicos, baseados nos avanços científicos e tecnológicos empreendidos com o intuito de reverter ou reduzir os prejuízos causados ao ambiente. Ainda não se aprofundaram as discussões sobre as influências da estrutura social e mercadológica vigente, no processo de busca de uma nova maneira do homem se relacionar com o ambiente, evitando degradá-lo, ou seja, de que é preciso mais do que apenas unir esforços para mitigar os danos que continuam sendo causados. Assim, eventualmente, a possibilidade da transversalidade apresentada pela professora pode vir a ser confundida – ou mesmo reduzida - à interlocução das diversas áreas que “dialogam” – ou poderiam “dialogar” – com a EA, como a biologia, economia, direito, geografia, entre outras, mas sem questionamentos ou reflexões 7 críticas sobre estas interlocuções. Assim, ficam resumidas às suas próprias visões e posicionamentos. Por exemplo, sabemos que a EA, como campo de estudo e de luta por parte dos educadores que seguem uma vertente teórica crítica, rejeitou o termo “desenvolvimento sustentável” (DS) e a ideologia que o sustenta. Sem adentrar o mérito desse embate, consideramos ser inegável que os conhecimentos próprios da economia e da ecologia - além daqueles de outras áreas do conhecimento que poderiam ser aqui incluídos - se mostraram relevantes para a compreensão dos objetivos da proposta do DS. No entanto, por mais que se tenha tentado reunir ou estabelecer diálogo entre ambas, os conceitos que lhes são próprios não “falavam a mesma língua”, ou seja, mesmo oferecendo contribuições e posicionamentos individualmente importantes, não havia uma interlocução real entre os mesmos, prevalecendo a ideia do crescimento/desenvolvimento prioritariamente econômico. De forma sintética, podemos dizer que neste caso o diálogo não aconteceu. O que se obteve foi apenas o envolvimento dos conhecimentos específicos das diferentes disciplinas, numa tentativa (frustrada) de melhor compreender a questão ambiental, visando buscar soluções. No entanto, sob visões diversas, isso em pouco contribuiu. Nesse sentido, acreditamos ser muito pouco provável a compreensão de como têm sido estabelecidas as interações entre o ser humano e o ambiente, ou seja, a realidade social, já que sob a perspectiva do DS esta interação é vista de forma estática, não se questionando as relações presentes no modelo de sociedade vigente e dominante. Essa reflexão é valida, inclusive, para questionarmos o próprio posicionamento da ABAG, pautado no DS e difundido aos professores. Podemos dizer que a visão de Joana, na verdade, perpassa pela perspectiva multidisciplinar para o ensino da EA, pois a professora defende que esta não deve permanecer restrita a uma área do conhecimento, como frequentemente acontece ao ser atribuída às ciências biológicas, mas deve contar com a contribuição das visões de outras disciplinas sobre a questão ambiental em discussão. Talvez esta visão um tanto quanto confusa da professora pudesse ser melhor compreendida se houvesse a inserção da EA no currículo. Essa proposta não aponta para a instauração de uma disciplina de EA através do currículo, mas de incluí-la como atividade nuclear curricular (TOZONI-REIS, 2012). Também nos chamou a atenção o fato desta professora ter considerado a palestra oferecida pela ABAG/RP, durante a sua participação no Programa “Agronegócio na Escola”, como uma atividade de EA e, além disso, de ter evidenciado a inexistência de oferta de formação em EA aos professores, por parte do município. Compreendemos que, apesar de aspetos sobre a problemática ambiental e o tema sustentabilidade serem enfocados durante a palestra ministrada pelos integrantes do Programa da ABAG/RP, em nenhuma outra entrevista – dentre as realizadas com os professores - houve qualquer manifestação no sentido de considerarem a palestra como atividade associada à EA, ainda que esta se insira, nas escolas, por afirmar sua responsabilidade socioambiental. Joana demonstrou, também, desconsiderar qualquer posicionamento político e ideológico que eventualmente se faça presente no Programa da ABAG/RP, expressando assim uma tentativa de, enquanto docente, manter-se neutra, especialmente no dizia respeito a sua práxis, a partir da EA: “Então assim, eu sempre tento ver o lado bom das coisas... Então pra mim assim, o que eu posso aproveitar do que a ABAG “tá” me fornecendo? Então eu tento trabalhar o máximo aquilo... Sem vem se isso é uma questão política, se isso é um... Entendeu? Não fico olhando muito esse lado... Eu vejo o que é bom”. Considerando essa neutralidade por parte da docente, nos deparamos com um forte obstáculo para o desenvolvimento de uma EA crítica e emancipatória junto aos sujeitos envolvidos, especialmente os estudantes. De acordo com o que expressou a professora, observamos que as atividades de EA aparentemente são satisfeitas apenas 8 pelo desenvolvimento de um programa que possibilita outras oportunidades de aprendizado aos alunos, ou seja, sem sequer ser levada em conta a potencialidade de análise destas oportunidades por um viés crítico. Neste sentido, também analisando os dados obtidos durante uma atividade realizada com professores, Souza (2014) afirma: A perspectiva adotada pelos professores é coerente com a perspectiva do ambientalismo que não considera os desafios que o sistema político e econômico coloca para o cenário da problemática ambiental. Desta consideração compreensiva e política emergem as ações pontuais que visam resolver um problema local específico, não havendo, portanto, um questionamento amplo da organização social e das bases que a sustentam. Os pressupostos pedagógicos decorrentes desta compreensão são de cunho reformista e conservador, não havendo no processo educativo um questionamento crítico sobre o status quo, sobre a ordem ideológica hegemônica (Ibidem, p. 232). O professor Pedro, graduado em Biologia e Pedagogia, com especializações em didática, engenharia ambiental e EA, havia frequentado um grupo de pesquisa em EA e atuava como docente desde 2008, mas afirmou não ter tido contato com a EA durante as duas graduações que cursara e apenas havia desenvolvido um projeto, durante um estágio realizado no curso de graduação em Biologia, envolvendo o cultivo de uma horta orgânica. Este foi o motivo pelo qual o professor decidiu buscar um curso de especialização, após se graduar. Ele havia participado do Programa “Agronegócio na escola” em anos anteriores, mas no ano em que a entrevista foi realizada o docente havia optado pela sua não participação. Ainda assim, afirmou ter interesse em participar, juntamente com Joana e Tatiana, da capacitação fornecida pela ABAG/RP aos professores, ainda que a escola não se envolvesse. Ao ser questionado sobre a sua concepção de EA, se posicionou dizendo: “Olha [...] na minha concepção... A EA tem que englobar tudo o que tá relacionado ao convívio do homem com o meio... Não só o meio ambiente, mas o social, o econômico... [...] Tudo faz parte do meio que a gente vive... Então, a gente procurar maneiras de contribuir para um ambiente melhor, seja assim harmônico, social e economicamente, o ambiental seria a função dessa educação que a gente realiza”. Em sua fala podemos identificar algumas considerações que, apesar de expressas de maneira difusa, nos possibilitaram perceber que sua compreensão sobre EA não sinalizava apenas a necessidade uma simples mudança de atitudes e comportamentos, mas evidenciava a necessidade de transformação da relação homem e natureza. O professor se referiu a aspectos econômicos e sociais, evidenciando a compreensão de que a EA determina e é determinada por outros fatores, além dos ecológicos e comportamentais, percebendo a necessidade de articulá-los para que se possa compreender o campo da EA. Expressou, ainda, que a proteção ao “meio ambiente” em que vivemos não deve ser compreendida apenas como a proteção ao meio ecológico, assim delineando o que entende como “ambiente” por meio de uma concepção mais abrangente do que a normalmente utilizada pelos adeptos da corrente conservacionista. Em outra fala, para especificar a forma como enxergava a questão ambiental, inclusive dentro do Programa “Agronegócio na escola”, o professor assumiu ser importante expor aos estudantes as várias vertentes ou visões sobre um mesmo assunto, o que acreditamos serem indícios de que o docente apresentasse uma compreensão mais ampla da temática ambiental, ainda que seus interlocutores defendessem diferentes concepções. Também nos entusiasmou saber sobre a maneira como conduzia suas aulas, ou seja, sob essa perspectiva problematizadora que apresentara. O professor também mostrou preocupação com a importância de se compreender os temas a partir da história, ou seja, de considerar o anteriormente ocorrido na sociedade para que se possa 9 compreender o que acontece hoje e, com isso, podermos estender o produto destas reflexões para ações futuras. Ainda assim ressaltamos que sua ênfase em não “acusar ou defender um lado” poderia sinalizar, de certa forma, seu posicionamento neutro no campo profissional em que atua. No entanto, não podemos desconsiderar que esta postura do professor talvez estivesse relacionada com a forma como disse conduzir suas aulas, buscando oportunizar que se evidenciassem as diversas concepções existentes sobre um tema, para que seus alunos pudessem desenvolver suas reflexões e construir seus conhecimentos, assumindo seus posicionamentos sem se verem influenciados pela “opinião do professor”: “A gente sempre tem que mostrar todas as visões [...] A gente tem a visão do agricultor, [...] a visão do governo, [...] da população, a visão ambiental... Mas o importante é a gente não achar que tem uma visão verdadeira [...] A gente tem que pensar o hoje sem deixar de analisar o que já aconteceu e pensar no futuro também... Então nos momentos de aula [...] a gente conduzia a discussão ‘pra’ tomar esse norte, de não’ tá’ defendendo ninguém, a gente não ‘tá’ pra acusar ninguém. Só que a gente tem que conhecer todas as variáveis pra poder ter resultado lá no final”. Acreditamos que a postura do professor, de possibilitar que mais de um ponto de vista fosse expresso em torno de um determinado tema para, a partir disso, proporcionar discussões entre os estudantes, apresentava-se como uma importante ferramenta pedagógica, principalmente por almejar que os alunos se apropriassem de elementos historicamente produzidos para, em constante diálogo, poderem refletir e desenvolver seus conhecimentos de maneira crítica. Consideramos haver em sua atuação (segundo seus próprios relatos), portanto, a busca por romper com uma postura muito frequente e enraizada nas concepções tradicionais de educação, em que o professor é o detentor do conhecimento que, apenas, deve transmitir aos seus alunos, sem lhes propor qualquer problematização sobre o assunto e sem lhes oferecer oportunidades de se expressarem a respeito. Assim, deparamo-nos com a presença de alguns elementos que são importantes, do ponto de vista da EA crítica, ainda que com limitações, provavelmente devido à falta de posicionamento do professor com respeito a algumas questões que se configuram como inerentes a nossa sociedade e que deveriam ser problematizadas na EA, principalmente diante do fato de o docente defender a importância de sua participação, bem como a de outros professores e estudantes, em Programas como o oferecido pela ABAG. Tatiana, graduada em História e Pedagogia, finalizava seu mestrado em Educação, atuando com alunos do 6º ano. Não participava do Programa da ABAG na escola, mas, assim como os professores Pedro e Joana, resolveu participar da capacitação oferecida por aquela associação. Sua formação em História e sua iniciativa de estabelecer um primeiro contato com o Programa se mostraram como características interessantes para que participasse da nossa coleta de dados, contribuindo conosco no sentido de nos oferecer, possivelmente, uma visão diferente daquela apresentada pelos outros professores. A professora afirmou ter tido pouco contato com a EA durante a sua graduação em Pedagogia, e que isto havia se dado por meio da sua participação em um projeto que teve os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) como tema de discussão, já que nestes está presente o eixo Meio Ambiente, o qual possibilita a discussão da EA. Além disso, afirmou que durante uma das disciplinas que cursara no mestrado, havia desenvolvido um programa de curso para o ensino superior, voltado para a EA. Ao questionarmos qual era a sua compreensão sobre EA, a professora assim se expressou: “[...] Então lá nos pequenos, falou-se muito da reciclagem... Então lá, um projeto resultaria, o produto final seria a confecção de brinquedos a partir desse material reciclado... E assim, tem 10 algumas coisas que eu sou contra, né [...] eu penso que antes de se reciclar o ideal é você saber por que você consome [...]Então eu acredito assim, meio ambiente [...] é o meio que a gente vive... Não é a mata, não é ali... Então é tudo, né... Desde o lixo que eu joguei ali, ao que eu entendo de consumo [...]. Não sei se meu olhar lá na humanas vai muito pra esse sentido, mas é tentar criticar isso... Esse consumo que muitas vezes a gente não sabe o porquê tá consumindo e que prejudica, não tem jeito... Eu lembro muito numa ideia de “eco”... Mas a gente vive um período de sustentabilidade por todos os lados... E as empresas também se beneficiam disso... Então eu falo que há um ganho pra quem está fazendo isso... Com propagandas... E também está induzindo o próprio consumo [...]. Eu vou muito nessa ideia, mas eu entendo que Educação Ambiental tem a ver com tudo, não é só o verde, a mata, mas é com o nosso meio”. Ainda que durante seu discurso Tatiana tenha usado a expressão “meio ambiente” para explanar sua compreensão de EA, pudemos entender que mais do que nos atentarmos para o uso indevido do termo, era importante considerarmos a forma como a mesma compreendia a EA e, também, que sua maneira de enxergar a problemática ambiental ultrapassava a visão pragmática. Explicitamente, a professora demonstrou compreender o fato de estarmos emersos nesta perspectiva em que o discurso ambiental ligado à questão urbano-industrial (LAYRARGUES; LIMA, 2011) é eminente. Neste trecho temos elementos que nos apontam uma compreensão mais crítica da EA, ou seja, mais do que colocá-la como uma atividade pontual - como a reciclagem, por ela exemplificada - em que se busca a “conscientização” dos participantes, é preciso abordar e problematizar outros aspectos que são intrínsecos ao tema, como o próprio consumo e, inclusive, a partir de elementos históricos que contribuíram para a configuração do “atual problema” em nossa sociedade. Estes são aspectos que, segundo a nossa compreensão, estão presentes na tendência crítica da EA, ainda que admitamos que esta deva envolver outros aspectos para que seja alcançada uma práxis educativa como a defendida por Layrargues e Lima (2011), bem como por outros autores citados nesse trabalho. Compreendemos que a professora, talvez por sua formação em Ciências Humanas (licenciatura em história), conseguia envolver outros fatores na problemática ambiental que não se restringiam aos ecológicos, assim contribuindo para uma percepção de EA mais totalizante e histórica, em que ela entendia que o questionamento de algumas concepções vigentes - por meio de uma compreensão histórica de como se estabelece a sociedade - e próprias para a manutenção da ordem social (diretrizes neoliberalistas) fosse importante e necessário para o trabalho da EA nas escolas. O último professor participante das entrevistas, Danilo, era licenciado em Geografia e especialista em EA. O professor lecionava em uma escola estadual e em uma municipal, portanto, focamos a nossa análise no seu trabalho junto a esta última, por ser essa uma das escolas participantes do Programa “Agronegócio na Escola”, no município de Jabuticabal. Ao questionarmos sobre o seu contato com a EA durante o seu processo de formação inicial, o professor afirmou não ter tido qualquer disciplina específica em EA e completou: “[...] Olha, Educação Ambiental é... É tentar elaborar junto com os alunos [...] É uma educação que se faz com os outros, professor e aluno... Para você adotar novas práticas, novos hábitos, né... Que até então nós não tínhamos... E com a questão ambiental sendo repercutida agora é fundamental que todos nós tenhamos, né... E que não só tenhamos, mas que ‘compartilhamos’ com quem não tem, não conhece... E é isso... As crianças aprendem na escola, vão pra casa e ensinam os pais...”. Ainda que presentes de forma dispersa e generalizada, o professor se referiu, em sua fala, a alguns elementos interessantes. O primeiro deles, mais uma vez, sobre a importância de se buscar um desenvolvimento coletivo, ainda que tenha se restringido à esfera escolar, ou seja, ao professor e ao aluno, mas isentando a EA e a compreensão de 11 problemas ambientais, inclusive, de uma vertente unilateral, responsável pela “conscientização”. O professor demonstrou sua preocupação com mudanças de hábitos e práticas que, por vezes, podem sinalizar visões reducionistas das ações educativas ambientais. No entanto, percebemos em sua fala, ainda com relação a esta observação, que também existia uma preocupação no sentido de o conhecimento possibilitado pela EA poder alcançar um número maior de pessoas o que, portanto, poderia permitir a superação da postura do simplesmente “faça você a sua parte”, pois compreendia que existem aqueles que não têm acesso direto à informação e ao conhecimento. Ainda assim, pensamos valer a pena ressaltar que nem sempre a mudança de comportamento resultará em mudança de atitudes, como expressa Loureiro (2012, p. 85). Buscando extrair mais informações sobre a concepção do professor, nós o questionamos sobre sua atuação em sala de aula, em relação à EA, ao que afirmou não ficar restrita aos conteúdos do currículo, tão pouco ao Programa oferecido pela ABAG. Segundo Danilo, diversos projetos que visam à EA são continuamente desenvolvidos na escola, envolvendo alunos, professores, gestão escolar, funcionários e, até mesmo, a comunidade escolar (como é o caso do responsável pela coleta e reutilização do papel que é armazenado). Consideramos que estas atividades e este posicionamento coletivo eram elementos importantes para o estabelecimento de uma práxis educativa crítica e dialógica. Também avaliamos o fato das atividades serem contínuas e não limitadas a ações pontuais, relacionadas a datas comemorativas, por exemplo, que reúnem ações que logo são “esquecidas” e irrelevantes até do ponto de vista de uma simples mudança de comportamento. Ao contrário, a continuidade das ações e a participação coletiva diária nas mesmas se mostravam como estímulos para uma efetiva mudança de hábitos, pois àqueles comportamentos eram atribuídos sentidos, especialmente por parte do aluno. No entanto, retomando o raciocínio de Loureiro (2012), para que essas atividades desenvolvidas resultem numa atuação democrática na esfera social futura dos estudantes, que busque a superação das desigualdades, é necessário que sejam constantemente problematizadas, isto é, que não se resumam à mudança de comportamento no âmbito escolar, mas gerem uma real mudança das atitudes que o estudante/cidadão exercerá em todos os lugares e momentos. Questionamos Danilo, ainda, com relação à relevância do Programa para a formação e atuação docente. Na perspectiva desse professor, obtivemos: “Olha a formação é muito boa... Assim, eu acho, eu tenho uma ressalva a fazer... Eu acho que faltam algumas informações que eu comento com alguns colegas... Eu acho assim... É... Aumento da produção de alimentos, porém a onde? Eu sempre me faço essa pergunta... Então é isso que às vezes falta essa informação... O porquê... Qual é a posição da ABAG com relação ao novo projeto da lei ambiental, que a gente fala, das APPs, por exemplo? Então eu acho que não fica muito claro...”. Consideramos esta fala extremamente importante porque percebemos nesse professor uma visão crítica, ainda que pontual, sobre assuntos abordados durante a capacitação oferecida pelo Programa. Danilo evidenciou haver uma isenção, por parte da ABAG/RP, com respeito a questões importantes sobre a problemática ambiental, ainda que durante a capacitação estas fossem superficialmente referidas, elucidando o que o setor vem desenvolvendo – por meio de inovações tecnológicas - para “preservar o meio ambiente” (veremos isso mais detalhadamente na próxima categoria de análise, com base nas expressões da própria representante da Associação). Vale lembrar que Danilo era formado em Geografia e especialista em EA, ou seja, segundo a nossa compreensão, essa formação pode ter lhe proporcionado o contato com temas políticos (geopolítica) e, também, conteúdos sobre os ecossistemas naturais. Ainda que tenhamos questionado diretamente Danilo, sobre a sua concepção de EA, percebemos que a maior de suas respostas estivera relacionada diretamente com o 12 Programa da ABAG, apresentando elementos que nos forneciam indícios de seu posicionamento sobre a problemática ambiental e sobre a EA relacionados, ainda que de forma pontual, à EA crítica. Sobre a consideração desses elementos que se associavam à perspectiva crítica, de educação – apresentados pela professora Tatiana e pelos professores Pedro e Danilo - é importante que não nos deixemos cair em “armadilhas paradigmáticas” (GUIMARÃES, 2004). Assim, ainda que possamos apontar tais elementos como mais elaborados e aparentemente coerentes com a tendência crítica de EA, é importante levar em conta o que Saviani (2012) nos apresenta como educação “crítico-reprodutivista”. Segundo o autor, Bourdieu e Passeron, que trouxeram contribuições importantes sobre a nossa sociedade, apresentaram em seus trabalhos críticas relevantes sobre a reprodução social a partir educação escolar, porém, não avançaram nestas considerações, buscando propor caminhos para a superação dos problemas encontrados. Por essa razão Saviani (2012) os considera como “críticosreprodutivistas”, pois, apesar de criticarem a realidade que estava posta no meio educacional, no momento da formulação de suas obras, apenas afirmaram que nada poderia ser alterado e que, portanto, a educação continuaria reproduzindo tal realidade. Esse é um problema recorrente na EA e na educação formal como um todo, pois os professores se veem criticando determinadas ações e situações presentes no cotidiano escolar, mas não buscam alterá-las, inclusive por meio de seu próprio trabalho como docente. Buscando obter mais manifestações a respeito das ressalvas que o professor nos apresentara e que, para nós - como apontado anteriormente - já adentrava na sua visão sobre a problemática ambiental e na criticidade que fomentava o seu posicionamento em suas aulas, questionamos se considerava que o objetivo do Programa era a valorização do agronegócio e até que ponto este proporcionava, nos estudantes e nos próprios professores, uma mudança de concepção sobre o setor. Sobre isso, indicou: “Não, até aborda [a questão ambiental] de modo superficial, né... Sem mostrar [...] como vai aumentar a produção? É importante [o agronegócio], porém [...] quem ‘que’ vai sofrer com isso? Se a questão ambiental vai ficar um pouco de lado pra questão financeira do agronegócio falar mais alto... é bem assim. [...] Eles [alunos] entendem que é importante, que é fundamental [o agronegócio] [...] É um setor que abriga milhões de empregos [...] é importante até porque o Brasil é um dos grandes produtores de alimentos, deve fazer investimentos na área, né... Porém concentra aquela crítica, né... De saber como vai ser feito isso, né... Tentar encontrar um denominador comum que não afete nem a questão ambiental, né... [...] Então tem essa formação nossa que dá esse senso crítico com relação a tudo, inclusive com [relação à] ABAG...”. Devido a isso, e considerando a relevância atribuída à capacitação da ABAG/RP por parte de outros professores, com formações diferentes do professor Danilo, perguntamos se este acreditava que seus colegas poderiam apontar as mesmas ressalvas por ele apontadas, a fim de proporcionar uma discussão mais crítica aos seus alunos. Danilo respondeu: “Olha, depende a área de atuação do professor [...] A gente [da geografia] vê sobre moradia irregular, a gente vê pobreza, a gente trabalha IDH, a gente observa que uma coisa ‘tá’ atrelada a outra... Às vezes um professor de uma área de exatas [...] Não vai conseguir ver nada através desses números, o que tem por trás... Porque não há uma divisão de renda igualitária, né [...] Cada ano que passa esse número aumenta, porém concentrando na mão de poucos também... E nós que ‘tamos’ nessa área de humanas [...] a gente consegue ver através dos números, e questionar [...] Diminuiu o déficit alimentar no país, no mundo? E, a questão ambiental, e aí? Vai ser preservado? [...] Nós, geografia, ciências ‘consegue’...”. Pudemos perceber, assim, como o Programa atinge seu objetivo de valorização do agronegócio naquela região, para os professores e estudantes. Enfatizamos, pela própria fala do professor, como o processo realizado com tal objetivo é perigoso, 13 principalmente para os professores que não tiveram, em sua formação, contato com os temas e conteúdos abordados durante a capacitação, bem como uma formação política e crítica, pois isso faz do professor um mero transmissor e reprodutor de informações que, muitas vezes, por serem entendidas como “verdades”, bastam em si mesmas, contribuindo, portanto, para a perda do caráter intelectual do trabalho docente. Ainda, segundo Neves (2011): É por isso que a formação de educadores vem se constituindo em política estratégica dos governos neoliberais da Terceira Via no Brasil e no mundo. As classes dominantes no Brasil de hoje sabem que é preciso educar os educadores segundo os fundamentos técnicos e éticopolíticos de seu projeto de sociedade e de sociabilidade. (Ibidem, p. 235). Considerações Finais Das entrevistas realizadas com os professores das escolas públicas dos municípios aqui considerados, pudemos perceber que suas concepções de EA se assemelham ao discurso do DS divulgado pela ABAG. Ficou evidente que essa associação, através de seu braço pedagógico, vem alcançando seu objetivo de difundir uma imagem favorável do agronegócio na região, atingindo diferentes camadas da população, tanto alunos em processo de formação intelectual e humanização, quanto professores. Vale ressaltar, ainda, que os questionamentos dos professores com relação ao modelo atual de sociedade pouco esteve atrelado ao questionamento do modelo de produção defendido pela ABAG e que, quando isso ocorreu, como foi expresso pelo professor Danilo, não se apresentou como um enfrentamento ao agronegócio e às concepções de sustentabilidade defendidas pela associação, mas apenas elucidaram a necessidade de reflexão sobre como o próprio setor conseguirá manter sua produção diante da crise ambiental atual. É importante evidenciarmos alguns elementos presentes nas falas dos professores, que são essenciais para o desenvolvimento da EA crítica. No entanto, como educadores, devemos atentar para o fato de não nos mantermos como “crítico-reprodutivistas”, ou seja, que mesmo que consigamos enxergar a problemática socioambiental através dos entraves políticos e econômicos, pouco avancemos durante o trabalho pedagógico para a emancipação dos nossos próprios estudantes. Percebemos ainda que, nestes casos, uma visão crítica sobre a problemática ambiental, o discurso do DS e a própria postura da ABAG durante a capacitação oferecida aos professores estiveram atrelados à formação destes, o que reforça, assim como evidenciado em diversos trabalhos existentes na literatura em que a EA crítica está presente, a importância e a necessidade de oferecimento de formação inicial e continuada aos professores. Acreditamos, portanto, ser essencial a formação crítica dos professores e a construção de um projeto educacional que abranja todos os pressupostos considerados essenciais para a formação do aluno, fornecendo-lhe as condições necessárias para que enfrente e supere a alienação política, ideológica e, consequentemente, os conflitos sociais, ou seja, que subsidiem o professor e o estudante para que – individual e coletivamente - estejam preparados para enfrentar a desigualdade social e a lógica que considera o ser humano e a natureza como mercadorias passíveis de serem exploradas. Ainda assim, consideramos que a EA pautada em pressupostos político-pedagógicos críticos como campo de estudo e atuação e a sociedade estão em constantes conflitos e transformações e se relacionam dialeticamente. Defendemos que os agentes envolvidos na educação escolar pública – especialmente os professores e educadores ambientais – assumam um posicionamento político que sustente suas ações no processo educativo da escola pública, inclusive no 14 processo educativo ambiental o que, consequentemente, afirma a necessidade de recusa das ações propostas pelas instituições externas ao contexto público educacional, tais como as do Programa “Agronegócio na escola”. Referências ABAG. Associação Brasileira do Agronegócio. Disponível em:<www.abagarp.org,br>. Acesso: 4 fev. 2014. BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF, 1997. 126p. BRÜGGER, P. Educação ou adestramento ambiental? 3ª ed. Florianópolis: Letras Contemporâneas, Chapecó: Argos, 2005. GUIMARÃES, M. Educação ambiental crítica. In: LAYRARGUES, P.P. (Org). Identidades da educação ambiental brasileira. 1ª.ed. Brasília: Ministério do Meio Ambiente, 2004, p. 25-34. 156p. LAMOSA, R. O programa Agronegócio na Escola: um estudo de caso sobre a educação ambiental empresarial nas escolas públicas brasileiras. Em: VII Encontro de Pesquisa em Educação Ambiental, EPEA, 2013, Rio Claro – SP. Anais... 2013. Disponível em: <http://www.epea.tmp.br/epea2013_anais/pdfs/plenary/0073-1.pdf.>. Acesso: 19 fev. 2014. __________. Estado, Classe social e Educação no Brasil: uma análise crítica da hegemonia da Associação Brasileira do Agronegócio. 436f. 2014. Tese (Doutorado em Educação). Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. LAMOSA, R.; LOUREIRO, C. F. B. O programa agronegócio na escola: um estudo de caso sobre a entrada do empresariado na escola pública. 36ª Reunião Nacional da ANPEd, Goiânia-GO. Anais... 2013. Disponível em: < http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt22_trabalhos_pdfs/gt22_336 8_texto.pdf>. Acesso: 18 out. 2014. LAMOSA, R.; LOUREIRO, C. F. B. Agronegócio e educação ambiental: uma análise crítica. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.22, n. 83, p. 533-554, abr./jun. 2014. LAYRARGUES, P. P.; LIMA, G. F. C. Mapeando as macro-tendências políticopedagógicas da educação ambiental contemporânea no Brasil Em: VI Encontro “Pesquisa em Educação Ambiental”, Ribeirão Preto, 2011, Anais..., 2011. CD-ROM. LEFF, E. Epistemologia ambiental. São Paulo: Cortez, 2008. LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. São Paulo: Cortez, 2012. NEVES, L. M. W. RIBEIRO, M. L. S. A nova pedagogia da hegemonia no Brasil. Perspectiva, Florianópolis, v. 29, n. 1, 229-242, jan./jun, 2011. SAVIANI, D. Escola e democracia. 34 ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2012. SOUZA, D. C. A Educação Ambiental Crítica e sua construção na escola pública: compreendendo contradições pelos caminhos da formação de professores. Tese (Doutorado em Educação para a Ciência) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências, Bauru, 2014. TOZONI-REIS, M. F. C. Educação ambiental na escola básica: reflexões sobre a prática dos professores. Revista Contemporânea de Educação, vol. 7, n. 14, p. 276-288, agosto/dezembro de 2012. 15
Download