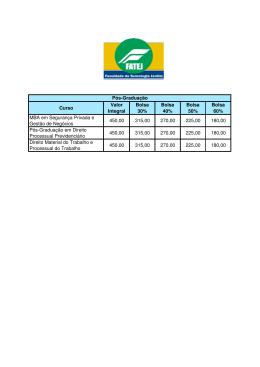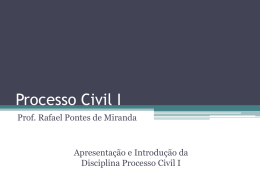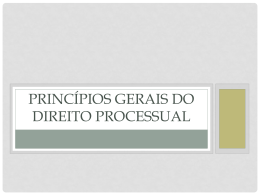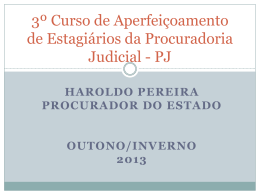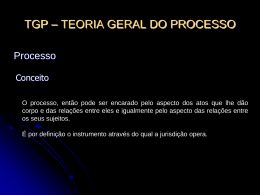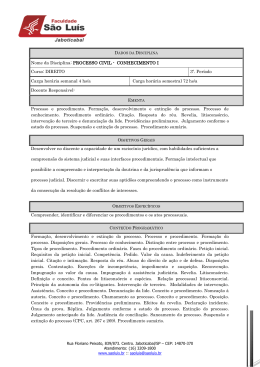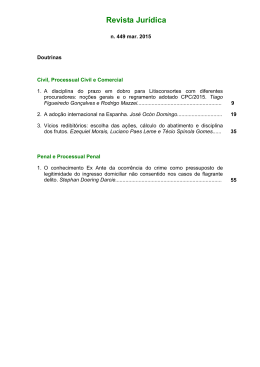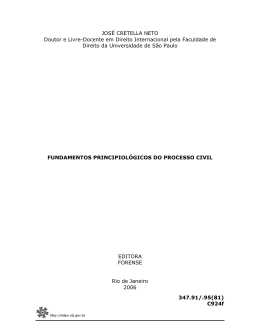JOSÉ LUIZ RAGAZZI A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS LIDES INDIVIDUAIS DE CONSUMO DOUTORADO EM DIREITO PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO 2005 JOSÉ LUIZ RAGAZZI A INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS LIDES INDIVIDUAIS DE CONSUMO Tese apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como exigência parcial para obtenção do título de Doutor em Direito, área de concentração Direito Processual Civil sob a orientação da Professora Doutora Patrícia Miranda Pizzol. PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA SÃO PAULO 2005 BANCA EXAMINADORA __________________________ " Nota:_________________________ __________________________ " Nota:_________________________ __________________________ " Nota:_________________________ __________________________ " Nota:_________________________ __________________________ " Nota:_________________________ São Paulo, ___ de ________ de 2005. DEDICATÓRIA À Ivana e aos nossos filhos Guilherme e Rafaela. AGRADECIMENTOS À Professora Doutora Patrícia Miranda Pizzol, pelos ensinamentos e firmeza no conduzir a realização do presente trabalho. À Instituição Toledo de Ensino que me possibilitou os recursos financeiros necessários para que eu concluísse o doutorado. À Doutora Joselaine C. Bueno pelo indispensável auxílio nas pesquisas realizadas. RESUMO O objetivo do presente trabalho é efetuar um estudo comparativo entre as modalidades de intervenção de terceiros no Código de Processo Civil, ou seja, a assistência; o chamamento ao processo, a denunciação da lide, a oposição e a nomeação à autoria. No Código de Defesa do Consumidor, a única forma de intervenção admitida é o chamamento ao processo nos casos de seguro de responsabilidade civil, sendo que a finalidade do presente trabalho é aferirmos se o Código de Defesa do Consumidor proíbe toda e qualquer modalidade interventiva e se estas realmente vêm em seu prejuízo. O método para elaboração do trabalho foi o de pesquisa na legislação processual e consumerista em vários países do mundo. Após minuncioso exame das modalidades interventivas, chegamos a conclusão de que, em algumas hipóteses a adoção das modalidades intervencionistas não prejudicam o consumidor no seu amplo acesso à justiça, mas sim beneficiá-lo e propicia sua efetiva tutela jurisdicional nos moldes do que preconiza o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. ABSTRACT We aim with this work to accomplish a comparative study among the third party intervention modalities in the Civil Process Code, or, the assistence; the calling to process, the toil denounciation, the opposition and the nomination to the authorship. In the Consumer Defense Code, the only way of admiting intervention is the calling to process in the cases of civil responsibility security, since the aim of this work is to check if the Consumer Defense Code forbids all and any interventive modality and if they really come to its damage. The method we used to prepare this work, was the research on the consuming processual legislation of several countries in the world. After a detailed survey of the interventive modalities, we got to the final conclusion that in some hypothesis the adoption of the interventionist modalities doesn’t damage the consumer as to his wide access to justice, but it only benefits and brings up to him its effective jurisdictional tutelage just like what is said in the Brazilian Consumer Defense Code. LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS a.C. ADCT ampl. art. arts. atual. Câm. CDC CF CF/88 coord. CPC Des. DJ DOU Dr. Dra. ed. inc. j. LACP Min. nº ONU p. Profº. Profª. Rel. rev. SP ss. STF STJ T. TACivSP tirag. TJRJ TJSP vol. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – antes de Cristo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ampliada artigo artigos atualizada Câmara Código de Defesa do Consumidor Constituição Federal Constituição Federal de 1988 coordenação Código de Processo Civil Desembargador Diário de Justiça Diário Oficial da União Doutor Doutora edição inciso julgado Lei sobre a Ação Civil Pública Ministro número Organização das Nações Unidas página Professor Professora Relator revisada São Paulo seguintes Supremo Tribunal Federal Superior Tribunal de Justiça Turma Tribunal de Alçada Civil de São Paulo tiragem Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Tribunal de Justiça de São Paulo volume SUMÁRIO INTRODUÇÃO ......................................................................................... 01 1 DAS RELAÇÕES DE CONSUMO ..................................................... 04 1.1 Noções Gerais ...................................................................................... 1.2 Gênese das Relações de Consumo ....................................................... 04 15 1.2.1 Evolução da Proteção ao Consumidor no Direito Comparado......... 20 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4 1.2.1.5 1.2.1.6 1.2.1.7 1.2.1.8 Na Itália.......................................................................................... Na França ....................................................................................... Nos Estados Unidos da América ................................................... Na Organização das Nações Unidas .............................................. Na Comunidade Econômica Européia........................................... No Mercado Comum do Cone Sul ................................................ Outros Países.................................................................................. No Brasil ........................................................................................ 20 24 26 28 29 31 34 42 2 DOS PRINCÍPIOS ................................................................................ 50 2.1 Princípios Fundamentais da Legislação Processual Civil.................... 68 2.1.1 Princípio do Devido Processo Legal................................................. 69 2.1.2 Princípio do Juiz Natural .................................................................. 71 2.1.3 Princípio do Acesso à Justiça............................................................ 79 2.1.4 Princípio do Contraditório ................................................................ 84 2.1.5 Princípio da Recorribilidade e do Duplo Grau de Jurisdição ........... 88 2.1.6 Princípio da Boa-Fé e Lealdade Processual...................................... 91 2.1.7 Princípio da Verdade Real ................................................................ 95 2.1.8 Princípio da Oralidade ...................................................................... 97 2.1.9 Princípio da Publicidade ................................................................... 99 2.1.10 Princípio da Economia Processual.................................................. 101 2.1.11 Princípio da Eventualidade ou da Preclusão................................... 101 2.1.12 Princípio Inquisitivo e Princípio Dispositivo ................................. 103 3 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR..................................................................................... 108 3.1 Princípios Constitucionais Gerais da Ordem Econômica: Defesa do Consumidor e Livre Iniciativa ............................................................. 109 3.2 Princípio Protecionsita ou da Vulnerabilidade..................................... 110 3.3 Princípio da Presença do Estado nas Relações de Consumo ou Princípio do Dever Governamental ..................................................................... 3.4 Princípio da Harmonização dos Interesses e Princípio da Garantia da Adequação ............................................................................................ 3.5 Princípio da Coibição e Repressão de Abusos Praticados no Mercado .. 3.6 Princípio do Incentivo ao Autocontrole ............................................... 3.7 Princípio da Conscientização do Consumidor e Fornecedor e Princípio Informativo........................................................................................... 3.8 Princípio da Racionalização e Melhoria dos Serviços Públicos .......... 3.9 Princípio das Modificações do Mercado.............................................. 3.10 Princípio da Boa-Fé............................................................................ 3.11 Princípio do Acesso à Justiça no Código de Defesa do Consumidor.. 120 122 124 126 126 127 129 129 133 4 DAS PARTES E TERCEIROS............................................................ 135 4.1 4.2 4.3 4.4 Partes no Código Processual Civil ....................................................... Conceito de Terceiro no Código de Processo Civil ............................. Partes no Código de Defesa do Consumidor ....................................... Terceiros no Código de Defesa do Consumidor .................................. 137 144 147 148 5 DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR............. 150 5.1 Das Espécies de Intervenção de Terceiros ........................................... 160 5.1.1 Da Assistência no Código de Processo Civil.................................... 160 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 Da Assistência Adesiva Simples ................................................... Da Assistência Litisconsorcial....................................................... Legitimidade da Assistência Litisconsorcial ................................. Posição do Interveniente................................................................ 164 169 172 173 5.1.2 Da Assistência no Código de Defesa do Consumidor ...................... 175 5.1.3 Da Oposição no Código de Processo Civil....................................... 181 5.1.3.1 Do Procedimento da Oposição ...................................................... 189 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 Da Oposição no Código de Defesa do Consumidor ......................... Da Nomeação à Autoria no Código de Processo Civil..................... Da Nomeação à Autoria no Código de Defesa do Consumidor ....... Da Denunciação da Lide no Código de Processo Civil.................... 193 195 201 204 5.1.7.1 Escorço Histórico........................................................................... 204 5.1.7.2 Conceitos da Denunciação da Lide no Direito Pátrio e no Direito Comparado..................................................................................... 206 5.1.7.3 Hipóteses de Admissibilidade e Descabimento na Denunciação da Lide ........................................................................................... 211 5.1.7.4 5.1.7.5 5.1.7.6 5.1.7.7 Obrigatoriedade e Extensão: Evicção............................................ Legitimidade para Denunciar e ser Denunciado............................ Denunciação Sucessiva.................................................................. Da Sentença na Denunciação da Lide ........................................... 220 224 226 227 5.1.8 Da Denunciação da Lide no Código de Defesa do Consumidor ...... 229 5.1.9 Do Chamamento ao Processo no Código de Processo Civil ............ 234 5.1.9.1 5.1.9.2 5.1.9.3 5.1.9.4 5.1.9.5 Considerações Introdutórias .......................................................... Finalidade....................................................................................... Hipóteses de Cabimento ................................................................ Procedimento ................................................................................. Efeitos da Sentença e da Coisa Julgada......................................... 234 242 244 246 248 5.1.10 Do Chamamento ao Processo no Código de Defesa do Consumidor.. 252 CONCLUSÕES ......................................................................................... 258 BIBLIOGRAFIA....................................................................................... 263 INTRODUÇÃO A escolha do presente tema ocorreu durante as aulas ministradas na PUC-SP pela Profª. Dra. Patricia Miranda Pizzol, na matéria Direito do Consumidor. É notória entre os processualistas a evolução do Direito Processual Civil, no sentido de adequá-lo à busca de efetividade, ou seja, torná-lo um instrumento apto a conferir aos jurisdicionados, efetivamente, o que lhes compete, fazendo com que as decisões judiciais realmente transformem a realidade de quem busca a tutela jurisdicional. Com o surgimento das relações de massa, nas quais o consumidor quer consumir já e o fornecedor quer vender agora, surgiram os chamados contratos de adesão, nas quais se elimina a fase preliminar de negociação dos contratos, ensejando que o fornecedor de serviços e produtos elabore previamente as cláusulas contratuais, impondo-as ao consumidor. A Constituição Federal de 1988 inseriu entre os direitos fundamentais a defesa do consumidor, determinando que o legislador outorgasse ao país um Código de Defesa do Consumidor (art. 48 ADCT). Com o surgimento da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), o Brasil sai na dianteira mundial, sendo o primeiro país do mundo a outorgar aos seus cidadãos um Código de Defesa do Consumidor, com regras claras, levando em conta, principalmente, sua vulnerabilidade, procurando então harmonizar as relações de consumo, tanto na esfera material quanto processual, como convém ao mundo moderno. 2 O CDC tráz novidades na esfera processual, buscando a rápida indenização dos consumidores, o que se infere da adoção da responsabilidade objetiva, excluindo-a apenas nas relações que envolvam profissionais liberais, e, portanto, somente admitindo a intervenção de terceiro (chamamento ao processo) nas lides de consumo na hipótese de que o réu (fornecedor) possua seguro de responsabilidade civil, excluindo as demais modalidades de intervenção. Objetivamos com o presente estudo demonstrar inicialmente uma gênese das relações de consumo, a evolução da regulamentação no direito comparado e no Brasil, o advento da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). Já no segundo capítulo do trabalho, fizemos um estudo sobre os princípios processuais no Direito Processual Civil Brasileiro, bem como dos princípios que informam o microssistema consumerista, destacando o da vulnerabilidade do consumidor. No capítulo terceiro apresentamos e analisamos os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, dando ênfase ao princípio da vulnerabilidade dos consumidores em geral. Fizemos no capítulo seguinte um estudo doutrinário para definir Partes e Terceiros no Sistema Processual Brasileiro e também no Código de Defesa do Consumidor, apontando as diferenças entre as relações jurídicas comuns e as consumeristas. Diante dessa proposta, no capítulo quinto examinamos as espécies de intervenção de terceiros previstas, no Código de Processo Civil brasileiro, 3 destacando desde já que a doutrina brasileira repele qualquer tipo de intervenção nos processos que envolvam relações de consumo, a não ser o chamamento ao processo previsto no art. 101 da Lei nº 8.078/90. Em seguida, procuramos demonstrar que é aceitável que se adote a possibilidade de utilização dos institutos de intervenção de terceiros nos processos que envolvam fornecedores e consumidores, sem que afrontemos os princípios norteadores da Lei nº 8.078/90, permitindo, portanto, um contraditório amplo. Cabe ressaltar que o que se propõe, no presente estudo, é apresentar à comunidade jurídica brasileira, um ponto de partida para o estudo de questões tão complexas, com a certeza de que os Doutos melhor desenvolverão as controvérsias aqui apresentadas. 1 DAS RELAÇÕES DE CONSUMO 1.1 Noções Gerais Antes de adentrarmos no cerne do presente estudo, algumas considerações deverão ser levantadas para melhor compreensão e elucidação dos tópicos a serem abordados em toda a extensão desta obra. Contudo, observe-se que serão considerações meramente elucidativas, pois não é pretensão, aqui, esgotar os temas preliminarmente expostos, e sim de forma genérica abordar as relações de consumo, sua origem e os fatores que ao longo dos anos conduziram para a codificação deste novo ramo do direito pátrio. Passemos, então, ao estudo desse tópico. Marcelo Gomes Sodré ensina que: “As fases da história nunca se apresentam como compartimentos estanques; elas se interpenetram, se sobrepõem. Tudo depende do olhar disponível. Na verdade, a história não tem fases. Ela é um todo contínuo. Se o desenrolar dos fatos históricos é resultado da contínua ação humana, a teorização histórica é criação da razão humana, ou de algo que tenta ser racional. Dentre as várias opções, escolhe-se uma. Busca-se o critério e seu fundamento. Quando se trata de optar, os erros são a tônica. O acerto é apenas uma das escolhas erradas pelo ângulo do critério distinto. E é tão violento como o próprio erro, pois mobiliza o desenrolar dos acontecimentos. Mas é assim que o conhecimento se faz e é o que torna possível o diálogo científico. Se o conhecer limita, o refletir pode transbordar; melhor dizendo, o refletir é transbordar. Criar fases da história é bordar a moldura pela flexão racional”.1 O desenvolvimento econômico, em seu alto grau de industrialização e sofisticação tecnológica, aliado à grande concentração da 1 Marcelo Gomes Sodré, A formação do sistema nacional de defesa do consumidor: avanços e retrocessos legislativos, p. 19-20. 5 atividade empresarial e de capitais, constitui fator decisivo na formação da sociedade de consumo de massa. Nessa sociedade de produção em larga escala, a abundância de produtos e serviços precisa ser absorvida pelo mercado como condição para sua própria realimentação. Todavia, a lógica de funcionamento dessa sociedade produz reflexos e disfunções no mercado, além de lesões em alta escala aos consumidores, desafiando a necessidade imediata de sua defesa.2 Para que possam compreender as causas que deram origem à tutela do consumidor, bem como à busca de um meio verdadeiramente eficaz que amparasse as relações de consumo, necessário será compreender em que consistem essas relações e qual a definição adotada pela doutrina ao estudar esse fenômeno social. Conforme assinala Marcelo Kokke Gomes: “A relação de consumo é aquela em que uma das partes adquire produtos ou serviços tendo em vista sua utilização final enquanto a outra parte fornece tais bens em caráter de habitualidade e profissionalismo”.3 O objetivo dessa relação, conforme salienta José Geraldo Brito Filomeno,4 será a satisfação das necessidades privadas dos consumidores, quais sejam, os bens de consumo. Assim, nítida e clara é a definição de relações de consumo adotada por João Batista de Almeida, em sua obra A proteção jurídica do consumidor, quando menciona serem as mesmas bilaterais, existindo num dos 2 3 4 Josué Rios, A defesa do consumidor e o direito como instrumento de mobilização social, p. 07. Marcelo Kokke Gomes, Responsabilidade civil: dano e defesa do consumidor, p. 87. José Geraldo Brito Filomeno, Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 26. 6 pólos um fornecedor, disposto a fornecer seus bens e serviços a terceiros e, no outro pólo, o consumidor, envolto num estado de subordinação às condições e aos interesses impostos pelo titular daqueles bens e serviços, que atendam às suas necessidades, habituais ou não, de consumo. Pondera ele ainda, que essas relações de consumo são dinâmicas, uma vez que sucedidas pela existência natural do ser humano, crescendo, evoluindo e tomando corpo, de modo a evidenciar precisamente o momento histórico em que se situam.5 Sob o prisma de Washington Peluso Albino de Souza, tem-se que “(...) as relações de consumo assumem características de direito Econômico quando tomadas pelo prisma de uma política voltada para objetivos definidos ideologicamente”.6 Em outra esteira, se extrai dos ensinamentos de Manoel Lauro Volkmer de Castilho uma definição bastante plausível do que sejam as relações de consumo, em órbitas atuais: “A relação de consumo pode, pois, ser compreendida como o processo ou o resultado da aquisição de bens e serviços pelo consumidor final, de modo a garantirem-se as condições (mínimas) de subsistência e manutenção para uma vida, naquelas condições mencionadas, mas não se trata de uma mera compra e venda isolada para aquisição de patrimônio, ou riqueza, ou obrigação individual, posto que o comportamento protegido e o ordinário, o reiterado, necessário e comum a grande quantidade de pessoas. Tutelam-se, portanto, interesses de massa”.7 Sobretudo, importa saber que o Código de Defesa do Consumidor não definiu as chamadas relações de consumo, porém, limitou-se a fornecer indícios do que seriam os seus elementos, quais sejam: 5 6 7 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 01. Washington Peluso Albino de Souza, Primeiras linhas de direito econômico, p. 594. Revista Ajuris, Em face das inovações do código de proteção e defesa do consumidor, CDROM. 7 consumidor, fornecedor, produtos e serviços, que serão aqui analisados. Ao utilizar essas expressões, o Código o faz destacando-as como objeto jurídico de sua tutela, e dessa forma, faz com que careçam de definição precisa. Assim, em conformidade com o que prescreve o mencionado Código no artigo 2° e parágrafo único, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final”, indo mais além, estendendo o conceito de consumidor à “(...) coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”. Questão tormentosa para a doutrina é definir quando uma pessoa física ou jurídica pode ser considerada destinatária final de produtos ou serviços. No Brasil convivem duas teorias, a maximalista e a finalista. Esta somente considera como consumidor e, portanto, destinatário final de produtos ou serviços, aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço para uso próprio ou de sua família, pois a finalidade do Código é a proteção do vulnerável, o que não se aplicaria aos profissionais. Porém, em casos excepcionais, a mesma doutrina reconhecendo a vulnerabilidade de profissionais que adquirem produtos ou serviços fora de sua especialidade, entende possível a aplicação das normas do CDC.8 Já a teoria maximalista entende que o CDC é um código geral sobre o consumo, ou seja, institui normas para todos os agentes do mercado e, portanto, o § 2º do CDC deve ser interpretado da forma mais extensiva 8 Cláudia Lima Marques, Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º ao 74: aspectos materiais, p. 68. 8 possível, não importando se a pessoa física ou jurídica tem a finalidade de obter lucro com o produto ou serviço.9 No Brasil nossos tribunais têm adotado a teoria finalista: “AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – APLICABILIDADE DO CDC – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INACUMULABILIDADE COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – SÚMULA Nº 83 DESTA CORTE. I – Pela interpretação do art. 3º, § 2º, do CDC, é de se deduzir que as instituições bancárias estão elencadas no rol das pessoas de direito consideradas como fornecedoras, para fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações entre essas e os consumidores, no caso, correntistas. II – Tratando-se de contrato firmado entre a instituição financeira e pessoa física, é de se concluir que o agravado agiu com vistas ao atendimento de uma necessidade própria, isto é, atuou como destinatário final. Aplicável, pois, o CDC. III – O entendimento adotado pelo aresto recorrido encontra-se em consonância com o desta Corte, segundo o qual é inviável a incidência de comissão de permanência concomitantemente” (STJ – 3ª T. – AgAgIn. nº 296.516/SP – Rel. Min. Nancy Andrighi – j. 07.12.2000). “Tratando-se de contrato firmado entre a instituição financeira e pessoa física, é de se concluir que o agravado agiu com vistas ao atendimento de uma necessidade própria , isto é, atuou como destinatário final. Aplicável, pois, o CDC” (STJ – Resp. nº 296.516 – Rel. Min. Fátima Nancy Andrighi – j. 07.12.2000). “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE SE CONFIGURADA A RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. Ementa da redação: Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos contrato que envolvam crédito como os de mútuo, de abertura de crédito rotativo, de cartão de crédito, de aquisição de produto durável por alienação fiduciária, além de outros, desde que configurem relação jurídica de consumo” (1º TACivSP – 7ª Câm. de férias de julho/97 – Ap. nº 732.366-4 – Rel. Juiz Barreto de Moura – j. 12.08.1997 – RT nº 750/292). 9 Ibidem, p. 72. 9 O artigo 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas do evento, no caso de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, portanto, basta ser vitima decorrente de produto ou serviço para ser equiparado a consumidor: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTAMINAÇÃO DE MORADORES DE BAIRRO PRÓXIMO À REFINARIA, PELA EMANAÇÃO DE PRODUTOS TÓXICOS – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara ao consumidor qualquer pessoa, natural ou jurídica, que venha a sofrer um dano, em decorrência do fato do serviço. Assim sendo, e em princípio, cabe à espécie a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, e, entre elas, a da inversão do ônus da prova, cujos pressupostos se acham presentes, já que verossímil a versão do autor, confirmada pelas notícias jornalísticas, sendo ele hipossuficiente. Correta, assim, a decisão recorrida, que objetiva proteger a vítima do fato do serviço, equiparada a consumidor. Desprovimento do recurso” (TJRJ – 10ª Câm. Civ. – AgIn. nº 5.587/02 – Rel. Des. Sylvio Capanema de Souza – j. 25.06.2002). “DIREITO CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – FURTO EM ESTACIONAMENTO – SHOPPING CENTER – VEÍCULO PERTENCENTE A POSSÍVEL LOCADOR DE UNIDADE COMERCIAL – EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA NO LOCAL – OBRIGAÇÃO DE GUARDA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. I – Nos termos do Enunciado 130/STJ, ‘a empresa responde, perante ao cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento’. II – A jurisprudência deste Tribunal não faz distinção entre o consumidor que efetua a compra e aquele que vai ao local sem nada a despender. Em ambos os casos, entende-se pelo cabimento da indenização não decorre ao contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro” (STJ – Resp. nº 437649/SP – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 06.02.2003). No que se refere às práticas comerciais, o artigo 29 do CDC equipara a consumidores todas as pessoas, determináveis ou não, expostas as práticas nele previstas, assim, todas as pessoas físicas ou jurídicas expostas a práticas abusivas são equiparadas a consumidores. 10 A expressão fornecedor está inserida no caput do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Artigo 3º: Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”. No mesmo artigo encontram-se ainda as definições acerca dos produtos e serviços, inseridos respectivamente nos §§ 1º e 2º, in verbis: “Artigo 3º: (...). § 1º – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2º – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Ao dispor sobre a Política Nacional de Relações de Consumo, a lei faz indicações de que as necessidades dos consumidores, tais como a dignidade, a saúde, a segurança, a proteção de seus interesses e a melhoria da qualidade de vida (art. 4º) servem de importantes vetores para a identificação do que deverá ser considerado quando da tipificação do que sejam as relações de consumo a serem protegidas. Sendo assim, o que se denomina de relações de consumo pode ser depreendido como o processo ou o resultado da aquisição de bens e serviços pelo consumidor final, de modo que possam ser garantidas as condições de subsistência e manutenção para uma vida, não podendo ser tratadas como mera compra e venda isolada para a aquisição de patrimônio, ou riqueza, ou mesmo obrigação individual, vez que o comportamento tutelado é o ordinário, reiterado, necessário e comum a grande quantidade de 11 pessoas. Amparam-se, assim, os interesses de massa, ao passo que a característica mais marcante e nítida do regime jurídico das relações de consumo pode ser considerada como o ser de massa, e desta forma, transmudar-se na perspectiva que quis a Constituição Federal de 1988, ou seja, incluindo a defesa do consumidor entre os direitos fundamentais e na proteção da ordem econômica. (art. 5º, XXXII e art. 170, V). Primeiramente, necessário será entender o fenômeno do surgimento do direito do consumidor. Etimologicamente, a palavra consumir, do latim consommare, significa acabar, gastar, despender, absorver, corroer. Na linguagem dos economistas, consumo se resume num ato pelo qual se completa a última etapa de um processo que eles denominam de econômico.10 Tais relações de consumo há muito vinham sendo estudadas apenas no âmbito da ciência econômica; hodiernamente, porém, fazem parte também de uma linguagem jurídica.11 Na realidade, até há pouco tempo, o direito preocupava-se tão somente com as relações singularmente consideradas, surgindo apenas recentemente a preocupação com as relações de massa, exorbitantemente multiplicadas entre consumidores e fornecedores, ao lado do aparecimento dessa tão conhecida sociedade de massa.12 10 11 12 Newton de Lucca, Direito do consumidor: aspectos práticos, p. 20. Calais-Auloy, Droit de la consommation, p. 06. Ao lado da expressão sociedade de massa, já corriqueira desde algumas décadas, fala-se hoje, igualmente, numa cultura de massa, fenômeno naturalmente decorrente da simples existência da primeira. Este último termo, de feições contraditórias e utilizadas em caráter nitidamente pejorativo, elevou um autor, Harould Rosenberg, a observar que se tratava de “dar ao Kitch uma dimensão intelectual” circunstância que não exclui – antes parece confirmar – o fato de que a sociedade de massa, quer a apreciemos ou não, dá fortes indícios de sua permanência no futuro previsível, conforme oportunamente observado por Hannah Arendt, La crise de la culture, p. 253. 12 Em linhas opostas, a falsa idéia de que um consumidor é favorecido pela livre concorrência dos mercados, pelas empresas, pelos serviços postos à sua disposição podendo-se tornar um monarca do mercado, sempre contribuiu para a fragilidade absoluta que o circunda. Entretanto, alguns já previam a falha nesse contexto, conforme se observa em Zola e Charles Gide.13 Contudo, a partir das décadas de 50 e 60, com o surgimento e crescimento de macroempresas, com os produtos e métodos de produção cada dia mais sofisticados, a grotesca figura do consumidor ditador foi sendo desmistificada, observando-se de forma nítida e clara que o consumidor estava revestido mais da figura da escravatura, do que da de suserano. Reconheceu-se, enfim, a vulnerabilidade dos consumidores, atribuindo-lhes direitos específicos e fazendo nascer a sua proteção. Essa proteção não demonstrava uma autonomia disciplinar, com especificidade própria, mas sim, uma interdisciplinaridade dentro desse assunto, ao qual se atribuíram regras e princípios de direito comercial, civil, penal, administrativo, econômico e processual que passaram a conviver harmonicamente com a proteção e defesa do consumidor, tão almejada. Saliente-se, contudo, que o reconhecimento e análise destes direitos estabelecidos favoravelmente aos consumidores, não levaram à aceitação da existência desse direito do consumidor, ou de um direito do consumo, como ramo autônomo do direito.14 13 14 Calais-Auloy, Droit de la consommation, p. 06. “Um direito de consumo, como ramo autônomo do direito, à semelhança do direito civil, do direito comercial ou do direito do trabalho, não existe em nosso sistema jurídico”. H. R. Sangenstedt, Meire recht als verbraucher, p. 19. 13 Newton de Lucca, por exemplo, entende cabível o agrupamento de normas específicas à proteção dos consumidores, adotando inclusive institutos jurídicos próprios, levando-se em consideração a natureza daquelas normas protetoras que se limitam a um conjunto de restrições e imposições com relação à atividade produtiva e não ao interesse específico dos consumidores.15 Encerrando esse ciclo de opiniões, que divergem e se completam acerca das relações e tutelas consumeristas, surgem autores que, com ou sem maiores questionamentos prévios, admitem a existência de um verdadeiro direito do consumidor, concebido como um conjunto de normas com o intuito de proteger os consumidores.16 Assim, esse ramo do direito, tem-se delimitado pela órbita do direito comercial, com o qual se relaciona necessariamente, tendo em vista que tanto empresário quanto empresa, formam o cerne do direito comercial moderno, sendo um dos principais tipos de fornecedores do direito do consumidor (obviamente, não o único e exclusivo). Avançando nessa linha de raciocínio, o correto seria demarcar o direito do consumidor por meio do direito econômico, no qual de certo 15 16 Newton de Lucca, Direito do consumidor: aspectos práticos, p. 33 e ss. Calais-Auloy, Droit de la consommation, p. 19-20. Mostra o ilustre professor que existiram, de rigor, duas concepções básicas : uma primeira, para a qual, o direito do consumo é o conjunto de regras aplicáveis aos atos de consumo; e, uma segunda , para a qual o direito do consumo é o conjunto de regras que tem por finalidade a proteção do direito dos consumidores. Na verdade, conforme esclarece esse autor, essas concepções são muito vizinhas uma da outra sem que coincidam inteiramente, parecendo-lhe por isso, o que mais acertado seria a junção de ambas (p. 19): “Il convient donc dúnir lês deux ensembles. Lê droit de la consommation, mais encore celles qui tendent à proteger les consommateurs, même si elles ne sáppliquent pas directement à eux”. Neste sentido: Rodolfo de Camargo Mancuso, Manual do consumidor em juízo, p. 01-02; João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 43-44; Adolfo Mamoru Nishiyama, A proteção constitucional do consumidor, p. 03-04; Renato Afonso Gonçalves, Banco de dados nas relações de consumo: a manipulação de dados pessoais, os serviços de restrição ao crédito e o habeas data, p. 64. 14 modo ele se engloba, interpretando-o como um direito a relações econômicas.17 A tarefa de constituição do direito do consumidor pode ser considerada como algo bastante complexo, se este for encarado como ramo autônomo do direito, como na verdade o é, ou seja, microssistema jurídico e independente. Como é notório, em mais de um dispositivo, tais como o art. 90 que estabelece a aplicação das normas do CPC e da Lei de Ação Civil Pública nas relações de consumo no que não contrariar suas disposições, além dos arts. 110 e 117, nos quais o Código de Defesa do Consumidor cuidou de indicar, “por vezes didática, como se dá ‘interação’ entre ações coletivas e individuais, a par de esclarecer que o CPC e a lei de ação civil pública (nº 7.347/85) são de aplicação subsidiária nos casos em que for omisso o CDC (art. 90)”.18 Todavia, torna-se animadora a determinação, em cada uma das disciplinas integrantes da ciência jurídica deste microssomo de interesses dos consumidores, que devem ser compartimentados e constituídos objeto de princípios específicos, corroborando, assim, com nosso entendimento de que é o direito consumerista autônomo em toda sua essência jurídica. Nessa lógica pode-se adotar o posicionamento de Eduardo Pólo, em sua obra La protección del consumidor em el derecho privado, onde se lê: “Porém não é fácil – nem talvez útil ou desejável metodologicamente falando – proceder a criação de um setor específico do ordenamento jurídico que agrupe e ordene a proteção e defesa do consumidor, não menos difícil se apresenta a tarefa inversa de compartimentar este amplo leque de interesses dignos de proteção em cada uma das disciplinas jurídicas que o contemplam e o fazem objeto de suas normas. Em conseqüência, quando falamos da proteção do consumidor no Direito privado ou 17 18 Ibidem, p. 15. Rodolfo de Camargo Mancuso, Manual do consumidor em juízo, p. 02. 15 no direito público, tem que ser conscientes da inexatidão terminológica que se comete, uma vez o Direito privado e o Direito público se relacionam e influem reciprocamente neste tema a tal ponto que raro é a parte ou parcela da problemática jurídica do consumidor cujo tratamento exija normas de um ou outro caráter. Se trata, uma vez mais de uma manifestação de dois conhecidos fenômenos em cujo sugestivo exame resulta impossibilidade de impedir nesta ocasião: de um lado, a generalização do Direito mercantil como um Direito profissional que tende a desprofissionalizar-se aplicando-se a um círculo de pessoas cada vez maior, de outro, o direito privado à mercê de uma lenta introdução das idéias sociais e a progressiva intervenção do Estado no âmbito de atuação que tradicionalmente vinha reservado à autonomia privada”.19 1.2 Gênese das Relações de Consumo É fato notório que as relações de consumo tiveram uma evolução enorme nos últimos tempos. Das operações de trocas de mercadorias que existiam há muito, chegou-se, de modo progressivo, ao que atualmente se conhece como operações de compra e venda, aos tão conhecidos arrendamentos, ao leasing, às importações, dentre outras operações que renderiam linhas e mais linhas nas suas descrições, mas, que, da mesma forma, envolveriam grandes volumes de milhões de dólares. Foi-se o tempo em que as relações eram pessoais 19 Tradução livre de: “Pero si no es fácil – ni acaso útil o deseable metodológicamente hablando – proceder a la creación de un sector específico del ordenamiento jurídico que agrupe y ordene la protección y defensa del consumidor, no menos difícil se presenta la tarea inversa de compartimentar este amplio abanico de intereses dignos de protección en cada una de las disciplinas jurídicas que lo contemplan y lo hacen objeto de sus normas. En consecuencia, cuando hablamos de la protección del consumidor en el Derecho privado o en derecho público, hay que ser conscientes de la inexactitud terminológica que se comete, puesto que el Derecho privado y el Derecho público se relacionan e influyen recíprocamente en este tema hasta tal punto que raro es el sector o parcela de la problemática jurídica del consumidor cuyo tratamiento exija normas de uno u otro carácter. Se trata, una vez más, de una manifestación de dos conocidos fenómenos en cuyo sugestivo examen resulta imposible detenerse en esta ocasión: de un lado, la generalización del Derecho mercantil como un Derecho profesional que tiende a desprofesionalizarse aplicando-se a un círculo de personas cada vez mayor, de otra, la pulicización del derecho privado merced a una lenta penetración de las ideas sociales y a la progresiva intervención del Estado en el ámbito de actuación que tradicionalmente venía reservado a la autonomía privada”. Eduardo Polo, La protección del consumidor en el derecho privado, p. 65. 16 e diretas; em dias atuais, as operações transformaram-se em impessoais e indiretas, ainda mais se tomarmos por base os grandes centros urbanos. Hoje, não existe mais uma preocupação quanto a saber quem é o vendedor, o fornecedor ou o comprador. Existem imponentes estabelecimentos comerciais e industriais, hipermercados fabulosos, shoppings centers, que se resumem em conglomerados de lojas e oportunidades para a massificação dessas relações de consumo. Importa ressaltar que a mecanização nos centros rurais colaborou para o fenômeno do êxodo rural, fazendo com que as populações daquelas áreas migrassem para as cidades, para as periferias dos grandes centros urbanos, aumentando significativamente o número populacional, a conturbação e deterioração dos serviços públicos essenciais. Houve uma mudança nos setores industrializados, os bens de consumo passaram a ser produzidos em série, levando-se em consideração o número crescente de consumidores. Ocorreu um aumento na procura e aplicação de publicidade como meio de divulgação desses produtos, produziu assim uma produção em massa, para um consumo de massa, que gerou a tão conhecida sociedade de massa, atualmente muito sofisticada e complexa. Paulo Valério Dal Pai ensina que: “Ao final do século XVIII, iniciou-se uma profunda alteração no modelo de produção; a relação de trabalho, que até então tinha caráter meramente individual e personalizado, converteu-se em uma relação massificada e despersonalizada. A energia humana foi substituída pela mecânica, e o trabalhador passou a ser considerado um número, com funções restritas e invariáveis no labor. Como conseqüência disso, a produção aumentou imensamente e deu origem a um mercado de consumo seduzido pelas inovações das quais o consumidor sequer noção possui quanto à forma com que foram produzidas ou quanto aos eventuais problemas que podem acarretar”.20 20 Paulo Valério Dal Pai, Código do consumidor: o princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas demais práticas comerciais, p. 39. 17 Ressalva seja feita que existe por parte das pessoas uma forte confiança, uma entrega total, quando se fala em consumir. Observe-se que não existe um prequestionamento pelos indivíduos, quando vão comprar um pão para seu café da manhã, no sentido de saber se o padeiro lavou corretamente as mãos antes de fabricar aquele alimento, ou se o leite sofreu o adequado processo de pasteurização, ao contrário, o que existe é uma entrega completa por parte dos indivíduos em relação ao consumo. Temos ainda que a livre iniciativa privada cedeu espaço à grande concentração dos meios de produção, fazendo surgir os monopólios, oligopólios, responsáveis por toda uma alteração nas relações mercantis. 21 Toda essa mudança fez surgir o capitalismo em sua forma exacerbada, apoiado em um desenvolvimento produtivo, estabelecendo a sociedade de consumo como novo modelo social, ou, como preferem alguns autores, a mass consumtion society.22 É nesse momento que se desenvolve a produção em série supracitada, com uma redução de custo essencial, e uma busca incansável de um número cada vez maior de consumidores dispostos a adquirirem seus produtos, e as empresas visando exclusivamente ao lucro, tão almejado nas sociedades capitalistas. Tal demanda trouxe ao mercado consumerista a ampliação dos sistemas de marketing vastamente persuasivo, indutor e controlador das pessoas, capaz até mesmo de condicionar suas condutas consumistas. 21 22 Ibidem, mesma página. Maria Antonieta Zanardo Donato, Proteção ao consumidor, p. 17. 18 O que deveria vir em prol do consumidor, antes de beneficiá-lo, deixou-o numa situação de extrema fragilidade e vulnerabilidade em relação ao fornecedor, de modo que houve uma preemente necessidade de intervenção hierárquica para o fim de salvaguardar o equilíbrio social, buscando condições mínimas ou mesmo máximas para esse fim.23 Foi então que os Estados do mundo inteiro, com maior ou menor preocupação, passaram a intervir nas relações de consumo, buscando o fim único de regulá-las, igualando os participantes das mesmas, igualando suas forças na busca de uma harmonização para o funcionamento econômico, vez que somente assim se alcançaria equilíbrio e harmonia social.24 João Batista de Almeida considera natural que a evolução das relações de consumo viessem a refletir nas relações sociais, econômicas e jurídicas, admitindo inclusive que a proteção dos consumidores foi uma conseqüência direta das modificações ocorridas nestes últimos tempos nas relações de consumo.25 Em relação ao surgimento dessa tutela do consumidor, Camargo Ferraz, Milaré e Nelson Nery Júnior evidenciaram que: “O surgimento dos grandes conglomerados urbanos, das metrópoles, a explosão demográfica, a revolução industrial, o desmensurado desenvolvimento das relações econômicas, com a produção e consumo em massa, o nascimento dos cartéis, holding, multinacionais e das atividades monopolísticas, a hipertrofia da intervenção do Estado na esfera social e econômica, o aparecimento dos meios de comunicação de massa, e, com eles, o fenômeno da propaganda maciça, entre outras coisas, por terem 23 24 25 Ibidem, p. 18. James Marins, Responsabilidade da empresa pelo fato do produto, p. 29. João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 02. 19 escapado do controle do homem, muitas vezes voltaram-se contra ele próprio, repercutindo de forma negativa sobre a qualidade de vida e atingindo inevitavelmente os interesses difusos. Todos esses fenômenos, que se precipitaram num espaço de tempo relativamente pequeno, trouxeram a lume a própria realidade dos interesses coletivos, até então existentes de forma ‘latente’, despercebidos”.26 Othon Sidou, ressalta em sua obra Proteção ao consumidor que: “(...) o que deu dimensão enormíssima ao imperativo cogente de proteção ao consumidor, ao ponto de impor-se como tema de segurança do Estado no mundo moderno, em razão dos atritos sociais que o problema pode gerar e ao Estado incumbe delir, foi o extraordinário desenvolvimento do comércio e a conseqüente ampliação da publicidade, do que igualmente resultou, isto sim, o fenômeno conhecido dos economistas do passado – a sociedade do consumo, ou o desfrute pelo simples desfrute, a aplicação da riqueza por mera sugestão consciente ou inconsciente”.27 Por seu turno, Ricardo Hasson Sayeg faz compreender de forma nítida que, conforme o indivíduo se integra na sociedade, por meio de seu nascimento, são criadas e desenvolvidas necessidades que não são apenas aquelas que a maioria das pessoas entendem como básicas à sua sobrevivência, tais como as necessidades alimentares, de higiene, dentre outras. Ao contrário, quando um indivíduo se integra numa sociedade, ele tende a necessitar de tudo quanto a sociedade possa lhe oferecer, de acordo com a sua integração nessa mesma sociedade, exemplificando, podemos considerar as vestimentas compatíveis com os costumes e a situação social em que estes indivíduos se encontram.28 Por óbvio, tais necessidades vinculadas à integração social coagem o indivíduo a satisfazê-las, haja vista a realidade inevitável de ter que pagar, a duras penas, o preço do prestígio social. O constrangimento e a 26 27 28 Camargo Ferraz, A ação civil pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos, p. 54-55. Othon Sidou, Proteção ao consumidor, p. 05. Ricardo Hasson Sayeg, Práticas comerciais abusivas, p. 19. 20 infelicidade são conseqüência que muitas vezes, certos comportamentos trazem ao indivíduo, na ânsia do consumo, por vezes intenso e cruel, não alcançado. Nesse passo ainda, muitas vezes o indivíduo é levado a práticas delituosas para obtenção de tais requisitos sociais. A satisfação que se traz a lume não fica restrita aos bens e usos reservados à necessidade de sobrevivência de cada um, mas também se relaciona com a satisfação de adquirir bens econômicos ou serviços que forçam os portadores de tais necessidades a contratarem o que corresponde ao móvel de todo o mercado de consumo. Todavia, como bem acrescenta Ricardo Hansson Sayeg, se ocorrer uma situação monopolística, como por exemplo uma concorrência imperfeita, o sujeito de tal necessidade estará sendo forçado a contratar com o titular da respectiva posição dominante de mercado, o qual, por essa razão, coloca-se em um status de superioridade em relação a seu consumidor que, por sua inferioridade, vê prejudicada sua autonomia de vontade, submetendose às leis unilateralmente impostas pelo fornecedor, via de conseqüência, tornando-se vulnerável aos abusos.29 1.2.1 Evolução da Proteção ao Consumidor no Direito Comparado 1.2.1.1 Na Itália A regulamentação das relações de consumo na Itália, conforme assinala José Geraldo Brito Filomeno, ocorre da seguinte forma: 29 Ibidem, p. 20. 21 nas causas romanas, defendidas por Cícero, o adquirente de bens de consumo duráveis recebia sempre a garantia de que seriam sanadas quaisquer deficiências ocultas nas operações de venda e compra.30 Mesmo os romanos, apesar do prestígio de que dispunham em sua ordem jurídica da autonomia da vontade nas negociações e do respeito à propriedade privada, a exemplo da Lei das Doze Tábuas, tiveram sua história marcada pelo intervencionismo de Roma sobre a atividade econômica em seu território e nos territórios conquistados.31 No período do império de Deocleciano (284 a 305 d. C.), era comum a prática de controle de abastecimento de produtos, ainda mais nas regiões conquistadas, havia ainda a decretação de congelamento de preços, em virtude do processo inflacionário, ocasionado em parte pelo déficit do tesouro imperial na manutenção das hostes de ocupação. 32 Destaca-se naquela época o conhecido Edito de Deocleciano, que promoveu a reforma da moeda corrente com o fim de atacar a inflação. Neste Edito, conhecido como Edito do Preço Máximo, o Imperador fixou os salários e preços das mercadorias e serviços, regulamentando inclusive a emissão de moeda, com severíssimas punições para os infratores.33Importa ressaltar que a primeira lei sobre o monopólio é romana, sendo que fora proclamada pelo imperador Zenon, sob o título Monopollis, de acordo com o que se observa no livro 4, § 59, do Código Justiniano. 30 31 32 33 José Geraldo Brito Filomeno, Manual de direitos do consumidor, p. 23. Ibidem, p. 23-24. R. H. Barrow, Los romanos, p. 176 e ss. Ibidem, mesma página. 22 Fábio Konder Comparato34 esclarece que, no direito romano clássico, o vendedor não respondia pelos vícios da coisa, desde que fossem por ele desconhecidos, sendo que foi no direito justiniano que a responsabilidade mencionada começou a ser atribuída a ele, não perquirindo conhecimento ou não do defeito. Acrescenta ainda que as ações redibitória e quanti minoris, ambas amparadas na boa-fé do comprador, eram os instrumentos existentes para ressarcimento em caso de vícios ocultos na coisa posta em venda, deixando claro que lhe cabia devolver em dobro o que houvesse recebido. No período romano, ainda que indiretamente falando, diversas leis atingiam o consumidor, tais como: a Lei Semprônia de 123 a.C., encarregando o Estado da distribuição de cereais abaixo do preço de mercado; a Lei Clódia do ano 58 a.C., reservando o benefício de tal distribuição aos indigentes; a lei Aureliana, do ano 270 da nossa era, determinando fosse feita a distribuição do pão diretamente pelo Estado. Foram leis ditadas pela intervenção do Estado no mercado frente às dificuldades de abastecimento havidas nessa época em Roma.35 Com a decadência do Império romano, e a Europa toda fragmentada política e economicamente, tornando os mercados inicialmente dispiciendos, com economia basicamente agrícola e feudal em seu segundo período econômico, constituíram-se mercados regionais, fundados no aparecimento das cidades, os burgos, implicando atualmente a determinação dos burgueses, surgindo a denominação da tão conhecida burguesia, tida como a classe dos titulares dos meios de produção. 34 35 Enciclopédia saraiva do direito, vol. 18, p. 439. Paul Hugon, História das doutrinas econômicas, p. 42. 23 Diferentemente do que se pensa, esse período foi de elevada importância no que se refere à disciplina jurídica da atividade negocial. Influenciado pela doutrina católica, desenvolveu-se o princípio da moderação, que enunciava o respeito à propriedade privada, não em sentido absoluto, mas devendo atender à respectiva finalidade social.36 Assim, desenvolveu-se, ainda, o princípio do equilíbrio, pelo qual entendia-se que o preço das mercadorias deveria ser estabelecido por critérios de justiça e igualdade, nunca especulativos, ou seja, o conhecido preço justo.37 Imediatamente, o direito canônico impôs para a atividade negocial severas restrições, cujo mais destacado teórico foi Santo Tomás de Aquino, em sua Summa Theologica, na qual referindo-se à fraude na compra e venda, à justiça na troca, e à usura, expressava claramente o pensamento juriseconômico medieval, e, em decorrência, os princípios da moderação e do equilíbrio.38 Nos dias atuais a Constituição Italiana tutela os interesses dos consumidores de forma indireta, estabelecendo em seu artigo 41 que: “A iniciativa econômica privada é livre. A mesma não pode se desenvolver em contraste com a utilidade social ou de uma forma que possa acarretar dano à segurança, à liberdade, à dignidade humana. A lei determina os programas e os adequados controles, a fim de que a atividade econômica pública e privada possa ser dirigida e coordenada para fins sociais”.39 36 37 38 39 Ibidem, p. 49 e ss. Ibidem, p. 52 e ss. Idem, Economistas célebres, p. 55 e ss. Voltaire de Lima Morais, Da tutela do consumidor, p. 11-12. 24 Seguindo as diretrizes da Comunidade Comum Européia, a Itália conta hoje com um sistema de defesa do consumidor e do meio ambiente, por meio da Lei nº 281, de 30 de julho de 1998 , não tão específico e rico quanto o nosso, mas que prevê inúmeras situações de reequilíbrio contratual, cria regras para o surgimento de associação de consumidores, regras de publicidade e propaganda e regula a responsabilidades dos fornecedores. 1.2.1.2 Na França Recordando Lemer, na Europa medieval a proteção dos consumidores previa penas inibidoras para lesão a estes, ao passo de serem previstas penas vexatórias para quem adulterasse substâncias alimentícias. O rei Luiz XI, na França do século XV (1481), punia com banho escaldante quem vendesse manteiga com pedras no seu interior, para aumentar o peso ou o leite com água para inchar o volume. Em conformidade com José Geraldo Brito Filomeno, no início do século XVI, era obrigatório que se anunciasse a procedência e o nome do vinho que fosse adulterado com o acréscimo de água ou falsificação do nome, sendo o culpado apenado com o suplício de ter de bebê-lo até a asfixia.40 Na França existem várias instituições privadas que se dedicam ao proselitismo e à publicidade na defesa dos consumidores, como a Union Fédérale de la Consommation ou o Institut National de la Consommation.41 40 41 José Geraldo Brito Filomeno, Manual de direito do consumidor, p. 28. Caio Tácito, Direito do consumidor, p. 15. 25 Medidas foram tomadas visando a conter as práticas abusivas, conforme seguem: em 1905 procurou combater a fraude e a falsificação de produtos alimentícios; em 1951 combateu a venda com prêmios; em 1963 promoveu a repressão à publicidade enganosa. Segundo Ada Pellegrini Grinover, na França contemporânea, em 1973, levando-se em consideração a fraqueza individual do consumidor, legitimaram-se as associações de defesa para a tutela em juízo de interesse coletivo do grupo que representavam. Essas associações protegeriam os consumidores no processo de reparação coletiva do dano comum.42 No ano de 1973 editou-se a referida Lei para orientação do comércio, oferecendo mecanismos de proteção ao pequeno comerciante e aos consumidores; em 1978 editou-se a Lei nº 78-22, para regular o crédito ao consumidor e a Lei nº 78-23, para o controle das cláusulas abusivas.43 Contudo, em virtude da edição da Lei nº 92-60, cujo escopo é a proteção ao consumidor, a França caminha para a edição de um Código para disciplinar as relações de consumo entre os fornecedores e consumidores.44 Em 1995 foi editada a Lei nº 95-96, que veio modificar alguns dos artigos do Código de Consumo (Code de la Consommation), introduzindo o artigo 132-1, cujo teor, prevê que nos contratos concluídos entre profissionais e não profissionais, ou consumidores, são abusivas as cláusulas que 42 43 44 Ada Pellegrini Grinover, A tutela dos interesses difusos no direito comparado, p. 82. Josimar Santos Rosa, Relações de consumo: a defesa dos interesses de consumidores e fornecedores, p. 30. Ibidem, mesma página. 26 criem, em detrimento do não profissional ou consumidor, um desequilíbrio significante entre os direitos e obrigações das partes contratantes.45 Outra incorporada no direito figura francês interessante é o que, chamado recentemente, fora Superendividamento, caracterizado pela concessão desordenada de créditos a consumidores já endividados. Importa ressaltar que no direito francês, em se tratando de superendividamento, existe a boa-fé do devedor, que é presumida.46 1.2.1.3 Nos Estados Unidos da América Nos Estados Unidos a repressão às fraudes de comércio remonta à lei de 1872 e à legislação antitruste, de que é modelo a Lei Sherman de 1980.47 A Federal Trade Commission, constituída em 1914 e, mais recentemente, o Office of Consumer Affairs são órgãos públicos na defesa dos interesses da comunidade que, a seu turno, se organiza em iniciativas privadas, de que são modelo campanhas comandadas por Ralph Nader, de notória repercussão e eficiência.48 Mas foi, notadamente, a partir do governo Kennedy que a proteção ao consumidor americano recebeu os modernos diplomas legais, entre os quais podemos citar os seguintes: Consumer Credit Protection Act 45 46 47 48 Vitor Vilela Guglinski, O princípio da boa-fé como ponto de equilíbrio nas relações de consumo. Disponível em: <http://ww.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4706>. Acesso em: 13 set. 2004. Ibidem. Disponível em: <http://ww.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4706>. Acesso em: 13 set. 2004. Ricardo Hasson Sayeg, Práticas comerciais abusivas, p. 23-24. Caio Tácito, Direito do consumidor: o direito na década de 1990 – novos aspectos, p. 15. 27 (1983), que obriga o agente financeiro a informar ao consumidor as condições e encargos do financiamento dos bens adquiridos, e mais, obriga que o consumidor seja convenientemente informado sobre as razões que determinam a recusa de créditos; Consumer Legal Remedies (1969), que regula a publicidade comercial, atribuindo aos produtores ou comerciantes de determinado bem responsabilidade legal por sua qualidade e eficácia; Magnuson-Moss Warranty Act (1975), que exige do fabricante a garantia dos produtos acima de certo valor. As condições de garantia, inclusive os prazos, devem constar dos produtos de venda ou embalagem dos produtos.49 Nos Estados Unidos da América existem mais de 600 entidades privadas de proteção ao consumidor. Algumas, em que pese serem particulares, dispõem de modernos meios de atuação, mantidos por subvenções de toda natureza. Existem basicamente cinco agências governamentais especializadas na proteção ao consumidor, como a já mencionada Federal Trade Comission, órgão máximo do sistema em âmbito federal, cujos encargos são de regulamentação e fiscalização das práticas negociais em todo o país; o Consumer’s Education Office, criado para promover e administrar programas educacionais voltados para formação e treinamento de pessoal especializado em consumer affair e para educar e orientar o consumidor; o Food and Drug Administration, que cuida da fiscalização de produtos comestíveis, farmacêuticos, cosméticos e drogas, com laboratórios espalhados por todo o país; o Consumer Product Safety Comission, responsável por fixar as normas e padrões de segurança dos produtos e fiscalizar sua aplicação; o Small Claim Courts, que equivalem aos nossos juizados de pequenas causas, 49 Luis Otávio de Oliveira Amaral, História e fundamentos do direito do consumidor, p. 35. 28 que se acham espalhados por todo o país, protegendo o consumidor e desobstruindo a justiça comum. Ressalte-se que em 1962 o tema ganhou um grande impulso nos Estados Unidos, quando John Kennedy assumiu a bandeira da defesa do consumidor, em plena campanha eleitoral para a Presidência da República, e, uma vez eleito, já em sua primeira mensagem ao congresso passou a cuidar do assunto, consagrando os direitos básicos do consumidor, que, mais tarde, viriam a ser encampados pelas Nações Unidas.50 Além disso os americanos contam, ainda, na esfera da Administração Pública Federal, com uma comissão específica e um assistente especial, ambos vinculados à Presidência da República.51 1.2.1.4 Na Organização das Nações Unidas A Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou, em 16 de abril de 1985, a Resolução n° 39/248, que, pela compilação de normas esparsas anteriores,52 tratou da proteção ao consumidor. O princípio fundamental que orienta essa Resolução, consta do item 2 de seu Anexo, intitulado Diretrizes para a Proteção do Consumidor, expresso nos seguintes termos:53 50 51 52 53 Stephan Klaus Radloff, A inversão do ônus da prova no código de defesa do consumidor, p. 13. Luis Otávio de Oliveira Amaral, História e fundamentos do direito do consumidor, p. 35. Entre estas normas podem ser citadas: Resolução nº 1.981/62 do Conselho Econômico e Social da ONU, datada de 23 de julho de 1981 e, a Resolução nº 38/147 da Assembléia Geral, datada de 19 de dezembro de 1983, bem como a Resolução nº 1.984/63 do Conselho Econômico e Social, de 26 de julho de 1984. Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 31. 29 “Os governos devem desenvolver, fortalecer ou manter vigorosa política de proteção ao consumidor, levando em conta as diretrizes definidas pela própria sociedade. Para tanto, cada Governo deve fixar suas próprias prioridades para a proteção dos consumidores, de acordo com as circunstâncias econômicas e sociais do país e as necessidades de sua população, tendo em mente os custos e benefícios das medidas propostas”.54 O item 3 do mesmo Anexo estabelece os princípios da proteção ao consumidor:55 “As necessidades legítimas que as normas de cada país devem ter em vista são as seguintes: a) a proteção dos consumidores contra os perigos à sua saúde e segurança; b) a promoção e proteção aos interesses econômicos dos consumidores; c) o acesso do consumidor à informação adequada, que o esclareça o suficiente para que ele possa fazer com segurança suas escolhas, de acordo com seus desejos e necessidades; d) a educação do consumidor; e) a criação de meios para a efetiva reparação de danos sofridos pelo consumidor; f) a liberdade para a formação de grupos ou organizações de consumidores e outros pertinentes, e a criação de canais por meios dos quais essas organizações possam participar dos processos de decisão que os afetem”.56 1.2.1.5 Na Comunidade Econômica Européia O primeiro instrumento oficial a tratar da proteção ao Consumidor no âmbito da Comunidade Econômica Européia foi a Carta de 54 55 56 Tradução espontânea de: “Governments should develop, strengthen or maintain a strong consumer protection policy, taking into account the guidelines set out below. In so doing, each Government must set its own priorities for the protection of consumers in accordance with the economic and social circunstances of the country, and the needs of its population, and bearnng in mind the costs and benefits of proposed measures”. Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 31. Tradução espontânea de: “The legitimate needs wicht the guidelines are intended to meet are the following: a) The protection of consumers from hazards to their health and safety; b) The promotion and protection of the economic interests of consumers; c) Access of consumers to adequate information to enable them to make informed choices according to individual wishes and needs; d) Consumer education; e) Availability of effective consumer redress; f) Freedom to form consmer and other relevant groups or organization and the opportunity of such organizations to present their views in decision-making processes affecting them”. 30 Proteção ao consumidor, aprovada pela Resolução n° 543, de 17 de maio de 1973, que trouxe a definição de consumidor e algumas regras gerais de proteção.57 O conselho da Comunidade Européia editou em 14 de abril de 1975, uma nova resolução, por meio da qual instituiu o programa preliminar de política de proteção e informação aos consumidores, alicerçado em cinco categorias básicas de direitos: a) direito à proteção da saúde e da segurança; b) direito à proteção dos interesses econômicos; c) direito à reparação de prejuízos; d) direito à informação e educação; e) direito à representação junto aos órgãos de decisão.58 O segundo programa de proteção ao consumidor foi instituído aos 18 de maio de 1981. A primeira diretiva sobre a responsabilidade pelo fato do produto defeituoso surgiu em 25 de julho de 1985. O Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, firmado em Roma a 25 de março de 1957, consiste no código normativo fundamental daquela Comunidade. Nele foram implementadas alterações, por ocasião do Tratado de la Union Europea firmado em Maastricht a 7 de fevereiro de 1992.59 Consideradas as devidas alterações, o Tratado de Roma prevê hoje algumas regras relativas ao consumidor, como ora se passa a expor:60 57 58 59 60 Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 32. Ibidem, mesma página. Ricardo Alonso Garcia, Tratado de la union europea, p. 19. Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 32-33. 31 O artigo 92.1 do Tratado autoriza os Estados-membros a concederem auxílios de caráter social a consumidores individuais, desde que isso não afete as relações comerciais entre os países-membros. O artigo 100.ª3 propõe a uniformização das legislações dos países-membros em matéria de proteção ao consumidor, tomando por base o nível de proteção mais elevado. O artigo 129.A.1-3 esclarece que o alto nível de proteção recomendado depende da observância, por parte de cada país-membro, das seguintes regras: a) adoção de medidas internas tendentes à uniformização da legislação com a dos diversos países-membros; b) ações concretas que apóiem e complementem a política a cargo pelos Estados-membros, a fim de proteger a saúde, a segurança e os interesses econômicos dos consumidores, e de garantir-lhes informações adequadas; c) a fixação de normas protetivas pelo Conselho da Europa não impede que cada Estado-membro adote medidas mais protecionistas, desde que sejam compatíveis com os demais princípios do Tratado de Roma. 1.2.1.6 No Mercado Comum do Cone Sul O Mercosul, como é conhecido, foi criado pelo Tratado de Assunção, firmado em 26 de março de 1991 pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Por meio da harmonização entre as legislações dos países integrantes do bloco, pretendem os povos do Cone Sul implantar, por etapas, a união aduaneira e a livre circulação de bens e serviços no âmbito dos 32 Estados-membros, bem como uma política comercial coordenada e uniforme em face de outros Estados. Tal projeto se sustenta sobre as chamadas cinco liberdades, quais sejam: de empreendimento, de concorrência, de circulação de bens e serviços, de circulação de trabalhadores e de circulação do capital. Dessa forma, a legislação de cada país-membro terá de ser gradativamente adaptada para que se consiga a uniformização necessária. A liberdade de circulação de bens e serviços está diretamente vinculada às leis de defesa do consumidor, uma vez que estas implicam certas limitações e controles à livre circulação.61 Ocorre que a legislação brasileira de proteção ao consumidor é bem mais rigorosa e moderna do que as leis esparsas existentes na Argentina62 e no Paraguai.63 O Uruguai, por seu turno, nem mesmo possui legislação sobre o assunto. Os países, cujas exigências legais de qualidade são menos rigorosas, vislumbram entraves para a comercialização no Brasil de seus produtos que precisam se adaptar às exigências da lei brasileira, ao passo que em seus próprios territórios, os requisitos de qualificação técnica são bem menores. Haja vista o Tratado de Assunção, que consagra o princípio da reciprocidade dos direitos e deveres de cada Estado-membro. Essa questão 61 62 63 Ibidem, p. 33. Argentina, Ley nº 24.999, de 1º de julho de 1998. Modifica a Ley nº 24.240/93, de proteção ao consumidor. Paraguai, Ley nº 1.334, de 27 de outubro de 1998, proteção ao consumidor. 33 terá de ser solucionada seja pela amenização da lei brasileira, seja pela aprovação de leis de defesa ao consumidor mais severas nos países vizinhos. Assim, no Mercosul não existe nenhuma norma regulamentadora das relações de consumo. O Comitê Técnico nº 7, da Comissão de Comércio do Mercosul elaborou o Projeto de Protocolo de Defesa do Consumidor, consistente num código unificado destinado a vigorar em todos os países-membros. O projeto foi aprovado pelo Ministério da Justiça do Brasil, em 29 de novembro de 1997, mas acabou sendo rejeitado pela própria Comissão de Comércio do Mercosul em 6 de dezembro de 1997, sobretudo porque impedia que os países-membros fixassem normas nacionais de proteção mais severas.64 Existem algumas imperfeições nesse projeto, destacandose o fato de ser por demais minucioso, sendo que, na realidade, dever-se-iam prever apenas “(...) normas básicas, que assegurassem um patamar mínimo comum nos quatro países, mas que permitissem a manutenção das normas nacionais mais severas de proteção da saúde, segurança e interesses econômicos dos consumidores”.65 O único dispositivo do Tratado de Assunção, destinado, de certa forma, a proteger o consumidor, é absolutamente genérico e encontra-se no artigo 2° do Anexo I, que, ao tratar do comércio internacional, assegura “a proteção da vida e da saúde das pessoas”. Como se constata, a legislação do Mercosul ainda carece de normas que regulamentem as relações de consumo e os direitos dos consumidores.66 64 65 66 Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 34. Cláudia Lima Marques, Mercosul como legislador em matéria de direito do consumidor: crítica ao projeto de protocolo de defesa do consumidor, p. 75. Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 34. 34 Desse modo, conquanto não exista nenhuma norma que sistematize a defesa do consumidor, existe uma grande tendência social no sentido da adoção de um regulamento interpartes nos moldes do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que assegure o aclamado alto nível de proteção.67 1.2.1.7 Outros Países Na Pérsia e na Índia consta da historicidade mundial que a atividade econômica está disciplinada desde a antiguidade. Na Lei Mosaica, o libertador do povo hebreu do Egito proclamava a palavra como sendo de Deus, fazendo-se perpetuar na Bíblia no Levítico, 19, 36 e no Deuteronômio 23, 19 usque 15, impondo-se a honestidade no comércio, assim como a proibição da usura entre os judeus.68 O Código de Hamurabi, da legislação babilônica de 2.300 a. C., é tido como um dos principais diplomas acerca desse assunto; nos §§ 215 usque 240, disciplinam-se direitos e obrigações de classes profissionais e nos §§ 241 usque 277, encontram-se regulamentos sobre preços e salários.69 Conforme se observa na obra de Altamiro José dos Santos: “No tempo de Hamurabi o comércio era, sem dúvida, supervisionado e regulamentado pelo palácio (...). Já naquela época, havia regulamentação do comércio, supervisão e controle estava a cargo do palácio. Se havia preocupação com o lucro é porque o consumidor já estava tendo seus interesses resguardados naquela época”.70 67 68 69 70 Ibidem, mesma página. Ricardo Hasson Sayeg, Práticas comerciais abusivas, p. 20. Emanuel Bouzon, Código de hamurabi, p. 29. Revista do IAP, Direito do consumidor, p. 78-79. 35 José Geraldo Brito Filomeno observa que consoante a lei 235 do Código de Hamurabi, o construtor de barcos estava obrigado a refazêlo em caso de defeito estrutural, dentro do prazo de até um ano; o que se pode ser considerar em dias atuais como uma noção delineada do vício redibitório.71 Tal diploma jurídico prescrevia a regra contra o enriquecimento em detrimento de outrem (lei 48 – modificabilidade unilateral dos ajustes por desequilíbrio nas prestações, em razão de forças da natureza).72 O Código de Hamurabi prescrevia que paredes deficientes na construção de uma casa obrigavam o arquiteto a reconstruí-las ou consolidá-las com seus próprios recursos. Prescrevia, ainda, que desabamentos com vítimas fatais responsabilizavam o empreiteiro da obra ao reparo dos danos havidos e a pena de morte lhe era aplicada, caso o desabamento vitimasse o chefe da família. Se morresse o filho do dono da obra, a pena de morte era aplicada ao respectivo parente do empreiteiro e assim por diante. Previa-se também indenização completa e pena de morte para o cirurgião que operasse alguém com bisturi de bronze e lhe provocasse a morte por imperícia.73 Na Índia do século XIII a.C., o sagrado Código de Massu previa multa, punição e ressarcimento de danos aos adulteradores de gêneros (lei 367) ou aos que entregassem mercadoria de espécie inferior à acertada, ou que vendessem bens de igual natureza (lei 698).74 71 72 73 74 José Geraldo Brito Filomeno, Manual de direito do consumidor, p. 23. Luiz Amaral, As modernas relações de consumo: um novo capítulo do direito econômico, p. 107. José Geraldo Brito Filomeno, Manual de direitos do consumidor, p. 23. Ibidem, mesma página. 36 Na constituição da Espanha, de 1978, procurou-se, prioritariamente, dar ao Poder Público o dever de proteção ao consumidor, nos âmbitos econômico e social.75 Assim, o artigo 71 da Constituição espanhola estabelece norma direta de tutela do consumidor, ao dispor que: “1. Os Poderes Públicos garantirão a defesa dos consumidores e utentes e protegerão, por meio de processos eficazes, a sua segurança, a sua saúde e os seus legítimos interesses econômicos. 2. Os Poderes Públicos promoverão a informação e a educação dos consumidores e utentes, fomentarão as suas organizações e ouvirão essas organizações nas questões que os possam afectar, nos termos a estabelecer pela lei”.76 Concorrendo para a concretização dessa expectativa, que gerou a Carta Magna Espanhola, no ano de 1984 editou-se uma lei para proteção e defesa de consumidores e usuários.77 Na esteira da defesa do consumidor, editou-se a Lei nº 29/81, de 22 de agosto de 1981, que permitiu a criação do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. A consolidação desse processo ocorreu com a edição do Decreto-lei nº 446/85, de 25 de outubro de 1985, estabelecendo mecanismos de controle e proteção à pratica negocial. Isabel Espin Alba esclarece que: 75 76 77 Voltaire de Lima Moraes, Da tutela do consumidor, p. 12. Ibidem, mesma página. Josimar Santos Rosa, Relações de consumo: a defesa dos interesses de consumidores e fornecedores, p. 31. 37 “O fundamento de uma proteção especial para os consumidores está dogmaticamente relacionada com a evolução do conceito de ordem publica de proteção, entendido como conjunto de princípios que se aplicam para a estabilização nas relações econômicas e sociais”.78 Em La Protección de los Consumidores y Usuarios y la Constitución Española de 1978, lê-se o seguinte: “(...) na Europa podem ser encontrados precedentes do movimento consumerista na década de 1830-1840, inferior à forma de cooperativas. Este movimento está unido aos intentos da empresa comunitária levados a cabo por socialistas utópicos (R. Owen, Charles Fourier, Willian King, Michael Derrion, Saint Simon, Philippe Buchez, Louis Blanck). Eram os anos do desenvolvimento da industrialização, do capitalismo selvagem, e como conseqüência surgiu um proletariado submerso na miséria e na desesperança. Em 1844 criou-se La Rochdale, no principio como cooperativa de consumo, transmudando-se dez anos depois numa empresa de produção”.79 Ressalte-se que a regra consumerista espanhola se assemelha bastante ao nosso Código de defesa do Consumidor, consignando a boa-fé como requisito para o equilíbrio nas relações de consumo. Essa regra está disposta no artigo 10 da lei General para la Defesa de los Consumidores y Usuários.80 Em conformidade com os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, o início da proteção ao consumidor, na Alemanha, acontece desde 78 79 80 Isabel Esbin Alba, Algunas consideraciones sobre el derecho de consumo de España, p. 73. Tradução livre de: “(...) en Europa pueden encontrarse precedentes del movimiento consumerista en la década 1830-1840, bajo la forma de cooperativas. Este movimiento va unido a los intentos de empresa comunitaria llevados a cabo por los socialistas utópicos (R. Owen, Charles Fourier, Willian King, Michael Derrion, Saint Simon, Philippe Buchez, Louis Blanck). Eran los años del desarrollo de la industrialización, del capitalismo salvaje, y como consecuencia aparece un proletariado inmerso en la miseria y la desesperación. En 1844 se crea La Rochdale, en principio como cooperativa de consumo, convirtiéndose diez años después en empresa de producción”. Vitor Vilela Guglinski, O princípio da boa-fé como ponto de equilíbrio nas relações de consumo. Disponível em: <http://ww.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4706>. Acesso em: 13 set. 2004. 38 de 1965, quando foram legitimadas as associações de consumidores contra atos de concorrência desleal, passíveis de prejudicar em âmbito coletivo os interesses de seus membros.81 A Alemanha buscou uma identidade com o sistema consumerista, estabelecendo, em 1909, as diretrizes para disciplinar o ato concorrencial, visando a conter as práticas desleais, e reformulando-as em 1973. Para assegurar o livre exercício ao direito de concorrência, o legislador editou, em 1989, uma lei que disciplina a concorrência desleal. Assim, com vistas a assegurar o livre exercício do direito de concorrência, o legislador alemão editou, em 22 de dezembro de 1989, uma lei que disciplina a Concorrência Desleal. Ressalva seja feita que o inciso IV, do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor brasileiro fora inspirado no § 9°, da lei das Condições Gerais dos Negócios (AGB-Gesetz), que, além de adotar o princípio da boa-fé, proibiu o estabelecimento de vantagem exagerada a uma das partes na relação de consumo.82 O direito alemão possui legislações específicas acerca do direito do consumidor, como a Verbrkrg (Lei de crédito ao consumo), criada em 1990, com a finalidade de regular os contratos de crédito e os contratos de agenciamento de crédito, privilegiando a posição do consumidor, que pode, por exemplo, revogar unilateralmente o contrato. Há também a HausTWG, lei sobre a revogação de negócios realizados na porta de casa e negócios 81 82 Ada Pellegrini Grinover, A tutela dos interesses difusos no direto comparado, p. 82. Vitor Vilela Guglinski, O princípio da boa-fé como ponto de equilíbrio nas relações de consumo. Disponível em: <http://ww.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4706>. Acesso em: 13 set. 2004. 39 similares que, inclusive, foi alterada pela lei anteriormente mencionada. Essas leis aplicam-se ao âmbito da proteção contratual do consumidor. Existem, sobretudo, leis específicas que objetivam a proteção extracontratual do consumidor, quais sejam: a ProdHaftG, de 1989, conhecida como Lei sobre a responsabilidade por produtos defeituosos e a ProdSG, de 1997, que é a Lei de exigência de segurança de proteção e para proteção do símbolo CE. Tal lei foi criada com o objetivo de regulamentar as exigências de produtos e para que os mesmos possuíssem a informação CE, identificando o produto como sendo da União Européia.83 Em Portugal, a Constituição de 1976 incumbe, prioritariamente, ao Poder Público o dever de proteção ao consumidor, seja no âmbito econômico ou social, conforme prescreve seu artigo 81. Mais adiante, no artigo 110, título VI, quando trata do comércio e proteção do consumidor preceitua que: “1. Os consumidores têm direito à formação e à informação, à proteção da saúde, da segurança e dos seus interesses econômicos e à reparação de danos. 2. A publicidade é disciplinada por lei, sendo proibidas todas as formas de publicidade oculta, indirecta ou dolosa. 3. As associações de consumidores e as cooperativas de consumo têm direito, os termos da lei, ao apoio do Estado e a ser ouvidas sobre questões que digam respeito à defesa dos consumidores”.84 Nota-se que a manifestação do legislador português ocorreu de forma progressiva assegurando o aparecimento de inúmeros preceitos normativos para bem disciplinar as relações de consumo, a saber: 83 84 Ibidem. Disponível em: <http://ww.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=4706>. Acesso em: 13 set. 2004. Voltaire de Lima Moraes, Da tutela do consumidor, p. 12. 40 em 1972, estabeleceu-se o controle do comércio de alimentos; em 1977, estruturaram-se mecanismos para garantir o comércio sob encomenda; em 1979, disciplinou o processo de vendas sobre o regime de prestações.85 Dimensionando-se estritamente para a defesa do consumidor, editou-se a Lei nº 29/81, de 22 de agosto de 1981, valendo-se das diretrizes projetadas pela política européia, que permitiu a criação do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor. A consolidação desse processo ocorreu com a edição do Decreto-lei n° 446/85, de 25 de outubro de 1985, que estabelece mecanismos de controle e proteção da prática negocial refletindo grande efeito de modernidade.86 Por seu turno, em Cuba, a Constituição decorrente da doutrina marxista-leninista, declara que: “O estado organiza, dirige e controla a atividade econômica nacional de acordo com o Plano Único de Desenvolvimento Econômico-Social, de cuja elaboração e execução participam, ativa e conscientemente, os trabalhadores de todos os setores da economia e das demais esferas da vida social. O desenvolvimento da economia se vê aos fins de fortalecer o sistema socialista, satisfazer cada vez melhor as necessidades materiais e culturais da sociedade e dos cidadãos, promover a evolução da personalidade humana e de sua dignidade, o avanço e a segurança do país e a capacidade nacional para cumprir os deveres internacionalistas de nosso povo”.87 Desse modo, observa-se que a atual Constituição cubana disciplina a atividade econômica visando ao interesse do consumidor, indiretamente. 85 86 87 Josimar Santos Rosa, Relações de consumo: a defesa dos interesses de consumidores e fornecedores, p. 30. Ibidem, p. 31. Tradução livre do artigo 16 da Constituição Cubana. 41 Na Suécia, bem como nos demais países escandinavos, a proteção ao consumidor é realizada com eficiência pelo Ombudsman, criado na Suécia, em 1970. Mauro Cappelletti ensina que: “O Ombudsman na Suécia, é composto de cerca de vinte e cinco pessoas, entre juristas, economistas, peritos de mercado, etc. Sim, um organismo público, porque é um órgão administrativo, porém especializado, nesse caso, na tutela do consumidor”.88 Nesse país, a lei de consumo define consumidor nos seguintes termos: “pessoa privada que compra de comerciante mercadoria, principalmente para uso particular, que é vendida como atividade profissional do comerciante”.89 O modelo do Ombudsman foi adotado nos demais países nórdicos, atingindo o mesmo sucesso. Na Argentina não há uma legislação moderna e eficiente para tutelar em toda sua plenitude os interesses do consumidor. Essa ausência de legislação específica e adequada é explicada por Gabriel A. Stiglitz,90 um dos co-autores do Anteprojeto de Lei de Defesa Jurisdicional dos Interesses Coletivos da Argentina, que afirma que: “(...) a sistematização de uma disciplina vigente no Direito argentino em matéria de proteção do consumidor, implica uma tarefa árdua e completa. Sucede que todo o movimento como reação contra o esquema econômico-social do individualismo 88 89 90 Mauro Cappelletti, Tutela dos interesses difusos, p. 18. Ibidem, mesma página. Gabriel A. Stiglitz, Protección jurídica del consumidor, p. 65. 42 liberal, coloca-se a caminho com sustento no constitucionalismo moderno, não tendo chegado ao nosso país numa etapa na qual se faz necessário normativamente o reconhecimento dos direitos fundamentais do consumidor, nos instrumentos jurídicos para sua efetiva proteção”.91 Entre os países que editaram recentemente leis de proteção ao consumidor está a Argentina, cujo processo de discussão da matéria esteve cercado de muitas restrições. A versão inicial de tal projeto teve aprovação na Câmara de Senadores, em 24 de setembro de 1992, sendo mais tarde aprovada na Câmara de Deputados com consideráveis modificações. Somente ocorreu a aprovação definitiva, com as alterações promovidas pela Câmara dos Deputados, no Senado, em 22 de setembro de 1993,92 com a edição da Lei nº 24.240/93, de proteção ao consumidor, e posterior, a alteração pela Lei nº 24.999 de 1 de julho de 1998.93 1.2.1.8 No Brasil A questão da defesa ao consumidor no Brasil é relativamente nova. Datam de 1971 a 1973 os discursos proferidos pelo então Deputado Nina Ribeiro, que atentava para a gravidade do problema, de 91 92 93 Tradução livre de: “(...) la sistematización de uma disciplina vigente en el Derecho argentino en materia de protección del consumidor, implica uma tarea ardua y compleja. Sucede que todo el movimiento tuitivo que como ración contra el esquema económico-social del individualismo liberal, se pone en marcha con sustento en el constitucionalismo moderno, no ha llegado aún en nuestro país a una etapa en que se plasme normativamente el reconocimiento de los derechos fundamentales del consumidor, ni los instrumentos jurídicos para sua efectiva protección”. Josimar Santos Rosa, Relações de consumo: a defesa dos interesses de consumidores e fornecedores, p. 31. Revista de direito do consumidor, Direito do consumidor, p. 239-240. 43 natureza comprovadamente social, que pedia uma atuação mais enérgica nessa área. O problema inicial se resume na seguinte questão: quais os critérios a serem utilizados para que se possa compreender a história da formação econômica recente do Brasil? E como dividir as fases dessa formação? Essa história recente, de acordo com os ensinamentos de Marcelo Gomes Sodré,94 baseia-se no fato de conhecer o sistema de defesa do consumidor brasileiro, fruto e invenção do século XX. O referido autor faz menção ao fato de ser a sociedade de consumo brasileira um fenômeno que teve início no século passado, apenas tomando o corpo que adquiriu como se conhece, em meados do século que se passou.95 Contudo, somente após o final da Segunda Guerra Mundial é que estes elementos restaram plenamente difundidos no Brasil.96 Acerca dos critérios utilizados para a definição da periodização da história do Brasil, Marcelo Gomes Sodré97 aponta para várias possibilidades de se olhar o contexto histórico: pelo ângulo da política, tal como a revolução de 1930, o governo getulista, a redemocratização, o golpe militar e a transição para a democracia; da economia; da cultura; do 94 95 96 97 Marcelo Gomes Sodré, A formação do sistema nacional de defesa do consumidor: avanços e retrocessos legislativos, p. 20. Todavia, importa esclarecer o que vem a ser esta sociedade de consumo, por óbvio não se pretende esgotar este tema, qual não é o objetivo deste estudo, mas em linhas gerais, tem-se a sociedade de consumo aquela na qual, tendo fundamento em relações econômicas capitalistas, estão presentes, pelo menos, cinco externalidades: a) produção em série de produtos, b) distribuição em massa de produtos e serviços, c) publicidade em grande escala no oferecimento destes, d) contratação de produtos e serviços via contrato de adesão e e) oferecimento generalizado de crédito direto ao consumidor, acrescentando a este respeito o fato de ser esta uma forma milagrosa ao seu entender de transformar quem não tem dinheiro em devedor. Marcelo Gomes Sodré, A formação do sistema nacional de defesa do consumidor: avanços e retrocessos legislativos, p. 20. Ibidem, mesma página. 44 desenvolvimento social; da proteção à saúde; da promulgação das Constituições, vez que o Brasil teve oito Constituições, datadas de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1969, 1988, representando grandes pactos sociais que simbolizariam fases distintas da história; do crescimento populacional; da distribuição da população na cidade e no campo; dentre outras. Para o autor, o melhor critério resultará naquele que permita abraçar e explicar a maior quantidade de fatos históricos dentro de um quadro coerente, a partir do objetivo que se busca. Todos esses fatores contemplam linhas infindas a serem tecidas, todavia fogem ao assunto proposto, de maneira que nesta oportunidade passa-se aos fatores que melhor elucidam o surgimento do movimento consumerista no Brasil. Conforme salienta Josué Rios, em sua obra “A defesa do consumidor e o direito como instrumento de mobilização social”, foi no início da década de 70 que ocorreu o boom, chamado de milagre brasileiro, resultando na explosão do crescimento econômico, quando apenas poucas nações dentre as economias industriais avançadas tiveram tamanho crescimento, uma vez que, num período de sete anos, compreendido entre 1968 e 1974, o produto nacional brasileiro aumentou em uma quantidade igual ao total acumulado de seu crescimento econômico verificado em todos os séculos anteriores da história.98 Em meados de 1978, surge, em nível estadual, o primeiro órgão de defesa do consumidor denominado até hoje de PROCON, criado no Estado de São Paulo, a partir da Lei nº 1.903. Somente em 1985 foi criado o 98 Josué Rios, A defesa do consumidor e o direito como instrumento de mobilização social, p. 42. 45 Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, por meio do Decreto nº 91.469, que abraçou a órbita federal.99 Consta que a primeira manifestação de que se tem notícia, nessa área, é o Decreto n. 22.626, de 7 de abril de 1933, editado com a finalidade de reprimir a usura. Desde então, passando pela Constituição de 1934, surgiram as primeiras normas constitucionais de proteção à economia popular (115 e 117). O Decreto-Lei nº 869, de 18 de novembro de 1938, e mais tarde o de nº 9.840, de 11 de setembro de 1946, cuidam dos crimes contra a economia popular. Foi no ano de 1962 a edição da Lei de Repressão ao Abuso do Poder Econômico (nº 4.137), grande beneficiadora do consumidor, além de contribuir para a criação do conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, que compõe a estrutura do Ministério da Justiça, existente, ainda, porém subordinado à Secretaria Nacional de Direito Econômico. No ano de 1984, editou-se a Lei nº 7.244, que autorizou os Estados a instituírem Juizados de Pequenas Causas. Com o advento da Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986, passaram a ser punidos os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, denominados crimes do colarinho branco. Importantes passos foram dados a partir de 1985. Aos 24 de julho daquele ano, promulgou-se a Lei nº 7.347, disciplinadora da Ação Civil Pública, responsável pela defesa de danos causados ao consumidor e a outros bens que ampara, dando início à tutela dos interesses difusos em nosso país. Nessa mesma data, assinou-se o Decreto federal nº 91.469, alterado pelo de nº 94.508, de 23 de junho de 1987, criando o Conselho 99 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 08. 46 Nacional de Defesa do Consumidor, cuja função precípua seria a de assessorar o Presidente da República na formulação e condução da política nacional de defesa ao consumidor, com competência bastante extensa, mas sem poder coercitivo. Todavia, sua extinção ocorreria anos depois no início do governo do então presidente Fernando Collor de Mello e logo em seguida, substituído por outro singular, o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor. Antes da Criação do Código de Defesa do Consumidor, não havia a caracterização jurídica da pessoa do consumidor, mas instrumentos de Direito Civil e legislação esparsa, em benefício da economia popular e da boa-fé do contratante, o que costumeiramente causava um desequilíbrio nas relações contratuais de consumo, incorrendo em um enriquecimento ilícito por parte de fornecedores de má-fé. Firmou-se toda uma pressão pelo surgimento da já mencionada sociedade de consumo, o que exigiu, no mundo todo, uma reforma jurídica que protegesse e amparasse essa parcela mais que significativa da sociedade. Embora houvesse uma preocupação bastante antiga por parte do Estado quanto ao setor privado, em relação à proteção da boa-fé do consumidor, por meio de normas corporativistas privadas e, mais ainda, pela normatização do Código Civil e do Código Comercial, a figura do consumidor continuava revestida de vulnerabilidade, frente às contratações abusivas e outras ofensas. A vitória mais ilustre de todo o período, fruto dos reclamos de uma sociedade e de ingente trabalho dos órgãos e entidades de defesa do 47 consumidor, foi a inserção no texto constitucional de 1988 de quatro dispositivos específicos sobre o tema. Saliente-se, por oportuno, que a proteção constitucional do consumidor, fruto do movimento consumerista brasileiro, foi inserida, pela primeira vez nos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição Federal de 1988 e sua inclusão teve o relevante efeito de legitimar todas as medidas de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção nela prevista.100 Todavia, fundamental mencionar que também o art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias anunciava a edição do tão esperado Código de Defesa do Consumidor, que se tornou realidade pela edição da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, após longos debates, emendas, vetos, tomando-se por base o texto preparado pelo CNDC. Esse código adotou o chamado modelo normativo adaptador, marcado pela ativa intervenção do Estado em inúmeras situações, com o intuito de proteger o consumidor, e contempla um microssistema regido por princípios próprios e específicos, a serem estudados oportunamente, que buscam disciplinar as relações de consumo a partir de uma política nacional, objetivando atender às necessidades do consumidor, respeitando-lhe a dignidade, a saúde, a segurança e protegendo os interesses econômicos que tutelam. Parafraseando Nelson Nery Júnior, o referido diploma rompeu com os costumes do direito privado, assentado no liberalismo que influenciou os grandes códigos europeus do século XIX e, com isso, 100 Sílvio Luis Ferreira da Rocha, A oferta no código de defesa do consumidor, p. 68. 48 relativizou o princípio da intangibilidade do conteúdo do contrato, enfatizando o princípio da conservação do contrato e, ao instituir a boa-fé como um dos princípios informadores do Código e das relações de consumo que o mesmo ampara, impôs ao fornecedor o dever de prestar declaração de vontade se tiver veiculado oferta, apresentação, publicidade, estabelecendo a execução específica da oferta como regra.101 Ao contrário dessa rotina preocupante, a lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), segundo o dizer do autor, pode ser considerada como uma das mais democráticas leis editadas no Brasil nos últimos tempos. Além dos numerosos projetos existentes, o Congresso criou uma Comissão Mista para unificá-los, partindo do texto do Projeto de Lei nº 1.149/88, do então Deputado Geraldo Alkimim, recebendo sugestões de todo o país, realizando-se sessões públicas, discutindo-se as relações de consumo e colhendo depoimentos de vários segmentos do setor público. Terminado todo esse processo democrático, o relator da comissão mista, Deputado Joaci Góes, apresentou opinião consolidada da maioria, consubstanciada num novo substitutivo do Código de Defesa do Consumidor, que fora levado em discussão ao plenário da Câmara e, posteriormente, ao Senado Federal, aprovado com emendas e sancionado como Lei nº 8.078/90.102 Do ponto de vista jurídico, tal instituto foi amplamente discutido em dois congressos internacionais de direito do consumo, realizados em São Paulo (mai/jun/89) e Rio de Janeiro (setembro/1990). 101 102 Ada Pellegrini Grinover, et al. O código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, p. 273. Nelson Nery Júnior, Os princípios gerais do código brasileiro de defesa do consumidor, p. 4546. 49 Assim, o Código de Defesa do Consumidor pode ser considerado como lei moderna e tecnicamente adequada à realidade atual das relações de consumo. As considerações e sugestões foram bem acolhidas porque o direito do consumo é ramo novo do direito, ainda em elaboração, sendo necessária a contribuição da comunidade internacional para seu aprimoramento. 2 DOS PRINCÍPIOS Tradicionalmente, a metodologia jurídica utilizava a distinção entre normas e princípios. Todavia, caberá neste momento abandonar essa distinção, substituindo-a para o seguinte modelo: em primeiro plano mencionando que as regras e os princípios são duas espécies de normas; em segundo plano, que a distinção entre as regras e os princípios ocorre para diferenciar duas espécies de normas.103 Assim, conforme assinala Walter Claudis Rothenburg,104 antes de adentrar no cerne desta questão, imprescindível a comparação entre os três vocábulos, por vezes confundidos entre si, esclarecendo que a norma jurídica é um gênero, dos quais regras e princípios são espécies. Desse modo, entendese que tanto as regras quanto os princípios são normas porque ditam o que deve ser feito ou realizado. Tanto um quanto outro são expostos com expressões deônticas básicas de mandamento da permissão e da proibição. Portanto, os princípios e as regras são razões para juízos concretos do dever ser, ainda que possam ser razões de um tipo muito diferente. De tal forma que a distinção entre os princípios e as regras consiste numa distinção entre dois tipos de normas, subsistindo, assim, uma essência de igual teor. Desse modo, o autor traz à integra uma abordagem para melhor compreensão: 103 104 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional, p. 166. Walter Claudius Roghenburg, Princípios constitucionais, p. 13 e ss. 51 “(...) se os princípios possuem propriedades que os diferenciam por sua natureza dos demais conceitos e preceitos jurídicos, tal distinção encontra respaldo no fato de possuírem eles a expressão primeira dos valores fundamentais expressos pelo ordenamento jurídico, informando materialmente as demais normas”.105 (grifos do autor). Materialmente, os princípios são superiores às demais normas, por isso a justificação de uma hierarquia e de considerar os princípios como determinantes integrais da substância do ato pelo qual são executados: princípios como limites e conteúdo, enquanto que, em linhas paralelas, as regras jamais determinam completamente as que lhe são inferiores.106 A jurista Carmem Lúcia Antunes Rocha107 estende a precedência atribuída aos princípios constitucionais a diversos aspectos, fazendo alusão à característica da primariedade, manifestada histórica, jurídica, lógica e ideologicamente. Ressalva faz também à precedência material dos princípios, pois são dotados de originalidade e superioridade material sobre todos os tipos de conteúdo que formam o ordenamento constitucional, de tal modo que os valores firmados pela sociedade são transformados pelo Direito em princípios. Oportuno mencionar a semelhança entre a teoria dos valores e a dos princípios, abordada por Robert Alexy, em sua obra Teoria de los derechos fundamentales, fundada na tese de que enquanto os valores fazem parte do âmbito axiológico, cujo conceito fundamental é o do bem, os princípios se englobam no âmbito dos deontológicos, possuindo por conceito fundamental o dever ser, aparecendo no Direito como conteúdo e continente.108 105 106 107 108 Ibidem, p. 16. Ibidem, mesma página. Carmem Lúcia Antunes Rocha, Princípios constitucionais da administração pública, p. 30. Robert Alexy, Teoria de los derecho fundamentales, p. 139-141. 52 Nessa esteira também caminha o pensamento de Carmem Lúcia Antunes Rocha, ao mencionar que: “Os princípios constitucionais são os conteúdos intelectivos dos valores superiores adotados em dada sociedade política,, materializados e formalizados juridicamente para produzir uma regulação política no Estado. Aqueles valores superiores encarnam-se nos princípios que formam a própria essência do sistema constitucional, dotando-o, assim, para o cumprimento de suas funções, de normatividade jurídica. A sua opção ético social antecede a sua caracterização normativo-jurídica. Quanto mais coerência guardar a principiologia constitucional com aquela opção, mais legítimo será o sistema jurídico e melhores condições de ter efetividade jurídica e social”.109 Com vistas ao ensinamento de José Joaquim Gomes Canotilho, a tarefa de distinguir, no âmbito da norma, regras e princípios é muito complexa, sendo que, na sua ótica, o autor procura adotar diversos critérios da doutrina alienígena para encontrar a distinção, tais como: grau de abstração, onde se tem por um lado os princípios tidos por normas com um grau de abstração elevado e, diversamente, as regras, com seu grau de abstração relativamente reduzido. Encontra-se, ainda, o chamado grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto, onde se observa o fato de que, por serem vagos e indeterminados, os princípios carecem de mediações concretizadoras, sejam elas do legislador ou do juiz, mas necessitam desse diferencial; ao revés, as regras são susceptíveis de aplicação direta e imediata. Sob a ótica de Canotilho, existe ainda o caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito, em que os princípios são normas de natureza ou com papel essencial no ordenamento jurídico, devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes. Como exemplo, podem ser citados os princípios constitucionais, ou mesmo a sua importância estruturante dentro do sistema jurídico. Exemplificando, ainda, 109 Carmem Lúcia Antunes Rocha, Princípios constitucionais da administração pública, p. 23. 53 temos o princípio do Estado de Direito. Ainda, dentro destes critérios, existem os da Proximidade da idéia de direito, nos quais os princípios são standard juridicamente vinculantes radicados nas exigências de justiça ou na idéia de direito, enquanto que as regras podem ser normas vinculantes com um conteúdo meramente funcional. Por fim, há o critério da Natureza normogenética, em que os princípios são fundamento de regras, ou seja, são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desenvolvendo uma função normogenética fundamentante.110 Todavia, Canotilho justifica a complexidade em realizar essa distinção, pelo fato de não se esclarecerem duas questões fundamentais, quais sejam, em primeiro lugar, saber qual a função dos princípios, seria ela uma função retórica, argumentativa ou, ainda, mera norma de conduta? Em segundo lugar, saber se entre as regras e os princípios existe um denominador comum, por fazerem parte de um mesmo grupo, havendo apenas uma diferença do grau quanto à sua generalidade, conteúdo informativo, hierarquia das fontes, entre outros, ou, se contrário a tudo isto seriam os princípios e as regras susceptíveis apenas de uma diferenciação qualitativa.111 O autor adianta que os princípios são multifuncionais, tanto desempenhando uma função argumentativa, como exemplo, denotar a ratio legis de uma disposição, como também podem revelar normas que são expressas por qualquer enunciado legislativo, possibilitando aos juristas, especialmente aos juízes, o desenvolvimento, a complementação do direito.112 110 111 112 José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional, p. 166-167. Ibidem, p. 167. Ibidem, mesma página. integração e a 54 Sobretudo, o que se mostra interessante no presente estudo são os princípios na sua qualidade de verdadeiras normas, qualitativamente distintas das outras categorias de normas – as regras jurídicas. 113 Essas diferenças qualitativas traduzem-se nos seguintes aspectos: os princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, compatíveis com vários graus de concretização, em conformidade com os condicionalismos fáticos e jurídicos, enquanto as regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência, seja ela impositiva, permissiva ou proibitiva, que é ou não cumprida.114 A convivência dos princípios é conflitual, enquanto que a das regras é antinômica. Os princípios coexistem; as regras antinômicas excluemse.115 Em decorrência disso, os princípios ao constituírem exigências de otimização, permitem balancear os valores e interesses, diferenciando-se das regras, por não obedecerem à lógica do tudo ou nada, em virtude do seu peso e da ponderação de outros princípios eventualmente conflitantes.116 As regras não encontram outra solução, pois se uma regra possui validade deve ser cumprida na medida exata de suas prescrições, nem além, nem abaixo do que prescreveu.117 113 114 115 116 117 Ibidem, p. 168. No mesmo sentido: Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso de direito constitucional, passim; José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, passim. Ibidem, p. 167. Ibidem, p. 168. Ibidem, mesma página.. No mesmo sentido: Luiz Alberto David Araujo e Vidal Serrano Nunes Júnior, Curso de direito constitucional, passim; José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, passim. Ibidem, mesma página. 55 Havendo conflitos entre os princípios, estes poderão ser objeto de ponderação, harmonização, vez que possuem apenas exigências ou standard, como outrora mencionados, devendo em primeiro lugar ser realizados. Porventura, se situação semelhante ocorrer com as regras, isso não será possível, pois as regras são compostas de fixações normativas definitivas, sendo insustentável a validade simultânea de regras contraditórias.118 E o autor menciona que os princípios suscitam problemas de validade e peso, tais como, importância, valia e ponderação, enquanto, ao revés, as regras colocam apenas questões de validade, devendo ser alteradas se não forem corretas.119 Todavia, os ensinamentos de José Joaquim Gomes Canotilho não se encerram nessas considerações. Ele continua, classificando os princípios constitucionais em quatro espécies. Para esse jurista, existem princípios historicamente objetivados e progressivamente introduzidos na consciência jurídica, que encontram uma recepção expressa inserida no texto constitucional, os quais são denominados de princípios jurídicos fundamentais, mencionando-se dentre eles o princípio da publicidade dos atos jurídicos, o do livre acesso aos direitos e aos Tribunais, além do princípio da imparcialidade da Administração. Canotilho explica que mesmo quando não se esteja apto a fundamentar neles recursos de direito público, têm sempre uma força vinculante, de modo tal a se poder dizer ser a liberdade de conformação legislativa vinculada pelos princípios jurídicos gerais.120 O autor continua, afirmando que existem ainda os princípios políticos constitucionalmente conformadores que explicitam as valorações políticas 118 119 120 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página e ss. Ibidem, p. 118. 56 fundamentais do legislador constituinte, dentre os quais estão, por exemplo, aqueles princípios destinados a definir a forma do Estado, os princípios que caracterizam a forma de governo e os responsáveis pela estruturação do regime político.121 Numa terceira esfera de raciocínio, Canotilho faz menção aos princípios constitucionais impositivos que se sobrepôem em todos os demais princípios e no âmbito da Constituição impõem aos órgãos do Estado, principalmente ao legislador, a realização de fins e a execução de tarefas. De tal modo que os órgãos encarregados da aplicação do direito devem levá-los em consideração, em atividades interpretativas, ou em atos inequivocamente conformadores.122 E, finalizando, menciona a existência de uma quarta categoria de princípios denominada de princípios-garantia. Tais princípios são mais voltados à estatuição de garantias aos cidadãos, ficando o legislador pátrio vinculado à sua aplicação, exemplificando, pode-se apontar os princípios do in dúbio pro reo, non bis in idem, nullum crimem sine lege, bastante difundidos hodiernamente.123 Tradicional e amplamente difundida no direito pátrio é a lição de Celso Ribeiro Bastos: “(...) princípios são de maior nível de abstração que as meras regras e, nestas condições, não podem ser diretamente aplicados. Mas, no que eles perdem em termos de concreção ganham no sentido de abrangência, na medida em que, em razão daquela, sua força irradiante, permeiam todo o texto constitucional, emprestando-lhe significação única, traçando os rumos, os vetores, em função dos quais as demais normas devem ser entendidas. Os 121 122 123 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 119. 57 princípios são pois, as vigas mestras do texto constitucional e que vão ganhando concretização, não só a partir de outras regras da Constituição (como é o caso do princípio federativo), mas também de uma legislação ordinária, que deverá guardar consonância com o princípio. O princípio da cidadania, por exemplo, restou concretizado pela Lei nº 9.265, de 12.02.1996, que estabelece a gratuidade dos atos necessários ao exercício da cidadania”.124 E continuando: “As normas não exercem função idêntica dentro do Texto Maior como muitos poderiam erroneamente imaginar. Há normas constitucionais que mais se aproximam às do direito comum, isto é, àquelas normas que têm elementos necessários para investir alguém da qualidade de titular de um direito subjetivo. Já há outras normas que não apresentam este aspecto funcional, em razão do seu alto nível de abstração e de indeterminação das circunstâncias em que devem ser aplicadas. É possível, pois, vislumbrar-se duas categorias principais: a primeira denominada regra e a segunda, princípio”.125 O referido autor menciona que alguns se prendem a mais de um critério de distinção em relação às regras e aos princípios,126 e confirmando o pensamento de Canotilho, traz a lume que o mais habitual dentre esses critérios de distinção é o do grau de abstração, por meio do qual não se acentua a diferença qualitativa entre uns e outros, mas apenas corrobora o grau tendencialmente abstrato dos princípios em relação às regras.127 E vislumbra que, em outros momentos, o que se evidenciará é a aplicabilidade, ou seja, os princípios demandariam medidas de concentração em relação a possibilidade de aplicação direta das regras.128 124 125 126 127 128 Celso Ribeiro Bastos, Curso de direito constitucional, p. 81. Ibidem, p. 74-75. Ibidem, mesmas páginas. Ibidem, p. 75. Ibidem, mesma página. 58 Em última análise, o autor evidencia a existência do critério da separação radical, onde se observa a relação entre regras e princípios sendo o equivalente a uma distinção qualitativa rigorosa, seja ela quanto à sua estrutura lógica, ou quanto à intencionalidade normativa.129 E ainda, conclui o autor seu ensinamento de forma brilhante, como se denota a seguir, ipsis literis: “Fica claro, pois, que, nada obstante as singularidades que cercam os princípios das regras, aqueles não se colocam, na verdade, além ou acima destas. Juntamente com as regras, fazem os princípios parte do ordenamento jurídico. O que nos leva a concluir que todas as normas apresentam o mesmo nível hierárquico. Ainda assim, contudo, é possível identificar o fato de que certas normas, as principiológicas, na medida em que perdem o seu caráter de precisão de conteúdo, isto é, perdem densidade semântica, ascendem para uma posição que lhes permite sobrepairar uma área muito mais ampla. O que elas perdem, pois, em carga normativa, ganham como força valorativa a espraiar-se por cima de um sem-número de outras normas. A fundo, são normas tanto as que encerram princípios quanto as que encerram preceitos”.130 Acerca deste assunto prescreve Enrique Alonso Garcia que: “As intenções de classificação dos preceitos constitucionais segundo sua pretensão de validade têm sido muitas e provavelmente continuarão sendo. Bastaria lembrar as classificações dos direitos fundamentais desde a célebre tripartição de Jellinek para se concluir que a regra geral é a multiplicidade de tipos e de normas constitucionais”.131 129 130 131 Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 75-76. Enrique Alonso Garcia, La interpretación de la constituición, p. 16, apud, Celso Ribeiro Bastos, Curso de direito constitucional, p. 75, in verbis: “Los intentos de clasificación de los preceptos constitucionales según su pretención de validez han sido múltiplos y probablemente seguirán siéndolo. Bastaria con recordar las clasificaciones de los derechos fundamentales desde la célebre tripartición de Jellinek para caer en la cuenta de que la regra general es la multiplicidade de tipos e normas constitucionales”. 59 Eduardo Garcia de Enterria, corroborando esse ensinamento, traz a lume a seguinte explicação extraída de sua obra La constituición como norma y el tribunal constitucional: “A Constituição assegura uma unidade do ordenamento essencialmente sobre a base de uma ordem de valores materiais expressos nela e não sobre as simples regras formais de produção de normas. A unidade do ordenamento é, sobretudo, uma unidade material de sentido, expressada nos princípios gerais do Direito, que ao intérprete da lei cabe investigar e descobrir (sobretudo, naturalmente, ao intérprete jurídico, e a jurisprudência), a Constituição tem declarado de maneira formal, destacando entre todos, através da decisão suprema da comunidade que a tenha feito uns valores sociais determinados que se proclamam no momento solene constituinte como primordiais e básicos de toda vida coletiva. Nenhuma norma subordinada – e todas o são para a Constituição – poderá desconhecer esse quadro de valores básicos e todas deverão interpretar-se no sentido de haver possibilidade com sua aplicação no serviço, precisamente, a ditos valores”.132 Assim, entende-se que é desse entrelaçamento que o todo constitucional sai fortalecido.133 Para Jorge Miranda,134 o Direito não é mero somatório de regras avulsas, produtos de atos de vontade, ou, então, mera relação de fórmulas verbais articuladas entre si. Para esse autor, o Direito é bem mais do que isso, é um conjunto significativo, uma unidade de sentido, um valor incorporado 132 133 134 Tradução livre de: “La constituición asegura uma unidad Del ordenamiento esencialmente sobre la base um ‘orden de valores’ materiales expreso em ella y no sobre lãs simples reglas formales de producción de normas. La unidad del ordenamiento es, sobre todo, una unidadmaterial de sentido, expresada en unos principios generales de Derecho, que o al intérprete toca investigar y descubrir (sobre todo, naturalmente, al intérprete judicial, a la jurisprudencia), o la constituición los hádeclarado de manera formal, destacando entre todos, por la decisión suprema de la comunidad que la ha hecha, unos valores sociales determindos que se proclamam en el solemne momento constituyente como primordiales y básicos de toda la vida colectiva. Ninguna norma subordinada – y todas lo son para la constituición – podrá desconocer ese cuadro de valores básicos y todas deberán interpretarse en el sentido de hacer posible con su aplicación el servicio, precisamente, a dichos valores”. Celso Ribeiro Bastos, Curso de direito constitucional, p. 76. Jorge Miranda, Manual de direito constitucional, p. 197. 60 em regra, de tal modo que esse conjunto, essa unidade, esse valor possam se projetar ou se traduzir em princípios, por óbvio anteriores aos preceitos. Outro jurista que merece ser lembrado e mencionado neste estudo é, sem sombra de dúvida, José Afonso da Silva, em sua clássica obra Curso de direito constitucional positivo, onde faz menção à árdua tarefa de distinguir normas e princípios. Sob esse prisma, considera que a palavra princípio tem um significado bastante equívoco, podendo até mesmo encontrar sentidos diversos. Ao passo que pode indicar um começo, um início, poderá, juntamente com outras, tomar um corpo diferente, como seria o caso mencionado pelo autor da expressão norma de princípio, ou seja, uma norma que contém o início ou esquema de um órgão, entidade ou programa, como são as normas de princípio institutivo e as de princípio programático, claramente oposto ao sentido que a Constituição Federal da República brasileira quer mencionar em seu Título I. Nesse caso, essa expressão evidencia o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello, também adotado pelo referido autor, qual seja, o de “mandamento nuclear de um sistema”.135 Por seu turno, o autor também se mostra pertinente quanto à conceituação de normas, como sendo preceitos tuteladores de situações subjetivas de vantagem ou de vínculo, ou seja, reconhecendo, de um lado, às pessoas ou às entidades, a faculdade de realizar certos interesses por ato próprio, ou exigindo ação ou abstenção de outrem, e, por outro , vinculam pessoas ou entidades à obrigação de submeter-se às exigências de realizar uma prestação, ação ou abstenção em favor de outrem.136 135 136 José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, p. 95. Ibidem, mesma página. 61 Sintetizando, considera que os princípios são como ordenações que se irradiam e imantam os sistemas de normas, são núcleos de condensações, ante os quais caminham juntos os valores e os bens constitucionais. O autor posiciona-se favoravelmente àqueles que consideram os princípios como bases de normas jurídicas, estando positivamente incorporados, podendo, ainda, se transformarem em normas-princípios e constituirem preceitos básicos da organização constitucional.137 Os princípios devem ser observados como alicerces, aliás, não somente isto, como também pedra angular de um sistema jurídico, atuando de forma integral para o estabelecimento das regras básicas do mesmo para, desse modo, criar uma harmonia dentro do todo. Posto isto, reveste-se de relevante importância, no presente estudo, o conhecimento dos princípios, vez que são considerados vigas mestras estruturantes do sistema jurídico. A origem etimológica da palavra princípio vem do latim principium, principi, que significa origem, começo. O significado da expressão princípio no dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira revela diversas acepções do termo: “Princípio. [Do lat. principiu.] S. m. 1. Momento ou local ou trecho em que algo tem origem (...) 2. Causa primária. 3. Elemento predominante na constituição de um corpo orgânico. 4. Preceito, regra, lei. 5. P. ext. Base, germe (...) 6. Filos. Fonte ou causa de uma ação. 7. Filos. Proposição que se põe no início de uma dedução, e que não é deduzida de nenhuma outra dentro do sistema considerado, sendo admitida, provisoriamente, como 137 Ibidem, mesma página. 62 inquestionável. [São princípios os axiomas, os postulados, os teoremas, etc. Cf. princípio do verbo principiar]”.138 Na mesma obra, encontra-se a palavra no plural: “Princípios. (...) Filos. Proposições de uma ciência, às quais todo o desenvolvimento posterior dessa ciência deve estar subordinado”.139 Tal vocábulo não contempla um sentido uníssono, o que exige interesse no desenvolvimento da presente tese, pois o significado que tal palavra carrega consigo traz como peculiaridade um enfoque à ciência do Direito. Sob a órbita jurídica, tal expressão para Manoel Antônio Teixeira Filho, revela o seguinte teor: “(...) os princípios constituem formulações genéricas, de caráter normativo, destinado não apenas a tornar logicamente compreensível a ordem jurídica e a justificar ideologicamente essa mesma ordem, como também a servir de fundamento para a interpretação ou para a própria criação de normas legais”.140 Em conformidade com Hugo de Brito Machado, “(...) os princípios jurídicos constituem, por isto mesmo, a estrutura do sistema jurídico. São os princípios jurídicos os vetores do sistema”.141 Miguel Reale , por seu turno, observa que: “(...) os princípios são ‘verdades fundantes’ de um sistema de conhecimento, como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido comprovadas, mas também por motivos de ordem 138 139 140 141 Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, Novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, p. 1393. Ibidem, p. 47. Manoel Antônio Teixeira Filho, Jurisdição, ação e processo, p. 18. Hugo de Brito Machado, Os princípios jurídicos da tributação na constituição de 1988, p. 1315. 63 prática de caráter operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades da pesquisa e da práxis”.142 Celso Antônio Bandeira de Mello salienta a importância do princípio para o ordenamento jurídico, conforme segue: “Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo um sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico, corrosão de sua estrutura mestra”.143 Contudo, importante mencionar a opinião sintética de Ruy Samuel Espíndola, que transporta como conclusão para a idéia ou conceito de princípio a designação da estrutura: “(...) de um sistema de idéias, pensamentos ou normas por uma idéia mestra, por um pensamento chave, por uma baliza normativa, donde todas as demais idéias, pensamentos ou normas derivam, se reconduzem e/ou se subordinam”.144 A idéia de princípio, em conformidade com Luís Diez Picazo, originase da linguagem da geometria, “onde designa as verdades primeiras”.145 Acrescentando, na seqüência, que exatamente por isso são princípios, “(...) pois estão ao princípio”, sendo os mesmos “(...) as premissas de todo um sistema que se desenvolve more geométrico”.146 142 143 144 145 146 Miguel Reale, Lições preliminares de direito, p. 299. Celso Antônio Bandeira Mello, Elementos de direito administrativo, p. 300. Ruy Samuel Espíndola, Conceito de princípios constitucionais, p. 47-48. Luís Diez Picazo, Los princípios generales del derecho em el pensamiento de Fidel Castro, p. 1267-1268. Ibidem, p. 1268. 64 Apropriada é a visão de F. de Clemente em relação aos princípios, conforme se depreende in verbis: “(...) assim como quem nasce tem vida física, esteja ou não inscrito no Registro Civil, também os princípios gozam de vida própria e valor substantivo pelo mero fato de serem princípios”.147 E, numa definição mais objetiva, se utiliza a seguinte formulação para definir os princípios: “Princípios de direito é o pensamento diretivo que domina e serve de base à formação das disposições singulares de Direito de uma instituição jurídica, de um Código ou de todo um direito Positivo”.148 Existe ainda um conceito de princípio formulado pela Corte constitucional italiana, numa das primeiras sentenças, de 1956, contemplada por Paulo Bonavides na obra Curso de direito constitucional, vazada nos seguintes termos: “Faz-se mister assinalar que se devem considerar como princípios do ordenamento jurídico aquelas diretivas de caráter geral e fundamental e se possam deduzir da conexão sistemática, da coordenação e da íntima racionalidade das normas, que concorrem para formar assim, num dado momento histórico, o tecido do ordenamento jurídico”.149 Paulo Bonavides, ainda se beneficia da definição utilizada por Crisafulli, formulada em 1952: “Princípio é, com efeito, toda norma jurídica, enquanto considerada como determinante de uma ou de muitas outras subordinadas, que a pressupõem, desenvolvendo e especificando ulteriormente o preceito em direções mais particulares (menos gerais), das quais determinam, e, portanto resumem, potencialmente, o conteúdo: sejam, pois estas efetivamente postas, 147 148 149 F. de Clemente, El método en la aplicación del derecho civil, p. 290. Ibidem, p. 293. Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, p. 230. 65 sejam, ao contrário, apenas dedutíveis do respectivo princípio geral que as contém”.150 Uma grande investigação doutrinária foi feita por Ricardo Guastini, sendo que o mencionado autor recolheu da jurisprudência e de juristas diversos conceitos distintos do que sejam os princípios, totalizando seis conceituações, estando todos vinculados a disposições normativas, como ora se depreende: Para ele, primeiramente, o vocábulo princípio, se refere a normas (ou a disposições legislativas que exprimem normas), providas de um alto grau de generalidade.151 Sob uma segunda ótica, Guastini entende que os juristas utilizam o vocábulo princípio ao se referirem a normas ou mesmo às disposições que exprimem normas, providas, sobretudo de um elevado grau de indeterminação e que por isso requerem concretização por via interpretativa, pois sem ela não seriam suscetíveis de aplicação a casos concretos.152 Em terceiro lugar, o autor afirma que os mesmos juristas aplicam a expressão princípio ao se referirem a normas, ou disposições normativas de caráter programático.153 Assim, prosseguindo numa quarta linha de pensamento, o uso que os juristas às vezes fazem do termo princípio, é referido às normas, ou aos dispositivos que exprimem essas normas, nas quais a hierarquia das fontes de Direito é muito elevada.154 150 151 152 153 154 Crisafulli, La costituizone e lê sue disposizione di principio, p. 15, apud, Paulo Bonavides, Curso de direito constitucional, p. 230. Riccardo Guastini, Dalle fonti alle norme, p. 112. Ibidem, p. 114. Ibidem, p. 116. Ibidem, p. 118. 66 Numa quinta linha de conceituação, Guastini entende que: “(...) os juristas usam o vocábulo princípio para designar normas, ou disposições normativas, que desempenham uma função, ‘importante’ e ‘fundamental’ no sistema jurídico ou político unitariamente considerado, ou num ou noutro subsistema do sistema jurídico conjunto (O Direito Civil, o Direito do Trabalho, o Direito das Obrigações)”.155 Finalizando, em sexto lugar, para o autor os juristas se valem da expressão princípio para designar normas, ou disposições que exprimem essas normas, dirigidas aos órgãos de aplicação, cuja específica função é fazer a escolha dos dispositivos ou das normas aplicáveis nos diversos casos.156 Importa observar que aos princípios são emprestadas algumas funções, como ora se demonstra: primeiramente, acompanhando os momentos revolucionários das constituições brasileiras, do que resultou a função ordenadora dos princípios. Tais revoluções são realizadas em nome de poucos princípios, dos quais são extraídos preceitos que, futuramente, de forma direta e concreta, disciplinarão e regerão a sociedade e o Estado. Observa-se, contudo, que tais princípios desempenharão ação imediata, na medida em que possuam condições de serem auto-executáveis. Convém ressaltar, dentre as suas funções, as de conferir normas programáticas, nas quais, por vezes, se adota um caráter bastante prospectivo. No primeiro dos casos observados, tais princípios estão sujeitos a uma legislação integradora que lhes conceda eficácia, enquanto que, no segundo caso, qual seja o da função prospectiva, os princípios tendem a ganhar uma 155 156 Ibidem, p. 119. Ibidem, p. 120. 67 aplicabilidade maior, despejando seu conteúdo por diversos fatores da vida em sociedade, tal como se depreende do princípio democrático, segundo io qual a maior conformação da vida social se adquire na proporção em que se faça uso dele. Todavia, a mais usual e difundida noção de princípio jurídico da qual se tem conhecimento é a de Celso Antônio Bandeira de Mello, embora ela não possua um caráter constitucionalista, mas sim um teor estritamente administrativo. Sabendo-se, ainda, que sua elaboração conceitual não está estritamente ligada aos princípios constitucionais, como depreendido de sua leitura ainda assim, a noção por ele talhada tem dominado os estudos e reflexões em torno da idéia de princípio como norma constitucional,tal como se difunde sua concepção em termos literais: “Princípio – já averbamos alhures- é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalização do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. É o conhecimento dos princípios que preside a intelecção das diferentes partes componentes de todo um unitário que há por nome sistema jurídico positivo (...)”.157 Outra posição acerca dos princípios que merece ser lembrada é a de Angélica Arruda Alvim, na qual menciona claramente que: “(...) os princípios estão além de qualquer texto constitucional, sobretudo, evidenciam verdadeiramente uma marca profunda e acentuada dentro do sistema, como por exemplo, é o caso do princípio nuclear, que é o do devido processo legal, em que isto se mostra, até mesmo, pela extensão dos textos que a esse assunto dizem respeito”.158 157 158 Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo, p. 545. Angélica Arruda Alvim, Princípios constitucionais de processo, p. 74. 68 Desse modo, adentraremos às classificações e às definições sobre os princípios que norteiam o direito processual civil brasileiro e o direito consumerista, sobre os quais se fundam a matéria diretamente abordada no presente estudo. 2.1 Princípios Fundamentais da Legislação Processual Civil São de duas linhas os princípios fundamentais em que se inspira a legislação processual de nossos dias: os princípios relativos aos processos e os relativos aos procedimentos. Cabe salientar, nesta oportunidade, que não é pretensão deste estudo esgotar o assunto sobre os princípios norteadores do processo civil, mas tão somente relembrá-los, posto que são necessários à melhor elucidação do presente estudo. No que concerne ao Código de Defesa do Consumidor, é mister que se observe o mais importante dos princípios que o informam, ou seja, o princípio da vulnerabilidade. É notório que as relações de consumo não se desenvolvem entre partes com o mesmo poderio econômico, cultural e técnico, principalmente tendo em vista que, na esmagadora maioria, os contratos celebrados são de adesão, e quem dita as regras são os fornecedores. Não bastasse esse fato, é de se salientar a necessidade do consumidor em adquirir serviços ou produtos, o que por si só o coloca em situação de desvantagem e vulnerabilidade. 69 Portanto, o Código criou um verdadeiro microssitema, com regras próprias e princípios que o norteiam, principalmente o princípio da vulnerabilidade. 2.1.1 Princípio do Devido Processo Legal De acordo com Nelson Nery Júnior, o princípio do devido processo legal é “(...) o princípio fundamental do processo civil, que entendemos como base sobre a qual todos os outros se sustentam”.159 E o autor continua seu pensamento, afirmando ser tal princípio “(...) o gênero do qual todos os outros princípios são espécies”.160 Tem-se que a Jurisdição e o processo são dois institutos indissociáveis, tanto um quanto o outro é meio indispensável à prestação da tutela jurisdicional. A própria Constituição Federal de 1988 assegura esse direito de ação dentro das garantias individuais, conforme prescreve o artigo 5º, inciso XXXV da Carta Magna, in verbis: “Artigo 5º: (...). XXXV – A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim, conforme se depreende da leitura de tal dispositivo legal, não é possível ao Estado declinar perante nenhuma causa, em conformidade com os incisos, LIV e LV, do mesmo referido artigo in verbis: 159 160 Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 32. Ibidem, mesma página. 70 “Artigo 5º: (...). LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. É no conjunto dessas normas do direito processual que todos os princípios fundamentais são consagrados, propiciando às partes a defesa de seus interesses e ao juiz todos os meios necessários para efetuar a busca da verdade real, sem que haja para tanto lesão aos direitos individuais de cada litigante.161 Nem mesmo a lei pode subtrair da proteção jurisdicional, como se viu do artigo 5º, XXXV, da Lei Maior, a reparação do ato lesivo contra direito. A proteção destinada a ele é indeclinável, quando pedida pelo respectivo titular e demonstrada a existência de dano. É a Constituição Federal que assegura solenemente a tutela jurisdicional sempre que alguma pessoa, seja ela física ou jurídica, sentir-se prejudicada, lesada ou atingida em seu direito subjetivo. Caberá, portanto, ao Poder Judiciário reprimir tal ato lesivo, se existente, todavia sempre através do processo.162 Nos dias atuais, associa-se muito a idéia de um devido processo legal à de um processo justo, e é justamente neste âmbito que atua o due process of law, atingindo a função de um mega-princípio, existindo, dentre suas funções, a de coordenar e delimitar os demais princípios que informam o processo e o procedimento. O princípio do due process of law inspira e torna realizável tanto a razoabilidade quanto a proporcionalidade, sendo que as mesmas devem prevalecer na vigência 161 162 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 27. José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 390. 71 e harmonização de todos os princípios do direito processual em vigor atualmente.163 2.1.2 Princípio do Juiz Natural A importância desse princípio é tão forte no direito pátrio, que coube extrair na íntegra os ensinamentos de Ada Pellegrini Grinover, conforme se expõe: “(...) mais do que direito subjetivo da parte e para além do conteúdo individualista dos direitos processuais, o princípio do juiz natural é garantia da própria jurisdição, seu elemento essencial, sua qualificação substancial. Sem o juiz natural, não há função jurisdicional possível”.164 No dizer de Nelson Nery Júnior: “(...) o princípio do juiz natural enquanto postulado constitucional adotado pela maioria dos países cultos, tem grande importância na garantia do Estado de Direito, bem como na manutenção dos preceitos básicos de imparcialidade do juiz na aplicação da atividade jurisdicional, atributo esse que se presta à defesa e proteção do interesse social e do interesse público geral”.165 De acordo com a informação colhida na obra de Rui Portanova, a primeira referência legal que se faz à expressão juiz natural é encontrada no artigo 17, do título II, da Lei Francesa de 24 de agosto de 1790. Segundo o autor, aos franceses também se atribui a prioridade da primeira referência constitucional no texto fundamental de 1791.166 163 164 165 166 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 27. Ada Pellegrini Grinover, O princípio do juiz natural e sua dupla garantia, p. 11-33. Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 66. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 63. 72 Todavia, a Magna Carta Inglesa de 1215, mesmo com a distribuição da justiça ainda pelos proprietários de terra e a incipiente justiça estatal, já previa sanções a condes e barões, de acordo com o disposto no artigo 21, de referida lei, e aos homens livres, de acordo com o artigo 39, após “julgamento legítimo de seus pares e pela lei da terra”. E, em conformidade com Portanova, nesse diploma legal encontrava-se a seguinte disposição: “nenhuma multa será lançada senão pelo juramento de homens honestos da vizinhança”, também inserto no artigo 39 da Magna Carta Inglesa.167 Se for observada a formação desse princípio entender-se-á entenderá que seus aspectos devem-se à proibição histórica do poder de comissão, pertencente aos textos ingleses do século XVII, do poder de evocação, das Constituições americanas, como também do poder de atribuição, dos textos constitucionais franceses.168 De acordo com o mencionado autor, essas serão as três clássicas garantias que vão constituir o conteúdo do princípio do juízo natural nas suas várias facetas e conseqüências.169 O poder de comissão se resume na instituição de órgãos jurisdicionais sem prévia previsão legal e estranhos à organização judiciária estatal, ou seja, juízos extraordinários.170 Quanto ao poder de evocação, era atribuído ao rei, de competência de julgamento a órgão diverso do previsto em lei, ainda que 167 168 169 170 Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 64. Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. 73 pertencente à organização judiciária. Em dias atuais é conhecido como derrogação de competência.171 Por fim, o poder de atribuição dava a prerrogativa de competência a órgão judiciário em razão da matéria, previamente à ocorrência do crime, assemelhando-se aos juízos especiais dos dias atuais.172 Esse princípio retrata-se amplamente acolhido pelo mundo afora. A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 prevê, em seu artigo 10, o seguinte: “Artigo 10: (...) todo homem tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir de seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele”. No direito pátrio, excetuando-se o período do Estado Novo, sempre houve previsão legal acerca de tal princípio. Esse acolhimento ocorre na proibição de tribunais extraordinários ex post facto, ou seja, proibição de comissão e proibição de transferência de uma causa para outro tribunal, ou seja, a proibição de evocação. Assim, pode-se entender que juiz natural é aquele integrante do Poder judiciário, regularmente cercado das garantias próprias conferidas àqueles que exercem esse Poder, e, por isso mesmo, independentes e imparciais.173 171 172 173 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Francisco Cláudio de Almeida, Atividade jurisdicional: princípios aplicáveis, p. 137. 74 Rui Portanova entende que essa concepção do juiz natural no direito pátrio deva estar centralizada em fortes bases, ou seja, somente a Constituição Federal será capaz de ser denominada fonte para a fixação do que seja o juiz natural.174 O que se evidencia é que o juiz natural constitucional, e não apenas legal, é garantia e segurança para todo cidadão. Importa que a Constituição Federal, com as dificuldades naturais para sua modificação, garanta a existência em caráter permanente, de um poder estatal preestabelecido que tenha a exclusividade de jurisdição. Esse princípio influencia tanto os subprincípios ligados à jurisdição, quanto os ligados à ação, à defesa e ao processo. Essa aturalidade atribuída ao juiz surge do direito da parte de buscar o bem da vida que a própria Constituição lhe assegura, vez que a mesma impede, tacitamente, que lei inferior retire da apreciação do Poder Judiciário a investigação de lesão a direito individual. Desse odo, o curso procedimental se dará em conformidade com a lei anterior, sem que haja qualquer prejuízo futuro da incidência imediata da lei processual. Assim, será o processo presidido por um juiz imparcial, resguardado de garantias, cuja competência também ficou determinada em legislação previamente estabelecida.175 No Brasil, não se admitem os chamados tribunais de exceção, em virtude da aplicação do princípio do juiz natural. É cediço que alguns tribunais têm plano de divisão interna de funções, tais como câmaras especializadas em determinadas matérias, 174 175 Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 65. Ibidem, p. 66. 75 todavia, essas disribuições de tarefas jurisdicionais devem ser encaradas, apenas como preferencialidade e não como exclusividade de determinada câmara sobre determinado assunto. Os tribunais configuram um todo e, as câmaras suas frações. A própria justiça brasileira tem instituído justiças especializadas como a Federal, do Trabalho, Eleitoral e Militar. Na doutrina pátria existe um certo dissenso sobre certos fatos, que estariam englobados, ou não, na vasta gama de garantias abrangidas pelo princípio constitucional, impedindo os denominados tribunais de exceção. Exemplificando, poder-se-ao citar os casos que a Constituição cria tribunais especializados ou modifica competências antes atribuídas à justiça ordinária. Ada Pellegrini Grinover faz uma distinção acerca desse assunto: não violará o princípio do juiz natural as meras modificações de competência entre os diversos órgãos da justiça comum. Contudo, resta afrontoso ao princípio modificar a competência sobre casos pendentes iniciados na justiça comum em favor da justiça especializada criada pela Constituição. Nessa hipótese, o novo órgão judiciário só estaria apto a atender casos futuros. Com apoio em doutrina alienígena, a autora justifica sua posição entendendo que o princípio do juiz natural limita-se à esfera do cânone (tempus regit actum) em virtude da qual a lei do processo consiste nas normas vigentes no momento em que se procede.176 Nelson Nery Júnior admite ser a garantia de tal princípio tridimensional, ou seja, não haverá juízo ou tribunal ad hoc, isto é, tribunais de exceção, corroborando o posicionamento dos autores já mencionados neste estudo; todos têm o direito de submeter-se a julgamento, seja ele civil ou 176 Ada Pellegrinin Grinover, O princípio do juiz natural e sua dupla garantia, p. 23. 76 penal, por um juiz competente, previamente constituído nas formas legais, e esse juiz, deverá, sobretudo, ser imparcial.177 Quando a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVII, estabelece que “não haverá juízo ou tribunal de exceção” e no mesmo artigo, inciso LIII, prescreve que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”, adotou o princípio do juiz e do promotor natural, denominado no direito alemão de princípio do juiz legal, e absorvido pelo direito português. Desse modo, a proibição da existência e criação de tribunais de exceção é o complemento do princípio do juiz natural.178 Assim, juízo especial admitido pela Constituição e não violador do princípio do juiz natural, é aquele previsto antecedentemente, abstrato e geral para julgar matéria específica prevista em Lei. Não se pode confundir tribunal de exceção com prerrogativa de foro. No último caso a lei favorece uma das partes litigantes em virtude do interesse público, nos casos previstos em leis gerais e especiais. Não há falar-se em privilégio, mas tão somente numa garantia assegurada à independência e imparcialidade da justiça, com vistas à proteção do interesse público geral. Do mesmo modo ocorre com os foros constituídos por intermédio de convenção das partes, os chamados foro de eleição, desde que contratados dentro dos limites legais, versem sobre matéria de competência relativa, não ofendam o princípio do juiz natural, vez que a competência relativa, previamente estabelecida em lei processual, pode ser objeto de prorrogação, por acordo das partes ou pela inércia do réu que deixar de argüir 177 178 Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 67. Ibidem, mesma página. 77 exceção de incompetência. Este tipo de competência relativa engloba-se no plano dos direitos disponíveis das partes, excetuando-se dos preceitos de ordem pública.179 Nelson Nery Júnior menciona não ser correto dizer que o juiz natural é apenas aquele do lugar em que deve ser julgada a causa, competente em razão do território. Essa naturalidade que se menciona é apenas a qualificação substancial do juiz, podendo ser aquele com competência material ou territorial, previamente investido pelas leis processuais e de organização judiciária. Tal princípio é aplicável, indistintamente, nos processos civil, penal e administrativo.180 O princípio do juiz natural, como visto, está relacionado com a competência do juízo e a imparcialidade do juiz. Quanto à competência, o Código de Defesa do Consumidor insere novidades em relação às suas regras, tanto na esfera individual quanto coletiva, senão vejamos: Em seu artigo 101, inciso I, estabelece que, no caso de ação de responsabilidade civil do fornecedor a ação pode ser proposta no domicílio do autor, em prestígio ao princípio da vulnerabilidade, pois a finalidade é propiciar a facilitação de seu acesso à justiça, conferindo maior igualdade entre as partes. Sendo certo que não se aplica à responsabilidade contratual, mas tão somente às modalidades de responsabilidade civil do 179 180 Ibidem, p. 68-69. Ibidem, p. 72. 78 fornecedor de produtos e serviços, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, seja por ato próprio ou por ato de terceiro. É oportuno ressaltar que eventual cláusula de eleição de foro fora do domicílio do consumidor é, de acordo com o artigo 51, cláusula abusiva e ao conjugarmos o art. 1º do CDC, in verbis: “o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social”, chegaremos a conclusão que o juiz deve de officio declarar a nulidade da cláusula. Outra regra própria de competência está prevista no art. 93 do Código de Defesa do Consumidor, que excepciona a competência da justiça federal, nos limites traçados pela Constituição Federal, em seus artigos 108 e 109. Portanto, a competência da justiça estadual se verifica residualmente. Com efeito, no que se refere às ações, em que se aplicam o art. 93 do Código de Defesa do Consumidor e o art. 2º da Lei nº 7.347/85, a competência é territorial e funcional, e assim, absoluta. Optou o Código de Defesa do Consumidor por atribuir a competência ao foro onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local, e ao foro da capital do Estado ou do Distrito Federal, quando o dano for de âmbito regional ou nacional. Quando o dano ou ameaça de dano ocorrer nos limites de uma comarca, esta será a sede do juízo competente para o julgamento da ação. Se o resultado danoso, contudo, ultrapassar os limites de uma comarca, a competência se estabelecerá por prevenção, nos termos dos arts. 105 e 106 do 79 Código de Processo Civil. Sendo regional o dano, atingindo consumidores de mais de um Estado, ou nacional a competência será do foro da capital do Estado ou do Distrito Federal.181 Patricia Miranda Pizzol afirma que: “Se a União Federal tiver interesse na causa, mas não houver na comarca do local onde ocorreu o fato lesivo vara da Justiça Federal, a competência será da Justiça Estadual”.182 O artigo 98 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é competente para a execução em ações coletivas o juízo da liquidação da sentença ou da ação condenatória, no caso de execução individual. Ora, o art. 101, I, prestigia o acesso à Justiça do Consumidor estabelecendo que a ação pode ser proposta no seu domicílio. Portanto, entendemos que o consumidor pode e deve executar a sentença individualmente em seu domicílio, sob pena de se negar a amplitude de acesso à justiça preconizada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 2.1.3 Princípio do Acesso à Justiça Esse princípio garante que todo cidadão tem o direito à tutela jurisdicional adequada e não apenas à tutela jurisdicional, de tal modo que toda lei infraconstitucional, que impedir a concessão dessa tutela, deverá ser interpretada como ofensiva ao direito constitucional que assegura o direito de ação.183 181 182 183 Vidal Serrano Nunes Júnior, Código de defesa do consumidor interpretado, p .144. Patricia Miranda Pizzol, Liquidação nas ações coletivas, p. 187. Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 99. 80 Essa expressão vaga do que seja o acesso à justiça permite que sejam extraídos dois sentidos fundamentais: o primeiro que atribui a justiça o mesmo sentido e conteúdo que o Poder Judiciário, fazendo com que expressões como acesso à justiça e acesso ao Poder Judiciário se tornem sinônimas; o segundo, extraído de uma visão mais axiológica da expressão justiça , engloba o acesso a ela como o acesso a uma determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano.184 Tal princípio adota uma visão axiológica da expressão justiça, haja vista ser mais abrangente, e ainda estar na vertente dos princípios, inserido no movimento de efetividade dos direitos sociais.185 Cappelletti, em análise ao movimento de acesso à justiça, encontrou três ondas que invadem em número crescente os Estados contemporâneos. Segundo ele, a primeira onda refere-se à pobreza como obstáculo ao acesso ao judiciário. Não se refere apenas à pobreza econômica, como se costuma imaginar, mas a todos os efeitos culturais, sociais e jurídicos dela decorrentes, que levam ao desconhecimento dos seus direitos e à descrença na existência da própria justiça. Soluções são buscadas antes do início dos processos, como a assistência jurídica, e durante a causa, como o patrocínio para a ação, defesa e demais despesas processuais.186 A segunda onda, analisada por Cappelletti, refere-se à proteção aos interesses difusos, frutos dos fenômenos de massa, em que o problema social reside não apenas nas hipóteses consumeristas, nas fraudes publicitárias, na adulteração de gêneros alimentícios, na poluição que acomete 184 185 186 Horácio Wanderlei Rodrigues, Acesso à justiça no direito processual brasileiro, p. 28. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 112. Mauro Cappelletti, Acesso à justiça, p. 16. 81 grandes e médias metrópoles, mas também nas minorias raciais e em outras minorias existentes na sociedade atual. Existe um alerta para a insuficiência de mera aprovação de leis de ordem processual ou material sobre o assunto, sem a necessária mudança de mentalidade do jurista. Faz-se necessário atentar aos efeitos de princípios consagrados, entre eles a divisão do direito público e privado, legitimação ativa e extensão da coisa julgada.187 A terceira onda refere-se ao risco da burocratização do Poder Judiciário. Aqui, encontram-se duas propostas, a primeira delas, menciona o referido autor, prescreve uma atuação mais humana do julgador para acolher os consumidores pobres que acorrem ao Judiciário, assim como protegê-los sem recusar-lhes a justiça; a segunda, contempla a simplificação do procedimento e dos atos judiciais além do próprio direito substancial.188 Eleva-se o acesso à justiça como princípio informativo da ação e da defesa, na perspectiva de se colocar o Poder Judiciário no lugar onde os cidadãos possam fazer valer seus direitos individuais e sociais.189 Assim, é “(...) imprescindível encarar o processo, como nada mais do que um instrumento estatal, como algo de que o Estado se serve para a consecução dos objetivos políticos que se situam por detrás da própria lei”.190 Fundamental se faz o comentário de Kazuo Watanabe, onde se diz que: 187 188 189 190 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 113. Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade no processo, p. 235. 82 “(...) a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa”.191 Em conformidade com o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Embora o destinatário principal dessa norma seja o legislador, o comando constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador e ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão.192 Entretanto, oportuno se faz mencionar neste estudo que o direito à tutela jurisdicional, tão conclamado nesta oportunidade, não deve ser confundido com o direito de petição. Este último é concedido para que se possa reclamar, junto aos poderes públicos, a defesa de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder, sendo, sobretudo, um direito político, a ser exercido por qualquer pessoa, até mesmo a jurídica, sem que haja necessidade de uma forma procedimental adequada, vez que sua maior característica é, sem dúvida, a informalidade. Necessita-se apenas da identificação do peticionário e o conteúdo do que se pretende de determinado órgão público, a quem se dirige o pedido. A diferença primordial entre estes dois institutos está centrada no direito de ação, da necessidade de vir a juízo pleitear a tutela jurisdicional. Já que o assunto versa sobre direito pessoal, deve-se, para tanto, preencher a condição do interesse processual, enquanto que para a legitimação do direito de petição não existe a necessidade de se comprovar que o peticionário tenha sofrido gravame pessoal ou lesão em seu direito, já 191 192 Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e Kazuo Watanabe, Acesso à justiça e sociedade moderna, p. 128. Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 98. 83 que se caracteriza como direito de participação política, estando presente o interesse geral no cumprimento da ordem jurídica.193 O direito de ação, do qual trata este tópico, é um direito público subjetivo, que pode ser exercitável até mesmo contra o Estado, que não poderá recusar-se a prestar a tutela jurisdicional para a qual é chamado. O juiz, por seu turno, deverá aplicar o direito ao caso concreto, não lhe sendo exigido que sentencie favoravelmente àquele que trouxe o litígio a lume. Desse modo, percebe-se que o direito de ação, aqui conclamado, é um direito cívico e abstrato, subjetivo à sentença, seja ela de acolhimento ou de rejeição da pretensão deduzida a juízo, por óbvio, desde que estejam presentes as condições da ação. Restando alcançado esse direito subjetivo, quando se consegue o objeto desse desejo, qual seja, o da obtenção da tutela jurisdicional do Estado, esta realização do direito subjetivo acontecerá assim que pronunciada a sentença, favorável, ou não, ao autor.194 O consumidor enfrenta várias dificuldades em buscar a efetiva tutela jurisdicional de seus direitos, seja pelo custo do processo, pela morosidade da justiça e até mesmo pela sua ignorância sobre os seus próprios direitos. O Código de Defesa do Consumidor, na tentativa de tornar mais efetivo o acesso à Justiça do consumidor, coloca à disposição do mesmo para a defesa de seus direitos: a) a assistência judiciária integral e gratuita àqueles que não possam contratar um advogado; 193 194 José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da república portuguesa anotada, p. 286. Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 103-104. 84 b) as promotorias especializadas para a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos; c) delegacias de polícia especializadas em investigações de crimes contra as relações de consumo; d) o Juizado Especial de Pequenas Causas; e) a concessão de estímulos à constituição de associações de defesa dos consumidores. 2.1.4 Princípio do Contraditório Essencial o ensinamento de Rui Portanova sobre este princípio, in verbis: “O princípio do contraditório é elemento essencial ao processo. Mais do que isto, pode-se dizer que é inerente ao próprio entendimento do que seja processo democrático, pois está implícita a participação do indivíduo na preparação do ato de poder. A importância do contraditório irradia-se para todos os termos do processo. Tanto assim que conceitos como ação, parte e devido processo legal, são integrados pela bilateralidade. Em verdade, só não incluímos o contraditório como princípio informativo, por considerá-lo uma das facetas da igualdade”.195 O autor continua seu ensinamento prescrevendo que o princípio do contraditório possui assentamento em fundamentos lógicos e políticos. Para ele é a bilateralidade da ação e da própria pretensão, que gera a 195 Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 160-161. 85 bilateralidade do processo e aqui cabe salientar que a contradição é recíproca, sendo este o fundamento lógico.196 Rui Portanova considera a existência do princípio do contraditório antes da citação e assume o posicionamento de que o mesmo não se encerra depois da sentença. Tal afirmação se justifica com o trecho extraído de sua obra, ipsis literis: “Se já na elaboração da inicial a idéia de bilateralidade tem seus reflexos, por igual a sentença, com a necessidade de motivação, é informada pelo princípio. Com efeito, ao julgar, o juiz reflete a importância que deu ao direito da parte de influir em seu convencimento e esclarecer os fatos da causa”.197 E, de forma sintética e clara, o autor conclui seu pensamento defendendo a idéia de que, enquanto na concepção tradicional, o contraditório é visto estaticamente, em correspondência com a igualdade formal das partes, do ponto de vista crítico, menos individualista e mais dinâmico, o princípio do contraditório postula a necessidade de ser a eqüidistância do juiz adequadamente temperada. Para ele, o plano de uma concreta aplicabilidade da garantia do contraditório tem uma relação íntima com o princípio da igualdade, em sua dimensão dinâmica das desigualdades, sejam elas jurídicas ou de fato, entre os sujeitos do processo.198 É necessário assegurar aos litigantes isonomia no exercício de suas faculdades processuais. Todavia, o princípio do contraditório não existirá e nem prevalecerá por si só, deverá, isto sim, harmonizar-se com os outros princípios processuais.199 196 197 198 199 Ibidem, p. 161. Ibidem, p. 163. Ibidem, p. 163-164. Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 29. 86 E, nos dias de hoje, existe uma aplicação muito ampla do princípio do contraditório, conforme se depreende dos ensinamentos de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, em sua obra O juiz e o princípio do contraditório, conforme trecho abaixo transcrito: “Por princípio as partes não podem ser surpreendidas por decisão que se apóie numa visão jurídica que não tinham percebido ou tinham considerado sem maior significado. Nesse sentido, mesmo o conhecimento de ofício, pelo juiz deve ser precedido de prévio conhecimento da parte. Além disso, a parte deve tomar conhecimento de eventual novo rumo que o juízo irá tomar. Aqui dá-se a necessidade do contraditório para a liberdade de escolha do direito pelo juiz consubstanciada no iura novit cúria”.200 Conforme assinala José Carlos Barbosa Moreira, para que se tenha um contraditório pleno e efetivo, necessária se faz a possibilidade de um contato pessoal entre o juiz e o advogado das partes e, em casos especiais, a entrevista isolada do juiz com a testemunha, sendo essas situações por vezes observadas nos dias atuais.201 Poderia se questionar então, em algum momento, se o princípio do contraditório não haveria de inviabilizar a concessão de medidas liminares sem que houvesse a audiência da parte contrária. Todavia, a interpretação sistemática do texto constitucional não é compatível com tal conclusão, vez que um dos pressupostos para a concessão de medidas liminares é justamente o do periculum in mora, vale dizer, o receio de que a concessão do benefício pleiteado após a ciência da parte contrária e, eventualmente, somente ao final, venha a se tornar ineficaz. Sobretudo, se tal perigo for ignorado, sob a justificativa de estar fazendo jus ao princípio do contraditório, estar-se-á negando, em vias práticas, o próprio direito de ação, 200 201 Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, O juiz e o princípio do contraditório, p. 07-14. José Carlos Barbosa Moreira, A garantia do contraditório na atividade de instrução, p. 237. 87 na medida em que a parte contrária, ciente da demanda contra si proposta, poderá tomar medidas que inviabilizem, na esfera prática, a outorga do direito.202 Nelson Nery Júnior observa corretamente que, no processo civil brasileiro, o princípio do contraditório se manifesta em todos os três tipos clássicos de processo adotados pelo nosso ordenamento positivo, quais sejam, o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Tal princípio atuará sempre no processo civil, sendo indiferente tratar-se de processo desenvolvido por meio de procedimento de jurisdição contenciosa ou de jurisdição voluntária. 203 Com o contraditório, torna-se inviolável o direito do litigante de propugnar, durante o processo, com armas iguais ás de seu adversário, a defesa de seus interesses, a fim de convencer o juiz com provas e alegações de que a solução da lide lhe deve ser favorável.204 Assim, a principal maneira de se dar tratamento igual às partes é por meio da utilização do princípio do contraditório, amplamente difundido e especialmente assegurado pela constituição Federal de 1988, como garantia fundamental, em seu artigo 5º, inciso LV, consistente na necessidade de ouvir a pessoa ante a qual será proferida a decisão, podendo a mesma defender-se e pronunciar-se durante todo o curso do processo, não podendo, contudo, haver privilégios de qualquer tipo. 202 203 204 Neste sentido o ensinamento de Angélica Arruda Alvim, Princípios constitucionais de processo, p. 33. Nelson Nery Júnior, Princípios do processo civil na constituição federal, p. 142. José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 392. 88 Apesar de os princípios processuais serem passíveis de exceções, o princípio do contraditório é absoluto, devendo sempre ser observado, sob pena de nulidade do processo.205 Em decorrência desse princípio, toda e qualquer decisão que tiver de ser proferida, somente o será, depois de ouvidas ambas as partes em litígio; a relação processual que ali se configura somente estará completa após citação regular do demandado e, por fim, a sentença proferida pelo juiz somente alcançará as pessoas que forem partes no processo, ou seus sucessores. 2.1.5 Princípio da Recorribilidade e do Duplo Grau de Jurisdição O surgimento do duplo grau de jurisdição deu-se com indiscutível finalidade mantenedora de ideologia. Surgiu primeiramente nos sistemas hierarquizados e rígidos de governo. Eram convenientes à ordem política, o conhecimento e a eventual revisão das decisões dos níveis inferiores. Esse interesse foi uma constante e de imediato perceptível na Roma antiga, onde povo e poder dividiam as funções jurisdicionais. Sua evolução deu-se no período de cristianização do direito, com fulcro na possibilidade de erro e como forma de controle disciplinar, político e doutrinário. Contudo, foi na Revolução Francesa, que a estrutura jurídica fora exaltada, o princípio imortalizado e existente até os dias atuais.206 Tal princípio foi criado para evitar ou emendar os erros e falhas inerentes ao ser humano. O legislador pátrio permitiu que todo e 205 206 Virgilio Andreoli, Lezioni di diritto processuale civile, p. 21. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 264. 89 qualquer ato do juiz que prejudique ou possa prejudicar direitos ou interesses das partes, deva ser recorrível. Por óbvio, todo tipo de recurso deverá observar as disposições legais, as formas e as oportunidades para sua interposição, o que torna claro, que não interessa, via de regra, nada que frustre o objetivo de uma rápida prestação da tutela jurisdicional. Todavia, de nada adiantaria a possibilidade de recurso se não houvesse outro órgão que pudesse revisionar a decisão que se impugna, de tal forma que, além do princípio da recorribilidade, existe a dualidade de instâncias ou, como acima especificado, o princípio do duplo grau de jurisdição. Elogiável se faz o comentário de Lourival Gonçalves de Oliveira acerca deste princípio: “Por ele pretendia abrir as portas às reformas de sentenças de juízes viciados, permitir aperfeiçoamento do Judiciário e suas decisões partindo da idéia de que menor a possibilidade de erro em segunda instância que em uma única, e atender a anseios psicológicos do vencido na demanda. O conceito francês, carregado de ideologia, prosperou pelo mundo misturando-se muitas vezes com caracteres de sua antiga roupagem política”.207 Tal princípio nada mais deseja do que ver atendido o pedido da parte, de ter sua pretensão conhecida e julgada por outro juízo, quando não tenha se conformado com a decisão do primeiro julgamento. Humberto Theodoro Júnior justifica por esse princípio a necessidade de órgãos judiciais de competência hierárquica diferente: os de 207 Lourival Gonçalves de Oliveira, Duplo grau de jurisdição obrigatório e as entidades de direito público, p. 155-165. 90 primeiro grau, também chamados juízos singulares, quais sejam os juízos da causa; e os de segundo grau, também chamados de Tribunais Superiores, que são os juízos dos recursos.208 Existem, todavia, casos que escapam desse princípio, feitos de competência originária dos tribunais. Assim, em virtude da composição desse órgão que reúne juristas de lapidado saber jurídico, bem como elevada experiência, dispensa-se nessa espécie a garantia da dualidade de instâncias.209 Cumpre mencionar que tal princípio é voluntário. Em virtude direta do princípio da demanda, ninguém pode obrigar que a parte recorra, ou que ela deixe de recorrer. Cabe à parte que se sentir prejudicada submeter tal decisão a reexame, ou não.210 Importante ressaltar a discussão sobre a existência ou não do princípio do duplo grau de jurisdição. Segundo Orestes Nestor de Souza Laspro em sua obra Duplo grau de jurisdição no direito processual civil: “(...) conclui-se que o duplo grau de jurisdição não é um direito constitucional e que sua simples supressão não levaria ao afastamento das garantias fundamentais das partes, em especial no que se refere ao devido processo legal”.211 Nelson Nery Júnior em Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos, entende que: 208 209 210 211 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 29. Ibidem, mesma página. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 266. Orestes Nestor de Souza Laspro, Duplo grau de jurisdição no direito processual civil, p. 172. 91 “(...) muito embora o princípio do duplo grau de jurisdição esteja previsto na CF, não tem incidência ilimitada, como ocorria no sistema da Constituição Imperial. De todo modo está garantido pela lei maior. Quer dizer, a lei ordinária não poderá suprimir recursos, pura e simplesmente”.212 Entendemos que a simples menção na Constituição Federal a Tribunais Superiores não traz, implicitamente, garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição para todos os processos, haja vista as causas de competência originária dos tribunais. Como já salientamos, garantir que toda decisão de primeiro grau seja revista por nossos tribunais seria punir o autor que tem razão, em decorrência da já conhecida demora no julgamento dos recursos, mormente nas relações de consumo onde temos litigantes não contumazes e sem possibilidades financeiras de aguardar uma decisão definitiva por cinco ou dez anos. 2.1.6 Princípio da Boa-Fé e Lealdade Processual Prevalece nesse princípio que todos os sujeitos processuais deverão manter uma conduta ética adequada, de acordo com os deveres de verdade, moralidade e probidade em todas as fases do procedimento.213 É imprescindível que o comportamento das pessoas em sociedade seja norteado pela boa-fé, de tal modo que processualmente não poderia ser diferente. O processo não deve e não pode ser encarado como um duelo, mas apenas um meio pelo qual as pessoas buscam a verdade, respeitando-se e cooperando-se de forma mútua. Este é um princípio de caráter indiscutivelmente ético que, sob a ótica do interesse público, 212 213 Nelson Nery Júnior, Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos, p. 34. Ibidem, p. 157. 92 resume-se num prolongamento da ética que deve nortear a vida em sociedade.214 Alcides de Mendonça Lima mostra que o direito processual visa, precipuamente, a restabelecer o direito material quando violado. Assim, os meios dos quais se serve para atingir aquele objetivo não podem privilegiar situações ímprobas, maculando o próprio resultado pretendido.215 Conforme assevera Rui Portanova, não se trata de exigir ingenuamente que as partes ofereçam argumentos para que a outra parte triunfe. Trata-se, sim, de evitar que a vitória venha eivada de malícias, fraudes, espertezas, dolo, improbidade, embuste, artifícios, mentiras ou mesmo desonestidades.216 Por vezes distingue-se o princípio da boa-fé do princípio da probidade. Enquanto o primeiro é genérico e se refere à justiça, o segundo é mais específico e diz a exigência de que as partes declarem as circunstâncias fáticas de modo completo e determinado. Não existe má-fé maior do que demandar com mentiras.217 Admissível será que as partes demandem com habilidade e um grau tolerável de malícia estratégica no processo, o que nunca poderá ser confundido com a má-fé.218 Assim, com vistas a solucionar o litígio, tanto partes, quanto o Estado, tentam incessantemente faze-lo a contento. Todavia, se de 214 215 216 217 218 Ibidem, p. 156-157. Alcides de Mendonça Lima, O princípio da probidade no código de processo civil brasileiro, p. 15-42. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 157. Ibidem, 158. Cândido Rangel Dinamarco, A instrumentalidade do processo, p. 410. 93 um lado as partes se preocupam em defender seus interesses privados, o Estado tem um interesse maior que é o da pacificação social, com uma justa composição do litígio e a prevalência do império da ordem jurídica. No dizer de Humberto Theodoro Júnior, o Estado e a sociedade estão empenhados para que o processo seja eficaz, reto, prestigiado, útil ao seu elevado desígnio. Por isso que a lei processual se preocupa em assentar os procedimentos á luz dos princípios da boa-fé e da lealdade das partes e do juiz.219 O Código de Processo Civil veda expressamente qualquer ato fraudulento, de acordo com o disposto em seu artigo 129, conforme segue: “Artigo 129: Convencendo-se, pelas circunstâncias da causa, de que o autor e réu se serviram do processo para praticar ato simulado ou conseguir fim proibido por lei, o juiz proferirá sentença que obste aos objetivos das partes”.220 Evidentemente que a lei não tolera a má-fé e o artigo mencionado é prova de que o juiz esta provido de instrumentos que vão contra a fraude processual. As intenções do legislador em reprimir a litigância de máfé e zelar pelo princípio da boa-fé não se restringem apenas a esse artigo, mas também aos artigos 16 e 18 do mencionado diploma legal, conforme se expõe: “Artigo 16: Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente”.221 219 220 221 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 30. Nelson Nery Júnior, Código de processo civil comentado, p. 584. Ibidem, p. 396. 94 E ainda: “Artigo 18: O juiz ou tribunal, de oficio ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não excedente a um por cento (1%) sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. § 1º – Quando forem dois ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2º – O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em quantia não superior a vinte por cento (20%) sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento”.222 Assim, para José Frederico Marques, o Código de Processo Civil em vigor, na esteira do que o antecedeu e impregnado de alto sentido ético, procura impor aos litigantes uma conduta condigna para que as atividades processuais se desenvolvam imunes de abusos. Consistindo nisto o princípio da lealdade processual.223 Nas relações de consumo se verifica constantemente o abuso do poder econômico do fornecedor em relação ao consumidor, recorrendo aquele, indistintamente, de decisões cujo conteúdo é composto de matérias já sumuladas por nossos tribunais, objetivando simplesmente ganhar tempo, procrastinar o feito para, em decorrência do tempo, impor ao consumidor acordos nos quais este, pelo seu menor poderio econômico acaba aceitando muito menos do que tem direito, ou seja, o fornecedor acaba jogando com o tempo, com a demora na prestação jurisdicional para desestimular o consumidor a buscar seus direitos em juízo. 222 223 Ibidem, p. 401. José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 397. 95 Como o Código de Processo se aplica subsidiariamente ao Código de Defesa do Consumidor, todas as regras processuais que visam evitar ou punir o litigante de má-fé devem ser aplicadas nas relações de consumo. Tratando-se de ações coletivas, o legislador procurou facilitar ao máximo o acesso à justiça, tanto que estabeleceu no art. 87 do CDC que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, inclusive honorários advocatícios, salvo em casos de litigância de má-fé. 2.1.7 Princípio da Verdade Real Não existe nos dias atuais provas de valor previamente hierarquizado, exceto nos atos solenes em que a forma é de sua própria substância. Desse modo, quando o juiz proferir uma sentença, deverá antes ter formado seu convencimento livremente, dando valor às provas em conformidade com critérios lógicos, jamais se declinando de fundamentar as suas decisões, em virtude do disposto no artigo 131 do Código de Processo Civil, in verbis: “Artigo 131: O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento”.224 Isto não significa que o juiz tenha o direito de ser arbitrário, conforme assevera Theodoro Júnior: 224 Ibidem, p. 587. 96 “(...) a finalidade do processo é a justa composição do litígio e esta só pode ser alcançada quando se baseie na verdade real ou material, e não na presumida por prévios padrões de avaliação dos elementos probatórios”.225 Ousamos discordar do Mestre Theodoro Júnior, pois o juiz deve pesar quem são as partes no processo, quais são as possibilidades de manter uma lide, os fatores econômicos e sociais que envolvem as partes. Tratando-se de ser a parte o consumidor, é notória a diferença material e processual do fornecedor. Portanto, o tempo é fundamental para a eficácia da tutela jurisdicional prestada, e assim, entendemos ser necessário o juiz repartir o ônus da demora processual entre autor e réu e, em caso de probabilidade de certeza do direito do autor, deve antecipar de plano a tutela pretendida, entregando o bem da vida a parte, até mesmo de ofício em casos excepcionais. Levando-se em consideração que o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, os poderes instrutórios do juiz devem ser exercidos com maior elasticidade, mormente, tratando-se de pessoa vulnerável e, possivelmente, hipossuficiente economicamente, culturalmente ou tecnicamente. O juiz deve procurar de todas as formas fazer com que sejam produzidas todas as provas necessárias à sua efetiva proteção, como estabelece o próprio Código em seu artigo primeiro. 225 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 30. 97 2.1.8 Princípio da Oralidade É sabido que a discussão oral nas audiências acerca da causa é importante, ao passo de se concentrar a instrução e o julgamento dentro de um número pequeno de atos processuais. Adotam-se, então, elementos que caracterizam esse processo oral, tais como a identidade física do juiz, no sentido de dirigir o processo do início até final julgamento; a concentração, consistente em realizar, em poucas audiências, a produção de provas e o julgamento célere da causa; e a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, visando a conter separação do processo ou interrupção contínua, por meio da utilização de recursos que devolvam ao tribunal o julgamento impugnado.226 O CPC brasileiro adotou a oralidade com certas atenuações, em decorrência das peculiaridades pertinentes à realidade brasileira e em virtude das restrições doutrinárias feitas ao rigor do princípio. Existem, nesse diploma legal, limitações à obrigatoriedade da identidade física do juiz, como pode ser observado com a leitura do artigo 132 do texto de lei em referência: “Artigo 132: O juiz, titular ou substituto, que concluir a audiência julgará a lide, salvo se estiver convocado, licenciado, afastado por qualquer motivo, promovido ou aposentado, casos em que passará os autos ao seu sucessor. Parágrafo único: Em qualquer hipótese, o juiz que proferir a sentença, se entender necessário, poderá mandar repetir as provas já produzidas”.227 Existem, ainda, casos em que, em virtude da economia processual, far-se-á o julgamento antecipado, sem a necessidade da audiência 226 227 Alfredo Buzaid, Exposição de motivos, p. 13. Nelson Nery Júnior, Código de processo civil comentado, p. 588. 98 de instrução e julgamento, mesmo que seja no rito ordinário. Confira-se nesta oportunidade o que prescreve o artigo 330 do Código de Processo Civil: “Artigo 330: O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência; II – quando ocorrer a revelia (artigo 319)”. Também em relação à irrecorribilidade das decisões, o Código adotou uma orientação totalmente contrária ao princípio da oralidade pura, vez que admite o agravo de instrumento de todas as decisões proferidas ao longo do curso processual, conforme orientação contida no artigo 522, ainda que sem o efeito suspensivo, consagrado no artigo 497. Mesmo aqueles que defendem a oralidade, não exigem a absoluta irrecorribilidade das decisões interlocutórias. O que existe de inconciliável com a oralidade processual é a recorribilidade em apartado, praticada de forma que as impugnações dos incidentes acarretem uma paralisação do processo. Por esse motivo prefere-se que o ataque a tais decisões ocorra juntamente com a impugnação ao julgamento da causa, como preliminares. Tendo, porém, o Código adotado um regime de recurso para as interlocutórias, que não interfere no curso do processo, não se lhe atribui, na espécie, uma oposição à oralidade.228 Cumpre ressaltar que o efeito substitutivo dos recursos no sistema brasileiro põe uma pá de cal no princípio da oralidade, pois transforma o juiz de primeiro grau em mero instrutor do processo. É certo que deveríamos caminhar no sentido contrário, ou seja, prestigiar as decisões de 228 Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 31. 99 primeiro grau, haja vista que o juiz de primeiro grau é que teve contato com as partes, decidindo quase sempre com acerto. 2.1.9 Princípio da Publicidade De acordo com os ensinamentos de Arruda Alvim, o princípio da publicidade resume-se antes de qualquer coisa num princípio ético.229 Acerca desse princípio, o autor menciona que: “A publicidade é garantia para o povo de uma justiça ‘justa’, que nada tem a esconder; e, por outro lado, é também garantia para a própria Magistratura diante do mesmo povo, pois agindo publicamente, permite a verificação de seus atos”.230 Existe um interesse público muito grande na prestação jurisdicional, consistente na garantia da paz e harmonia social, procurada através da manutenção da ordem jurídica. Posto isto, a justiça não pode ser secreta, nem as decisões podem ser arbitrárias, já que lhe é exigida sempre a motivação, sob pena de nulidade. Por óbvio, esse princípio não impedirá que alguns processos corram em segredo de justiça, pelo interesse das próprias partes, em 229 230 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 397. Ibidem, p. 99. 100 conformidade com o artigo 155 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito: “Artigo 155: Os atos processuais são públicos. Correm, todavia, em segredo de justiça os processos: I – em que exigir o interesse público; II – que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores”. Esse princípio se resume no direito à discussão das provas, na obrigatoriedade de motivação de sentença e sua publicação e na possibilidade de intervenção das partes e seus procuradores em todos os atos processuais e em todas as fases do procedimento. Rui Portanova, em sua obra Princípios de processo civil, afirma fazer parte da essência de um processo a sua publicidade. Para ele, a abertura para o conhecimento público dos atos não é uma qualidade só do processo, mas de todo e qualquer sistema de direito que não se embase na força, na exceção e no autoritarismo. Continua, ao frisar o que é notório, a democracia não se compraz com o secreto. A publicidade deve ser do processo e não no processo por razões óbvias, como salienta o respeitável autor.231 Ainda, completando o seu raciocínio, menciona que a publicidade é um anteparo a qualquer investida contra a autoridade moral dos julgamentos, pois de acordo com seu entendimento o ato público garante mais confiança e respeito, além de viabilizar a fiscalização sobre as atividades dos juízes.232 231 232 Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 167. Ibidem, mesma página. 101 2.1.10 Princípio da Economia Processual É necessário que a Justiça oferecida às partes seja barata e rápida. Seria bom que o processo fosse gratuito, de fácil acesso a todos os cidadãos, de maneira isonômica. Infelizmente, nem mesmo os países detentores das melhores economias conseguiram atingir esse objetivo, sendo que por esse motivo, as despesas correm por conta dos litigantes, ressalvados os casos em que se comprove a pobreza do litigante e lhe é fornecida a assistência jurídica gratuita.233 Existem medidas práticas que são consideradas como aplicações desse princípio, tais como o indeferimento da inicial de pronto, quando a causa não reunir os requisitos estipulados em lei; a acumulação de causas conexas num só processo, possibilidade de antecipar o julgamento de mérito dentre várias outras, tudo buscando celeridade e economia processual. 2.1.11 Princípio da Eventualidade ou da Preclusão O processo é dividido em séries de fases e momentos, nos quais as atividades se dividem tanto entre as partes, quanto entre o juiz. Cada fase prepara a seguinte, não podendo mais retornar para a anterior depois que a mesma foi exaurida, visando à conclusão do mesmo. Através desse princípio, cada faculdade processual deverá ser exercida dentro da fase adequada, sendo que poderá ser perdida a oportunidade de se praticar determinado ato. 233 A este respeito confira-se o que prescreve a Lei nº 1.060/50. 102 Desse modo, a preclusão nada mais é do que a perda da faculdade de praticar determinado ato, num momento adequado, pois foi escoado o momento em que se deveria fazer uso do direito que lhe fora conferido. Habitualmente, divide-se o processo em quatro fases, quais sejam: a postulação, aquela fase em que os autores e réus formularão seus pedidos perante a autoridade judiciária competente; o saneamento, que ocorrerá com a solução das questões processuais e formais antes de adentrar ao mérito propriamente dito; a instrução, onde haverá a produção de provas que se pretende apresentar visando a alcançar o pedido efetuado, bem como a produção das alegações finais cabíveis ao caso concreto; e, por fim, o julgamento, que é a solução da causa, o mérito em si, a fase na qual o juiz dirá quem é o detentor do direito em litígio, quem é a parte vencedora da demanda. No ensinamento de Rui Portanova, o princípio da eventualidade é abrangente e também pode ser chamado de princípio da cumulação eventual, vez que abrange não só as alegações de defesa, como também as de ataque, os requerimentos e as produções de provas, sendo que essa eventualidade incide tanto no processo de conhecimento como na execução e pertine não só às partes, como aos juízes de todos os graus de jurisdição.234 Esclarece ainda que tal princípio não se esgota na inicial e na contestação, mas se repete correspondentemente a cada fase processual, viabilizando, assim, que a parte se previna legitimamente para a eventualidade de que, mais tarde, se alguma das razões não for acolhida pelo julgador, esta 234 Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 130-131. 103 já é tida como resolvida e o mesmo passe a examinar e considerar as outras que porventura deverão ser analisadas.235 Para o autor, a existência de um sistema dividido em estágios, fases e compartimentos estanques enseja a necessidade de preclusões e obriga à existência do princípio da eventualidade. Afirma, ainda, que a pena para quem desrespeita o princípio da eventualidade é a preclusão.236 Por fim, o autor conclui que ao acolher a eventualidade, nosso processo civil mantém-se fiel às tradições do direito comum medieval, ou seja, a uma ordem legal necessária às atividades processuais, como uma sucessão de estágios ou fases diversas, nitidamente separadas entre si. O princípio da eventualidade obriga as partes a propor ao mesmo tempo todos os meios de ataque ou de defesa, ainda que sejam contrários.237 2.1.12 Princípio Inquisitivo e Princípio Dispositivo De acordo com o ensinamento de Rui Portanova, em sua obra Princípios do processo civil, são os princípios dispositivos e inquisitórios formas de desenvolvimento e iniciativa do processo, com características amplamente radicais e de cunho histórico.238 Esclarece o autor que o princípio dispositivo preocupa-se em conceder mais direitos processuais às partes, do que o inquisitório concede poderes aos juízes.239 235 236 237 238 239 Ibidem, mesmas páginas. Ibidem, p. 132. Ibidem, mesma página. Nesta esteira, Humberto Theodoro Júnior, Princípios gerais do direito processual civil, p. 175-191. Rui Portanova, Princípios do processo civil, p. 205. Ibidem, p. 205. 104 Cumpre observar que a tutela jurisdicional não se exerce de ofício, conforme se depreende de forma nítida da leitura do artigo 2º do Código de Processo Civil em vigor. Tal disposição emana diretamente da regra do devido processo legal, com vistas a garantir a imparcialidade do órgão do poder judiciário, concreta e eficazmente.240 O princípio inquisitivo tem como característica primordial a liberdade de iniciativa atribuída ao juiz, seja no momento em que se instaura a relação processual, seja no desenvolvimento da mesma. Entretanto, a busca da verdade real é o objetivo maior do julgador, que usa todos os meios necessários em seu ofício, ainda que para tanto não tenha a colaboração das partes. Porém, deve-se pesar que o juiz precisa estar atento ao tempo de busca da verdade real, sob pena de negar-se às partes a própria tutela jurisdicional. Por outro lado, o princípio dispositivo transfere às partes em litígio toda a iniciativa, quer na instauração do processo, quer na sua condução, ao passo que as provas só podem ser produzidas pelas partes litigantes, colocando o juiz numa posição de mero expectador. Hodiernamente, nenhum dos princípios merece dedicação nos Códigos na sua reserva clássica e intocável. As legislações são mistas, com conceitos inquisitivos e dispositivos.241 Conforme salienta Humberto Theodoro Júnior, “(...) se o interesse em conflito é das partes, elas podem renunciar a sua tutela, como podem renunciar a qualquer direito patrimonial privado”.242 Por isso, é 240 241 242 José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 394. Ibidem, p. 27. Humberto Theodoro Júnior, Manual elementar de direito processual civil, p. 53. 105 correto afirmar que a liberdade cabe a cada um no sentido de procurar, ou não a prestação da tutela jurisdicional. Contudo, uma vez que a pretensão em juízo é deduzida, existe outro interesse que passa a ser de ordem pública, a preocupação com a justa composição do litígio e, ainda, que se satisfaça o direito das partes dentro do menor tempo possível para que não ocorra uma eternização do processo, pois como bem relata Lopes da Costa: “Justiça tardia é justiça desmoralizada”.243 Apesar de ser incumbida à parte a abertura do processo, o impulso do feito deverá ser realizado pelo juiz até que seja dado o provimento final, mesmo que não ocorra mais a manifestação dos interessados no litígio. O Código de Processo Civil em vigor consagra o princípio dispositivo, contudo, conforme revela o Ministro Alfredo Buzaid, na exposição de motivos nº 18, do Código, “(...) reforça a autoridade do Poder Judiciário, armando-o de poderes para prevenir ou reprimir qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça”. A mesma regra se aplica no que for atinente às provas, nas quais a iniciativa será das partes, pois o interesse de que sejam averiguadas as suas alegações pertence a elas, lembrando, ainda, que o juiz possui imparcialidade, que não permite que seja ele um investigador. Todavia, poderá, sim, o juiz agir ex officio conforme se depreende da leitura atenta do artigo 130, do referido diploma legal, in verbis: “Artigo 130: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. Assim, claro está que o juiz poderá determinar de ofício a realização de provas de fatos que sejam importantes para o deslinde da causa. 243 Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito processual civil brasileiro, p. 55. 106 Nelson Nery Júnior menciona que: “O poder instrutório do juiz, principalmente de determinar ex officio a realização de provas que entender pertinentes, não se configura como exceção ao princípio dispositivo”.244 Vale lembrar que a norma citada não menciona, nem impõe limites ao juiz para que exerça de ofício seu poder instrutório no âmbito processual civil.245 De acordo com José Carlos Barbosa Moreira, a transição do Estado individualista para o Estado social de direito assinala-se por substancial incremento da participação dos órgãos públicos na vida da sociedade. Esse desenvolvimento, projetado no plano processual, traduz o fenômeno da “(...) intensificação da atividade do juiz, cuja imagem já não se pode comportar no arquétipo do observador distante da luta entre as partes e impassível diante dela”.246 Rui Portanova menciona que um dos efeitos da adoção desse princípio pelo sistema probatório brasileiro é a influência quanto ao tipo de verdade buscada no processo. Posto que a lei coloca à disposição do juiz amplos poderes investigatórios, não hà razão para o processo civil abrir mão da verdade real.247 Quanto às relações de consumo, é importante ressaltar que o tempo é crucial para o consumidor, e, a busca da verdade real pelo juiz por tempo demasiado pode importar na negação de tutela jurisdicional, tendo em 244 245 246 247 Nelson Nery Júnior, Código de processo civil comentado, p. 585. Ibidem, mesma página. Rui Portanova, A função social do processo civil moderno e o papel do juiz e das partes na direção e na instrução do processo, p. 140-150. Idem, Princípios do processo civil, p. 207. 107 vista sua vulnerabilidade e quase sempre sua hipossuficiência técnica, econômica e cultural. 3 PRINCÍPIOS NORTEADORES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Os princípios gerais das relações de consumo, que ora se passa a estudar, estão dispostos nos artigos 1º ao 7º do Código. Há se ressaltar que tudo o que consta na Lei é uma projeção dos princípios gerais, ou seja, uma pormenorização deles, de modo a torná-los efetivos e operacionalizá-los, sendo o seu estudo de extrema importância para uma melhor compreensão do tema. Para Nelson Nery Júnior as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor são de ordem pública e interesse social (art. 1º). O que compreende dizer que ao juiz cabe apreciar ex officio qualquer questão relativa às relações de consumo, vez que não incide nessa matéria o princípio dispositivo. Sobre tais matérias não se opera a preclusão, bem como as questões que delas surgem podem ser decididas e revistas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Conforme ensina referido autor, o tribunal pode, inclusive, decidir contra o único recorrente, reformando a decisão recorrida para pior, ocorrendo assim o que se denomina de reformatio in pejus permitida, pois trata-se de matéria de ordem pública a cujo respeito a lei não exige iniciativa da parte, mas, ao contrário, determina que o juiz a examine de ofício. 248 Ser de interesse social significa, de modo prático, que o Ministério Público tem participação obrigatória em todas as ações sobre lides do consumidor249 e se encontra legitimado para defender, em juízo, os direitos individuais homogêneos, pois são eles de interesse social ex lege. De acordo com o artigo 248 249 Nelson Nery Júnior, Recursos no processo civil: princípios fundamentais e teoria geral dos recursos, p. 121. A respeito, confira-se artigo 127, caput, da Constituição Federal. 109 1º do Código de Defesa do Consumidor essa defesa atende à finalidade institucional do artigo 127, caput, da Lei Maior, conforme autoriza o artigo 129, IX, do mesmo diploma legal.250 Segundo o ensinamento de Cláudia Lima Marques: “As normas de ordem pública estabelecem valores básicos e fundamentais de nossa ordem jurídica, são normas de direito privado, más de forte interesse público, daí serem indisponíveis e inafastáveis através de contratos”.251 Já, quanto ao interesse social, trata-se de uma lei que visa a cumprir sua função social, modificando as relações jurídicas de importância para a sociedade, e assim, tutelar uma das partes, os consumidores vulneráveis, mitigando o princípio contratual da autonomia da vontade e interferindo nas relações para atribuir responsabilidades a uma das partes, visando sempre a manter o equilíbrio contratual. 3.1 Princípios Constitucionais Gerais da Ordem Econômica: Defesa do Consumidor e Livre Iniciativa A defesa do consumidor não é incompatível com a livre iniciativa e o crescimento econômico. Ambos estão descritos como princípios da ordem econômica constitucional do país, de acordo com o disposto no artigo 170 da Constituição Federal. Dessa forma, o Código de Defesa do Consumidor dispõe normas tendentes a compatibilizar a defesa do consumidor com a livre iniciativa prevista no artigo 4º.252 250 251 252 Nelson Nery Junior, Os princípios gerais do código de defesa do consumidor, p. 51-52. Cláudia Lima Marques, Comentários ao código de defesa do consumidor: arts. 1º ao 74: aspectos materiais, p. 54. Ibidem, mesma página. 110 Apesar de haver nítida compatibilidade entre esses dois princípios, poderá ocorrer um conflito entre ambos, necessitando, então, de uma harmonização e compatibilização, devendo o intérprete harmonizar e ponderar tais princípios, já que os mesmos encerram exigências e padrões a serem realizados.253 Ao contrário, insustentável se faz a validade simultânea das normas de preceitos contraditórios, que não poderão ser compatibilizadas como princípios,254 mas interpretadas em conformidade com as regras solucionadoras dos conflitos aparentes de normas, ou seja, em conformidade com os princípios da especialidade (lei especial derroga a lei geral) e subsidiariedade, dentre outros mais. Não se admite a existência do conflito entre dois princípios, nem tampouco entre dois desdobramentos do mesmo princípio.255 A existência da harmonia nas relações de consumo e sua realização com fulcro na equidade e na boa-fé, como dispõe o artigo 4º, III, são princípios basilares instituídos pelo Código,256 tanto que o mesmo diploma legal trata como nulas as cláusulas contratuais que infrinjam de forma direta, ou não, tais princípios.257 3.2 Princípio Protecionista ou da Vulnerabilidade Esse princípio é tido como um dos principais, senão o principal, no estudo dos direitos do consumidor, o que explica a importância e extensão que ora toma corpo. 253 254 255 256 257 Ibidem, p. 52. José Joaquim Gomes Canotilho, Direito constitucional, p. 174. Nelson Nery Júnior, Os princípios gerais do código de defesa do consumidor, p. 51-52. Ibidem, mesma página. A este respeito confira-se o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. 111 Encarta-se no artigo 4º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O Código explicitou, em seu inciso I, a vulnerabilidade do consumidor no mercador consumerista e, em seu inciso II, preceitua a ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. O Código de Defesa do Consumidor mostra-se por um caráter marcadamente protecionista, já que suas normas destinam-se a proteger a parte tida como a mais vulnerável na relação de consumo, ou seja, o consumidor. De acordo com Roberto Basilone Leite: “A expressão protecionista pode, em face de uma análise superficial, levar à idéia errônea de que a lei de consumo tem espírito antiisonômico, ou seja, pode-se vislumbrar um conflito entre o princípio protecionista e o princípio da isonomia, constante do caput do artigo 5º da Constituição Federal, segundo a qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.258 Em verdade esse antagonismo se faz apenas aparentemente. Essa proteção ao consumidor não é o fim último da lei de consumo, mas, sobretudo, uma espécie de fim intermediário, destinado à viabilização de seu verdadeiro fim, que é justamente a garantia das partes envolvidas nas relações consumeristas.259 O que o Código de Defesa do Consumidor busca é promover o equilíbrio econômico e jurídico entre as partes envolvidas na relação de consumo, através de regras protecionistas que se destinam a compensar juridicamente uma sensível inferioridade do consumidor, decorrente de sua 258 259 Roberto Basilone Leite, Introdução ao direito do consumidor, p. 68. Ibidem, mesma página. 112 maior vulnerabilidade. Assim, o caráter protecionista contido no âmbito do direito do consumidor visa tão somente a assegurar uma isonomia nas relações de consumo.260 É certo que essa característica protecionista nasceu da necessidade de garantir a proteção legal a uma determinada espécie de agente socioeconômico, qual seja, o consumidor que, em virtude de condições naturais e óbvias, encontra-se em situação econômica e jurídica inferior ao outro pólo da relação consumerista, qual seja, o fornecedor.261 Com vistas a concretizar essa igualdade jurídica entre ambos os pólos da relação consumerista, o legislador muniu a sociedade, os órgãos fiscalizadores e os juízes, de instrumentos eficazes. Primeiramente, criou uma nova concepção de contrato individual, ao qual atribuiu uma dimensão social e agregou efeitos sociais antes não reconhecidos. Desse modo, a autonomia da vontade deixou de ser elemento essencial do contrato.262 Em segundo plano, o estado começou a intervir nas relações de consumo através do controle de preços, pela imposição ou vedação de cláusulas contratuais, pela estipulação dos níveis mínimos de qualidade dos produtos, dos serviços, dentre outras coisas.263 Completando seu cerco de proteção, o Código também tratou de fixar regras de direito material e processual contrárias às do direito 260 261 262 263 Ibidem, p. 70. Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. 113 tradicional. Exemplificando, podem ser citadas: as regras que declaram nulas de ofício determinadas cláusulas consideradas abusivas; assim como aquelas que invertem o ônus da prova em favor do consumidor; e mesmo as que afastam a personalidade jurídica da sociedade comercial para imputar a responsabilidade civil diretamente aos sócios.264 Assim, entende-se que o princípio central do Direito do Consumidor é o princípio protecionista, ou da vulnerabilidade, denominação muito mais difundida, do qual decorrem dois outros princípios, que são o da adequação e o da interferência estatal, todos eles considerados base do direito em epígrafe.265 Tal princípio, além de ser considerado pilar básico que envolve a problemática do consumidor, possui reconhecimento universal através de manifestação da ONU, além de ser contemplado em plano nacional, não somente pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 4º, como outrora demonstrado, mas também pelo artigo 5º da própria Carta Magna, que garante igualdade de todos perante a lei, donde extrai-se que deverão ser tratados desigualmente os desiguais, nos limites de suas desigualdades.266 De acordo com João Batista de Almeida, esse princípio desdobra-se em dois outros subprincípios. O primeiro, o de elaboração das normas jurídicas, significa que novas leis a serem editadas no setor deverão manter ou ampliar o conteúdo protetivo, com fundamento teleológico no direito de defesa do consumidor, previsto constitucionalmente,267 em conformidade com o sancionamento e interpretação das cláusulas e das 264 265 266 267 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 45. A respeito confira-se o artigo 5º, XXXII, da Constituição Federal. 114 normas jurídicas, objetivando alcançar a situação mais favorável ao consumidor, seja em razão do cunho protetivo da legislação, seja pela aceitação de sua inexperiência e vulnerabilidade, a fim de alcançar efetividade na tutela. Isso está disposto especificamente na legislação do consumidor, em seu artigo 47, verbis: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.268 Referido autor considera que o princípio da vulnerabilidade do consumidor é “(...) a espinha dorsal da proteção ao consumidor, sobre a qual se assenta toda a linha filosófica do movimento”.269 É indiscutível o fato de o consumidor figurar no pólo mais fraco da relação de consumo, apresentando sinais de fragilidade e impotência frente ao poderio econômico, fato este que leva a um reconhecimento universal sobre sua vulnerabilidade. Tem-se que a própria Constituição Federal reconheceu essa hipossuficiência do consumidor, ao prescrever no seu artigo 5º, XXXII, que o Estado promoverá a defesa do consumidor. Ricardo Hasson Sayeg, em sua obra Práticas comerciais abusivas, menciona que: “(...) na relação de consumo primária, constituída pela celebração de um contrato, o fornecedor age profissionalmente, conseqüentemente, de forma especializada e experiente, tendo em vista que pratica tais atos reiteradamente, enquanto o consumidor não, o que lhe acarreta evidente desvantagem”. 270 Em decorrência disso, inevitável o reconhecimento explícito desta vulnerabilidade do consumidor, tão defendida, e consagrada no inciso I, 268 269 270 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 45. Ibidem, p. 11. Ricardo Hasson Sayeg, Práticas comerciais abusivas, p. 74. 115 do artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, sendo um princípio do sistema jurídico de defesa do consumidor. Segundo o autor, esse reconhecimento, iniciado no âmbito constitucional, estabelecido na Constituição Federal, como outrora mencionado, cria todo um sistema de proteção consumerista. E questiona: “Proteção por quê? Porque evidentemente o consumidor é vulnerável diante do fornecedor, de forma que trata a Constituição, distintamente, pessoas em situações diferentes, logrando a isonomia e, assim, realizando os ditames da justiça social. Discriminações justificáveis não violam a noção de direito e justiça e, conseqüentemente, podem ser normalmente estabelecidas sem qualquer implicação de antijuridicidade”.271 No dizer de Washington Peluso Albino de Souza, em sua obra Primeiras linhas de direito econômico, esse princípio é fundamental, já que define o caráter tutelar da política de consumo, ensejando tantos outros princípios de política econômica, assim como, no dizer do referido autor, à própria maneira de se tratar o mercado, como toda Ação Governamental.272 Para Sérgio Pinheiro Marçal, a vulnerabilidade do consumidor ocorre frente à ausência de sua participação no controle da produção, ou deficiência, de conhecimentos técnicos e dificuldade para o exercício de seus direitos de defesa.273 O referido autor relata ser o fornecedor um especialista no seu mister, portanto, apto a agir dentro das atribuições que lhe cabem, com 271 272 273 Ibidem, mesma página. Washington Peluso Albino de Souza, Primeiras linhas de direito econômico, p. 595. Sérgio Pinheiro Marçal, Código de defesa do consumidor: definições, princípios e o tratamento da responsabilidade civil, p. 102. 116 conhecimentos técnicos e científicos. Ressalta ainda, em regra, estar o fornecedor em patamar economicamente superior.274 Por vias opostas, o consumidor adquire determinado produto sem ter acesso, e até mesmo interesse nas regras e técnicas de produção, mesmo porque a correria de um mundo globalizado, os afazeres do dia-a-dia profissional, não lhe permitem que a curiosidade por algo dessa monta lhe ocupe espaço e tempo. Por vezes o consumidor adquire um produto de forma eventual e, numa constante, desconhece os dados técnicos, como exposto nesta oportunidade.275 Assim, conclui o referido autor que, visando ao equilíbrio dessas relações consumeristas, o legislador, por princípio, considera o consumidor como hipossuficiente e busca atribuir-lhe meios que assegurem a sua proteção e defesa.276 Todavia, é necessário que se analise o contexto em que se insere o consumidor nas relações de consumo. O consumidor, em sua acepção ampla, é aquele sujeito que se utiliza do fornecimento de produtos ou da prestação de serviços, de tal modo que sua situação é a de submissão ao poder dos fornecedores, já que a escolha de bens de consumo não poderá exceder ao que se oferece no mercado. E, é, justamente, essa submissão que originou e fundamentou a criação desse princípio, de onde se parte do pressuposto de que o consumidor depende dos empresários, fornecedores, dentre outros, para a manifestação de sua vontade, o que inevitavelmente o torna a parte mais frágil da relação em estudo.277 274 275 276 277 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Antônio Carlos Efing, Bancos de dados e cadastro de consumidores: tratamento dado pelo CDC aos arquivos de consumo, p. 89. 117 É a vulnerabilidade que acomete os consumidores que justifica a existência do Código de Defesa do Consumidor. Oscar Ivan Prux reconhece o princípio da vulnerabilidade como uma expressão objetiva da existência de toda aquela condição problemática para o consumidor, qual seja, a da sua reconhecida fraqueza no mercado de consumo, que surgiu no período pós-revolução industrial, inspirando o movimento consumerista.278 O autor menciona que o reconhecimento dessa vulnerabilidade é o primeiro passo para voltar a equilibrar relações contratuais que não podem conter desequilíbrio. O inciso que ora comenta-se possui importância fundamental, servindo até mesmo de alicerce para as inúmeras normas inseridas dentro do código de Defesa do Consumidor que, aparentemente, protejam apenas uma das partes, ou seja, o próprio consumidor, todavia, equilibram relações desequilibradas.279 De acordo Com Roberto Senise Lisboa, a preocupação com a vulnerabilidade do consumidor advém de inúmeros fatores, entre eles, as práticas comerciais abusivas do fornecedor, o oferecimento de produtos e serviços sem a observância dos princípios gerais das relações de consumo e a inserção de cláusulas abusivas nos contratos unilateralmente predispostos, podendo essa vulnerabilidade ser tanto econômica, quanto técnica, jurídica, política entre outras.280 O autor esclarece que o reconhecimento dessa vulnerabilidade partiu do princípio constitucional da isonomia e decorre da idéia segundo a 278 279 280 Oscar Ivan Prux, A responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor, p. 153. Ibidem, mesma página. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 83. 118 qual os desiguais devem ser tratados desigualmente, na proporção de suas desigualdades, a fim de que se obtenha a igualdade desejada.281 Oportunamente, resta mencionar que nas sociedades de massa o consumidor não se encontra individualmente preparado para a aquisição de um produto ou serviço, vez que o mesmo não conhece o mercado como o fornecedor, com quem, via de regra, relaciona-se indiretamente, por meio de seus empregados, representantes ou prepostos. Sobremaneira, o consumidor se submete a uma série de acontecimentos que demonstram claramente a falência da teoria do individualismo jurídico, dos quais cabe acentuar: a massificação contratual, a concentração industrial, a concorrência desleal, a impossibilidade de escolha plena de produtos e serviços, os produtos defeituosos e a economia concentrada.282 Posto isto, pode-se considerar que vulnerabilidade é sinônimo de hipossuficiência, já que não encontra precedentes de importância na história do direito brasileiro. Todavia, o legislador pátrio cuidou de atribuir tratamento nitidamente diferenciado para os dois vocábulos, razão pela qual não poderão ser compreendidos como sinônimos.283 A vulnerabilidade que o legislador consumerista quis abordar é aquela pertencente ao destinatário final do produto e dos serviços, sendo que este é a parte mais fraca da relação e necessita de um amparo maior e mais efetivo da legislação. O consumidor será vulnerável no mercado de consumo, quando sujeito a todos os artifícios utilizados nesse ramo do direito difuso. 281 282 283 Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 84. Ibidem, p. 85. 119 Evidencia-se, nesta oportunidade, que a vulnerabilidade se caracteriza de qualquer forma, pouco importando a situação econômica do consumidor ou sua classe social, bem como seu grau de instrução, ou atividade profissional que exerça; também não são levados em conta quando da determinabilidade de quem seja o consumidor, ou quanto ao fato de lhe ser aplicável, ou não, a vulnerabilidade. Sendo destinatário final do produto ou serviço, será ele considerado consumidor e estará amparado pelo princípio da vulnerabilidade. O Código de Defesa do Consumidor não visa tão somente à proteção dos interesses dos economicamente mais débeis, porém lhes confere mecanismos mais eficazes que os concedidos ao consumidor, que se encontra em melhor situação financeira, ao prever a possibilidade de inversão do ônus da prova, em seu artigo 6º, VIII, última parte.284 Notório se faz o fato de privilegiar, por motivos de interesse social, o consumidor, que possui maiores dificuldades para defender os seus direitos por fato ou vício de responsabilidade do fornecedor. É por essa razão que o legislador procedeu genericamente a um tratamento equivalente de todos os consumidores, uma vez que a realidade brasileira atesta que a maioria absoluta da população se encontra numa situação de inferioridade perante os fornecedores, seja ela social ou econômica ou, até mesmo, para contratação de advogados. Como essa grande massa de consumidores é tratada pelos fornecedores de modo despersonalizado, o Código de Defesa do Consumidor conferiu meios de proteção transindividual a essa coletividade de consumidores.285 De acordo com Cláudia Lima Marques, existem três espécies de vulnerabilidade: a técnica, que se baseia na falta de conhecimento específico 284 285 Ibidem, p. 86. Ibidem, p. 87. 120 sobre o produto e o serviço adquirido; a jurídica, caracterizada pela falta de conhecimentos específicos na área jurídica, contabilidade ou economia; e a fática ou sócio-econômica, frente à posição de monopólio, pelo poder econômico ou pela essencialidade do serviço oferecido pelo fornecedor.286 Dessa vulnerabilidade adveio a idéia de se reconhecer o direito do consumidor, no caso de dúvida relativa a dispositivo contratual cuja redação não é suficientemente clara.287 3.3 Princípio da Presença do Estado nas Relações de Consumo ou Princípio do Dever Governamental Tal princípio pode ser considerado como corolário do princípio da vulnerabilidade do consumidor, uma vez que se admite e reconhece a hipossuficiência do consumidor, sua fragilidade e desigualdade em relação à outra parte. Por óbvio, o Estado deverá ser chamado a proteger a parte mais fraca, por seus meios legislativos e administrativos, visando a garantir o respeito aos seus interesses.288 No Brasil, esse princípio vem sendo rompido, seja em termos legislativos, nos quais a promulgação da Constituição Federal assegurou a defesa do consumidor pelo Poder Público, e, mais tarde, a própria edição do Código de Defesa do Consumidor corroborou para isso, seja através da criação e manutenção dos órgãos administrativos oficiais de defesa do consumidor.289 286 287 288 289 Cláudia Lima Marques, Contratos no código de defesa do consumidor, p. 147-149. Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 87. João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 11. Ibidem, mesma página. 121 Essa autorização para a ação governamental como verdadeiro poder/dever é dada a fim de que a proteção do consumidor e a harmonia das relações de consumo se realizem de forma efetiva, seja pela atuação direta do Estado, ou por incentivo dos particulares, individualmente ou através das associações criadas para a defesa dos consumidores. De tal modo que o Poder Público, em caráter meramente intervencionista no plano econômico nas últimas décadas recebeu, no âmbito jurídico, esse poder/dever para intervir na proteção ao consumidor, não devendo e não podendo se omitir.290 A regra é que a ingerência do Estado deva ser evitada dentro das relações econômicas, mas frente a esse princípio fundamental do sistema de proteção ao consumidor, qual seja o da hipossuficiência, a participação do Estado é extremamente justificável sob certo prisma.291 Compete ao Estado proteger efetivamente o consumidor pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade e segurança, bem como de durabilidade e desempenho. Todavia, o cumprimento desse princípio somente acontecerá quando se criarem infraestrutura adequada para o exercício da fiscalização.292 Esse princípio também leva à proteção direta do Estado por incentivos à criação e desenvolvimento econômico e tecnológico, em conformidade com os fundamentos da ordem econômica constitucionalmente definida.293 290 291 292 293 Oscar Ivan Prux, A responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor, p. 153. Sérgio Pinheiro Marçal, Código de defesa do consumidor: definições, princípios e o tratamento da responsabilidade civil, p. 102. Ibidem, mesma página. Washington Peluso Albino de Souza, Primeiras linhas de direito econômico, p. 595. 122 Tal princípio possui funções de relevância inconteste para a efetivação das garantias que o Código de Defesa do Consumidor administra aos consumidores, ainda mais que a defesa dos mesmos foi elevada a princípio fundamental constitucional e princípio geral da ordem econômica, e sua realização se tornou um dever do Estado.294 3.4 Princípio da Harmonização dos Interesses e da Garantia de Adequação O objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo deve ser a harmonização dos interesses envolvidos, e não o confronto ou o acirramento de ânimos. Consumidores e fornecedores interessam-se pelo implemento das relações de consumo, a fim de que sejam atendidas as suas necessidades, bem como seja sempre alcançado o equilíbrio entre as partes. De outro lado, a tão conclamada proteção ao consumidor deve ser compatibilizada com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, em face da dinâmica existente nas relações de consumo, que não podem ficar ao descaso e imóveis frente à defesa do consumidor. Novos produtos, tecnologias e todas as inovações que possam surgir são recepcionados, desde que se encontrem num grau de segurança e eficiência adequados ao consumidor final. Razões essas que asseguram o princípio a ser seguido, qual seja, o “(...) estudo constante das modificações do mercado de consumo”,295 em conformidade com a Lei consumerista, n. 8.078/90, em seu artigo 4º, inciso VIII. O princípio da garantia de adequação, por seu turno, prescreve que o fornecedor deverá ser protagonista para efetivação da adequação dos 294 295 Antônio Carlos Efing, Bancos de dados e cadastro de consumidores, p. 92. João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 11-12. 123 produtos e serviços à demanda, legalmente constituída pela saúde, segurança, qualidade de vida, e demais bem jurídicos afetos aos consumidores.296 Efing faz importante menção no sentido de alertar que essa adequação não quer se referir às normas de fabricação do produto ou do serviço a ser prestado, mas à satisfação dos consumidores com o produto ou serviço adquiridos.297 Sérgio Pinheiro Marçal coaduna com o pensamento de Efing e relata que, diante desse fato, o interesse será dos fornecedores em zelar pela qualidade e segurança de seus produtos e serviços, de modo a atender adequadamente aos consumidores.298 Importa lembrar que essa garantia de adequação a ser promovida pelos fornecedores terá o apoio secundário do Estado, que atuará como fiscal, utilizando-se para tanto do poder que lhe fora conferido, por meio do princípio do dever governamental, já abordado neste estudo.299 Talvez seja esse o princípio de maior importância dentro do sistema de proteção consumerista existente. Essa harmonia de interesses e essa compatibilização da proteção ao consumidor, ligada à necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, faz com que seja trazido um total equilíbrio à balança das relações de consumo.300 A maior virtude atribuída ao Código de Defesa do Consumidor é, sem dúvida, a concessão de harmonia aos consumidores e fornecedores, 296 297 298 299 300 Antônio Carlos Efing, Bancos de dados e cadastro de consumidores, p. 92. Ibidem, mesma página. Sérgio Pinheiro Marçal, Código de defesa do consumidor: definições, princípios e o tratamento da responsabilidade civil, p. 103. Ibidem, p. 92. Ibidem, p. 102. 124 compatibilizando seus interesses. O Estado também deve buscar primeiramente a harmonização e a compatibilização de interesses.301 Oscar Ivan Prux também considera esse princípio como o mais importante dentro da esfera consumerista. Defender o consumidor, de modo a garantir que a sua proteção não rompa a harmonia das relações de consumo para que, de forma efetiva, contribua com o desenvolvimento econômico e tecnológico, viabilizando inclusive a concretização dos princípios constitucionais da ordem econômica, é o escopo do inciso III, do artigo 4º, do Código de Defesa do Consumidor. É nesse artigo que o fornecedor é defendido com maior vigor, sendo a proteção de sua atividade econômica imanente no texto. Assegurando que a proteção do consumidor jamais poderá inviabilizar sua atividade lícita. Assim, a livre iniciativa, a valorização do trabalho humano, o direito de propriedade e a livre concorrência, no entendimento do autor, são tão princípios da ordem econômica, como o são do direito do consumidor, de tal forma que ficam vedados radicalismos em nome da defesa do consumidor, que possam inibir atividades benéficas produzidas pelos fornecedores, uma vez que sem eles não existem formas de se manter viável a vida social.302 3.5 Princípio da Coibição e Repressão de Abusos Praticados no Mercado Esse princípio tende a garantir não somente a repressão dos atos abusivos, mas também busca a punição de seus autores, bem como o respectivo 301 302 Ibidem, mesma página. Oscar Ivan Prux, A responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor, p. 153. 125 ressarcimento e a atuação preventiva tendente a evitar a ocorrência de novas práticas abusivas, afastando as que possam causar prejuízos aos consumidores, como, por exemplo, a concorrência desleal e a utilização indevida de inventos e criações industriais. Essa coibição preventiva e eficiente das práticas abusivas representará desestímulo aos potenciais fraudadores. Por linhas opostas, a ausência de repressão, o afrouxamento, ou mesmo a tolerância representará a impunidade e um estímulo à prática de atos fraudulentos.303 Sobretudo, o que importa no âmbito do Código de Defesa do Consumidor são os prejuízos que esses atos possam acarretar ao consumidor. É salutar lembrar, no entanto, que as relações entre empresas continuam sendo reguladas por legislação específica.304 O abuso no mercado de consumo deverá ser reprimido e coibido, e esta é a finalidade do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o próprio texto de lei, a honestidade e a harmonia nas relações entre fornecedores já são consideradas fatores que, pelo simples fato de não causarem anomalias no mercado de consumo, já beneficiam o consumidor. Isso pode ser explicado pelo direito de exclusividade na utilização de marcas e nomes comerciais devidamente registrados, uma vez que a concessão a qualquer fornecedor para utilizar nome ou marca já difundidos no mercado de consumo, somente prejudicaria o consumidor, confundindo-o. Cabe ressaltar que o direito de exclusividade não se refere somente às marcas, mas também aos prestadores de serviços que costumam registrá-los, motivo pelo qual para eles essa coibição à concorrência desleal resta de extrema importância.305 303 304 305 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 12. Sérgio Pinheiro Marçal, Código de defesa do consumidor: definições, princípios e o tratamento da responsabilidade civil, p. 103. Oscar Ivan Prux, A responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor, p. 155. 126 3.6 Princípio do Incentivo ao Autocontrole Embora o Estado atue como mediador nas relações de consumo, visando a evitar e solucionar os conflitos que possam, porventura, surgir, não deve deixar de incentivar os próprios fornecedores a tomarem providências com os mesmos objetivos, mediante a utilização de mecanismos criados e custeados por eles mesmos.306 Esse autocontrole pode ocorrer de três formas distintas: primeiramente, com o controle da qualidade e segurança dos produtos defeituosos no mercado de consumo, que atuará como atenuador, diminuidor ou eliminador das causas de conflito com o consumidor; em segundo plano, a prática do chamado recall, que consiste na convocação dos consumidores de bens produzidos em série e que contêm defeitos de fabricação e atentam contra a vida e segurança de seus usuários, sendo de responsabilidade do fornecedor as despesas com a substituição das peças defeituosas, para que não haja qualquer tipo de prejuízo ao consumidor, e; em terceiro lugar, a criação pelas próprias empresas de centros ou serviços de atendimento ao consumidor, resolvendo o problema de forma direta, sempre que houver reclamação ou queixa versando sobre aquele produto ou serviço.307 3.7 Princípio da Conscientização do Consumidor e Fornecedor e Princípio Informativo Já que o objetivo do Código de Defesa do Consumidor é justamente o equilíbrio nas relações de consumo de modo a atender às 306 307 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 12. Ibidem, mesma página. 127 necessidades dos consumidores e aos interesses dos fornecedores, sem conflitos maiores, desejável se faz uma maior conscientização das partes, no que tange aos direitos e deveres de ambos os pólos da relação de consumo.308 Entende-se por conscientização a educação, seja ela formal ou informal, para o consumo, assim como as informações ao consumidor e fornecedor. Por óbvio, que quanto maior for o grau de conscientização existente, menor será o índice de conflitos nas relações de consumo, o que justifica a preocupação com a conscientização de ambos os pólos da relação de consumo.309 Alinhados a esta esfera, a educação, com vistas a uma conscientização maior dos consumidores e fornecedores, encontra-se também o princípio da informação de ambos sobre seus direitos e deveres, incentivando-se aqui, também, o controle de qualidade e a segurança de produtos e serviços. Novamente enfoca a coibição de abusos praticados no mercado de consumo, a racionalização, a melhoria dos serviços públicos e o estudo constante das modificações do mercado de consumo.310 3.8 Princípio da Racionalização e Melhoria dos Serviços Públicos Tal princípio estabelece a obrigação do Estado, como fornecedor de serviços, em atender a regra geral do sistema de proteção do consumidor. 308 309 310 Ibidem, p. 13. Ibidem, mesma página. Washington Peluso Albino, Primeiras linhas de direito econômico, p. 595. 128 O artigo 22 da Lei Consumerista estabelece a obrigação dos órgãos públicos no fornecimento de serviços de forma adequada, eficiente, segura, fazendo uma ressalva importante acerca daqueles serviços considerados essenciais, os quais deverão ser efetuados, além de todas as formas aqui mencionadas, também de forma contínua. Observe-se, nesta situação, que o caráter de continuidade refere-se ao período de fornecimento de 24 horas por dia, durante todo o ano. Todavia, como conclama Marçal, não é de se admitir que esses serviços continuem sendo exigíveis mesmo em caso de inadimplemento do consumidor, o que pode ser considerado uma afronta.311 Sobre este assunto, o Código de Defesa do Consumidor reiterou o objetivo maior da administração pública e da organização do estado como um todo. Esse princípio se depreende de inúmeras outras normas, inclusive as hierarquicamente superiores.312 Tem-se que o legislador quis deixar implicitamente configurada a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre o fornecimento de serviços públicos. E, o fez, através do inciso VII, instituindo a política nacional das Relações de Consumo, e do artigo 22, que caminha nesta esteira. A importância disso é estritamente capital, vez que o Poder Público, se mau fornecedor, demonstra, por vezes, ser um indisciplinado indomável, não reconhecendo que é o consumidor quem paga e merece respeito, além de outros de ordem moral, os quais não cabe discutir o mérito nesta oportunidade.313 Com efeito, não é apenas a área privada obrigada a prestar serviços eficientes e seguros aos seus usuários, tendo a área pública os mesmos deveres. 311 312 313 Sérgio Pinheiro Marçal, Código de defesa do consumidor: definições, princípios e o tratamento da responsabilidade civil, p. 103. Oscar Ivan Prux, A responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor, p. 155-156. Ibidem, mesmas páginas. 129 É certo que esse princípio não pode ser tido como encarecimento de contas e tributos, ou meros caprichos consumistas, mas sim como objetivos de proteção e melhora na qualidade de vida dos consumidores.314 3.9 Princípio das Modificações do Mercado Como derradeiro princípio, o inciso VIII dispõe que deverá ser objeto da Política Nacional das Relações de Consumo o estudo constante das modificações do mercado. E isso porque, frente à permanente evolução social, evita que as normas instituídas para regrar as relações de consumo se tornem ultrapassadas e desconectadas da realidade factual, e que as autoridades responsáveis por atuação nessa área acabem se conduzindo equivocadamente ou permanecendo inertes por desconhecerem eventuais modificações nos múltiplos aspectos que compõem este contexto. Necessária se faz a criação de dispositivos que a complementem para que saia do campo intencional e dependente da vontade dos seus executores.315 Conclui-se, então, que as relações de consumo evoluem a cada dia, de modo que devam receber estudo adequado caso a caso. 3.10 Princípio da Boa-Fé Esse princípio esta inserido no caput do artigo 4º e exige que as partes da relação de consumo atuem com estrita boa-fé, sinceridade, 314 315 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 13. Oscar Ivan Prux, A responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor, p. 156-157. 130 seriedade, veracidade, lealdade e transparência, sem objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo ao outro. Por essas e outras razões é que a legislação consumerista contém diversas presunções legais, absolutas ou relativas, que asseguram o equilíbrio entre as partes e, ainda, repelem formas sub-reptícias e insidiosas de abusos e fraudes, engendradas pelo poderio econômico para burlar o intuito de proteção do legislador.316 Este é, sem dúvida, um dos pilares fundamentais da tutela consumeirista devendo presidir toda e qualquer relação, em conformidade com o disposto no caput, do artigo 4º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. Ainda que as partes não tenham convencionado a respeito desse assunto, especificamente sobre esse princípio, existirá o que a doutrina denomina de cláusula geral de boa-fé. É essa regra padrão de conduta, princípio ao qual pode se socorrer na falta da lei, já que adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, juntamente com a função social do contrato, de acordo com a interpretação dos princípios contidos nos artigos 4º, III e 51, IV, sendo que o último prescreve que serão nulas de pleno direito as cláusulas que sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade.317 Ressalva seja feita que o rol contido no artigo 51 do Código Consumerista não é taxativo, mas meramente exemplificativo, como pode ser depreendido de sua leitura, in verbis: “Artigo 51: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)” (grifo nosso). Essas duas passagens consagram o princípio que antes era extraído apenas de forma implícita do ordenamento jurídico, pressupondo que 316 317 João Batista de Almeida, A proteção jurídica do consumidor, p. 46. Nelson Nery Júnior, Os princípios gerais do código brasileiro de defesa do consumidor, p. 6162. 131 todas as relações jurídicas estavam estabelecidas com base na recíproca lealdade das partes. Tal princípio serve para determinação de deveres secundários de conduta, a serem satisfeitos ainda que não estipulados expressamente pelos contratantes; serve para coibir pretensões que, embora contratualmente convencionadas e formalmente conformadas à lei, violam o dever de lealdade e caracterizam o uso abusivo do direito, trazendo como conseqüência da ofensa a invalidade da cláusula ou mesmo do negócio.318 O princípio da boa-fé permeia-se em todas as ações humanas, considerado regra ínsita aos próprios valores éticos e morais da sociedade, de tal modo que não poderia ser excluído do âmbito do consumidor, sendo este, no dizer de Antônio Carlos Efing, um dos ramos mais relevantes do direito, ensejando a aplicação do princípio em tela.319 Referido princípio aparece em todo o conteúdo do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que essa foi realmente a intenção dos seus legisladores. Trata-se de um princípio fundamental da Política Nacional das Relações de Consumo.320 Importa, nesta oportunidade, distinguir o que seja a boa-fé, pois engloba duas denominações distintas, quais sejam: a boa-fé objetiva e a boafé subjetiva. Em sentido amplo, a boa-fé é o sentimento intrínseco de crença que o indivíduo traz consigo, ou seja, no plano particular, o atuar convicto de estar agindo conforme o direito. Trata-se de uma manifestação estritamente 318 319 320 Rui Rosado de Aguiar Júnior, Aspectos do código de defesa do consumidor, p. 178. Antônio Carlos Efing, Bancos de dados e cadastro de consumidores: tratamento dado pelo CDC aos arquivos de consumo, p. 94. Ibidem, p. 94-95. 132 psicológica e, portanto, contrapõe-se à má-fé, caracterizando-se sua inexistência como atuação dolosa. Sobretudo, quando se fala de boa-fé objetiva não há que se levar em consideração o fator psicológico caracterizador da boa-fé subjetiva, pois aquela configura-se como um dever de agir conforme modelos socialmente aceitos, de forma que a relação jurídica seja conduzida honesta, leal e corretamente, ou seja, sua feição objetiva impõe um padrão de conduta aos que se obrigam na relação jurídica. Para Plínio Lacerda Martins “(...) a noção de boa-fé objetiva constitui novo princípio à conduta dos contraentes nos contratos atuais”,321 pois, não só no direito do consumidor, como em todo o direito obrigacional, é nesses instrumentos de negociação que se vislumbra com maior facilidade o desequilíbrio entre os contraentes. Em matéria consumerista, a aplicação desse princípio se torna ainda mais evidente, porquanto é inegável que a grande maioria das relações entre consumidores e fornecedores se firma por meio de contratos. O Código de Defesa do Consumidor veio a consagrar o princípio da boa-fé objetiva, como cláusula geral, até mesmo antes do Novo Código Civil, com vistas a otimizar o comportamento contratual dos contraentes, principalmente o do fornecedor de produtos e serviços, que, com o crescente desenvolvimento tecnológico, o crescimento da demanda no mercado de consumo e a falta de cultura jurídica da população de um modo geral, a cada dia se torna parte mais forte, o que, via de conseqüência, resulta no desequilíbrio da relação jurídica que se forma. 321 Plínio Lacerda Martins, O abuso nas relações e consumo e o princípio da boa-fé, p. 34. 133 É cediço que esse princípio deva ser realizado de boa vontade por todo cidadão, todavia se alguns não compreendem dessa forma, necessária se faz sua proteção legal, com vistas a inibir todo e qualquer ato contrário à boa-fé. Entretanto, importa salientar que tal princípio deverá ser seguido e observado por ambas as partes da relação de consumo, a fim de realizar uma aproximação de interesses entre consumidor e fornecedor.322 3.11 Princípio do Acesso à Justiça no Código de Defesa do Consumidor O consumidor encontra várias dificuldades na busca do provimento jurisdicional. Isso acontece desde o momento em que ele não sabe como efetuar a reclamação; reluta em entregar o fato a um advogado, até que ele tenha plena confiança ou até o momento em que a situação torne imprescindível; a intervenção de alguém que o ajude; é tomado pelo receio de altos custos processuais; não confia na justiça em virtude da morosidade e discorda das decisões que acompanha através da imprensa ou por meio de algum conhecido, dentre outros fatores inesgotáveis que ocupariam linhas nesse estudo. A própria Constituição Federal assegura o acesso à justiça a todas as pessoas, como outrora tratado, de tal modo que não há fatores discriminatórios que possam interferir nesse acesso. Existem várias tentativas de tornar real e efetivo esse acesso do consumidor à justiça para proteção de seu direito, consagrado na Constituição 322 Ibidem, p. 95. 134 Federal e no Código de Defesa do Consumidor, tendo o destinatário final, à sua disposição, a assistência judiciária integral e gratuita, desde que não disponha de condições econômicas para contratar um advogado. Existem, ainda, as Promotorias de Justiça do consumidor, para a defesa dos interesses difusos, coletivos, e individuais homogêneos, consagrados no artigo 81, parágrafo único e artigo 82, inciso I, da Lei nº 8.078/90, c/c o artigo 5º, caput, da Lei nº 7.347/85. Há, também, as delegacias de polícia especializadas nas investigações dos crimes contra as relações de consumo e o Juizado de pequenas causas, sem falar na concessão de estímulos à constituição e desenvolvimento de associações de defesa dos consumidores.323 Todos esses meios que o Código de Defesa do Consumidor coloca à disposição do consumidor retratam a preocupação dos legisladores em fazer valer efetivamente o acesso à justiça e um provimento jurisdicional adequado. 323 Roberto Senise Lisboa, Responsabilidade civil nas relações de consumo, p. 91-93. 4 DAS PARTES E TERCEIROS Faz-se de extrema importância ao estudo em proposição o apontamento dos conceitos atinentes às partes e aos terceiros, uma vez que tais expressões serão usadas em todo o decorrer do presente trabalho. No entanto, limitamos nosso estudo aos apontamentos acerca dos conceitos de um e outro vocábulo, de a forma trazer a lume recordações deveras difundidas e conhecidas dentro da visão jurídica. Todavia, antes de conceituar o que seja um ou outro, temos ainda que definir o conceito de lide, vez que na terminologia processual ao se verificar a coincidência de duas ou mais pessoas manifestando interesse sobre um mesmo bem ou utilidade da vida, sem que para tanto nenhuma delas renuncie à sua pretensão, dizemos que está acontecendo um conflito de interesses. Esse conflito qualificará aquilo que os processualistas denominam de lide, caracterizada por uma pretensão resistida e insatisfeita, conforme os ensinamentos de Carnelutti.324 Entenda-se pretensão como a exigência de subordinação de um interesse de outrem ao próprio. Atualmente, o Código de Processo Civil utiliza o vocábulo lide como sendo sinônimo de mérito.325 Apropriado também se faz distinguir os tipos de legitimidade existentes no processo civil, quais sejam: a legitimidade ad causam e a legitimidade ad processum. A legitimidade ad causam é a qualidade de parte legítima, ou seja, aquela que tem direito à prestação da tutela jurisdicional, seja-lhe esta favorável ou desfavorável; ela é condição para ação. 324 325 Carnelutti, Instituciones del processo civil, p. 175. Manoel Antônio de Teixeira Filho, Embargos de terceiro, p. 07. Neste sentido ver ainda Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 09. 136 Por seu turno, a legitimidade ad processum é a capacidade processual de agir, é aptidão para cada pessoa, independentemente de sua relação particular com determinado processo; ela é pressuposto processual. Assim, temos também duas espécies de capacidades relativas às partes, quais sejam: a capacidade processual e a capacidade postulatória. A capacidade processual é aquela que todas as pessoas que se encontram no exercício de seus direitos possuem para estar em juízo326 e, assim, praticar atos válidos. Segundo Humberto Theodoro Júnior: “A capacidade processual consiste na aptidão de participar da relação processual, em nome próprio ou alheio. Em regra geral, a capacidade que se exige da parte para o processo é a mesma que se reclama para os atos da vida civil, isto é, para a prática dos atos jurídicos de direito material”.327 Vicente Grego Filho ensina que: “A capacidade processual é um pressuposto processual relativo as partes. Em relação ao juiz, os pressupostos processuais são a jurisdição e a competência. No que concerne, especificamente, à capacidade processual, pode-se dizer que ela apresenta três aspectos, ou três exigências: a) a capacidade de ser parte; b) capacidade de estar em juízo; c)capacidade postulatória”.328 A capacidade postulatória é a capacidade daqueles que possuem o ius postulandi, o poder de falar e agir em juízo em nome das partes no processo, 326 327 328 Artigo 7° do Código de Processo Civil. Humberto Theodoro Júnior, Manual elementar de direito processual civil, p. 78. Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 05. 137 desde a sua instauração até seu desenvolvimento e conclusão. É atribuída ao profissional do direito, ou seja, o advogado.329 Assim, definido o que seja lide, obviamente abordado de forma sucinta, passaremos ao estudo dos conceitos que mais nos interessam, quais sejam, os de parte e terceiro. 4.1 Partes no Código Processual Civil O conceito de partes se origina do latim pars, partis, ou seja, o vocábulo parte sugere a idéia de porção de um todo, de elemento fragmentário de algo, que no caso se entende como a lide, ao passo que a relação processual, de outro lado, e apenas de forma ilustrativa já que não é este o objetivo aqui proposto, configura o nexo, o vínculo que une as partes entre si e estas ao juiz.330 De acordo com os ensinamentos de Liebman partes significam “(...) os sujeitos do contraditório instituídos perante o juiz”.331 Para Chiovenda tal expressão significa: “(...) aquele que demanda em seu próprio nome (ou em cujo nome é demandado) a atuação de uma vontade da lei e aquele em face de quem essa atuação é demandada”.332 Hélio Tornaghi, observando a definição chiovendiana, sobretudo a expressão ou em cujo nome é demandado, ressalva a hipótese em que a ação 329 330 331 332 Artigo 36 do Código de Processo Civil. Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 05. Enrico Tullio Liebman, Manualle di diritto processuale civile, p. 75. Giuseppe Chiovenda, Instituiciones de derecho procesal civil, p. 320. 138 é exercida não pela parte, mas por seu representante legal, e cita como exemplo os casos dos advogados, tutores, curadores dentre outros tantos que poderiam ser mencionados.333 Existe, aqui, aquilo que a doutrina denomina como sendo capacidade postulatória, ou seja, mesmo considerando algumas poucas exceções legais, o indivíduo, ainda que possua capacidade para estar em juízo, não possuirá capacidade para praticar em caráter pessoal os atos relativos ao procedimento. Em conformidade com o vigente Código de Processo Civil, quem deterá essa capacidade é o advogado.334 Para Manoel Antônio Teixeira Filho ser parte se consubstancia na titularidade das situações jurídicas ativas e passivas que integram a relação processual, tais como faculdades, poderes, deveres, sujeições, ônus, dentre outros.335 Cândido Rangel Dinamarco336 traz interessante conceito puro (processual) de parte, afirmando que partes são os sujeitos interessados na relação processual, ou os sujeitos do contraditório instituído perante o juiz, interessados, porque estão sempre em defesa de alguma pretensão própria ou alheia. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,337 apesar de concordarem que o conceito de parte deve fundar-se no aspecto processual, afirmam que o referido conceito deve guardar alguma referibilidade com o direito material, pois uma das principais funções do processo é a aplicação do direito material, seguindo as lições de Chiovenda. 333 334 335 336 337 Hélio Tornagli, Comentários ao código de processo civil, p. 102. Confira-se artigo 36 do Código de Processo Civil. Manoel Antônio Teixeira Filho, Litisconsórcio e assistência, p. 11. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 134. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do processo de conhecimento, p. 187. 139 Outro conceito bastante difundido no mundo jurídico é aquele em que: “Partes são aquelas que participam da relação processual existente com o Estado-juiz e exercem as faculdades que lhes são oferecidas, observam os deveres a ela impostos, e sujeitam-se aos ônus processuais”.338 De acordo com Sônia Maria Hase de Almeida Baptista, os sujeitos do processo são os que figuram na relação processual. O processo exige, pelo menos, duas partes contrapostas, quais sejam, o demandante e o demandado, além do juiz que é necessariamente imparcial.339 Para a autora, as partes serão ao menos duas: o autor e o réu. Autor é aquele que age, é quem pede a prestação jurisdicional; por vias opostas, o réu é aquele que resiste, aquele contra quem ou em relação a quem se pede a prestação jurisdicional.340 Esclarece, ainda, que as partes, em princípio, são sujeitos da relação de direito substancial que nela se controverte, da res in iudicium deducta, na qual o autor é o titular do direito, o credor, e o réu é o obrigado, o devedor.341 A autora demonstra um cuidado todo especial ao tecer comentários sobre o assunto, cujo texto merece ser aqui transcrito, dada sua importância ao estudo: “O que deve ser logo estabelecido quando se busca determinar o conceito de parte é que se está a falar de um conceito eminentemente processual. É conceito técnico empregado pela ciência do processo para definir um 338 339 340 341 Carlos Eduardo Ferraz de Mattos Barroso, Teoria geral do processo e do processo de conhecimento, p. 11. Sônia Maria Hase de Almeida Baptista, Direito processual civil, p. 80. Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. 140 fenômeno processual. Disso resultam ser impróprio trataremse questões de direito material empregando-se, inadequadamente, o conceito de parte”.342 E continua: “Partes, no sentido processual, são as pessoas que pedem ou em relação às quais se pede a tutela jurisdicional. Parte, portanto, seria aquele que pede (autor) para si alguma providência judicial, capaz de corresponder ao conceito de “bem da vida” empregado por Chiovenda, e aquele contra quem se pede a mencionada providência (réu)”.343 Para Vicente Greco Filho, as partes se definem como: “(...) são o autor e o réu, constituem o sujeito ativo e o sujeito passivo do processo. É quem pede e contra quem se pede o provimento jurisdicional. Para a identificação das partes não é suficiente a identificação das pessoas, presente nos autos, porque é preciso verificar a qualidade com que alguém, de fato, esteja litigando”.344 O autor ainda revela que dois conceitos podem ser atribuídos ao termo parte: “(...) o conceito de parte legítima, que é aquela que está autorizada em lei a demandar sobre o objeto da causa; e o conceito simplesmente processual de parte, isto é, aquela que tem capacidade para litigar, sem se indagar, ainda, se tem legitimidade para tanto”.345 Moacyr Amaral Santos entende que os sujeitos de uma relação processual são os juízes e as partes; o juiz será imparcial, as partes, por seu 342 343 344 345 Ibidem, p. 81. Ibidem, p. 81. Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 89. Ibidem, p. 99. 141 turno, serão parciais, cabendo ao juiz a função de compor-lhes o conflito em que se acham.346 Tradicionalmente, as partes serão, na relação processual, os sujeitos ativos e passivos da relação de direito substancial que nela se converte. Assim, autor seria aquele que pede ao Poder Judiciário o reconhecimento do seu direito, e também poderia ser considerado como credor, bem como aquele contra quem se pede esse reconhecimento, é o obrigado. De tal sorte, a terminologia utilizada em cada tipo de ação será distinta da outra, todavia convencionou-se que autor e réu são termos de uso geral. Sobretudo, nas ações executivas tais denominações respectivamente serão substituídas por exeqüente e executado; nas ações de demarcação e de divisão, por promovente e promovido; na ação de reivindicação, por reivindicante e reivindicado, e tantos outros termos que não cabe ao presente estudo esgotar.347 Para Humberto Theodoro Júnior,348 parte, é em sentido processual, o sujeito que intervém no contraditório ou que se expõe às suas conseqüências dentro da relação processual. Ovídio Baptista da Silva, conceitua parte como sendo: “(...) aquele que pede contra outrem uma determinada conseqüência legal, ou aquele contra quem esta conseqüência é pedida, ficará o conceito reduzido apenas ao processo contencioso, inexistindo partes verdadeiras na chamada jurisdição voluntária. Se todavia entendermos como partes, aqueles que participam como sujeitos na relação processual, não seria impróprio dizer-se que o tutor ou o curador do incapaz foram ou são partes no pedido de 346 347 348 Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 343. Ibidem, p. 346-347. Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 03. 142 venda ou arrendamento representam”.349 do bem do incapaz que eles Luiz Rodrigues Wambier também caminha na esteira da conceituação clássica e tradicional, ao passo que sua definição em pouco difere da dos demais juristas aqui apresentados. Para ele: “Regra geral, denominam-se partes os chamados sujeitos parciais do processo – autor e réu – que são, respectivamente, aquele que formula pedido em juízo, relativo à pretensão de que se diz titular, mediante o exercício da ação , e aquele contra quem se pede a tutela jurisdicional”.350 Para o processualista alemão Adolf Schonke: “(...) partes são pessoas pelas quais, ou contra as quais, se pede em nome próprio a tutela jurídica. As partes são, por regra geral, ao mesmo tempo os sujeitos do direito ou dever discutidos, mas também pode um terceiro estar facultado para seguir em nome próprio um processo sobre relações jurídicas alheias; assim por exemplo, o marido sobre bens trazidos pela mulher ao matrimônio. Nesse Caso, o terceiro será parte”.351 Concluindo o autor afirma que: “O conceito de parte é, em conseqüência, meramente formal, e não precisa coincidir com a titularidade da relação jurídica controvertida”.352 Cássio Scarpinella Bueno enfatiza que: “Para a distinção entre parte e terceiro, colho e adoto a clássica orientação de Chiovenda no sentido de que é parte quem pede e contra quem se pede alguma espécie de tutela jurisdicional. É 349 350 351 352 Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 09. Luiz Rodrigues Wambier, Curso avançado de processo civil, p. 219. Adolf Schonke, Direito processual civil, p. 113. Ibidem, mesma pagina. 143 terceiro todo aquele que não pede ou contra quem nada se pede em juízo”.353 Nesta oportunidade, é necessário que se faça uma diferenciação dos conceitos de legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária, para que considerações posteriores possam ser melhor compreendidas. A legitimidade ordinária é aquela que decorre da posição ocupada pela parte como sujeito da lide, ou seja, os titulares dos interesses em conflito, de tal modo que a legitimidade ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, enquanto que a legitimidade passiva caberá ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão.354 Segundo Araken de Assis: “(...) parte constitui uma situação aferida na relação processual, e parte legítima, na relação material”.355 Em relação à legitimidade extraordinária, cuida o direito processual de permitir, em casos excepcionais, em virtude de determinadas circunstâncias, que a parte demande em nome próprio, na defesa de interesse alheio. É a denominada substituição processual. Todavia, isso somente ocorrerá nas exceções expressamente autorizadas em lei, posto que a ninguém é dado pleitear em nome próprio direito alheio.356 Segundo o Professor Arruda Alvim: “Na hipótese de substituição processual, a relação a ser estabelecida, entre o autor ( substituto processual) e o réu, carece 353 354 355 356 Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 02. Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 35-36. Assis Araken, Manual do Processo de execução, p. 124. Confira-se artigo 6° do Código de Processo Civil. 144 ser esclarecida. E isto no sentido de que a temática das condições da ação será reportada ao substituído processual, dado que é ele quem sofrerá a eficácia da sentença, no sentido de que o bem jurídico a ele respeita, e não ao seu substituto. O substituto deverá, apenas, evidenciar que tem tal qualidade em relação ao substituído”.357 No que se refere à representação, por exemplo, das pessoas jurídicas em juízo, a lei abrange as posições ativas e passivas, sendo que a representação confere a totalidade dos poderes necessários à atuação como autor ou réu no processo.358 Desse modo, Luigi Monacciani, citado pelo mestre Donaldo Armelim,359 ensina que são dois os tipos de substituição processual: aquele em que da existência do direito subjetivo material do substituto depende a existência do direito do substituído; aquele em que da existência de direito do substituído depende a existência de obrigação do substituto. Assim, a decisão, proferida na causa em que atua o substituto processual, faz coisa julgada para este e para o substituído. 4.2 Conceito de Terceiro no Código de Processo Civil Não é incomum os conflitos sociais não se exaurirem na divergência entre autor e réu que se confrontam. Por não raras vezes, acabam atingindo terceiras pessoas que, não fazendo parte do processo, são atingidas em sua esfera jurídica. 357 358 359 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 28-29. Ibidem, p. 63. Luigi Monacciani, Azione e legitimazione, passim; Eduardo Garbagnati, La sostituzione processuale nel nuovo codice di procedura civile, passim; Donaldo Armelin, Legitimidade para agir do direito processual brasileiro, passim. 145 Em razão do afirmado, o direito admite que tais pessoas venham a ingressar na ação de forma voluntária, ou seja de alguma forma, convocados a participar do processo sob pena de a prestação jurisdicional não possuir utilidade e a eficácia não lhes ser estendida em toda sua plenitude.360 A respeito confira-se posicionamento de Athos Gusmão Carneiro: “No plano do direito processual, o conceito de terceiro terá igualmente de ser encontrado por negação. Suposta uma relação jurídica processual pendente entre A, como autor, e B como réu, apresentam-se como terceiros C, D, E etc., ou seja, todos os que não forem partes ( nem coadjuvantes de parte) no processo pendente”.361 O processualista argentino Ramiro Podetti,362 em posição quase isolada, enquadra entre os terceiros todos aqueles que não sejam nem o autor, nem o réu originário, englobando o litisconsorte que intervém posteriormente, o sucessor, etc. Olavo de Oliveira Neto entende que: “Para poder-se apurar o conceito de terceiro, mister isolar o conceito de parte, pois são figuras que se excluem, podendo-se afirmar que quem não é parte é terceiro. Em face do antagonismo desses elementos, é que a extremação de seus contornos torna possível precisar a posição”.363 Para Vicente Greco Filho: “(...) terceiro é o legitimado para intervir que ingressa em processo pendente entre outras partes, sem exercitar direito de ação próprio ou de outrem”. 364 360 361 362 363 364 Sérgio Bermudes, Introdução do processo civil, p. 80. Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 51. Ramiro Podetti, Tratato de la terceria, p. 42. Olavo de Oliveira Neto, A defesa do terceiro na execução, p. 76. Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 35. 146 No entendimento de Piero Calamandrei, a qualidade de parte só se adquire, com a abstração de toda referência ao direito substancial, pelo fato de ser de natureza exclusivamente processual.365 Verifica-se que a posição do mestre italiano é comum à maioria dos processualistas brasileiros - dentre eles Dinamarco- uma vez que partem para a definição do conceito de parte, de matéria exclusivamente processual. Já é tempo de abandonarmos a definição processual e material de parte e terceiro, tendo em vista que a preocupação com uma tutela efetiva e justa requer a aproximação dos dois conceitos. Com a garantia constitucional à tutela específica, inserida na Constituição Federal, o processo serve à vivificação do direito material e, principalmente, aos direitos fundamentais, entre os quais está inserida a garantia de tutela efetiva dos direitos das partes. É notório que a legitimidade que está por trás do conceito de parte é algo que diz respeito tanto ao direito material quanto ao direito processual.366 Nesse sentido, mostra-se interessante o ensinamento de Scarpinela367 que considera como sendo ideal uma coincidência entre as formas de como as pessoas exercem seus direitos no plano material e a forma como elas poderiam exercê-los no campo processual. Concluindo, nada impede que um terceiro possa ter algum título para ser parte, inclusive no processo pendente, ou que pelo menos propicie seu ingresso na qualidade de terceiro, bastando para tal a demonstração da 365 366 367 Piero Calamandrei, Direito processual civil, p. 229. Carnellutti, Sistema de direito processual civil, p. 27. Cássio Scarpinella Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 08. 147 situação legitimante a que pertence, utilizando-se de uma das formas de intervenção de terceiro previstas no Código de Processo Civil Brasileiro.368 4.3 Partes no Código de Defesa do Consumidor Com o advento da Lei nº 8.078/90, denominado Código de Defesa do Consumidor, ocorreu uma ampliação do conceito de partes , ex vi: “Artigo 2º: (...). Parágrafo único: Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo”. A tutela coletiva dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos não é objeto do presente estudo, porém se faz necessário observar a generalidade do parágrafo único do art. 2° do Código de Defesa do Consumidor que equipara a consumidor sujeito que pode ser parte na relação processual, qual seja, a coletividade de pessoas, mesmo se indeterminadas. Dessa forma, ainda que não participe do processo, como nos casos de ação para defesa de interesses ou direitos individuais homogêneos, se o pedido for julgado procedente, o titular do direito será beneficiado pela coisa julgada. Quando o direito é individual homogêneo o legitimado (arts. 82 do CDC e 5º da LACP) atua como substituto processual.369 Sendo o direito 368 369 Ibidem, mesma página. João Batista de Almeida, A proteção juridica do consumidor, p. 246. 148 difuso ou coletivo stricto sensu, a legitimidade é , para alguns, autonoma para a condução do processo, e para outros, ordinária ou extraordinária.370 Assim, não há qualquer crítica a ser efetuada ao disposto no microssistema de defesa do consumidor, pois conforme já dissemos alhures, trata-se de buscar a igualdade material e processual entre consumidores e fornecedores, levando-se em conta que um dos mais importantes princípios que norteiam a Lei nº 8.078/90 é, sem sombra de dúvida, o princípio da vulnerabilidade do consumidor. 4.4 Terceiros no Código de Defesa do Consumidor Para o Código de Defesa do Consumidor terceiros são todos aqueles que, mesmo não sendo parte originária na relação de consumo, contribuem auxiliando o fornecedor, ou ainda, àquele que vem a ser afetado pela relação de consumo, ou ainda, aquele sem qualquer vínculo com a referida relação. O Código de Defesa do Consumidor conhece duas espécies de terceiros, quais sejam: a) aqueles que embora sem relação com o fornecedor sejam causadores do dano. Tomemos como exemplos: um contrato de transporte de pessoas, em que, durante o percurso o ônibus é 370 Entendem ser ordinária a legitimidade: Rodolfo de Camargo Mancuso, Intereses difusos: conceito e legitimidade para agir, p. 204-205; Kazuo Watanabe, Tutela jurisdicional dos interesses difusos: a legitimação para agir, p. 331. Entende ser autônoma: Nelson Nery Júnior, Curso de direito processual civil, p. 09. Considera extraordinária: Rocha Hibraim, Litisconsorcio, efeitos da sentença e coisa julgada na tutela coletiva, p. 77. 149 assaltado; esse assaltante não mantém qualquer relação jurídica com o fornecedor, e acaba por causar um dano ao consumidor. A secretária do advogado, que causa dano ao consumidor, leva o fornecedor-advogado a responder pelo ato do preposto; b) aqueles que atuam em auxílio ao fornecedor quando da prestação dos serviços, ou seja, contratados pelo fornecedor para o fornecimento de peças necessárias a prestação do serviço. A classificação supra refere-se ao terceiro materialmente falando, pois para o presente estudo consideraremos terceiro todo aquele que poderia estar sendo parte e ainda não é. Na esteira do ensinamento de Scarpinella, por exemplo, é considerado terceiro o fabricante de veículo que faz parte da cadeia de fornecedores, de acordo com o art. 18 do CDC. Sendo a ação proposta pelo autor somente em relação à concessionária, esta, depois de substituir o veiculo, pode voltar-se contra o fabricante em processo autônomo ou nos mesmos autos. 5 DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Para uma melhor compreensão do estudo em proposição, é importante observar a origem etimológica da palavra intervenção, a qual deriva do latim interventio, de inter venire, ou seja, assistir, intrometer-se, ingerir-se. Na acepção comum é tida como a intromissão ou ingerência de uma pessoa em negócios de outrem, sob qualquer aspecto, isto é, como mediador, intercessor, conciliador, dentre outros.371 Aliás, Piero Calamandrei segue este ensinamento: “A palavra intervenção, com que se indica este fenômeno, expressa etimologicamente (inter = durante) a superveniência de outras partes durante um processo já iniciado sem elas”.372 Certamente, dentre os temas da parte geral do direito processual civil, um dos que apresenta maiores dificuldades é a intervenção de terceiros, seja por falta de bibliografia nacional, seja pela divergência encontrada na bibliografia estrangeira, que nem sempre se aplica aos institutos nacionais.373 Ainda, o instituto não apresenta uma sistematização ideal, vez que sem essa denominação encontram-se institutos de natureza diversa, como por 371 372 373 Moisés André Bittar, As espécies de intervenção de terceiros no processo do trabalho, p. 23. Piero Calamandrei, Derecho procesal civil egun el nuevo código, p. 314. Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 126. 151 exemplo, o caso da assistência, típica intervenção de terceiros, mas inserida fora do capítulo próprio do Código.374 Um breve esboço histórico é bem vindo ao presente estudo. No direito romano, vigorava o princípio da singularidade do processo e da jurisdição, decorrente da própria estrutura do processo civil, desenvolvido perante um magistrado privado. Desse modo, no período das legis actiones e no período formulário do direito romano, difícil se conceber um terceiro intervir em processo alheio. Assim, o princípio da singularidade abrandou-se apenas num terceiro período, difundido entre os processualistas como o período da cognitio extra ordinem, onde aumentaram as funções do pretor oficial do império romano, na condução do processo.375 Em contrapartida, no direito germânico – que vigorou no período da Idade Média – em conseqüência da dominação dos bárbaros, adotou-se o princípio da universalidade, contrário ao do direito romano, de tal modo que a sentença era proferida perante todos na assembléia geral.376 Dessa forma, as hipóteses de intervenção de terceiros são temperamentos do princípio da singularidade, e se justificam porque a sentença provoca implicações em relações jurídicas de pessoas que não são apenas partes, primariamente conhecidas como autor e réu. Isto ocorre porque as relações jurídicas não existem isoladas no mundo do direito, elas se inter-relacionam e sua complexidade determina, às vezes, influência recíproca.377 374 375 376 377 Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. Neste sentido: Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 114-115; Luiz Rodrigues Wambier, Curso avançado de processo civil, p. 225. Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 126-127. 152 O princípio básico que informa a matéria é o de que a intervenção em processo alheio somente será possível mediante expressa permissão legal, já que no direito brasileiro a regra é a da singularidade do processo e da jurisdição. A legitimação para intervir decorre da lei e depende de previsão expressa no Código.378 Encerrando o ensinamento, Vicente Greco Filho define que o instituto da intervenção de terceiros ocorrerá quando alguém, devidamente autorizado em lei, ingressar em processo alheio, o que torna complexa a relação jurídica processual. Exclui-se a hipótese de litisconsórcio ulterior, em que alguém ingressa em processo alheio para figurar como litisconsorte, como parte primária, portanto.379 Todo processo, de qualquer espécie, comporta sempre alguma modalidade de intervenção de terceiro. No processo de execução as possibilidades são restritas, admitindo-se somente a assistência e a nomeação à autoria. As outras formas de intervenção de terceiros são exclusivas do processo de conhecimento.380 No processo cautelar é de se admitir em casos excepcionais a modalidade de intervenção de terceiros denominada assistência, haja vista, que o processo cautelar pressupõe um processo principal. No caso de produção antecipada de provas, o assistente poderá intervir no processo cautelar, tendo em vista que também poderá ser assistente na lide principal. Via de regra, podem os terceiros ficar estranhos ao processo, todavia, nem sempre isto lhes convém, como tampouco aos litigantes. Justifica-se, assim, a previsão legal dos casos de intervenção de terceiros.381 378 379 380 381 Ibidem, mesmas páginas. Ibidem, p.127-128. Neste sentido: Nelson Godoy Bassil Downer, Curso básico de direito processual civil, p. 217 e ss. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 381. Ibidem, mesma página. 153 Sob a ótica do Código de Processo Civil de 1939, o instituto da intervenção de terceiros abrangia a intervenção voluntária e a intervenção coativa (art. 91). Admitidas essas formas no instituto, o primeiro grupo, compunha-se de: assistência, oposição, chamamento à autoria (denominado atualmente de denunciação à lide), nomeação à autoria, o recurso de terceiro prejudicado e os embargos de terceiro. Atualmente, insta lembrar que o Código de Processo Civil não disciplina a intervenção determinada pelo juiz. No diploma legal, datado de 1973, encontramse, no capítulo da intervenção de terceiros, a oposição, a nomeação à autoria, a denunciação da lide e o chamamento ao processo.382 Então, qual seria efetivamente o âmbito de aplicação do instituto da intervenção de terceiros? Para entendê-lo, é necessário que se tenha em mente a sentença proferida pelo juiz da causa, a qual tem fundamental importância. A sentença encerrará a pretensão na qual litigam duas partes distintas, sendo que o seu decisum apenas vinculará as partes que integraram efetivamente aquela relação processual. Posto isto, na tentativa de reduzir os perigos da extensão da sentença aos terceiros alheios à relação processual, o direito admite, em certos e distintos casos, que se intervenha no processo em que não é parte e também que dele se valha para defesa de seus direitos ou interesses, podendo desse modo sujeitar-se à sentença proferida.383 Desse modo, terceiras pessoas podem intervir, em virtude do interesse que tenham na causa em que postulam duas partes conflitantes. 382 383 Luiz Edson Fachin, Intervenção de terceiros no processo civil, p.11-12. Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 17. 154 Sobretudo, conforme nos ensina Moacyr Amaral Santos,384 essas terceiras pessoas não são sujeitos da relação jurídica deduzida em juízo pelas partes, mas sim de outra relação jurídica que àquela se prende, e a decisão de uma influirá sobre a outra. Ovídio Araújo Baptista da Silva385 também leva em consideração a sentença. Assim, menciona que existirá a intervenção de terceiros no processo quando alguém que dele participe, sem ser parte na demanda, objetiva auxiliar ou excluir um dos litigantes, para, então, defender direito ou interesse próprio que possa ser prejudicado em sentença. Não obstante se limite a coisa julgada apenas às partes, frente às quais se profere a sentença, seguidamente, os efeitos desta se expandem até alcançar indiretamente os terceiros, que de uma ou outra forma, estejam ligados às partes, produzindo influências diversas sobre alguma relação jurídica de que aqueles participem. Moacyr Amaral Santos entende, igualmente, que “(...) terceiras pessoas podem, pois, em razão do interesse que tenham na causa, entre duas outras, nela intervir”.386 Assim, essas terceiras pessoas não são partes na relação processual originária, na qual intervêm por provocação de uma delas, (chamamento ao processo e nomeação à autoria) em certos casos, e, em outros, voluntariamente (assistência; oposição; embargos de terceiros; recurso de terceiro prejudicado; concurso de credores). Assim, terceiros serão pessoas estranhas à relação de direito material que àquela se ligam intimamente, e intervêm no processo sobre a mesma relação, a fim de defender interesse próprio. 384 385 386 Ibidem, p. 18. Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 227. Neste sentido: Luiz Rodrigues Wambier, Curso avançado de processo civil, p. 147 e Milton Flaks, Denunciação da lide, p. 61. Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 24. 155 O conceito do Mestre Amaral Santos não nos parece completo, pois no caso do chamamento ao processo, o chamado não é estranho a relação de direito material, como ocorre com a obrigação solidária, em que o credor propõe a ação somente em relação a um dos devedores, mas os demais coobrigados mantêm com o credor uma relação de direito material. Ainda, em relação à nomeação à autoria, quem detém relação de direito material com o autor é o nomeado. Gelson Amaro de Souza afirma que: “(...) denomina-se intervenção de terceiro a intromissão daquele que não é figurante do processo, no sentido de assumir uma posição definida na lide, que pode variar, desde a de parte até uma simples participação auxiliadora de uma das partes”.387 Portanto, a intervenção deve sua existência à necessidade de diminuir o número de processos e evitar resultados contraditórios, e como ensina Moacyr Amaral Santos: “(...) a intervenção de terceiros somente deve ser aceita sob determinados pressupostos: um deles, ocorrente em todos os casos de intervenção, é o de que o terceiro deve ser juridicamente interessado no processo pendente”.388 A intervenção de terceiros divide-se com base em dois critérios distintos, quais sejam: a) se o terceiro visa a ampliar ou modificar subjetivamente a relação processual, onde na qual intervenção poderá ser ad coadjuvando, quando o terceiro procura prestar cooperação a uma das partes primitivas, como ocorre na assistência; ou ad excludendum, quando o terceiro procura excluir uma ou ambas as partes primitivas, como ocorre na oposição e 387 388 Gelson Amaro de Souza, Curso de direito processual civil, p. 160. Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 31. 156 na nomeação à autoria; b) de acordo com a iniciativa da medida, sendo a intervenção: espontânea ou voluntária, quando a iniciativa é do terceiro, como ocorre na oposição e na assistência; provocada ou forçada, quando, embora voluntária a medida adotada pelo terceiro, foi ela precedida por citação promovida pela parte primitiva (nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo). Chiovenda389 classifica as intervenções de terceiro, aludindo ao direito alemão e ao italiano, em duas formas de intervenção voluntária, a adesiva e a voluntária, e como intervenção forçada, o chamamento de terceiros à lide, conforme passaremos a discorrer: A intervenção adesiva, ou acessória, serve para auxílio da parte originária, em que o terceiro adentra ao processo por conta de um direito alheio, não representando a parte originária, até porque está já é parte na causa,390 como é o caso da assistência no direito pátrio. Desse modo, o fato de o interveniente adesivo ser admitido no processo no estado em que ele se encontra não quer dizer que ele se converterá em parte na causa, e sim que poderá auxiliar a parte, mas não estar em contraste com ela. Portanto, pode o interveniente influenciar no desentranhar da causa, mas estará sujeito à decisão, favorável ou não à parte que ele auxiliou.391 O mesmo ocorre com a Assistência no direito brasileiro, em que o ingresso do assistente não irá alterar a estrutura da demanda originária. Todavia, será ela denominada assistência simples, quando os efeitos da 389 390 391 Giuseppe Chiovenda, Instituiciones de derecho procesal civil, p. 283-284. Ibidem, mesmas páginas. Ibidem, mesmas páginas. 157 decisão judicial contrários ao seu assistido afetem indiretamente a relação existente entre ambos. Existe, outrossim, uma segunda classificação abordada por Chiovenda: a intervenção principal, cujo objetivo é fazer valer em face do réu e do autor um direito próprio do interveniente, e incompatível com a pretensão formulada na causa pelo autor. No direito atual eqüivale a uma simples faculdade do terceiro, cuja finalidade é prevenir o dano que de fato poderia resultar para o terceiro, em caso de vitória de uma das partes da causa principal, bem como evitar duplicação de processos e contradição de sentenças.392 No direito brasileiro, tal instituto se assemelha com a oposição, em todos os seus princípios e requisitos. No direito pátrio, a oposição é uma modalidade de intervenção de terceiros, mediante a qual um terceiro pretende haver, para si, um mesmo direito sobre o qual outros sujeitos já litigam em outra ação. Existe, ainda, o que se denomina de intervenção forçada, em que variadas razões podem determinar que uma das partes se dirija a um terceiro para arrastá-lo, em maior ou menor medida, sob uma ou outra figura, no curso da lide principal.393 Cada uma das partes pode chamar à lide um terceiro a quem se presuma comum a controvérsia. Destaca-se que o direito brasileiro não conhece a figura genérica da intervenção forçada, nessa forma tão ampla, mas apenas oferece casos especiais como o chamamento ao processo e à nomeação a autoria.394 392 393 394 Ibidem, p. 284. Ibidem, mesma página. Ibidem, mesma página. 158 Alvarado Velloso define a intervenção de terceiros da seguinte forma: “(...) a intervenção de terceiros é cabível quando de forma voluntária, provocada ou necessária um terceiro interessado se incorpora a um processo pendente com o objetivo de fazer valer um direito próprio, por estar nele vinculado- ao menos com uma das partes originárias – mediante uma relação de conexidade objetiva, de conexidade causal, conexidade mista objetivo – causal ou apenas de afinidade”.395 Como bem assevera Alberto dos Reis396 nem sempre o ingresso de outra pessoa, distinta das partes originárias, ou mesmo modificações subjetivas no curso da demanda constituirão intervenção de terceiros. Afirma também, no sentido de que a intervenção de terceiros é o instituto que propõe transformar o terceiro em parte,397 excluindo os casos de litisconsórcio necessário, de sucessão, de substituição processual em processo pendente, etc.398 O doutrinador Adolf Schonke399 admite apenas duas modalidades de intervenção de terceiros, quais sejam: a intervenção adesiva e a intervenção principal. Para o autor, a intervenção adesiva significa a participação de um terceiro em litígio pendente entre outras pessoas, que se apóia a uma delas por 395 396 397 398 399 Tradução livre de: “(...) la intervención de terceros tiene lugar cuando en forma voluntária, provocada o necesaria un tercero interessado se incorpora a un proceso pendiente com el objeto de hacer valer en éste un derecho o interés proprio, por hallares vinculado – por lo menos una de las partes originárias mediante una relacíon de conexidad objetiva, de conexidad causal, de conexidad misto objetivo-causal o de afinidad”. Alvarado Velloso, Introdución al estudio del derecho procesal, p. 135. Alberto dos Rios, Intervenção de terceiros, p. 06-07. Ibidem, p. 05-06. Ramiro Podetti, Tratado de la terceria, p. 35, em minoritária, enquadra entre os terceiros todos aqueles que não sejam nem o autor originário nem o réu originário, englobando o litisconsorte que intervém posteriormente, o sucessor etc. Adolf Schonke, Direito processual civil, p. 131. 159 existir um interesse particular na vitória desta parte na demanda. Assim, assevera que o interveniente adesivo será tão somente um coadjuvante de uma das partes no litígio, não se convertendo em parte na causa.400 Em contrapartida, a intervenção principal é aquela em que o terceiro pretende para si, seja em sua totalidade, seja em parte, a coisa ou o direito sobre o qual se funda um litígio entre duas pessoas, podendo exercitar sua ação por meio de uma demanda contra as duas partes do processo pendente. E, nesse ponto, difere da intervenção adesiva, pois não é a participação do terceiro em processo alheio, mas sim uma demanda independente contra ambas as partes do processo que já se encontra em curso, ou seja, do primeiro processo ou principal.401 Entre nós, a maioria doutrinária classifica a intervenção de terceiros simplesmente como espontânea ou voluntária e provocada ou forçada. Milton Flaks é um dos doutrinadores que seguem esse posicionamento, justificando que a intervenção de terceiros será voluntária se o terceiro, interessado na lide, ingressar no processo voluntariamente, sem ser provocado, sem ser chamado; por linhas opostas, considera a intervenção provocada se o terceiro vem a participar do litígio, auxiliando um dos contendores, ao que também se denomina doutrinariamente de ad coadiuvandum, ou reclamando em seu favor o direito disputado na demanda, doutrinariamente denominado de ad excludendum.402 Uma outra denominação existe, donde se depreendem três distinções: a) coacta ou forçada; b) provocada; c) voluntária ou espontânea. As duas 400 401 402 Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 136. Milton Flaks, Denunciação da lide, p. 57. 160 primeiras acontecem quando o terceiro possui interesse jurídico, legitimação para a causa e para o processo e, em virtude dessa identidade com a causa, seja em cúmulo ou por sucessividade é, chamado a compor um dos pólos da relação processual por uma das partes que já o integra. A terceira espécie ocorrerá sem necessidade de chamamento, pois é ato volitivo de terceiro movido exclusivamente pelo interesse jurídico fundado no direito consubstancial.403 No que tange à intervenção de terceiros no direito brasileiro, serão as suas modalidades objeto de análise no presente estudo, inclusive para se investigar minuciosamente se existe a possibilidade desse instituto, quais são e em que casos são as mesmas aplicáveis no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 5.1 Das Espécies de Intervenção de Terceiros 5.1.1 Da Assistência no Código de Processo Civil Assistência decorre do verbo assistir que significa auxiliar, socorrer, acompanhar. Assistência tem origem no direito romano, no período da extra ordinem cognitio surgiu com a finalidade de impedir que por negligência, dolo ou conluio entre as partes a sentença viesse a ferir o interesse de terceiro. 403 Willian Couto Gonçalves, Intervenção de terceiros, p. 26. 161 De acordo com Manoel Antônio Teixeira Filho: “A assistência tem sua origem acima mencionada em Bartolo, e se refere com intromissão de terceiro no processo, para auxiliar o autor ou o réu, sem confundi-la com a oposição”.404 Embora o Código de Processo Civil brasileiro não enquadre como uma espécie de intervenção de terceiros – seguindo a orientação de Carnelutti que define o assistente como sujeito da ação e, pois, como parte adesiva ou acessória, embora não seja sujeito da lide – o artigo 52 afirma que o assistente atuará como auxiliar da parte principal e deixa bem clara essa tomada de posição doutrinária no sentido de considerar o assistente parte acessória. A assistência é a única forma genuína de intervenção de terceiros em que aquele que ingressa no feito pendente entre outras pessoas, para auxiliar alguma delas, em cuja vitória tem interesse jurídico, permanece como terceiro até o fim do processo. No Código de Processo Civil brasileiro o procedimento da assistência é encontrado no livro I (Processo de conhecimento), Título II (Das partes e dos Procuradores), Capítulo V (Do litisconsórcio e da assistência), Seção II, artigos 50 a 55. Importa ressaltar no entendimento de Athos Gusmão Carneiro que é imprópria a designação sugerida pelo Código para o assistente de parte acessória ou parte secundária.405 No direito brasileiro chamamos de assistência o ingresso não forçado de terceira pessoa com a finalidade precípua de ajudar uma das 404 405 Manoel Antônio Teixeira Filho, Litisconsórcio e assistência, p. 133. Athos Gusmão Carneiro, Da assistência no processo civil, p. 239. 162 partes na lide em andamento. Em conformidade com o artigo 50 do Código de Processo Civil, pode vir a intervir no processo o terceiro que possua interesse jurídico de que a sentença seja favorável a uma das partes demandantes. Todavia, o que legitima terceiro a ingressar na lide com a finalidade de ajudar uma das partes, como já dissemos acima, é o interesse jurídico, representado pelos reflexos jurídicos que a resolução da mesma possa causar sobre a esfera de seus direitos. Eventuais reflexos só ocorrerão quando o assistente for titular de direito ou obrigação cuja existência ou inexistência dependa do julgamento da causa pendente ou vice-versa.406 Em conformidade com os ensinamentos de Cândido Rangel Dinamarco: “É de prejudicialidade a relação entre a situação jurídica do terceiro e os direitos e obrigações versados na causa pendente. Ao afirmar ou negar o direito do autor, de algum modo o juiz estará colocando premissas para a afirmação ou negação do direito ou obrigação do terceiro – e daí o interesse deste em ingressar. Ingressa em auxílio de uma parte, mas não por altruísmo, e sim para prevenir-se contra declarações que no futuro possam influir em sua própria esfera de direitos. Como sempre, se ele não 406 Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 385. Nessa linha expositiva, Dinamarco, na mesma obra e página ensina que: “Exemplo claro da primeira hipótese é o da causa pendente entre o credor e o devedor, para a condenação desse a pagar o valor da obrigação. O fiador é legitimado a intervir em defesa do réu afiançado, com o objetivo de pleitear uma sentença que negue a existência da obrigação principal – a qual é pressuposto necessário de sua própria obrigação acessória, porque a existência desta depende da existência da obrigação principal. Da segunda hipótese é exemplo a situação oposta. O devedor principal intervém como assistente do fiador-réu na tentativa de evitar uma sentença condenatória, porque esta conteria em si, necessariamente, o reconhecimento da obrigação principal, da qual o titular é ele. Para reconhecer a existência da obrigação (acessória) do fiador o juiz terá que passar pelo exame da obrigação (principal) do afiançado, porque esta é pressuposto daquela. No processo pendente entre o credor e o fiador, nada disporá o juiz acerca da obrigação principal (ele não poderá condenar o afiançado, que não é parte no processo), mas a afirmação da existência dessa obrigação poderá constituir um precedente incômodo para o devedor principal. Nesse sentido é o que se diz que a existência ou inexistência da obrigação discutida em juízo depende da existência ou inexistência da obrigação do terceiro”. 163 intervier restar-lhe-á intacta a possibilidade de defender seus próprios interesses depois, seja exercendo direito de ação ou defendendo-se; e sempre sem o vínculo da coisa julgada, que não se estende a quem não haja sido parte no processo (artigo 472 do Código de Processo Civil). Mas, intervindo, procura evitar o precedente desfavorável”.407 Como pode se depreender da citação acima o interesse do assistente deve ser jurídico, sendo certo que o simples interesse econômico ou de fato não legitima o terceiro a intervir como assistente para ajudar a parte na demanda em andamento. É importante ressaltar que aquele que ingressa no processo na qualidade de terceiro-assistente não tem o poder de alterar o objeto deste, uma vez que sua atuação se limita à adesão, à pretensão do assistido sem, contudo, propor nova demanda. Daí, o porquê de em alguns ordenamentos jurídicos a figura ser denominada de intervenção adesiva, como por exemplo, no direito alemão. A principal conseqüência para o assistido é de que ele fica impedido de posteriormente discutir a justiça da decisão, conforme dispõe o artigo 55 do Código de Processo Civil brasileiro. Ressalte-se que a vinculação da decisão não se confunde com a coisa julgada, pois, como sabemos, esta última só incidirá sobre a parte dispositiva da sentença e não sobre os fundamentos que o juiz utilizou para chegar à conclusão. Por seu turno, o assistente é atingido, ficando vinculado aos fundamentos da sentença e aos reflexos que possam causar sobre seus direitos ou obrigações.408 O interveniente adesivo litisconsorcial, como titular do direito discutido, tem relação com a parte contrária, pois, é o titular do direito material alegado, objeto da lide com a parte contrária. 407 408 Ibidem, mesma página. Ibidem, p. 386. 164 Difere a assistência, das demais formas de intervenção de terceiros, pois, exclusivamente nesta, o interveniente não sofre diretamente os efeitos da coisa julgada. Importa, nesta oportunidade, mencionar um interessante acórdão da 5ª Câmara do 1° Tribunal de Alçada Civil em São Paulo, cujo relator é o juiz Álvaro Torres Júnior, que entendeu ser o caso de assistência a possibilidade de intimação de sócios para, querendo, intervir em ação indenizatória proposta contra sua empresa diante da responsabilidade a eles imposta, pessoalmente, pelo artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da desconsideração da personalidade jurídica.409 Controvérsia também se estabelece entre os autores no caso do legatário. Pontes de Miranda410 entende que o legatário ingressa na demanda como parte e não como assistente; Chiovenda,411 em sentido contrário, entende que o interesse do tabelião é jurídico e não de fato. 5.1.1.1 Da Assistência Adesiva Simples A doutrina contemporânea distingue duas formas de assistência: a adesiva simples e a adesiva litisconsorcial. Ocorre a intervenção adesiva simples na hipótese de o terceiro intervir no processo com o escopo de auxiliar uma das partes em cuja vitória tenha interesse, sendo certo que se ocorresse uma decisão contrária à 409 410 411 Agravo de Instrumento n° 1.089.344-8/SP, j. un. 12.06.02, em Boletim da Associação dos Advogados de São Paulo n° 2.284, 7 a 13 de outubro de 2002, p. 2404-2405. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda, Comentários ao código de processo civil, p. 239. Giuseppe Chiovenda, Principii di diritto processuale civili, p. 602. 165 parte assistida, haveria prejuízo a um direito seu que, de alguma maneira, esteja ligado ao direito do assistido. A petição em que se formula o pedido de assistência simples (art. 50, CPC), deverá atender aos requisitos exigidos pelos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil.412 Não presentes as exigências legais, a hipótese é de indeferimento liminar nos moldes do art. 295, I, II e III do mesmo Código,413 salvo a hipótese de possibilidade de emenda da inicial, nos termos do art. 284. Assim, importa distinguir que na demanda deduzida em juízo entre o assistido e seu adversário não está em questão nenhum interesse do assistente, e o atingimento dos efeitos naturais da sentença em seu patrimônio jurídico é uma questão de fato, pois não existe uma relação jurídica material, posta em juízo, da qual o assistente faça parte.414 Destaca-se que o interesse que o assistente simples deve demonstrar não pode ser de cunho exclusivamente moral, econômico ou político. Deverá ser analisado sob o ponto de vista jurídico. José Frederico Marques vai buscar a definição desse interesse jurídico no direito português, que define tal instituto em seu artigo 355 do Código de Processo Civil: “(...) para que haja interesse jurídico capaz de legitimar a intervenção, basta que o assistente seja titular de uma relação jurídica cuja consistência prática ou econômica depende da pretensão do assistido”.415 412 413 414 415 Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 46. Idem, Manual de direito processual civil, p. 137-138. Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 138. José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 275. No mesmo sentido, v. suas Instituições de direito processual civil, p. 253. 166 Pode a sentença atingir em qualquer caso o terceiro, quer ele houvesse participado do processo, como assistente, quer não. Arruda Alvim é taxativo em afirmar que os efeitos da sentença se produzem contra o assistente litisconsorcial, tenha ele ingressado ou não no processo, e, também ao afirmar que o assistente simples é tocado pelos efeitos da sentença mesmo que não haja participado do processo.416 Esses efeitos reflexos que a sentença produz contra terceiros são inexoráveis, atingindo-os irremediavelmente, tenham ou não intervindo na causa, pois deverão ser tratados como se fossem litisconsortes sob regime unitário. Também o assistente simples sofre os efeitos da sentença, pois terá sua relação jurídica afetada em sua consistência prática e econômica.417 Eficácia direta da sentença será aquela cujo efeito é tido como natural. Assim como existirão eventuais reflexos sobre a relação jurídica conexa de que faça parte o terceiro legitimado a intervir. Em linhas gerais, ocorre que os exemplos situam-se numa esfera de hipóteses nas quais o terceiro, tenha ou não ingressado no processo, sofreria a eficácia constitutiva da sentença. São hipóteses em que o assistente se limita a evitar, preventivamente, a formação da sentença adversa ao assistido, por ter ele interesse na causa, a fim de evitar que a sentença se vincule em fato contrário ao que lhe interessa. Como também poderá ocorrer que, paralelo a esse tipo de interesse que legitimou a intervenção do assistente simples, o terceiro esteja legitimado a intervir adesivamente em casos nos quais a parte assistida tenha uma ação de regresso contra ele, se resultar a mesma, vencida na causa. 416 417 Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 30. Ibidem, p. 33-34. 167 Ovídio Araújo Baptista da Silva assevera que ocorrerá a assistência adesiva simples, nos seguintes casos: a) o ingresso do subinquilino na ação de despejo proposta pelo locador contra o inquilino; b) ingresso do fiador na ação entre o credor e o devedor principal sobre a validade do contrato de empréstimo garantido pela fiança; c) a intervenção do legatário na demanda entre o herdeiro legítimo e o testamentário sobre a validade do testamento; d) a intervenção do tabelião na ação entre os figurantes numa escritura pública por aquele lavrada, para a declaração de nulidade ou falsidade da escritura; e) a do segurador na causa movida pela vítima do acidente contra o segurado causador do dano.418 Quanto à sujeição à sentença, ocorre que na assistência simples legitimidade o terceiro que possui relação jurídica com uma das partes e será alcançado negativamente pela decisão se a mesma for desfavorável a quem ele assiste. Portanto, o interveniente adentra ao processo buscando a vitória de seu assistido, visando à não incidência do resultado negativo que refletirá na relação jurídica que possui com a parte. Assim, o assistente não se sujeitará à imutabilidade da sentença encoberta pela coisa julgada, pelo fato de não ser parte. Porém, o artigo 499, § 1°, do Código de Processo Civil autoriza-o a interpor recurso, dada a sua condição de terceiro juridicamente interessado, mesmo que não haja anteriormente ao processo. 418 Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 231-232. comparecido 168 O que concerne ao assistente simples, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu nos seguintes termos: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SÚMULA 267/STF. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ATUAÇÃO COMO LONGA MANU DO ESTADO. INTERVENÇÃO COMO ASSISTENTE SIMPLES. ART. 52, CPC. 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula nº 267 do STF. 2. A decisão liminar de órgão fracionário dos tribunais enseja agravo, impassível de ser substituído pelo mandado de segurança. Admitido o writ e denegado, é lícito ao Tribunal Superior, em recurso ordinário, com ampla devolutividade, aferir a carência de ação pela impropriedade da via eleita ab origine. 3. Nos regimes de concessão de serviços públicos as entidades concessionárias representam uma longa manu do Estado, certo que as decisões proferidas contra este vale para aquelas. A concessão, como evidente, não pode ser efetivada com sacrifício dos comandos constitucionais que regulam o agir do poder concedente. Destarte, na concessão, a transferência dos serviços, opera-se com as limitações que atingem o poder concedente, pelo princípio de que memo plus iuris transfere ad alium potest quam ipse habet (ninguém pode transferir mais direitos do que tem). Impondo a Constituição Estadual, por reprodução da Carta Federal (art. 230, CF), limites à concessão, estes devem ser respeitados, sem admissão de oposição pela concessionária em razão do próprio regime de submissão que se lhe impõe. 4. O concessionário age vinculadamente ao poder concedente, subsumindo-se às determinações emanadas deste poder, em sentido amplo, donde as decisões proferidas em face do concedente obrigam também o concessionário. 5. Em conseqüência, tratando-se de concessão de serviço público -transporte de passageiros- não há litisconsórcio necessário entre a entidade e o Estado, senão a possibilidade de intervenção do concessionário no feito como assistente simples, sujeitando-se aos limites legais estabelecidos para essa modalidade de intervenção de terceiro. 6. O assistente assume o processo no estado em que se encontra, sujeitando-se às preclusões operadas em face do assistido no juízo e foro preventos na forma do art. 109, do CPC. 7. Deveras, o impedimento à quebra do equilíbrio econômico-financeiro do contrato é dever do Poder concedente, cuja responsabilidade não pode ser persequível nem em mandado de segurança autônomo substitutivo de ação de cobrança, via interditada pela Súmula 269 do STF, nem pelo viés da intervenção litisconsorcial. 8. Recurso improvido”.419 419 RMS nº 14865/RJ – 1ª T – 2002/0059407-2, Relator Ministro Luiz Fux – j. 08.10.02, publicado no DJ em 11.11.02, RSTJ vol. 167, p. 79. Neste sentido, decisão do STJ – RMS nº 5872/SP, RMS nº 9004/SP, RMS nº 8441/CE, RMS nº 9103-DF. 169 Concluindo, verifica-se que o assistente simples é a forma mais pura de intervenção de terceiros, já que é o único terceiro que permanece nessa condição, mesmo depois de ingressar na lide, pois o assistente não faz pedido e muito menos defesa, sendo que da sua intervenção no processo não surge uma outra demanda em que o juiz deva decidir juntamente com a demanda originária, o que ocorre na denunciação da lide e na oposição. 5.1.1.2 Da Assistência Litisconsorcial Diferentemente do que ocorre na assistência simples, em que o interventor não possui interesse jurídico próprio, mas somente será alcançado pelos reflexos da decisão da lide originária, aqui, na modalidade de assistência litisconsorcial, o assistente tem interesse jurídico próprio, que poderia ter deduzido em juízo contra o adversário do assistido, mas não o fez. Por isso, quando intervém na lide alheia, assume posição igual ao litisconsorte. Assim, o assistente intervém porque desfruta, com o adversário do assistido, a mesma relação jurídica material deduzida em juízo. São aqueles casos em que não fosse alguma norma de exceção no sistema, como por exemplo, a legitimação extraordinária, aquele que pretende ser assistente deveria ter sido ou ser parte, já que ele pede, ou contra ele se pede alguma coisa em juízo. Os requisitos da assistência litisconsorcial (art. 54, parágrafo único) são os mesmos exigidos pela assistência simples, quais sejam, os contidos nos artigos 282 a 285 do Código de Processo Civil, com as mesmas ressalvas já mencionadas naquele instituto. 170 O regime jurídico da atuação do assistente litisconsorcial não se insere no texto do artigo 53 do Código de Processo Civil, que se aplica somente aos casos de assistência simples, mas está mais próximo do litisconsórcio unitário, isto para não dizer que é idêntico, a ele. Daí decorre o entendimento de que na assistência litisconsorcial todo ato de disposição praticado pelo assistido, sem o consentimento do assistente litisconsorcial, será considerado ineficaz, diante da aplicação sistemática do art. 48 do Código de Processo Civil, posto que nos casos de assistência litisconsorcial, assistente e assistido tendem a desfrutar da mesma relação jurídica em face da parte contrária.420 Exemplificando, podemos citar: os credores ou devedores solidários (art. 267 e 277 do Código Civil); os fiadores (art. 818 do Código Civil); os condôminos na defesa da coisa comum (art. 1.314 do Código Civil); os herdeiros na defesa dos bens da herança possuídos injustamente por terceiro (art. 1.719 c/c 1.314 do Código Civil); o adquirente ou cessionário do bem litigioso que não seja autorizado a suceder o alienante ou cedente na relação processual (Código de Processo Civil, art. 42, § 2°) e, no antigo Código Civil, a mulher na ação em que se discutiam os bens dotais (Código Civil de 1916, art. 289, III). Todavia, como assevera Cássio Scarpinela Bueno,421 não significa que, nesses casos, o assistente não tenha relação jurídica no plano do direito material com o assistido, atual ou potencial, posto que ela também existe. A diferença da assistência simples é que nesta a relação jurídica é irrelevante para fins da intervenção assistencial, uma vez que os efeitos que justificam a intervenção se irradiam diretamente da relação jurídica que existe 420 421 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 151. Ibidem, p. 218. 171 entre o assistente e o adversário do assistido; ressalte-se: que já está deduzida em juízo422 e também diz respeito ao assistente. A doutrina indica a existência de duas espécies de assistentes litisconsorciais: aquele que poderia ter sido litisconsorte facultativo, em caso de litisconsórcio facultativo unitário, e aquele que, apesar de ter legitimidade ad causam, não pode, por alguma razão, ser parte. Luiz Rodrigues Wambier423 cita o exemplo do adquirente de bem litigioso que, apesar de afirmar ser o titular de direito material sobre o bem, objeto material do processo, não pode ser parte, salvo se o autor concordar. Em casos como esse, ou o autor, ou o adquirente, será titular, mas não o primitivo réu. Seguindo esse raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. Assistente. ANATEL. Justiça Federal. Agravo de instrumento. O pedido de assistência pode ser formulado pelo terceiro quando do processamento do agravo de instrumento em segundo grau. Art. 50, parágrafo único, do CPC. Fundamentado o pedido feito pela Anatel, que é autarquia federal, cabe à Justiça Federal decidir sobre a sua intervenção (Súmula nº 150/STJ). Recurso conhecido e provido”.424 422 423 424 À falta deste requisito, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de indeferir o ingresso de assistente em mandado de segurança em que se questionava licitação pública. É a seguinte a ementa do julgado: “Processo civil. Licitação pública. Assistência litisconsorcial. Requisitos. Artigo 54 do Código de Processo Civil. 1. Na assistência litisconsorcial, também denominada qualificada, é imprescindível que o direito em litígio, sendo também do assistente, confira a este legitimidade para discuti-lo individualmente ou em litisconsórcio com o assistido. 2. Insatisfeito esse requisito, não há como deferir-se o pedido de admissão no feito dos requerentes. 3. Recurso Especial não conhecido” (STJ – 2ª T. – Resp. n° 205.249/MG – Rel. Min. Peçanha Martins – j. un. 20.03.01, DJU 04.06.01). Luiz Rodrigues Wambier, Curso avançado de processo civil, p. 252. STJ – Resp. nº 471084/MG – 4ª T – 2002/0132424-0 – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar – j. 17.06.03, publicado no DJ em 12.08.03. 172 5.1.1.3 Legitimidade da Assistência Listisconsorcial Quanto à legitimidade, Redente425 expõe que em relações subjetivas plúrimas, quando deferida pela lei material a possibilidade de cada titular buscar seu reconhecimento, está-se na presença de uma colegitimação, sendo cada um dos titulares do direito ou da obrigação legitimados para colocá-la em juízo. Exemplifica o autor com a ação em que um condômino reivindica contra o posseiro. A intervenção de outro condômino a reclamar perante o mesmo posseiro forma um cúmulo de demandas paralelas, os dois condôminos contra o réu, ou seja, a cumulação subjetiva de ações. Ovídio Araújo Baptista da Silva ensina que: “Nem a lei e nem a doutrina esclarecem com segurança qual a natureza específica dessa influência, distinguindo com nitidez, se também na assistência litisconsorcial como na simples, a projeção da sentença sobre a relação jurídica existente entre o interveniente e uma das partes se daria sob forma de interferência de alguma eficácia da sentença, ou se a indicada influência há de ser equivalente ao efeito próprio da coisa julgada”.426 Edson Prata entende que: “(...) o emprego do verbo influenciar significa ser diretamente eficaz: utilizando-se da palavra influir, deixou claro o legislador que a esfera jurídica do assistente litisconsorcial é atingida pela sentença, pela sua parte dispositiva revestida pela autoridade da coisa julgada”.427 425 426 427 Enrico Redenti, Derecho procesal civil, p. 254. Quanto à Competência da Justiça Federal, confira-se ainda, decisão do STJ, Resp. nº 92052/RJ. Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 236. Edson Prata, Intervenção de terceiros, p. 61. 173 Portanto, ocorre a assistência qualificada ou litisconsorcial quando a decisão da lide seja capaz de influir imediatamente sobre a relação jurídica em que o terceiro é sujeito.428 5.1.1.4 Posição do Interveniente A forma capaz de fazer uma distinção entre o chamado litisconsórcio facultativo unitário e a intervenção litisconsorcial é pela questão cronológica. Se houver associação de co-legitimados visando à propositura em conjunto da lide, ou figurando os mesmos como réus na lide comum, estar-se-á diante de um litisconsórcio. Se figurar na ação como autor apenas um deles e, em momento posterior, vier a se associar a outro titular de direito, estar-se-á configurada a assistência adesiva litisconsorcial.429 Ovídio Araújo Baptista da Silva, citando Piero Calamandrei, menciona que: “(...) se o terceiro que figura como assistente litisconsorcial se associa desde o início ao autor, será tido e havido por verdadeiro litisconsorte; e o momento de ingresso na causa, o simples fato cronológico, certamente não poderá transformar o litisconsorte em terceiro, de tal modo que, havendo demanda comum ou conexa entre assistente e assistido, eles seriam entre si litisconsortes se em conjunto ingressassem em juízo, como demandantes deixando de sê-lo o interveniente se, ao invés de figurar na petição inicial, ingressasse no processo em momento posterior”.430 A partir do momento em que é admitido como assistente no processo, atua em juízo com maior ou menor liberdade, de acordo com a espécie de assistência, adesiva ou litisconsorcial. 428 429 430 José Carlos Barbosa Moreira, A garantia do contraditório na atividade de instrução, p. 26. Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 12. Piero Calamandrei, apud, Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 20. 174 Segundo ensina Athos Gusmão Carneiro: “Nos casos de assistência litisconsorcial, o assistente atua processualmente como se fosse um litisconsorte do assistido, aplicando-se-lhe de regra o disposto no art. 48 do Código de Processo Civil: Salvo disposição em contrário, os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos; os atos e as omissões de um não prejudicarão nem beneficiarão os outros”.431 Tendo em vista sua equiparação a um litisconsorte (art. 54 do Código de Processo Civil), o interveniente acaba por ter uma posição independente da parte principal no que se refere aos poderes processuais, sendo lícito que requeira provas, recorra, prossiga no processo, etc., ainda que a parte principal se oponha.432 Porém, como o assistente litisconsorcial não é parte, não poderá efetuar o reconhecimento do pedido, modificar o objeto da lide, reconvir, etc. O entendimento de Arruda Alvim433 é contrário, pois entende que o art. 53 do Código não se aplica ao assistente litisconsorcial, mas somente ao adesivo simples, vez que o art. 54 do Código Processual brasileiro autoriza a conclusão de que se equipara o assistente litisconsorcial ao litisconsorte. Alguns autores434 consideram o assistente como parte com base no próprio texto interpretado a contrario sensu (arts. 52 e 53). Todavia, o 431 432 433 434 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 160. Adolf Schonque, Direito processual civil, p. 131. Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 72. Hélio Tornaghi, Comentários ao código de processo civil, p. 223; José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 297; José Carlos Barbosa Moreira, Comentários ao código de processo civil, p. 328-329. 175 fato de ser usada na lei, em seu artigo 52, a expressão parte principal não pode levar à conclusão segura de que tecnicamente o assistente simples é, sob a ótica substancial, ou sob a processual uma parte, tal como o é o autor ou o réu. Distinção se faça ao fato de que na assistência simples, embora o assistente não peça nada para si, é correto que a própria lei admite a nomenclatura parte não principal. Ao contrário, na assistência litisconsorcial, disciplinada pelo artigo 54 do CPC, tem-se uma figura que mais se aproxima da idéia de parte, já que a esta se aplica o regime de um litisconsorte sob a ótica processual; além da circunstância conseqüente este último também é atingido, substancialmente, pela eficácia da sentença e autoridade da coisa julgada.435 Os poderes do assistente simples, de acordo com a lei (art. 52 do CPC), identificam-se com os das partes. Sobretudo, esta assertiva somente poderá ser entendida e corretamente dimensionada à luz dos limites impostos à assistência simples, pelo art. 52, limites esses diversos e mais estritos do que os traçados ao assistente litisconsorcial.436 5.1.2 Da Assistência no Código de Defesa do Consumidor A doutrina brasileira é unânime437 em afirmar que o microssistema de defesa ao consumidor não permite e nem se coaduna com a possibilidade de intervenção de terceiros em processos em que o consumidor 435 436 437 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 129. Ibidem, mesma página. Neste sentido: Antônio Gidi, Assistência em ações coletivas, p. 269; Hugo Nigro Mazzilli, A defesa dos interesses difusos em juízo, p. 126-130. 176 pleiteia, em relação ao fornecedor, indenização por danos causados por produtos ou serviços. A exceção é o chamamento ao processo, previsto no art.101, II, da lei consumerista, que será objeto de estudo em tópico exclusivo. Leva-se em consideração que um dos mais importantes princípios que informam a Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) é o da vulnerabilidade do consumidor e o seu efetivo acesso à justiça, com a resolução rápida e eficaz das demandas em que é parte. Como já salientamos alhures, o microssistema de defesa ao consumidor surgiu da necessidade de harmonizar as relações de consumo entre fornecedores e consumidores, tornando essas relações mais eqüitativas, e dispensando ao consumidor tratamento diferenciado, levando-se em conta sua vulnerabilidade decorrente, entre outras causas, da necessidade do consumo, além do restrito acesso à informação e pouca cultura da grande massa de cidadãos de nosso país, o consumidor típico. Observe-se, ainda, que as relações de consumo são fundadas na responsabilidade objetiva,438 única exceção feita aos profissionais liberais na qualidade de prestadores de serviços (art. 14, parágrafo único), que somente responderão por danos decorrentes da prestação de serviços se agirem com culpa, ou exercerem atividade de meio ou de resultado. Atividade de meio é aquela em que não se promete resultado como, por exemplo, o exercício da advocacia, em que o causídico se propõe a utilizar a melhor técnica para obter resultado vencedor para seu cliente. Já a atividade de resultado é aquela em que o profissional se compromete a um determinado 438 Artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor: “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”. 177 resultado. Podemos citar como exemplo, a realização exames radiológicos nos quais o médico se compromete a emitir um laudo correto. A finalidade da restrição de intervenção de terceiros em relações processuais entre consumidores e fornecedores decorre da necessidade de o consumidor ver, prontamente, seu direito à indenização reconhecido, sem que se necessite aferir sobre culpa imputada ao fornecedor e, principalmente, sem a dilação que as modalidades de intervenção de terceiros acarretam ao processo. Conforme pode se observar do art. 6°, VI, do Código de Defesa do Consumidor, os direitos básicos do consumidor são enumerados, dentre eles a prevenção e a efetiva reparação dos danos por ele sofridos, tanto patrimoniais como morais. O Código é informado pelos princípios da responsabilidade objetiva, indenização integral dos danos sofridos que derivem de ilícito contratual ou extracontratual e pela cumulatividade de indenizações por dano patrimonial. Levando-se em consideração a constituição do Código de Defesa do Consumidor em um microssistema autônomo, composto de regras que têm a finalidade de disciplinar as relações existentes entre fornecedores e consumidores, conclui-se que as normas de direito processual civil somente se aplicarão às relações de consumo se não vierem a contrariar as disposições e os princípios que norteiam esse microssistema. Qualquer norma processual que retarde ou impossibilite, mesmo em parte, a efetiva e célere tutela específica a que o consumidor tem direito, deve ser afastada e, portanto, não aplicada nas relações de consumo, a não ser em casos de lacuna na lei consumerista, e, ainda assim, no que não colidir com seus princípios, conforme dispõe o art. 90 do Código in verbis: 178 “Artigo 90: Aplicam-se nas ações previstas neste Título (Da defesa do consumidor em juízo) as normas do Processo Civil e da Lei nº 7.347/85, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições”. Conforme já explicitado, o instituto da assistência no direito brasileiro é permitido para aquele que tenha interesse jurídico em ver seu assistido ser vencedor na lide em andamento com a possibilidade de assistí-lo e ajudá-lo a sair-se vencedor na demanda, haja vista que os reflexos da sentença poderão alcançar seus direitos ou obrigações (assistência adesiva), assim como para aquele que poderia estar em um dos pólos da ação e não está (assistência litisconsorcial). No presente estudo, só se falará em caso de assistente litisconsorcial quando o terceiro faça parte da cadeia de fornecedores e um deles esteja sendo demandado pelo consumidor. O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade solidária, a todos os fornecedores, pela reparação dos danos causados aos consumidores. É de se perguntar se não seria possível, havendo mais de um fornecedor na relação de consumo, que, somente, um deles esteja sendo demandado, (por opção do consumidor), pois, de acordo com o instituto da solidariedade, o credor da obrigação pode exigir de um, alguns ou de todos os devedores, a totalidade da assistência que os demais possam vir a oferecer ao demandado, visto que sofrerão os reflexos da decisão. É importante frisar que, em momento algum, o CDC se manifesta em relação à assistência, nem para negar sua possibilidade, nem para admitir sua utilização nos processos relativos a relações de consumo. Um dos raros autores que se manifestaram sobre a possibilidade de intervenção de terceiros nas lides de consumo é Adriano Perácio de Paula, que afirma: 179 “Cientificado da existência do processo, pode vir o terceiro, o fabricante de um produto colocado no mercado de consumo, por exemplo- e, portanto, responsável solidário com o fornecedor- a colaborar para que a decisão não imponha alguma pena a este, ou até mesmo definir qual das excludentes de responsabilidade previstas no parágrafo 3 do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ou uma condenação mais branda. Além disso, num mesmo ato- a notificação- o fornecedor que esteja sendo demandado, pode, ao obter uma resposta de atuação do notificado: a) resguardar os limites de sua responsabilidade; b) assegurar antecipadamente o direito de regresso;c)trazer elementos de prova que, ordinariamente, não possuiria se estivesse a atuar de forma isolada”.439 Ora, se o consumidor optou por propor a ação somente em relação a um dos fornecedores, abdicando da possibilidade do litisconsorte passivo, por lhe ser mais conveniente, seria lícito aos fornecedores impor-lhe uma demanda nos termos da assistência? Por tudo o que já foi exposto, principalmente no que toca ao direito do consumidor em obter uma decisão rápida e eficaz, sem dilações e, ainda, a responsabilidade objetiva que norteia as relações de consumo (portanto, sem aferição de culpa, exigindo-se somente o nexo de causalidade entre o produto ou serviço e o dano causado, assumindo o risco da atividade), a resposta teria que ser negativa, pois nenhuma vantagem adviria ao consumidor com a intervenção do assistente à lide em andamento, entre o consumidor e o fornecedor escolhido para nela figurar no pólo passivo. No caso de assistência litisconsorcial, o interesse jurídico do assistente se mostra de forma clara e aguda, isto porque o que está em discussão no processo é uma indenização pleiteada contra um dos devedores solidários de eventual obrigação e, caso o devedor escolhido se torne vencido 439 Adriano Perácio de Paula, Direito processual do consumo, p. 155. 180 na ação, tem este o direito de cobrar a parcela no evento, pois nesses casos o Código Civil estabelece que, em obrigação solidária, aquele se satisfizer o crédito poderá cobrar dos demais o quinhão respectivo. Situação interessante, e que ainda não foi objeto de estudo pela doutrina, decorre da conjugação do art. 12 do Código, que prevê, em casos de danos causados pelo fato aos consumidores do produto ou serviço, o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados, com o art. 13, que estabelece que o comerciante é igualmente responsável, nos termos do art. 12, quando os elencados no art. 12 não puderem ser identificados, ou o produto for fornecido sem identificação clara de seu fabricante, produtor, construtor ou importador, estabelecendo, também, que aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação no evento danoso. Ao realizarmos uma análise mais profunda da conjugação dos dois artigos em comento, é possível visualizar uma situação em que a ocorrência da assistência litisconsorcial poderá ser benéfica ao consumidor, trazendo-lhe efetiva possibilidade de indenização, como preconiza o microssistema. O mesmo não se pode afirmar tratando-se de assistência simples, pois essa forma de intervenção em nada poderia favorecer o consumidor, mas somente faria com que o processo tivesse demora indesejável. Imaginemos um consumidor que tenha adquirido um produto de um pequeno comerciante e que o produto tenha lhe causado dano, 181 porém, o fabricante do produto não pode ser identificado desde logo. O consumidor propõe a ação indenizatória em relação ao comerciante, porém já sabe que o mesmo não possui condições financeiras de indenizá-lo. Não será aceitável que se permitia o ingresso do fabricante como assistente litisconsorcial para se defender e provar que o dano carece de nexo de causalidade com o produto, ou que ocorreu culpa exclusiva da vítima ou de terceiro? Qual o prejuízo que restará ao consumidor, se já é sabida a insuficiência financeira do comerciante para indenizá-lo, caso seja aquele vencedor na lide? Parece-nos que é o típico caso em que a intervenção do assistente litisconsorcial, o produtor do determinado bem, vem beneficiar a possibilidade de tutela jurisdicional do consumidor, haja vista que no caso de assistência litisconsorcial, aquele que intervém está sujeito aos efeitos da sentença agasalhada pela coisa julgada e, portanto, será obrigado a indenizar o consumidor. Assim, tem-se que a coisa julgada afetará o assistente litisconsorcial não porque ele é assistente litisconsorcial, ou porque ele poderia ter pretendido ser. Afeta-o, sim, porque a relação jurídica de direito material que titulariza está sendo discutida em juízo, e, por exceção, ele não pode, não pôde ou não precisa estar em juízo para tutelar o seu direito.440 5.1.3 Da Oposição no Código de Processo Civil A oposição tem origem no direito germânico. 440 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil, p. 164. 182 No direito romano, o iudicium se estabelecia entre as partes e o juiz da causa, de tal forma que a sentença proferida somente produziria efeitos mediante as partes e não a terceiros. Assim, diversa era a estrutura do juízo e as conseqüências no processo germano-bárbarico. Existia o juízo universal. A assembléia do povo decidia os litígios que lhes eram submetidos em praça pública, de tal forma que a sentença produza efeitos não somente em relação às partes, mas em relação a todos que dela participavam e tomavam conhecimento. Desse modo, terceira pessoa que se considerasse detentora do direito ou da coisa, objeto de litígio entre outras partes, deveria intervir no processo, visando excluí-las e, desse modo, evitando ficar sujeita ao que entre elas se decidisse. A origem da oposição consistia na intervenção de terceiros num processo entre outras partes, no qual existia uma pretensão incompatível com as destas, objetivando excluí-las.441 Tomando o corpo de intervenção no processo das partes, tal instituto ingressou no direito canônico e no direito comum – direito italiano medieval. No direito italiano, influenciado pelo direito medieval, a oposição, deixou de lado ser figura de intervenção de terceiro no processo das partes e assumiu o caráter de ação autônoma de terceiro contra ambas as partes, todavia paralela e separada da ação entre elas. No direito contemporâneo, França e Itália adotam o sistema germânico primitivo, no qual a oposição é denominada intervenção principal, consistente na intervenção de terceiro no processo das partes. Na Alemanha, institui-se a intervenção como ação autônoma do terceiro contra as partes de demanda pendente.442 441 442 Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 41. Ibidem, mesma página. 183 O direito português herdou o instituto do direito comum e do direito canônico. As Ordenações em seu livro 3°, título 20, § 31, agasalhavam a oposição: “(...) vindo o opoente com seus artigos de oposição excluir assim o autor, como o réu, dizendo que cousa demandada lhe pertence, e não a cada uma de ditas partes (...)”. Fixou-se também no direito brasileiro, no qual disciplinaram o Regulamento nº 737, de 1850, no artigo 118 e seguintes, os códigos estaduais e, mais tarde o Código de Processo Civil brasileiro, nos artigos 102 a 105.443 No direito alemão, a figura da oposição é denominada intervenção principal, no § 64, da ZPO, que estabelece que quem pretender para si, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre o qual se funda um litígio entre duas pessoas, pode exercitar sua ação por meio de uma demanda contra as duas partes do processo pendente.444 No direito pátrio, a oposição ocupa lugar em qualquer tipo de processo contencioso, desde que preenchidos seus pressupostos, quais sejam: 1) litispendência do processo principal; 2) que a pretensão do opoente objetive a coisa ou direito sobre o qual discutem autor e réu. E essa pretensão terá causa petendi diversa da do autor e diferente do fundamento da defesa do réu, bastando que, das posições de ambos, seja incompatível à pretensão com as quais o opoente não poderá conviver juridicamente; 3) que se observe o momento da dedução da oposição, pois este influi no procedimento da mesma: a) se deduzida antes da audiência, o regime jurídico será o da plena unidade procedimental (art. 59), havendo julgamento prejudicial da oposição (art. 61) e, aqui, será realmente uma oposição, b) se oferecida depois de iniciada a audiência, o julgamento da oposição será realizado, em regra, sem 443 444 Ibidem, mesma página. Adolf Schonke, Direito processual civil, p. 136. 184 prejuízo do julgamento do processo principal, embora possa o juiz sobrestar o andamento do mesmo, por um prazo de até 90 dias, para que ocorra o julgamento da causa principal e da oposição nos autos do processo principal (art. 60), c) só pode ser admitida oposição até ser proferida a sentença de pimeiro grau (artigo 56, que alude à sentença como termo final).445 Também deverão ser observadas as disposições contidas nos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil e, por ser a oposição uma ação típica, também terá aplicação o artigo 284 do mesmo Códex. Todavia, é esta uma providência facultativa, da qual a parte poderá ou não lançar mão em conformidade com seu livre arbítrio,446 vez que no direito brasileiro não existe a chamada oposição provocada existente no artigo 347 do Código de Processo Civil português,447 nem o litígio entre pretendentes do direito alemão (§ 75, ZPO), o qual engloba elementos comuns à oposição e à nossa ação de consignação em pagamento quando se fundar no artigo 335, IV, do Código Civil (artigo 898 CPC). No atual Código de Processo Civil brasileiro, encontra-se a oposição encartada no Livro I (Do Processo de conhecimento), Título II (Das partes e dos Procuradores), Capítulo VI (Da intervenção de terceiros), Seção I, artigos 56 a 61. Segundo Rosenberg,448 a finalidade da oposição, instituto de rara utilização prática no direito brasileiro, é assegurar as vantagens da economia processual, dando oportunidade a que o opoente se valha do processo já instaurado para nele incluir a sua demanda, excludente da 445 446 447 448 Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 144. Celso Agrícola Barbi, Comentários ao código de processo civil, p. 313. Hélio Tornagli, Comentários ao código de processo civil, p. 241. Leo Rosenberg, Tratado de derecho procesal civil, p. 96. 185 demanda proposta pelo autor da ação principal ou da reconvenção apresentada pelo réu, contra a qual também pode se opor. Tal instituto constitui-se em uma demanda mediante a qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes do autor e do réu de um processo cognitivo pendente.449 Ocorre que esse conceito engloba pontos essenciais da teoria da oposição e todos os seus aspectos integrantes, a saber: a) a oposição como demanda, com que o seu autor vem a juízo pedir algo para si; b) a qualidade de terceiro que, obviamente, o autor da oposição deixa de ter, tornando-se parte a partir do momento em que intervém em processo alheio; c) a incompatibilidade substancial de interesses; d) a litispendência inter alios; e) a pertinência exclusiva ao processo de conhecimento; o que permite f) a distinção entre a oposição interventiva, que se faz ingressando em processo pendente entre os opostos, e a autônoma, que dá origem a um novo processo.450 No ensinamento de Barbosa Moreira451 a oposição de que trata o Código de Processo Civil de 1973, tal qual a do sistema anterior, repousa sobre um pressuposto que consiste na pretensão de terceiro quanto à coisa ou direito controvertido. Sintetizando, a oposição é uma demanda mediante a qual terceiro deduz, em processo pendente, fundamentos pelos quais a coisa ou o direito discutidos entre o autor e o réu lhe pertence. Ou seja, é uma ação que será movida contra o autor e contra o réu, por uma pessoa que não é parte na 449 450 451 Cândido Rangel Dinamarco, Intervenção de terceiros, p. 37. Ibidem, p. 37-38. José Carlos Barbosa Moreira, Estudos sobre o novo código de processo civil, p. 79. 186 demanda, para que se reconheça o direito real ou pessoal sobre aquele bem, objeto do litígio em curso.452 A oposição tem como pressuposto legal a existência de ação principal, pois ocorrendo desistência, com homologação judicial, o pedido de oposição deve ser indeferido, conforme já reconhecido pela jurisprudência (RT nº 584:97). Nesse sentido, ressalva seja feita à decisão do Superior Tribunal de Justiça na qual: “PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM A CAUSA PRINCIPAL. INVERSÃO DA ORDEM DE CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. ART. 61 DO CPC. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Não obstante tenha sido a causa principal decidida antes da oposição, em afronta a letra do art. 61 do CPC, a sentença deu a cada parte o que lhe era de direito. Apesar de não obedecida a forma, criada, aliás, por uma questão de lógica, o fim visado pelo dispositivo foi atingido. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 2. Recurso não conhecido”.453 Porém, há julgados no sentido de que a oposição é ação autônoma, independente da ação primitiva, pois com ela o opoente quer fazer valer direito próprio, incompatível com o das partes (RT nº 599:63). A oposição processa-se da seguinte forma: na ação de oposição, o terceiro, já agora opoente, é autor e apresentará a petição inicial 452 453 José Roberto dos Santos Bedaque, Código de processo civil interpretado, p. 164. Neste sentido: Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 142-143; José antonio Pancotti, Elementos do processo civil de conhecimento, p. 109-110; Nelson Godoy Bassil Dower, Curso básico de direito processual civil, p. 231-232; Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 134-136; Manoel Antonio Teixeira Filho, Intervenção de terceiros, p. 08-14. STJ – Resp. nº 420216/SP – 6ª T. – 2002/0030726-9 – Rel. Min. Fernando Gonçalves – j. 01.10.02, publicado no DJ de 21.10.02. 187 sob os requisitos do artigo 282 do Código de Processo Civil, instruída com os documentos em que fundamenta sua pretensão (art. 283, CPC). A ação de oposição será distribuída por dependência (art. 109, CPC) ao juízo da ação pendente, e apensada aos autos principais. Na ação de oposição são réus, em litisconsórcio necessário, o autor e o réu da ação principal, como opostos. Não se cuida, todavia, de litisconsórcio unitário, uma vez que o juiz não decidirá a lide de modo necessariamente idêntico em relação aos opostos. Ressalte-se que o Código processual abre uma exceção à regra de que a citação deve ser feita pessoalmente ao réu (ou a procurador do réu com poderes para receber citações, inteligência dos arts. 38 e 215 do CPC), pois prevê a citação dos opostos “(...) na pessoa de seus respectivos advogados” (art. 57, CPC). Desse modo, é irrelevante que a estes tenham sido outorgados poderes especiais para receberem citações iniciais.454 Todavia, se o réu for revel na ação principal, sua citação se processa pessoalmente (art. 57, parágrafo único, CPC). Os opostos terão prazo comum de 15 dias para contestar a oposição (art. 57, CPC). E após a audiência preliminar e as atividades de saneamento, caso necessárias, o juiz determinará a instrução conjunta da ação principal e da ação da oposição, nos autos da ação principal, “(...) sendo ambas julgadas pela mesma sentença” (art. 59, CPC).455 O magistrado, julgando em primeiro lugar a oposição, dirá se são procedentes ou não as pretensões do opoente sobre a coisa ou o direito, objeto da demanda. Se procedente totalmente a oposição, se a coisa, portanto, cabe a ‘C’, e não a ‘A’, nem a ‘B’, então, necessariamente, se apresenta 454 455 Neste sentido: Celso Agrícola Barbi, Comentários ao código de processo civil, p. 363. Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 73. 188 improcedente a pretensão exposta na ação principal de ‘A’ contra ‘B’. Assim, se dará a procedência da oposição e a improcedência da ação. Todavia, quando improcede a oposição, o juiz dirá, na ação principal, se a coisa ou o direito controvertido irá tocar ao autor ou ao réu, ou seja, julgará procedente ou improcedente o pedido do autor. Possível também será a procedência parcial da oposição e a procedência parcial da ação principal, podendo, inclusive, em ambas as ações, ocorrer a antecipação dos efeitos da tutela se presentes os respectivos pressupostos.456 Se, entretanto, a oposição for oferecida após iniciada a audiência, a hipótese não mais se apresentará, a rigor, como intervenção de terceiros. Apesar de ser distribuída por dependência, ela será um processo autônomo, sob procedimento ordinário, processando-se, instruindo-se e julgando-se sem que haja prejuízo da causa principal (art. 60, CPC). Com efeito, pode o juiz suspender, em até 90 dias, o andamento do processo principal, esperando-se que o processo da oposição alcance rapidamente uma fase procedimental que permita a reunião dos processos e o julgamento conjunto de ambas as ações, com vistas à economia e simplificação processual. Se o processo da oposição tiver andamento retardado, o juiz deverá julgar a ação e, mais tarde, julgará a oposição. A ação da oposição somente poderá ser oferecida até que seja proferida a sentença (juízo de 1° grau) do processo principal. Ocorre que se a sentença já houver sido proferida, não mais será cabível seu ajuizamento, devendo a pessoa interessada no objeto da lide ajuizar a demanda que entender adequada. 456 Ibidem, mesma página. 189 Acrescente-se, ainda, que a oposição não é cabível em todas as demandas, sendo somente possível em processo de conhecimento, pelo rito comum ordinário, bem como nos procedimentos especiais que, após contestados, adotam o rito ordinário.457 Ressalte-se ser incabível a oposição no processo de execução. Em execução de sentença também é inadmissível a intervenção de terceiros, após proferida a sentença. Em se tratando de título extrajudicial, a oposição é afastada, inclusive, pela absoluta incompatibilidade de procedimentos.458 Também não cabe a oposição no processo perante os Juizados Especiais, como dispõe o art. 10 da Lei n° 9.099/95, e nas demandas sob procedimento sumário, a teor do que dispõe o art. 280 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n° 10.444/02. 5.1.3.1 Do Procedimento da Oposição O opoente formulará uma pretensão que será dirigida às partes do processo originário, porque ele se considera como titular do domínio ou qualquer outro direito real sobre a coisa, que é incompatível com aquele pretendido pelas partes. Assim, em demanda reivindicatória, o terceiro poderá, fundado em qualquer dos meios de aquisição da propriedade, apresentar pedido de reconhecimento desse direito, em prejuízo das razões que as partes sustentam.459 457 458 459 Ibidem, mesma página. Neste sentido: Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 110; Celso Agrícola Barbi, Comentários ao código de processo civil, p. 356-357. Ibidem, p. 164-165. 190 A oposição também será admissível se o terceiro pretender que se reconheça a titularidade sobre o direito pessoal controvertido no processo. O crédito, cuja satisfação é pretendida pelo autor e negada pelo réu, pode ser pleiteado pelo opoente, fundando-se no fato de ser o mesmo cessionário, por exemplo.460 É correto afirmar que a oposição é uma ação, contudo, aplicando-se o princípio da economia processual se embute a oposição dentro de uma outra ação, o que vem a caracterizar a forma intervencional.461 Hermann Roenick, parafraseando Pontes de Miranda, menciona que: “(...) o opoente exercita sua ação, significando pretensão própria e pede o que está em contradição com o que o autor da ação ajuizada pede e o réu, nela, contesta, e com o que o réu por sua vez afirma, defendendo-se”.462 O sistema de oposição italiano tem origem em instituto do direito germânico, verdadeira intervenção no processo que, por seu turno, diverge do modo como tal sistema fora desenvolvido no direito comum italiano, e mais se assemelha ao ordenamento alemão.463 Os exemplos mais usuais que podem ser citados são todos de natureza patrimonial, de cunho real ou pessoal: em demanda relativa à propriedade de certa coisa, terceiro ajuíza oposição, alegando seu direito 460 461 462 463 Ibidem, mesmas páginas. Hermann Roenick, Intervenção de terceiros: a oposição, p. 36. Ibidem, mesma página. Giuseppe Chiovenda, Principii di diritto processuale civili, p. 703-704; Fairén Guillén, Estudios de derecho procesal, p. 177-186; Enrico Tullio Liebman, Manualle di diritto processuale civile, p. 112. 191 incompatível com o das partes; em demanda relativa a certo crédito, o terceiro também intervém, alegando sua condição de credor, excludente de tal condição das outras duas partes. Por seu turno, Segni entende que outras relações jurídicas, mesmo de estado, admitem a oposição: “Nel campo dei rapporti di Stato non é reppure da escludere un interveto principale: si chiede láccertamento del matrimonio, puô intervenire un terzo, che chieda che venga accertato un suo rapporto matrimoniale conuno dei coniugi, anteriore al rapporto controverso”.464 Contudo, aceitável também se faz a denominação de remédio facultativo de que o terceiro pode valer-se ou não, uma vez que, se não o exercitar, poderá propor demanda autônoma e interpor oposição de terceiro, ordinária, contra a sentença.465 Dir-se-á, ainda, como uma intervenção principal, justificando, assim, a busca do opoente a direito próprio manifestamente contrário ao dos opostos: “L’intervento principale è quello al quale la legge si riferisce quando prospettta l’ipotesi che il terzo faccia valere el suo diritto (affermato) ‘in confronto di tutte le parti’ (...)”.466 A oposição é uma ação e deve ser deduzida em petição inicial, obedecendo, inclusive, aos requisitos dos artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil, às condições da ação e aos pressupostos processuais. Ela será distribuída por dependência e, uma vez recebida, deverão os opostos ser 464 465 466 Antônio Segni, Intervento in causa (diritto processuale civile): Novissimo digesto italiano, p. 955. Virgilio Andreoli, Diritto processuale civile, p. 614. Crisanto Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, p. 330-331. 192 citados para responder à nova ação em prazo comum de quinze dias. Desse modo, formar-se-á entre os primitivamente denominados autor e réu uma cumulação subjetiva passiva, em que cada qual agirá independentemente, de maneira que os atos de um não prejudicarão ao outro. Desse momento em diante o processo passará a seguir normalmente com cumulação objetiva de demandas, uma proposta pelo autor inicial em face do primitivo réu e outra pelo opoente em face de ambos, não se caracterizando o chamado litisconsórcio unitário, pois o juiz não decirá a lide de modo necessariamente idêntico em relação aos opostos.467 O procedimento da oposição poderá variar conforme o momento em que se oferece a intervenção, somente podendo ser admitida até a prolação da sentença, consoante dispõe o artigo 56 do CPC. Assim, segundo deduzida antes ou depois da audiência, pode a oposição gerar conseqüências distintas. Uma vez oferecida antes da audiência, o procedimento será o acima mencionado; tendo o processo ações cumuladas, os autos da oposição deverão ser apensados aos autos da ação principal e ambos serão decididos em uma mesma sentença, sendo a oposição, contudo, julgada em primeiro lugar, devido a inteligência do artigo 61 do CPC.468 Entretanto, se a oposição for deduzida após iniciada a audiência de instrução e julgamento, o procedimento inicialmente descrito somente será observado se não vier a prejudicar o andamento da ação primitiva. Caso ocorra descompasso entre a ação e a oposição, será evidente o prejuízo, caso contrário, paralisar-se a ação até que a oposição chegue à mesma fase, importaria submeter a primeira a descabida demora, superior ao 467 468 Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do processo de conhecimento, p. 191. Ibidem, mesma página. 193 benefício que o julgamento simultâneo poderia ocasionar. Nesse segundo caso apresentado, a oposição não será considerada intervenção de terceiros, ocasionando apenas seu efeito normal de determinar a conexão de causas, com a reunião diante de um único juiz, visando a evitar decisões conflitantes. Apenas se o juiz observar a possibilidade de fazer a oposição chegar à mesma fase em que se encontra a ação, é que haverá o prosseguimento de ambas, na forma inicialmente descrita.469 5.1.4 Da Oposição no Código de Defesa do Consumidor Importa, agora, perquirirmos sobre a possibilidade da modalidade de intervenção de terceiros, denominada oposição, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a exemplo do que fizemos em relação à assistência e que faremos em relação às demais modalidades previstas no Código de Processo Civil Brasileiro. É importante salientar que, assim como no caso da assistência, o Código de Defesa do Consumidor não menciona a oposição, mas a grande maioria doutrinária entende que as intervenções de terceiro não são cabíveis no sistema do CDC porque impedem a celeridade processual, desejada para a tutela do consumidor. Prima facie se mostra inviável a possibilidade de intervenção de terceiro na modalidade de oposição nas relações de consumo, até porque é difícil se imaginar uma situação na qual o legitimado pretenda excluir autor e réu. 469 Ibidem, p.191-192. 194 Porém, imaginemos que um consumidor tenha adquirido um imóvel de uma incorporadora e venha a ter conhecimento que tramita em juízo uma ação reivindicatória proposta por outra pessoa (consumidor), que pleiteia o domínio sobre o bem por ele já adquirido através de contrato de compra e venda. Seria possível que esse consumidor adentrasse no processo por meio de oposição para defender seu direito ao domínio do imóvel contra os litigantes primários? Parece-nos perfeitamente cabível, nesse caso, que se permita ao consumidor opoente defender seu direito ao domínio do imóvel que é objeto da ação entre o incorporador e outro consumidor, pois impedí-lo de exercer seu direito de ação seria contrariar o princípio da facilitação do acesso à justiça, preconizado pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor, apesar de termos como litigante primário outro consumidor. Portanto, o que temos nesse caso é um consumidor, como litigante primário, e outro consumidor, como opositor ao direito que o litigante primário alega ter. Não nos resta outra alternativa a não ser admitir a oposição, pois o direito de facilitação da defesa de um dos consumidores não pode excluir o do outro. É certo que o consumidor opoente poderia exercer seu direito de ação através de ação autônoma, sem qualquer prejuízo. Porém, com a finalidade de privilegiarmos o princípio da economia processual e, 195 mormente, o do acesso à justiça, abre-se a possibilidade, mesmo que no pólo da ação primitiva também litigue um consumidor. Não se estaria, pois, infringindo os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor, afinal o mesmo direito que é conferido ao consumidor que se encontra na lide primitiva deve ser também conferido ao consumidor opoente. O fato de o Código de Defesa do Consumidor adotar a responsabilidade objetiva em nada contraria o acima afirmado, pois esta diz respeito ao fornecedor e não a outro consumidor. Apesar da excepcionalidade da situação, está demonstrado que não se pode, de forma absoluta, proibir a modalidade de intervenção de terceiro, oposição, nas relações de consumo, até mesmo por prestígio ao princípio da igualdade, tratando-se os consumidores da mesma forma. 5.1.5 Da Nomeação à Autoria no Código de Processo Civil Alguns registros históricos dão conta de que a origem da nomeação é romana, onde era conhecida e denominada como nominatio auctoris. O direito romano, no período da extraordinarie cognitiones, conheceu o instituto como uma das modalidades de intervenção, não voluntária, em uma causa. Assim, era necessário o chamamento nos casos de ação de reivindicação em face daquele que possuísse a coisa em nome de outro, tendo o detentor a obrigação de nominarse auctorem, ou seja, de denunciar em juízo 196 o nome daquele que era o verdadeiro possuidor e, desse modo, chamá-lo à causa.470 O jus in re, que se convertia em direito subjetivo de abrangência erga omnes em prol do autor da ação, proporcionava-lhe certa medida de comodidade, de tal modo que não se lhe impunha a necessidade de buscar conhecer previamente quem era o verdadeiro proprietário da coisa ou quem era o seu possuidor indireto.471 Desde os romanos, entre os quais a nomeação consistia na denunciação por parte do demandado, possuidor ou detentor da coisa, ou seja, a pessoa que deveria figurar em juízo, já existia a concepção de que tal instituto proporcionava três benefícios distintos: em primeiro, o benefício consistia no acertamento do processo, no que tange ao plano subjetivo, com a pessoa correta no pólo passivo da relação processual; o segundo benefício repercutia em benefício da própria prestação jurisdicional, que não se via tomada na condução de um processo em que a parte demandada não fosse aquela que verdadeiramente deveria figurar; o terceiro, e último benefício dizia respeito à conveniência da própria parte equivocadamente nominada, que se livrava não só do constrangimento, como também dos trabalhos comuns de se defender numa demanda não sua.472 Em Portugal, as Ordenações regulamentam o Instituto nos seguintes termos: “ 1) Ordenações Afonsinas: (...) a Autoria há luguar em todo caso, honde o Reo he demandado por alguüa cousa movel, ou de raiz, 470 471 472 Vittorio Scialoia, Procedimiento civil romano, p. 428. Alfredo de Araújo Lopes da Costa, Direito processual civil brasileiro, p. 398. Willian Couto Gonçalves, Intervenção de terceiros, p. 285. 197 que elle tenha, ou pssua em seu nome, ou doutrem, assy per auçam real, como pessoal, que seja presecutoria da cousa, assy em feito civel, como crime civilmente emtentada pera cobramento da dita cousa”.473 “2) Ordenações Manuelinas: Em todo caso onde alguü for demandado, por algüa cousa móvel, ou de raiz, que elle tenha, ou possua em seu nome, ou dóutrem, assi em feito civel, como crime civelmente intentado, pera cobrar e aver a dita cousa, pode chamar por Autor qualquer pessoa que entender provar de que a ouvesse; e em feito crime criminalmente intentado nom averá luguar a dita autoria”.474 “3) Ordenações Filipinas: Em todo o caso, em que alguem fôr demadado, por cousa movel, ou de raiz, que tenha, ou possúa em seu nome, ou de outrem, assi em feito civel, como crime civelemente intentado, para cobrar e haver a dita cousa, pode chamar por autor qualquer pessoa, que entender provar, de que a houvesse. E em feito crime criminalmente intentado não haverá lugar a autoria”.475 O Código de Processo Civil brasileiro de 1973, contempla a nomeação à autoria nos artigos 62 a 69. No direito pátrio considera-se a nomeação à autoria como o instituto que visa a corrigir a ilegitimidade passiva toda vez que o réu é citado por ato que praticou em seu próprio nome ou por ordem de outrem.476 Correta se demonstra a observação de Vicente Greco Filho no sentido de que: “A nomeação à autoria (nominatio auctoris) visa à busca da pertinência subjetiva da ação no pólo passivo da relação 473 474 475 476 Ordenações Afonsinas, Livro III, Título XXXXI. Ordenações Manuelinas, Livro III, Título XXXI. Ordenações Filipinas, Livro III, Título XLVI. Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiro no processo civil brasileiro, p. 189. 198 processual, porque é instituto destinado à substituição do réu, parte legítima, por outra pessoa revestida de legitimação”.477 Outro não é o entendimento de Barbosa Moreira,478 para quem a nomeação à autoria constitui um meio inspirado, provavelmente, pelo princípio da economia processual, de retificar o erro do autor no endereçamento da ação, ou seja, é uma correção de legitimação. A nomeação à autoria, bem como o instituto da oposição, não é redutível a uma forma de intervenção de terceiro. Na oposição não há falar-se em intervenção de terceiro, porque aquele tido como terceiro será titular de uma ação no processo. Na nomeação à autoria ela não ocorrerá porque na realidade ela resta situada como uma forma de correção do pólo passivo da demanda, ocasionando, em princípio, a substituição neste pólo, de um sujeito legítimo por outro em igual condição de legitimidade.479 Assim, a nomeação à autoria mostra-se como um meio de se corrigir o pólo passivo da relação processual, de modo que o terceiro, que ingressará na demanda deduzida, assuma a condição de réu no processo, ocupando, assim, o lugar do primitivo demandado.480 Sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, duas situações legitimam a nomeação à autoria: a) a do detentor de coisa alheia em relação ao proprietário ou possuidor, quando for demandado pela coisa em 477 478 479 480 Vicente Greco Filho, Da intervenção de terceiros, p. 80. No mesmo sentido: José Raimundo Gomes da Cruz, Pluralidade de partes e intervenção de terceiros, p. 190. José Carlos Barbosa Moreira, Estudos sobre o novo código de processo civil, p. 79. Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do processo de conhecimento, p. 210. Neste sentido: Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiro no processo civil brasileiro, p. 189; Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 64 e 67-68; Cândido Rangel Dinamarco, Intervenção de terceiros, p. 33-34. Ibidem, mesma página. 199 nome próprio (inteligência do artigo 62 do CPC); b) a daquele que for demandado em ação de indenização por dano à coisa, quando alegar que praticou o ato em cumprimento de instruções de terceiros (artigo 63 do CPC). Nessas duas situações, o réu primitivo deverá, acionado em nome próprio, nomear como autor aquele que, segundo seu entender, deveria figurar realmente no pólo passivo da demanda, ao invés dele.481 Importante trazer a lume os conceitos de posse e detenção. A detenção é figura regida pelo direito material, que não se confunde com a posse e menos ainda com a propriedade. A propriedade é direito real sobre a coisa; a posse é situação fática, decorrente da exteriorização do domínio, ou ao menos informada pela vontade de possuir. Já a detenção é mera situação fática, não qualifica nem pelo domínio, nem pela vontade de possuir como sua a coisa.482 Assim, essa modalidade de intervenção de terceiro somente incidirá no pólo passivo da relação processual. A nomeação à autoria não será voluntária, mas sim provocada, uma vez que a participação desse terceiro não se dá por sua exclusiva vontade, mas acontece por iniciativa do réu da primitiva ação, de forma a indicá-lo para integrar o processo. Todavia, será uma intervenção obrigatória, pois o réu tem o dever de promovê-la, sob pena de incorrer em perdas e danos frente à sua omissão.483 Se cabível nessas hipóteses elencadas pela lei processual, o réu deverá nomear como autor, no prazo de sua resposta, aquele que, de acordo com seu entender seja realmente o legítimo réu para a ação, podendo 481 482 483 Ibidem, p. 211. Ibidem, p. 193. Ibidem, p. 211. 200 nisto precluir. Se, todavia, tal situação descrita pelo réu estiver contemplada pela lei, ainda que abstratamente, o juiz deferirá o pedido, ouvindo o autor no prazo de cinco dias, podendo este aceitar ou negar a indicação feita pelo réu. Uma vez não aceita a nomeação feita pelo autor, o processo retomará o seu curso normal face ao primitivo réu, sem que se opere a intervenção, devolvendo, então, a este, o prazo para a manifestação de sua defesa. Contudo, se o autor concordar com a nomeação realizada, deverá promover a regular citação para que possa o nomeado responder à ação. Promovida a citação, poderá o nomeado aceitá-la ou negá-la. Se a negar, ficará sem efeito a nomeação, prosseguindo-se o processo contra o primeiro demandado, proporcionando-lhe novo prazo para a resposta. No entanto, se o nomeado aceitar a nomeação, ocorrerá aquilo que Marinoni e Arenhart484 denominam de extromissão, ou seja, o réu antigo deixa o pólo passivo da demanda, o qual será, agora, assumido pelo nomeado, que defenderá seu ato, sua posse ou sua propriedade. Importa ressaltar que para que aconteça a substituição do pólo passivo, necessário se faz que ocorra a aceitação tanto do autor quanto do nomeado, pois se um deles negar a nomeação, a intervenção não se opera, permanecendo a relação processual primitiva. A aceitação não necessita ser expressa, ela será presumida se o autor, no prazo assinado pelo juiz, nada requerer, e se o nomeado não comparecer, ou, em comparecendo, nada alegar.485 Nas hipóteses dos arts. 62 e 63 do CPC, a nomeação à autoria daquele que, segundo a versão do réu, é o verdadeiro responsável 484 485 Ibidem, p. 212. Neste sentido: Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 190; Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, Manual do processo de conhecimento, p. 212. 201 pelos atos lesivos ao suposto direito do autor constitui ônus para o réu, e o seu descumprimento importa responsabilidade por perdas e danos, por ausência de nomeação ou por nomeação de pessoa diversa daquela em cujo nome detém a coisa objeto do processo. O art. 1228 do CC-2002 inova ao estabelecer que o proprietário pode reivindicar a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. A inovação à possibilidade de demanda reivindicatória proposta consiste na menção em face do detentor. Fredie Didier Júnior486 afirma que se aceitarmos a possibilidade de ação reivindicatória em relação ao detentor não terá mais aplicação o disposto no art. 62 do CPC, que cuida da nomeação à autoria. Afirma, ainda, o autor que a despeito da nova redação do art. 1228 do CC, não possui o mero detentor legitimidade ad causam para a ação reivindicatória. 5.1.6 Da Nomeação à Autoria no Código de Defesa do Consumidor Conforme já observamos acima, a figura interventiva da nomeação à autoria só poderá ocorrer nos casos previstos nos artigos 62 e 63 do Código de Processo Civil brasileiro, ou seja, quando aquele que detiver a coisa em nome alheio, for demandado em nome próprio, caso em que deverá nomear à autoria o proprietário ou possuidor, e, também, nos casos de ação indenizatória intentada pelo proprietário ou por titular de um direito sobre a coisa, sempre que o responsável pelos prejuízos alegar que praticou o ato por ordem, ou em cumprimento de instruções de terceiros. 486 Fredie Didier Júnior, Regras processuais no novo código civil, p. 88. 202 No caso específico do art. 63, em que se trata de ação indenizatória, é notória a impossibilidade de utilização da figura denominada nomeação à autoria, afinal, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária quando houver mais de um autor da ofensa, fixando, portanto, o Código, no dispositivo em comento, o princípio da responsabilidade solidária entre os fornecedores, o que por si só, exclui a possibilidade da nomeação à autoria, apesar de o CDC não se manifestar sobre essa possibilidade ou impossibilidade. Porém, no que toca ao artigo 62, é possível aventar-se a possibilidade da utilização pelo réu da figura da nomeação à autoria, sem que isso traga prejuízos ao consumidor, como pretende impedir o microssistema. Sendo o contrato de compra e venda de imóveis entre construtora e consumidor, que é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, é possível aventar-se algumas possibilidades em que o instituto da nomeação à autoria poderia ser benéfico e não danoso ao consumidor. Por exemplo, não é incomum em nosso país que consumidores formulem instrumento particular de compromisso de compra e venda de terrenos ou imóveis, pactuando pagamentos diferidos no futuro, sem que tomem posse da coisa, até porque os imóveis normalmente são vendidos com base em plantas, ou seja, não foram ainda construídos. Pois bem, uma vez formulado o contrato e pagas as prestações pelo consumidor, o imóvel objeto do contrato não é entregue a ele, ficando para ser administrado na posse de incorporadora, ou pessoa jurídica qualquer. Se o consumidor propõe a ação em relação ao detentor do imóvel (que o detém em nome da incorporadora que celebrou o contrato com o 203 consumidor), seria muito mais interessante processualmente falando, que se permitisse a nomeação à autoria pelo demandado, haja vista que, se isso não ocorrer, o processo será extinto por ilegitimidade de parte, devendo o consumidor propor nova ação contra a parte legitimada, demandando mais tempo e gastos desnecessários. Outra situação em que se poderia aceitar a nomeação à autoria, seria o caso em que funcionário de hospital recusa atendimento a paciente pela recusa, por parte deste a emitir cheque caução. Uma vez proposta a ação diretamente em relação ao funcionário, este poderia nomear à autoria seu empregador, alegando que agiu por ordem expressa deste. Parece-nos que a possibilidade aventada acima não prejudicaria o consumidor, tendo em vista a possibilidade financeira superior do empregador e a maior possibilidade de efetiva indenização. Questão que necessita enfrentamento é a possibilidade da nomeação nos casos em que a demanda é processada no rito comum sumário, a teor do art. 280 do CPC, na redação da Lei nº 10.444, e também nas demandas processadas perante o Juizados Especiais. Apesar da impossibilidade expressa do art. 280 e da Lei nº 9.099/95, que nega a possibilidade de nomeação à autoria nos casos acima citados, seria descumprir a própria Constituição Federal, garantidora do acesso à justiça em seu art. 5º, inciso XXXV, e da facilitação da defesa do consumidor em juízo. Ora, o que o microssistema procura é tratar o consumidor de forma diferenciada, dada a sua notória desigualdade em relação aos 204 fornecedores e a dificuldade de acesso à justiça por parte da população brasileira mais carente. Portanto, a aceitação da modalidade de intervenção denominada nomeação à autoria só viria a beneficiar o consumidor, não havendo razões para que se impeça sua utilização. Novamente, afirmamos que somente deverão ser admitidas as figuras da intervenção de terceiros em processos entre consumidores e fornecedores, em casos em que não se prejudique ainda mais o consumidor, principalmente com o tempo necessário para o deslinde das lides, haja vista que qualquer espécie de intervenção no processo primitivo, acarreta uma perda maior de tempo. Porém, em casos excepcionais como os acima relatados, negar a possibilidade da nomeação à autoria, seria prejudicar ainda mais o consumidor e afrontar os princípios elencados nos arts. 4º e 6º do CDC, que estabelecem a Política Nacional das relações de consumo e os direitos básicos do consumidor, pois o tempo e os valores despendidos seriam muito maiores. 5.1.7 Da Denunciação à Lide no Código de Processo Civil 5.1.7.1 Esboço Histórico A denunciação da lide, tal como é encontrada nos dias atuais, tem traços no direito antigo, como o grego, o romano, o germânico, apenas para referirmos alguns. Todavia, para o presente estudo vamos nos filiar ao estudo das legislações mais recentes. Essa forma de intervenção de terceiros teve sua origem no direito processual romano, no período formulário, havendo-se consolidado pela Lex Aebutia do século II a.C., com a denominação de denuntiatio litis. 205 Nas Ordenações Afonsinas,487 a denunciação da lide aparecia com a denominação romana de chamamento à autoria. A ação originária e a de indenização ocorriam separadas, sendo que a ação só poderia ser exercida se ocorrida a evicção, de tal modo que, por conseqüência, o chamado não era obrigado a ingressar no processo. Nas Ordenações Manuelinas,488 pequenas modificações foram introduzidas na matéria, como o caráter obrigatório da denunciação, então denominada de chamamento à autoria. Já nas Ordenações Filipinas,489 poucas modificações foram inseridas nesse chamamento. O Regulamento nº 737, de 1850, ocupou-se com a denunciação (a que chamava de autoria) nos artigos 111 e 117. Depois, a Consolidação do conselheiro Antônio Joaquim Ribas cuidou da denunciação (ainda denominada chamamento à autoria), no artigos 262 a 264 e 268 a 278.490 O Código de Processo Civil brasileiro de 1939, influenciado pelo direito alemão e austríaco, continuou a denominar chamamento à autoria, disciplinando-a nos artigos 95 a 98. O Códex de 1973, cientificamente melhor elaborado que o anterior, versa sobre a denunciação da lide nos artigos 70 a 76.491 487 488 489 490 491 Livro III, Títulos XV e XVI. Livro III, Títulos XXX e XXXI. Livro III, Títulos XVIV e XVL. Manoel Antônio Teixeira Filho, Cadernos de processo civil: intervenção de terceiros, p. 30. Ibidem, mesma página. 206 5.1.7.2 Conceitos da Denunciação da Lide no Direito Pátrio e no Direito Comparado A denunciação da lide ao terceiro tem natureza jurídica de ação secundária de garantia, e a legitimidade do denunciado é apurada na prova do fato de ser sua obrigação decorrente de contrato ou de lei. Assemelha-se, pois, a uma faculdade processual. Assim, como preleciona o artigo 70 do Código de Processo Civil, não existe obrigatoriedade, uma vez que é instituto de direito material. A colocação mais apropriada será, então, ônus.492 O conceito de denunciação da lide não apresenta divergências substanciais entre os autores, de tal modo que as definições se aproximam muito umas das outras, como se verá a seguir: Para Moacyr Amaral Santos, denunciação da lide se define como: “É ato pelo qual o autor ou o réu chamam a juízo terceira pessoa que seja garante do seu direito, a fim de resguardá-lo no caso de ser vencido na demanda em que se encontram”.493 Luiz Fux conceitua: “O instituto da denunciação da lide é modalidade de intervenção forçada, vinculado à idéia de garantia de negócio translatício de domínio e existência de direito regressivo. A parte que enceta a denunciação da lide, o denunciante, ou tem direito que deve ser garantido pelo denunciado-transmitente ou é titular de eventual ação regressiva em face do terceiro, porque demanda em virtude de ato deste”.494 492 493 494 Walter Vechiato Júnior, Curso de processo civil, p. 77. Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 25. Luiz Fux, Intervenção de terceiros, p. 31. 207 Frederico Marques preleciona: “(...) pode ser conceituada como o ato pelo qual o autor ou o réu procura trazer a juízo, para melhor tutelar seu direito e por imposição legal, terceiro ligado à relação jurídica consubstanciada na lide”.495 Humberto Theodoro Júnior: “(...) é medida obrigatória, que leva a uma sentença sobre a responsabilidade do terceiro em face do denunciante, de par com a solução normal do litígio de início deduzido em juízo, entre autor e réu”.496 Athos Gusmão Carneiro, por seu turno: “(...) é uma ação regressiva, in simultaneus processus, proponível tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso, caso ele, denunciante, vier a sucumbir na ação principal”.497 Sydney Sanches ensina que: “(...) é a ação incidental proposta por uma das partes (da ação principal), via de regra contra terceiro, visando aquela a condenação deste à reparação do prejuízo decorrente de eventual derrota na causa, seja pela perda da coisa (evicção), seja pela perda de sua posse direta, seja por lhe assistir o direito regressivo previsto em lei ou em contrato (relação jurídica de garantia)”.498 Piero Calamandrei conceitua: “O Chamamento em garantia é o instituto processual por força do qual quem é parte de uma lide sobre um terreno objeto na causa 495 496 497 498 José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 283. Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 134. Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 63. Sydney Sanches, Denunciação da lide, p. 31. 208 em que um terceiro lhe deve garantia (questão de incômodo), chama à causa este terceiro para colocá-lo em situação de prestar espontaneamente a defesa e estender-lhe efeito de julgamento; e, como precaução a fim de evitar que o terceiro negue a existência desse terreno na sua defesa ou concordando a prestá-la, seja derrotado, pede, ao mesmo juiz da questão em julgamento, que declare o terceiro capaz de prestar a defesa (contestação) e a ressarcir o dano derivado de sua omissão ou do insucesso de sua defesa (ação de regresso)”.499 Para Willian Couto Gonçalves, denunciação da lide se define como: “(...) instituto de que dispõe a parte figurante na relação processual, ativa ou passiva, para fazer valer direito seu perante terceiro, a fim de garantir-se da reparação do prejuízo que da evicção, ou de uma relação jurídica, tornada patológica, prejudicial ao sujeito denunciante, possa resultar”.500 No Código de Processo Civil brasileiro, a denunciação da lide está encartada nos artigos 70 a 76: O Código da Cidade do Vaticano contempla uma figura de intervenção de terceiro, por provocação, em caso de repetição ou em caso de jactância de pretensões. É uma figura com características gerais do chamamento em garantia, por isso o § 2, do artigo 17 do referido Código prescreve: “(...) el demandado puede también, en el juicio pendiente en primer grado, llamar a un garante, o llamar a un tercero, cuando 499 500 Tradução espontânea de: “(...) la chiamata in garanzia é l’istituto processuale in forza del quale chi è parte di una causa vertente sopra un oggetto per cui un terzo gli deve garanzia (questione di molestia), chiama in causa questo terzo per metterlo in grado di prestare spontaneamente la difesa e per estendere anche a lui gli effetti del giudicato; e, in previsione che il terzo neghi di essere tenuto alla difesa, o, pur acconsentendo a prestarla, resti soccombente, chiede, allo stesso giudiceinvestito della questione di molestia, che dichiari il terzo tenuto a prestar la difesa (azione di difesa) e a risarcire il danno derivante dalla non fatta a non riuscita difesa (azione di rigresso)”. Piero Calamandrei, La chiamata in garanzia, p. 84. Willian Couto Gonçalves, Intervenção de terceiros, p. 214. 209 contra éste, en caso de vencimiento, haya una acción de repetición, o bien cuando el tercero se jacte de pretensiones sobre el bien que constituye el objeto de la litis”.501 No direito italiano, tal instituto se regula pelos seguintes dispositivos legais: “Artigo 1485 do Código Civil: ‘El comprador demandado por un tercero que pretende tener derecho sobre la cosa vendida, debe llamar en causa al vendedor. Cuando no lo haga y sea condenado por sentencia basada en autoridad de cosa juzgada, pierde el derecho a la garantía, si el vendedor prueba que existíam razones suficientes para hacer rechazar la demanda. El comprador que há reonocido espontáneamente el derecho del tercero, pierde el derecho a la garantía, si no prueba que no existín razones suficientes para impedir la evicción’”.502 “Artigo 106 do Código de Processo Civil: ‘Cada una de las partes puede llamar al proceso a un tercero respecto del cual considera común la causa o por el cual pretenda estar garantizada”’.503 “Artigo 108 do Código de Processo Civil: ‘Si el garante comparece y acepta asumir la causa en lugar del garantizado, éste puede pdir, cuando las otras partes no se opongan, la propria extromisión. Ésta se dispone por el juez por medio de ordenaanza; pero la sentencia de fondo pronunciada en el juicio, despliega ss efectos también com quién há sido objeto de extromisión’”.504 “Artigo 32 do Código de Processo Civil: ‘Causas de garantía. La demanda de garantía puede proponerse al juez competente para conocer de la causa principal, a fin de que la decida en el mismo 501 502 503 504 Ibidem, p. 216-217. Tradução livre: “O comprador demandado por um terceiro que pretende Ter direito sobre a coisa vendida, deve chamar à causa o vendedor. Quando não tiver sido condenado por sentença baseada na coisa julgada, perderá o direito à garantia, se o vendedor provar que existiam razões suficientes para se rejeitar a demanda. O comprador que tenha reconhecido espontaneamente o direito de terceiro, perde o direito à garantia, se não provar que não existiam razões suficientes para impedir a evicção”. Ibidem, mesmas páginas. Tradução livre: “Qualquer parte pode chamar no processo um terceiro do qual mantém comum à causa ou da qual pretende estar garante”. Ibidem, p. 217-218. Tradução livre: “Se o garantidorcomparece e aceita assumir a causa no lugar do garantido este pode requerer, se as outras partes não se oporem à própria exclusão. Esta é disposta com ordenança pelo juiz mas a sentença de mérito pronunciada no juízo estende os seus efeitos também contra o excluído”. Ibidem, p. 218. 210 proceso, aun cuando exceda de su competencia por razón del valor’”.505 Para Luis Mattirolo,506 a chamada em garantia supõe sempre um obrigado e implica a idéia de uma demanda eventual de condenação do garantido; a simples chamada, ao contrário, só para a intervenção implica unicamente a idéia de uma comunicação de direitos e de obrigações entre o terceiro chamado a intervir e um dos litigantes na ação originária. No direito alemão, traduzido para o espanhol, encontra-se encartada nos § 72, 73, 74 e 68, in verbis: “§ 72. Toda parte de un proceso que, en el caso de resolverse éste en perjuicio de ella, crea que puede ejercitar una acción de garantía o de repetición contra un tercero, o que actúe cuidando del derecho de un tercero, puede denunciar judicialmente al tercero la pendencia de la causa, hasta el momento de la resolutión firme de la misma. El tercero puede, a su vez, denunciar la causa a outra persona”. “§ 73. La denuncia del litigio se hará por medio de escrito notificado al tercero, en el cual se indicará el motivo de la denuncia y el estado de la causa. De este escrito se pasará una copia a la parte contraria”. “§ 74: Si el tercero se adhiere al denunciante, entonces su relación com las partes se determina según los principios sobre la intervención adhesiva. Si el tercero rechasa la adhesión o no se manifiesta, se continúa el proceso sin tomarle en consideración. En todos los casos de este artículo se deben aplicar contra el tercero las disposiciones de § 68, con las diferencia de que, en lugar del momento de la adhesión, es determinante el momento en que la adhesion era posible aconsecuencia de la presentación de la demanda”. 505 506 Tradução livre: “O pedido de garantia pode ser proposto ao juiz competente para a causa principal para que seja decidido no mesmo processo ainda que exceda a sua competência por valor”. Ibidem, mesma página. Luis Mattirolo, Tratado de derecho judicial civil, p. 625. 211 “§ 68: Com relación a la parte principal, al interviniente adhesivo no se le da audiencia com la afirmación de que el proceso, tal y como se lo há presenteado al juez, há sido resuelto incorrectamente; com la afirmación de que la parte principal há llevado el proceso de forma defectuosa, se le audiencia sólo en tanto que por el estado del proceso en el momento de su entrada o por manifestaciones y actos de la parte principal, le haya resultado impossible esgrimir medios de ataque y defensa o en tanto que, de forma intencionada o com cupla grave, a parte principal no haya esgrimido medios ataques y defensa que eran desconocido por él”.507 5.1.7.3 Hipóteses de Admissibilidade e Descabimento na Denunciação da Lide A denunciação da lide representa, hodiernamente, mais que mera denunciação, pois, na verdade, constitui um chamamento em garantia, ou seja, é a propositura de uma ação incidente pelo denunciante contra o denunciado, nas hipóteses do artigo 70 do Código de Processo Civil supra citado. Humberto Theodoro Júnior, sobre o assunto, entende que: “As três hipóteses, elencadas no artigo 70 do Código de Processo Civil, ensejam a oportunidade a que seja trazido para o processo em terceiro sujeito, que mantém, em caráter regressivo, um vínculo de garantia com uma das partes primitivas, e, esclareça-se, apenas com uma delas, sendo, por isso, elemento inteiramente estranho para outra”.508 A primeira hipótese onde terá cabimento tal instituto, será no caso da garantia da evicção, cujo conceito está encartado no artigo 447 do Código Civil. 507 508 Willian Couto Gonçalves, Intervenção de terceiros, p. 221-222. Humberto Theodoro Júnior, Intervenção de terceiros no processo civil: denunciação da lide e chamamento ao processo, p. 49. 212 A evicção se dará quando o adquirente, nos contratos onerosos, perder a coisa, total ou parcialmente, por motivo de uma sentença judicial. Desse modo, havendo reivindicação por terceiro da coisa negociada com outrem que não este último, o adquirente convoca, chama, denuncia à lide o alienante, para que este venha a garantir o exercício dos seus direitos em caso de evicção, ou seja, para que pague indenização pela perda da coisa, caso o adquirente se torne vencido na demanda reivindicatória. O tribunal já decidiu no sentido de que: “(...) a reparação pela perda da coisa evicta se faz pelo seu valor à data em que se venceu, pois não se poderia conceber a adoção de dois critérios diversos, um mais amplo, em relação à evicção total, outro mais restrito, no tocante à evicção parcial”.509 Todavia, necessário será que o adquirente, visando assegurar-se do direito resultante da evicção e receber pelos prejuízos sofridos, deverá denunciar o litígio ao transmitente. Assim, da leitura do artigo 70 da lei processual pode-se depreender que a intenção do legislador pátrio foi a de restringir a denunciação da lide apenas ao caso da ação reivindicatória, ressalvando-se que para o caput do artigo em epígrafe, tal denunciação apresenta um caráter obrigatório, e, assim o será porque o artigo 456 do Código Civil estabelece. Admite-se a denunciação não só no caso de ação reivindicatória, como também ao postular o ressarcimento por evicção. Na ação meramente declaratória do domínio também se admite, com fundamento no mesmo inciso I do artigo 70, perdendo o direito ao ressarcimento a parte 509 Ac. n° 21936/SP – 2ª TACivSP – 5ª Câm – Rel. Juiz Edgard de Souza – j. 16.10.74. 213 que não fizer a denunciação ao alienante, porque também ali há o risco de evicção. Nesse sentido, considere-se a ementa da redação do AgIn 1.078.912-9, 11ª Cam. J. 09/05/2002, rel. Juiz Melo Colombi, 1° TACivSP, in verbis: “Admite-se a denunciação da lide na hipótese em que há contrato entre as empresas rés prevendo a possibilidade do exercício do direito regressivo, uma vez que se essa pretensão não fosse admitida acabaria por frustar o exercício desse direito”.510 O segundo caso em que terá cabimento a denunciação da lide será o da posse indireta. A divisão da posse em direta e indireta foi prevista pelo legislador no artigo 1.197 do Código Civil. Dessa forma, todas as vezes em que o proprietário concede, a uma ou mais pessoas, a utilização econômica da coisa, por força de obrigação ou direito, ocorre o desdobramento da relação possessória, na qual uma das partes ficará com a utilização direta da coisa alheia – denominado possuidor direto do bem- e a outra com a indireta – denominado dono do bem. Se a posse vier a se desdobrar, o possuidor direto do bem não poderá ser violado em sua posse, de tal forma que o possuidor indireto, proprietário do bem, ao cedê-la àquele, assume o dever de lhe garantir o exercício normal. A lei processual impõe a denunciação da lide, se 510 RT nº 801, jul. 2002, p. 218. 214 reivindicada a coisa por terceiro, para que possa o possuidor direto, em sendo o sucumbente, obter perdas e danos pela não garantia da posse cedida. A jurisprudência menciona: “Na ação reintegratória de posse, embora seja parte legítima o arrendatário, por ser possuidor direto, não menos certo que ao arrendante assiste idêntico ou maior interesse jurídico em contestar a demanda reintegratória, sendo, pois, igualmente parte legítima passiva na ação principal”.511 A terceira hipótese de admissibilidade da denunciação da lide contempla o direito regressivo de indenização. Mencionaremos um exemplo clássico utilizado por Nelson Godoy Bassil Dower512 que, embora não se trate de relação de consumo, favorece nosso entendimento. É na existência de um contrato entre a proprietária de um shopping center e o dono de uma empresa de assessoria técnica, em que esta se obriga a gerenciar e a fiscalizar a execução da obra. Admita-se que, após a construção, venha a ocorrer uma explosão em virtude de um vazamento de gás nas tubulações do prédio, restando provado que a construtora executou a tubulação de gás sem que fossem observadas as normas técnicas, o que ocasionou a explosão e fez diversas vítimas fatais. Suponha-se, agora, que um dos sucessores de um dos falecidos proponha ação de rito ordinário de indenização por dano material e moral contra a proprietária do shopping center. O que ela deverá fazer é denunciar a lide o proprietário da empresa contratada para o gerenciamento e acompanhamento da execução da obra, em conformidade ao que prescreve o artigo 70, inciso III, do Código de Processo Civil. É certo que, em virtude da culpabilidade do 511 512 Ap. nº 353.636 – 1° TACivSP – 3ª Câm – Rel. Juiz Alexandre Genaro – j. 04.04.86. Nelson Godou Bassil Dower, Curso básico de direito processual civil, p. 244-245. 215 denunciado, a denunciante tem ação de regresso contra aquele, em sucumbindo a denunciante no pleito principal. Em caso semelhante o tribunal já decidiu desta forma: “Se a empresa proprietária do shopping center, onde ocorreu o sinistro, decorrente de explosão por vazamento de gás liqüefeito de petróleo nas tubulações do prédio, em virtude de sua má concepção, em ação indenizatória denuncia à lide a empresa cuja assessoria técnica contratara para os fins mencionados, caracteriza-se, em tese, causa de pedir hábil para ação de regresso contra a denunciada, em sucumbindo a denunciante, de acordo com o disposto no artigo 70, III, do CPC”.513 E em outro caso menciona: “Tratando-se de contrato de seguro de vida em grupo, estipulado pela empregadora em favor de seus empregados, aquela não tem ação regressiva contra a seguradora, descabendo, por isso, a denunciação à lide”.514 A denunciação da lide, sobretudo, não é admitida nos casos de ação de rito sumário, ressalva seja feita aos casos de assistência, recurso de terceiro prejudicado e a intervenção fundada em contrato de seguro, de acordo com a redação da Lei nº 10.444, de 07 de maio de 2002. A jurisprudência menciona que: “Conquanto o Código de Defesa do Consumidor reconheça o direito de regresso, não se admite que esse direito seja deduzido através de denunciação da lide, consoante dispõe seu artigo 88”.515 513 514 515 TJSP – Ag.In. nº 46.832.4/8 – 5ª Câm. – Rel. Des. Marco César – j. 19.06.97. TACivSP – Ag.In. nº 495.092-0/9 – 10ª Câm. – Rel. Juiz Euclides de Oliveira – j. 18.06.97. TJSP – Ag.In. nº 33.876-4/8 – 9ª Câm. – Rel. Des. Ruiter Oliva – j. 25.02.97. 216 A mais profunda das polêmicas suscitadas pelo inciso III do artigo 70, funda-se sobre o assunto da admissibilidade ou inadmissibilidade da denunciação da lide quando esta inserir no processo novas questões que ampliem o objeto de conhecimento do juiz, ocasionando demora na instrução processual.516 Cândido Rangel Dinamarco, sobre o tema, menciona que: “Os tribunais, impressionados com conhecida posição doutrinária, qual seja a de Vicente Greco Filho, passaram a rejeitar a litisdenunciação quando isto ocorre, mas sem razão. A tese da inadmissibilidade apóia-se em conceitos e distinções vigentes no direito italiano, que no Brasil inexistem – especialmente na distinção entre garantia própria e imprópria. Na Itália, em caso de garantia própria a parte tem a faculdade de fazer a chiamata in garanzia (que equivale a litisdenunciação brasileira) e, quando a garantia for imprópria, ela dispõe do intervento coatto, que produz efeitos análogos ao daquela. No Brasil, em que inexiste essa segunda modalidade, a distinção proposta deixaria a parte sem qualquer possibilidade de trazer o terceiro ao processo. O resultado sumamente injusto, consistiria em privar a parte dos benefícios da litisdenunciação, a saber: ela necessitaria de propor depois a sua demanda pelo ressarcimento, com o risco de voltar a sucumbir em face do garante. A tese restritiva parte do falso pressuposto de que todo processo seja realizado para satisfazer o autor a todo custo, sem considerar que também o réu pode ser titular do direito a alguma tutela jurisdicional: tal é o vício metodológico do processo civil do autor, que precisa ser extirpado da mentalidade dos operadores do processo. Felizmente, os tribunais já não se posicionam tão firmemente em prol dessa tese restritiva. Obviamente, quando a denunciação da lide for abusiva e revelar o propósito de tumultuar o processo e com isso alongar-lhe a duração, por esse motivo ela deve ser repelida (CPC, art. 125, I-III)”.517 O Superior Tribunal de Justiça, nesse contexto, decidiu da seguinte forma: 516 517 Neste sentido, confira-se jurisprudência do STJ – Resp. nº 167416/SP – 3ª T. – 1998/00185151 – Rel. Min. Waldemar Zveiter – j. 22.02.00, publicado no DJ 10.04.00. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 400-401. 217 “PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. TERCEIRO QUE NÃO ESTA POR LEI OU POR CONTRATO OBRIGADO A INDENIZAR O RECORRENTE PELO PREJUIZO QUE VENHA A SOFRER COM O RESULTADO DA AÇÃO PRINCIPAL. ART. 70 III CPC. SOCIEDADES ANÔNIMAS. AÇÕES. LEI Nº 6.404/76, ARTS. 24 E 38. RECURSO NÃO CONHECIDO. NÃO ESTANDO O TERCEIRO, POR LEI OU POR CONTRATO, OBRIGADO A RESSARCIR AO DENUNCIANTE OS PREJUIZOS QUE VENHA A SOFRER COM O RESULTADO DA AÇÃO, NÃO VIOLA O ART. 70, III, CPC, O ACORDÃO QUE INDEFERE A PRETENDIDA DENUNCIAÇÃO DA LIDE”.518 E em decisão mais recente reiterou seu posicionamento, fazendo-o da seguinte forma: “PROCESSUAL CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INADMISSIBILIDADE. Não se admite a denunciação da lide pretendida com base no inciso III do art. 70 do Código de Processo Civil se o seu desenvolvimento importar, como no caso, na necessidade de o denunciado invocar fato novo ou fato substancial distinto do que foi veiculado na defesa da demanda principal, como no caso, não estando o direito de regresso comprovado de plano, nem dependendo apenas da realização de provas que seriam produzidas em razão da própria necessidade instrutória do feito principal. Recurso não conhecido”.519 Decidiu, também, favoravelmente à aplicação do dispositivo em debate, como se observa: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE AÉREO. EMPRESA QUE CONTRATA COMPANHIA AÉREA PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. QUEDA DO AVIÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À EMPRESA CONTRATADA. CABIMENTO. ART. 70-III, CPC. INTRODUÇÃO DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I – Nos termos 518 519 STJ – Resp. nº 58061/SP – 4ª T. – 1994/0038792-0 – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 26.06.96, publicado no DJ em 26.08.96. STJ – Resp. nº 299108/RJ – 4ª T. – 2001/0002565-0 – Rel. Min. Sálvio de Fiqueiredo Teixeira – j.05.06.01, publicado no DJ em 08.10.01. Confira-se, ainda, quanto à inadmissibilidade da denunciação da lide se houver fato novo, decisão do STJ – Resp. nº 49418/SP; Resp. nº 157557/SP; Resp. nº 172321/SP. 218 do art. 70-III, CPC, a denunciação da lide tem cabimento "àquele que estiver obrigado, pela Lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda". II – Na espécie, a ré, ao fretar o avião, com a respectiva tripulação(piloto inclusive), firmou contrato de transporte com a empresa aérea contratada. Assim, se a contratada não cumpriu a obrigação de transportar os passageiros incólumes, deve responder pelo seu descumprimento e garantir eventual condenação da contratante. III – Em outras palavras, tratando-se de obrigação de resultado, com cláusula de incolumidade, se o contrato não for cumprido nos termos em que estabelecido, sem que ocorram as causas excludentes de irresponsabilidade(v.g, caso fortuito, força maior e culpa exclusiva do contratante), obriga-se o transportador a compor os prejuízos suportados pelo passageiro ou pela contratante, no caso a ré. IV – A denunciação, na espécie, não introduzirá fato novo à controvérsia e nem dependerá da análise de cláusula contratual. Primeiro, porque tanto na ação principal quanto na lide secundária a questão controvertida decorre unicamente do acidente aéreo. Segundo, porque a responsabilidade do transportador também decorre da Lei(dentre outras normas, o art. 268 do Código Brasileiro do Ar)”.520 Em outra decisão: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO INTERNACIONAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO TARIFADA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I – Restando incontroverso o atraso em vôo internacional e ausente prova de caso fortuito, força maior ou que foram tomadas todas as medidas necessárias para que não se produzisse o dano, cabível é o pedido de indenização nos moldes da Convenção de Varsórvia. II – Embora, em princípio, admissível, nos termos do art. 70-III, CPC, o cabimento da denunciação da lide à seguradora, não se mostra recomendável anular o feito, nesta Corte, a partir do inacolhimento da denunciação e ensejar a remessa dos autos à origem para que, uma vez admitida a intervenção, sejam ali apreciados os argumentos da denunciante, proferindo-se 520 STJ – Resp. nº 302397/RJ – 4ª T. – 2001/00104797 – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 20.03.01, publicado no DJ em 03.09.01. Neste sentido: STJ – Resp. nº 49418/SP; Resp. nº 157557/SP; Resp. nº 172321/SP. 219 decisão a respeito. III – A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando susceptível de pôr em risco tais princípios” .521 Walter Vechiato Júnior, em sua obra Curso de processo civil, menciona as hipóteses nas quais existe o descabimento da denunciação à lide, quais sejam: “1) Ao réu que sustenta ser parte ilegítima, pois a denunciação só se justifica nos casos de direito de regresso; 2) pela falta de fundamento jurídico do pedido e pela inserção de fato material diferente daquele trazido nas razões da peça do denunciante (exs.: ao fabricante, ao construtor, ao produtor e ao importador, nas ações em face do comerciante; ao médico que prestou assistência à paciente vítima de danos por tratamento equivocado no hospital); 3) no processo cautelar, que é acessório do processo principal (cognitivo ou execução). O TJSP admite a denunciação na cautelar de produção antecipada de provas, com a prova do direito do direito de regresso (RT 768/219); o STJ sustenta o descabimento nesta espécie cautelar (ISTJ 105/internet); 4) no processo de execução forçada – embargos à execução, pois o âmbito da cognição é limitada à desconstituição do título executivo ou a redução da execução; 5) nas ações que tratam sobre relação de consumo (CDC, arts. 13 e 88); é possível ação regressiva”.522 Entendemos que à denunciação na lide é incabível nos seguintes casos: em casos de procedimento sumário, salvo o decorrente de contrato de seguro; em processo cautelar e em processo de execução, visto ser instituto típico de processo de conhecimento e, quanto ao processo cautelar, entendemos não ser possível em razão da finalidade de resguardar o resultado útil de outro processo. 521 522 STJ – Resp. nº 293118/SP – 4ª T. – 2000/0133674-6 – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – j. 13.03.01, publicado no DJ em 11.06.01. Confira-se ainda: STJ – Resp. nº 197374/MG/ Resp. nº 1296/RJ; Resp. nº 219964/SP; Resp. nº 182283/SP. Walter Vechiato Júnior, Curso de processo civil, p. 82. 220 5.1.7.4 Obrigatoriedade e Extensão: Evicção O artigo 70 do Código de Processo Civil estabelece que a denunciação da lide é obrigatória. Assim, dois aspectos serão desenvolvidos: o verdadeiro sentido de obrigatoriedade da denunciação e a correta extensão dos casos previstos no inciso III, focalizando especialmente o artigo 107 da Constituição Federal, que define a responsabilidade civil do Estado e possibilita o direito de regresso contra o funcionário no caso de dolo ou culpa. Assim, é aceitável compreender que o adjetivo obrigatória rege as três hipóteses do artigo em comento. Mas a intelecção verbal é insuficiente para esclarecer o problema. Todavia, oportuno se faz um breve retrospecto histórico e de direito comparado, como ora se passa a expor. Na Roma primitiva não existia a noção de propriedade como direito absoluto. A mantipatio transmitia mais a obrigação de garantir do que verdadeiramente a propriedade, que vinha com o usucapião. Por isso, nessa época, existia apenas a figura da laudatio auctoris abrangente da denunciação da lide e da atual nomeação à autoria. Na Roma clássica já existia a extensão da propriedade como direito, daí a distinção efetuada entre denuntiatio litis, nos casos de evicção, e nominatio domini, nos de posse em nome alheio. De qualquer modo, a transmissão da propriedade encerrava a obrigação de garantir. No direito francês, influenciado pelo direito germânico, acolheu-se a demande incidente en garantie em que o chamado respondia 221 pelas conseqüências da perda da demanda. Tempos depois, o direito italiano consagrou a figura da chiamata in garanzia, que traz, no chamamento, a responsabilidade implícita na demanda. No direito francês, a demanda, apesar de incidental, é explícita. Assim, ambos abrigam as ações de garantia pessoal e não apenas real. No direito português, na época das ordenações, tínhamos o chamamento à autoria, por força de disposições de direito material, diretamente relacionado com a evicção e com caráter indispensável para a responsabilização do garante. Nele, o chamamento era algo facultativo. Assim, pela análise da evolução histórica, nesta oportunidade brevemente resumida, observa-se que o instituto se ampliou da hipótese de evicção para todos os casos de garantia, eliminando-se a penalidade da perda do direito de regresso pela falta da denunciação. De tal modo que esse abrandamento não decorre do tratamento da denunciação da lide, mas tão somente do próprio conceito de propriedade, suas garantias, seus efeitos. A subsistência, ou não, do direito de regresso, não é problema de direito processual, mas de direito material, devendo aí ser buscada a solução da dificuldade. No direito civil brasileiro permanece o que dispõe o artigo 456. Tal disposição, está em perfeita consonância com o texto do artigo 70, I, do Código de Processo Civil brasileiro, que menciona a obrigatoriedade da denunciação para que o denunciante possa exercer o direito que da evicção lhe resulta no mesmo processo, tornando inegável a necessidade de manutenção da exigência da denunciação, o único meio hábil para a liquidação da responsabilidade pela evicção naquele processo, sendo certo 222 que se não houver a denunciação à lide, a parte poderá interpor processo para esse fim. A mesma solução também, como se vê, é adequada atualmente aos incisos II e III do mencionado artigo. Seria excessivo admitir a grave penalidade da perda de direito material, especialmente quando tal interpretação não encontra apoio na doutrina, no direito comparado e na história do instituto. Ressalva-se, também, que nos casos dos incisos II e III não aparece a condicionante, a fim de que possa exercer o direito. Nesse sentido, Greco Filho nos elucida a questão sobre como interpretar o termo obrigatória, que também rege tais dispositivos, com a solução no texto expresso do Código português: “Se não chamar, terá de provar, na ação de indenização, que na demanda anterior empregou todos os esforços para evitar a condenação”.523 Tal disposição não necessitaria ser expressa em lei, porquanto deflui dos princípios. Pois, quem não chamou o garante, para amarrá-lo aos efeitos imutáveis da coisa julgada, corre o risco de, na ação própria, receber exceções materiais relativas à sua atuação no primeiro processo. Se agir com culpa nessa demanda, sua negligência compensa o dever de indenizar uma vez que o garante pode demonstrar que poderia ter ganho a ação. Dessa forma, a denunciação da lide é obrigatória, nos casos dos incisos I, II e III, para que o denunciante, no mesmo procedimento, obtenha o título executivo contra o denunciado (art. 76), a fim de evitar que na eventual ação autônoma de regresso se rediscuta o mérito da primeira ação, 523 Revista justitia, A denunciação da lide: sua obrigatoriedade e extensão, p. 12. 223 cuja sentença não encerra força de coisa julgada contra aquele que, por não ter sido denunciado, não foi parte na ação. Todavia, essa conclusão não se apresenta tão clara quanto as hipóteses cabíveis no inciso III. Tem-se interpretado tal disposição de forma perigosamente extensiva, possibilitando a denunciação de todos aqueles contra os quais a parte possua direito de regresso. Essa obrigação encontra total amparo no texto da lei, conforme se depreende da leitura e compreensão dos artigos 70 obrigado a indenizar, em ação regressiva; 72 e 73 responsável pela indenização e também do artigo 75 responsabilidade por perdas e danos.524 Insta lembrar que a denunciação da lide tem como escopo a economia processual, posto encerre num mesmo processo duas ações, e a própria justiça, uma vez que evita sentenças contraditórias. Por outro lado, importa lembrar que o direito processual adotou o princípio romano da singularidade da jurisdição e da ação, ou seja, os efeitos da sentença só atingirão as partes, motivo pelo qual o juiz não poderá proceder de ofício, vez que a legitimação e os casos de intervenção são de direito estrito, pois excepcionam os princípios consagrados no Código de Processo Civil. Portanto, em conformidade com Vicente Greco Filho, uma vez admitida a possibilidade de denunciação a todos os casos de possibilidade de direito de regresso, estariam sendo violados todos os princípios do direito processual brasileiro, sem exceção. Ainda que o caput do artigo 70 do Código de Processo Civil prescreva a obrigatoriedade da denunciação da lide, a doutrina 524 Ibidem, mesma página. 224 majoritária entende que não se aplica nos casos de evicção, ou seja, de garantia própria decorrente da transferência de direitos, prevista no artigo 456 do Código Civil, que estabelece a perda de direito de regresso, caso não ocorra a notificação do alienante como determinam as leis do processo. Todavia, nos casos dos itens II e III do artigo 70 do Códex processual, a lei não cria qualquer obrigatoriedade de notificação para que se proponha ação regressiva.525 Já no que tange ao caput do artigo 70, a lei entende obrigatória a notificação, porém não estabelece sanção para o descumprimento do preceito e, segundo Celso Agrícola Barbi526 e Cândido Rangel Dinamarco,527 esta precisaria ser estabelecida, necessitando a perda do direito ser expressamente cominada. 5.1.7.5 Legitimidade para Denunciar e ser Denunciado Apesar de os incisos do artigo 70 do Código de Processo Civil brasileiro, falsamente fazerem entender que a denunciação só poderá ser requerida pelo réu, pela redação do artigo 71 fica claro que a denunciação também poderá ocorrer por iniciativa do autor. É o que também pode se verificar da redação do artigo 74, que estabelece “(...) que feita a denunciação pelo autor” o denunciado, comparecendo, assumirá a posição de litisconsorte 525 526 527 Neste sentido confira-se o entendimento do STJ – Resp. nº 55095/ SC – 1ª T. – 2003/01064310 – Rel. Min. Luiz Fux – j. 21.09.04; STJ – Resp. nº 579208/RS – 1ª T. – 2003/0163339-2 – Rel. Min. Luiz Fux – j. 27.04.04. Celso Agrícola Barbi, Comentários ao código de processo civil, p. 205. Cândido Rangel Dinamarco, Intervenção de terceiros, p. 141-142. 225 do denunciante e poderá aditar a petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu.528 A denunciação feita pelo autor deve ser efetivada na própria inicial, com requerimento para citação do denunciado juntamente com a do réu. Deferido o pedido, o juiz ordenará a citação suspendendo o processo. Não ocorrendo a citação, ocorre fenômeno idêntico ao indeferimento da mesma e a ação prosseguirá somente em relação ao denunciante réu. Havendo a citação e comparecendo o denunciado, este assumirá a condição de litisconsorte e poderá apresentar sua defesa ao lado do denunciante, sendo-lhe lícito, inclusive, aditar a petição inicial É o que se extrai do artigo 84 porém, uma vez ocorrido o aditamento não poderá o denunciado alterar o pedido do autor ou modificar a causa de pedir, pois eventual aditamento só poderá se referir a fundamentos diferentes daqueles que já foram utilizados pelo autor.529 Na denunciação da lide pelo réu caberá a este requerer, no prazo para contestar, a citação do denunciado, atendida a regra do § 1°, do artigo 72. Se o réu não promover a citação do denunciado, o processo prosseguirá com o denunciante – réu –, a teor do que prescreve o artigo 72, § 2°, do Códex processual. Com efeito, se o denunciado aceitar e contestar o pedido deduzido pelo autor, o processo seguirá entre o autor e o denunciante – primitivo réu – e o denunciado, configurando, assim, litisconsórcio. Se o denunciado mostrar-se revel, ou comparecer apenas para negar a qualidade que lhe fora atribuída, cabe ao denunciante continuar na defesa como réu até 528 529 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 229. Nelson Godoy Bassil Downer, Curso básico de direito processual civil, p. 247. 226 final decisão, sem que o denunciado possa ser excluído do processo, pois não se pode esquecer que o mesmo será réu na ação incidental e secundária de denunciação, e sua alegação corresponderá à contestação. Se, contudo, o réu denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, poderá o denunciante prosseguir na defesa.530 5.1.7.6 Denunciação Sucessiva Essa espécie de denunciação esta autorizada pela lei processual, conforme prescreve o artigo 73 do Código de Processo Civil brasileiro, que estabelece que aquele que for denunciado poderá denunciar, sucessivamente, aquele que deve responder diante de si pela indenização ou reparação dos seus prejuízos por via regressiva. Dessa forma, é essa uma das características mais marcantes do instituto da denunciação. Não existe limite para essa sucessão entretanto, sobretudo, é nítido que caberá ao juiz da causa avaliar sua pertinência e indeferi-la de plano quando se apresente infundada e impertinente. Assim como os demais institutos processuais a denunciação da lide fora criada para atender aos princípios da economia processual e da celeridade, o que verdadeiramente ocorre se tal instituto for bem utilizado, no entanto, não se utilizando dele corretamente, causar-se-á extremo tumulto processual, diante da análise profunda que deve ser feito antes do seu deferimento. 530 Manoel Antônio Teixeira Filho, Intervenção de terceiros, p. 37. 227 Como esclarece Athos Gusmão Carneiro531, existe um risco de eternização do processo, com a convocação de sucessores de alienantes já falecidos, etc. Arruda Alvim532 sustentou que o Código teria usado propositadamente do verbo intimar e não o verbo citar, pois a intimação não tornaria os intimados, réus de sucessivas demandas regressivas, mas tão somente serviria para cientificá-los do processo, a fim de que nele pudessem intervir como assistentes. Posteriormente, Arruda Alvim modificou seu entendimento, passando a admitir a denunciação sucessiva da lide que, todavia, não deverá ser aceita no caso de “delonga a dano do autor, principalmente”.533 5.1.7.7 Da Sentença na Denunciação da Lide A denunciação da lide, fundada no princípio da economia processual, concentra em um só processo a solução de duas ou mais ações. Assim, a sentença será formalmente una, mas conterá duas decisões. Proposta a denunciação, o juiz não poderá deixar de julgar simultaneamente os dois pedidos conexos, sob pena de incorrer em nulidade da sentença. Dessa forma, a “primeira sentença” será relativa ou à ação reivindicatória, ou ao bem em posse do possuidor direto, por direito ou obrigação, ou, ainda, à obrigação da qual o inadimplemento dá direito à ação 531 532 533 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 108-109. Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 241. Idem, Manual de direito processual civil, p. 168. 228 regressiva. A segunda sentença, por seu turno, diz respeito ao direito do evicto ou prejuízo cabível na espécie. Ressalva deve ser feita ao que prescreve o artigo 76 do Código de Processo Civil brasileiro, pois, em equívoco, refere-se somente à sentença que julgar procedente a ação, explicitando que ela declara “(...) conforme caso, o direito do evicto, ou a responsabilidade por perdas e danos, valendo como título executivo”. Todavia, esqueceu-se o legislador de mencionar o fato da improcedência da ação, quando o juiz deve, em havendo denunciação feita pelo autor, reconhecer o direito deste de se ver ressarcido pelo denunciado, igualmente valendo tal sentença como título executivo. A expressão “a sentença que julgar procedente a ação”, prevista nesse mesmo artigo, deve ser entendida como a sentença que julgar a ação contra o denunciante, eis que tanto o denunciado pelo autor como pelo réu, devem ser condenados a ressarcir quem os denunciou à lide. Nesse sentido, confira-se a Ementa de alguns julgados que tratam sobre o assunto: “Nos termos do artigo 88 da Lei nº 8.078/90, nas ações de reparação de danos derivados de relação de consumo, não há espaço para a denunciação da lide, pois o consumidor tem o direito de ser ressarcido em face da responsabilidade objetiva do fornecedor, sem que se discuta dolo ou culpa”.534 “Em face da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, o consumidor tem o direito de ser ressarcido independentemente da discussão sobre dolo ou culpa, razão pela qual, pelo sistema adotado pela Lei nº 8.078/90, não se admite denunciação da lide versando sobre relações de consumo”.535 534 535 TJRO – AgIn. nº 020/00 – Câmara Única – Rel. Des. Ricardo Oliveira – j. 09.05.00. TACivSP – AgIn. nº 949.842-4 – 4ª Câm. – Rel. Juiz Rizzatto Nunes – j. 27.09.00. 229 “O artigo 88 da Lei nº 8.078/90 veda expressamente a denunciação da lide em ações derivadas de relações de consumo, em razão da incompatibilidade da intervenção de terceiros com a celeridade processual preconizada pelo Estatuto Consumerista. O não acolhimento da denunciação, no entanto, não impede o uso da ação regressiva, que poderá ser ou não exercida pelo consumidor, conforme o resultado da demanda principal, como se depreende da leitura do artigo 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”.536 O legislador também incorreu em erro, no mencionado diploma legal, ao dizer, no mesmo dispositivo legal, que a sentença declarará a responsabilidade do denunciado em ressarcir o denunciante. A natureza da sentença com relação ao denunciado, se reconhecida a sua responsabilidade indenizatória para com o denunciante, será de caráter condenatório, valendo também como título executivo. Apenas ao reconhecer a sentença o direito do denunciante em relação ao denunciado, julgando, assim, a lide contra o denunciante, é que a mesma terá caráter declaratório.537 5.1.8 Da Denunciação da Lide no Código de Defesa do Consumidor É unanime a doutrina brasileira538 em afirmar a impossibilidade do instituto da denunciação à lide nas denominadas relações de consumo, ou seja, naquelas em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que em seu âmbito, os delineamentos da responsabilidade objetiva foram acolhidos com a 536 537 538 TACivSP – Ag.In. nº 1.011.610-4 – 1ª Câm. – Rel. Juiz Edgard Jorge Lauand – j. 04/06/2001. Neste sentido: Cândido Rangel Dinamarco, Intervenção de terceiros, p. 46; Arruda Alvim, Manual de direito processual civil, p. 196; Nelson Godoy Bassil Downer, Curso básico de direito processual civil, p. 249. Eduardo Gabriel Saad, Comentários ao código de defesa do consumidor, p. 560-561; Maria Berenice Dias, Código de defesa do consumidor, p. 107-110. 230 denominação de responsabilidade pelo fato do produto, não interessando verificar a conduta do fornecedor de bens ou serviços, mas tão somente a existência de nexo causal entre o dano e o produto ou serviço. Adotou-se, assim, a teoria do risco. O CDC, em seu art. 12, estabelece a responsabilidade objetiva do fabricante, produtor, construtor e importador pelos defeitos de produtos. A responsabilidade subsidiária do comerciante é estabelecida no art. 13, quando o fabricante ou importador não for identificado. É importante ressaltar a solidariedade passiva dos fornecedores prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, com a finalidade única de beneficiar o consumidor, na medida em que este pode escolher, entre os solidários, aquele que melhor lhe convier. Admitir a possibilidade de denunciação à lide de forma generalizada nas relações de consumo seria, a nosso ver, contrariar os princípios norteadores da responsabilidade objetiva adotada pelo Código e, ainda, os princípios que informam o microssistema, tais como o da vulnerabilidade, facilitação da defesa e acesso à justiça. É certo que a denunciação à lide nos casos de responsabilidade objetiva, em tese, não é possível, uma vez que traria aos autos a discussão sobre culpa (o que não se coaduna com a responsabilidade objetiva), fato que ensejaria ampla produção de prova para aferição da mesma no caso concreto, prejudicando a rápida prestação jurisdicional. Estabelece, ainda, o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 231 “Na hipótese do art. 13, parágrafo único, deste Código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide”.539 A vedação da possibilidade de denunciação da lide, do artigo 88, tem suas razões: evitar que a prestação jurisdicional processual dos consumidores seja retardada e, também, a alteração da causa de pedir primitiva. Arruda Alvim, enfrentando a questão da vedação do art. 88 no caso do art. 13 do Código de Defesa do Consumidor, conclui que limitar a impossibilidade da denunciação aos casos previstos no art. 13 do CDC seria afrontar todos os princípios que informam o microssistema consumerista. Defende o autor a impossibilidade de qualquer intervenção de terceiros nas relações de consumo. Como já tivemos a oportunidade de salientar no tópico referente ao chamamento ao processo, o Código de Defesa do Consumidor ao autorizar o chamamento do segurador quando o réu primitivo tenha com este contrato de responsabilidade civil cria, no art. 101, II, do CDC figura nova, pois, se aplicado fosse o CPC teríamos denunciação da lide e não chamamento ao processo. Questão interessante se coloca quando o consumidor propõe ação indenizatória em relação ao Estado tendo este lhe prestado serviços mediante tarifa. É unanime a doutrina no sentido de que, nesse caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de prestação 539 de Ibidem, p. 781. serviço mediante remuneração, inclusive com 232 responsabilidade objetiva. Seria correto vedar a denunciação da lide ao funcionário pelo Estado, para que posteriormente possa este último vir a ser ressarcido? No que toca ao Código de Processo Civil, a doutrina não é unânime quanto à desnecessidade da denunciação. Como conciliar, nesse caso, o interesse público com a vulnerabilidade do consumidor e a teoria da responsabilidade objetiva do Estado? Entendemos que, apesar do interesse público presente na lide em andamento, o que se sobressai é a responsabilidade objetiva do Estado, pois se aceita a denunciação, neste caso, estará se trazendo elemento novo ao processo, ou seja, a culpa, o que categoricamente não se coaduna com a responsabilidade objetiva. Outra questão que se demonstra pertinente é a do art. 456 do Código Civil, que estabelece que para exercitar o direito que da evicção lhe resulta o adquirente notificará do litígio o alienante imediato, ou qualquer dos anteriores, quando e como lhe determinarem as leis do processo. Seria o artigo em comento aplicável nas relações de consumo? Entendemos que não, a uma porque o microssistema é próprio e outras normas somente serão aplicadas de forma subsidiária, desde que não afrontem as disposições do mesmo, e a duas, conforme já salientamos, porque não há sanção prevista no caso de não atendimento ao preceito, consoante entendimento, inclusive, dos nossos tribunais. 233 Concluímos, portanto, pela impossibilidade da denunciação à lide nas relações reguladas pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), exceto se a mesma vier a beneficiar a efetiva tutela jurisdicional do consumidor. Imagine-se ação proposta por consumidor em relação a comerciante, nos termos do art. 13, ou seja, quando o fabricante, o produtor ou o importador não puderem ser identificados. Proposta a ação, o comerciante obtém êxito em identificar o produtor, que não possui meios financeiros para arcar com a indenização devida ao consumidor. É salutar, nesse caso, a possibilidade de denunciação efetuada pelo comerciante demandado, pois, caso contrário, o consumidor não será indenizado. Entendemos que, visando à efetiva indenização do consumidor, vedar de forma cabal a denunciação à lide, prejudicaria o mesmo em vez de protegê-lo. Medida que se mostra aceitável é a possibilidade de o consumidor poder optar se lhe convém, ou não, a denunciação à lide de outros coobrigados. Também é de se olvidar a possibilidade de a denunciação à lide ocorrer numa ação proposta em relação a profissional liberal, haja vista que, de acordo com o art. 14, parágrafo quarto, somente responderá por danos causados ao consumidor se agir com culpa. Concluímos que, desde que o denunciante não seja aquele que responde de forma objetiva, ou seja, sem se perquirir sua culpa, é possível a denunciação da lide, pois, nesse caso, não haverá alteração da causa de pedir. 234 5.1.9 Do Chamamento ao Processo no Código de Processo Civil 5.1.9.1 Considerações Introdutórias A figura do chamamento ao processo surgiu no direito brasileiro com o advento do Código de Processo Civil de 1973, já que Códex de 1939 não previa tal modalidade interventiva. A origem do instituto em comento remonta ao direito português, no qual se denominava chamamento à demanda, conforme artigo 330 do Código de Processo Civil português.540 Nos tradicionais ordenamentos jurídicos, excluindo-se o direito português, não conhecemos a figura do chamamento ao processo com as características de nosso instituto. O Código de Processo Civil italiano, em seu artigo 106, propõe situação parecida, a qual, contudo, não corresponde exatamente ao brasileiro. No direito italiano, o instituto previsto no artigo supramencionado é o intervento coatto su istanza di parte, cuja redação se transcreve: “Qualquer das partes pode chamar ao processo um terceiro com o qual considera comum a causa ou do qual pretende ser garantida”.541 540 541 Flávio Cheim Jorge, Chamamento ao processo, p. 18. Tradução livre de: “Artigo 106: Intervento su istanza di parte. Cisacuna parte può chiamare nei proceso un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”. 235 Enrico Tullio Liebman542 afirma que ocorre uma das hipóteses compreendidas no artigo 106 quando o terceiro, coobrigado, é chamado ao processo em que o credor pede a prestação devida. Por seu turno, Dinamarco ao inserir nota na obra de Liebman, Manual de direito processual civil, descortina no artigo 106 do Codice di procedura civile os elementos da denunciação da lide e do chamamento ao processo, previstos em nossa codificação: “No artigo 106, transcrito no texto, estão os correspondentes italianos da nossa denunciação à lide e do chamamento ao processo: ‘chiamare nel proceso un terzo al quale ritiene comune la causa’ é praticamente o mesmo que ‘chamá-lo ao processo’, nos termos do nosso artigo 77, para ser litisconsorte passivo do chamador; e trazer ao processo o terceiro ‘da quale pretende essere garantito’é denunciar-lhe a lide”.543 Há diferenças estruturais entre esses institutos. Na parte final do artigo 106 do Código de Processo Civil italiano, ao permitir à parte convocar ao feito o terceiro dal quale pretende essere garantita, equivale, como reconhece Dinamarco, à denunciação da lide prevista nos artigos 70 a 75, do nosso CPC. Todavia, a convocação pela parte do terceiro que tem uma causa comum não equivale, de forma completa, ao chamamento ao processo dos artigos 77 a 80 do Código de Processo Civil brasileiro. Por essa razão, Liebman afirma que o chamamento em si apenas conduz o terceiro a assistir ao processo, estando à margem dele, não se excluindo a possibilidade de que uma das partes proponha ação contra aquele que 542 543 Enrico Tullio Liebman, Manualle di diritto processuale civile, p. 117. Ibidem, mesma página. 236 também interveio, podendo igualmente propor uma ação contra uma ou ambas as partes.544 Desse modo, ao se utilizar do dispositivo 106 do Código de processo civil italiano, não obtém de imediato o título executivo em detrimento do chamado, assim como o autor também não dispõe dessa vantagem face ao chamado, pois o instituto apenas submete o chamado à eficácia da decisão.545 Nessa esteira, Crisanto Mandrioli546 sustenta que as razões práticas que conduzem a parte a chamar o terceiro ao processo concentram-se na eficácia que tal provimento surtirá contra esta. Sérgio Costa, por seu turno, afirma que: “Nos casos em que o terceiro tem uma legitimação igual a de uma das partes, a intervento coatto tem o efeito de torná-lo parte, e portanto de estender-lhe a coisa julgada”.547 Fazendo menção à semelhança do artigo 106 do Código de Processo Civil italiano com o artigo 77 do Códex brasileiro, Flávio Cheim Jorge menciona que: “Assim, as diferenças estruturais e teleológicas de ambos os institutos (o chamamento ao processo e a intervenção de terceiro na causa comum) são primordiais para impedir que se procure retirar do sistema italiano, noções que possam ser essenciais ao estudo do chamamento ao processo. As questões tratadas na Itália, que poderiam se assemelhar ao chamamento ao processo no Brasil, se aproximam muito mais, tanto no aspecto procedimental 544 545 546 547 Ibidem, mesma página. Haroldo Pimenta, O chamamento ao processo no código de defesa do consumidor, p. 51. Crisanto Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, p. 349. Sérgio Costa, L’intervento in causa, p. 161. 237 quanto no teleológico, da denunciação da lide que, propriamente, do chamamento ao processo”.548 Muitas semelhanças existem entre o instituto do chamamento ao processo e a denúncia da lide (Streitverkündung) do direito alemão.549 Léo Rosenberg define a denúncia da lide como sendo a comunicação formal a um terceiro de uma controvérsia pendente por uma das partes integrantes da relação processual, com o escopo de produzir esse efeito da intervenção, e através dele evitar juízos distintos sobre o mesmo fato.550 Todavia, o ensinamento de Léo Rosenberg, assim como a análise dos dispositivos presentes na Zivilprozessordnung colocam em visibilidade as divergências mais do que as similitudes do instituto do direito germânico e o brasileiro. Seu § 72 autoriza a parte, que teme obter uma decisão desfavorável no litígio, a formular uma pretensão de garantia ou indenização contra terceiro, que passa a compor a relação processual.551 Se, porventura, um terceiro chamado à lide se alia à parte que provocou seu ingresso no processo, será reputado interveniente adesivo,552 e, em qualquer hipótese, o então terceiro submeter-se-á à eficácia da intervenção aludida pelo 548 549 550 551 552 Flávio Cheim Jorge, Chamamento ao processo, p. 23. Neste sentido: Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 135. Léo Rosenberg, Tratado de derecho procesal civil, p. 279. § 72 ZPO: “Una parte que, para el caso de una resolución del litigio desfavorable para ellla, cree poder formular una reclamation de garantia o indemniización”. Conforme preleciona o § 74 ZPO: “Si el tercero se adhiere al denunciante, entonces su relación com las partes se determina según los principios sobre la intervención adhesiva. Si el tercero rechasa la adhesión o no se manifiesta, se continúa el proceso sin tomarle en consideración. En todos los casos de este artículo se deben aplicar contra el tercero las disposiciones de § 68, con las diferencia de que, en lugar del momento de la adhesión, es determinante el momento en que la adhesion era posible aconsecuencia de la presentación de la demanda”. 238 § 68 da ZPO.553 A denúncia da lide do direito alemão submete o terceiro à eficácia da decisão proferida no processo, não havendo a criação, no próprio processo em que a denúncia ocorreu, de um título executivo em detrimento do chamado, quer em favor da parte que promove a denunciação, quer em favor da parte contrária àquela que promoveu a denúncia. Ressalva seja feita à singularidade do instituto em comento na nossa codificação, sendo que a análise comparada deverá voltar sua atenção para a legislação portuguesa, que não disciplina o instituto de forma autônoma, mas o consagra com as características originais como forma de intervenção principal provocada passiva. Bem por isso que a fórmula enunciada por José Alberto dos Reis traduz o laço que une as hipóteses de chamamento à demanda, previstas no então artigo 335 do Código de Processo Civil português, restando, no entanto, ausente tanto no Codice di procedura civile italiano, como da Zivilprozessordnung alemã. Eis, então, a fórmula de cuja ausência ressentem os sistemas processuais estrangeiros: “Especificam-se os casos em que pode ter lugar o chamamento à demanda. Todos eles se condensam nesta fórmula: a obrigação impede sobre várias pessoas; o credor demanda unicamente uma delas; o demandado quer que os outros responsáveis sejam colocados na posição de réu para, dado o caso de acção proceder, serem condenados conjuntamente com ele. Chama-os, para este efeito, a demanda”.554 553 554 Prescreve o § 68 da ZPO: “Com relación a la parte principal, al interviniente adhesivo no se le da audiencia com la afirmación de que el proceso, tal y como se lo há presenteado al juez, há sido resuelto incorrectamente; com la afirmación de que la parte principal há llevado el proceso de forma defectuosa, se le audiencia sólo en tanto que por el estado del proceso en el momento de su entrada o por manifestaciones y actos de la parte principal, le haya resultado impossible esgrimir medios de ataque y defensa o en tanto que, de forma intencionada o com cupla grave, a parte principal no haya esgrimido medios ataques y defensa que eran desconocido por él”. José Alberto dos Reis, Código de processo civil anotado, p. 449. 239 No Brasil o chamamento ao processo tem duas características marcantes que acabam por afastá-lo definitivamente do sistema italiano, quais sejam: a posição do terceiro ao integrar a demanda e a ausência de ação de regresso nos mesmos autos do chamante em face do chamado. É importante ressaltar que atualmente o Código de Processo Civil português não mais prevê o chamamento à demanda como figura autônoma. O presente instituto é tratado agora, como intervenção principal passiva provocada, encartada nos artigos 325 à 329 do mesmo Códex. Entre nós, a modalidade de intervenção de terceiros denominada chamamento ao processo é aquela pela qual o réu pretende que os demais devedores ou co-devedores venham a integrar o pólo passivo da relação jurídica substancial, por não terem sido acionados para figurarem como réus na ação proposta pelo autor da demanda. Alguns conceitos sobre o assunto serão trazidos a lume: Flávio Cheim Jorge: “O chamamento ao processo é uma das formas de ingresso coativo de terceiro ao processo, onde é concedida, ao réu a faculdade de, sendo demandado em obrigação comum, chamar ao processo os outros devedores, para ocuparem juntamente com ele a posição de réu, sendo todos condenados pela mesma sentença”.555 Por seu turno, Celso Agrícola Barbi: 555 Flávio Cheim Jorge, Chamamento ao processo, p. 30. 240 “O instituto do chamamento ao processo consiste na faculdade atribuída ao devedor, que está sendo demandado para o pagamento de determinada dívida, de chamar ao processo os codevedores, ou aqueles a quem incumbia precipuamente o pagamento, de modo a torná-los também réus na ação. Além dessa finalidade, há outra, qual seja, obter sentença que possa ser executada contra os co-devedores ou obrigado principal, pelo devedor que pagar o débito”.556 Na doutrina de José Frederico Marques: “Chamamento ao processo é o ato com o qual o devedor quando citado como réu, pede a citação também de outro coobrigado, a fim de que se decida, no processo, a responsabilidade de todos”.557 Humberto Theodoro Júnior define: “Chamamento ao processo é o incidente pelo qual o devedor demandado chama para integrar o mesmo processo os coobrigados pela dívida, de modo a fazê-los também responsáveis pelo resultado do feito”.558 Cândido Rangel Dinamarco preleciona: “Chamamento ao processo é o ato com que o réu pede a integração de terceiro ao processo para que, no caso de ser julgada procedente a demanda inicial do autor, também aquele seja condenado e a sentença valha como título executivo em face dele”.559 Primordial a definição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: 556 557 558 559 Celso Agrícola Barbi, Comentários ao código de processo civil, p. 215. José Frederico Marques, Manual de direito processual civil, p. 268. Humberto Theodoro Júnior, Curso de direito processual civil, p. 120. Cândido Rangel Dinamarco, Intervenção de terceiros, p. 120. 241 “Chamamento ao processo é a ação condenatória exercida pelo devedor solidário que, acionado sozinho para responder pela totalidade da dívida, pretender acertar a responsabilidade do devedor principal ou dos demais co-devedores solidários, estes na proporção de suas cotas”.560 Portanto, com o chamamento ao processo ocorre o surgimento de litisconsórcio passivo por vontade do réu. A ocorrência dessa modalidade litisconsorcial é, ainda hoje, criticada por muitos autores brasileiros, haja vista que no caso de devedores solidários, conforme dispõe o Código Civil brasileiro, o credor pode demandar um, alguns, ou todos os devedores para exigir o pagamento integral da obrigação. Assim, a formação do litisconsórcio passivo de acordo com o direito substancial é uma faculdade do autor, que com o chamamento ao processo acaba sendo anulada pelo demandado primitivo. É por esse motivo que a comissão revisora do anteprojeto do Código de 1973 relutou em sua aprovação: “O autor pode ter razões respeitáveis para só querer acionar o fiador, ou um deles, ou um dos devedores solidários. Neste último caso, aliás, convém lembrar que é da assistência da solidariedade passiva o poder exigir-se de um só dos devedores a dívida toda. Desvirtuar-se-ía o instituto permitindo que, contra a vontade do credor, se tragam ao processo os co-devedores. Tendo escolhido um único, segundo lhe faculta o direito material, ver-se-ía ele forçado, por ato do réu, a litigar contra todos. Além de outros óbvios inconvenientes, ressalte-se o da demora resultante da suspensão do processo para citação dos co-devedores. E assim, analogamente, quanto às hipóteses do artigo”.561 Em concordância com a maioria doutrinária, entende-se que o instituto do chamamento ao processo só é cabível no processo de 560 561 Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação processual civil em vigor, p. 388. Diário do congresso nacional, seção II, de 29 de novembro de 1972, p. 4968. 242 conhecimento e não é possível nos processos de execução562 e no cautelar,563 e sujeita-se a alguns pressupostos,564 quais sejam: a) o chamado deve ser devedor do credor, autor da ação; b) o chamante deve ter o direito de reembolso contra o chamado no caso de pagar a dívida. Ausentes um desses requisitos, tal instituto não será cabível. 5.1.9.2 Finalidade Parte da doutrina brasileira565 afirma que a finalidade do chamamento ao processo é a manifestação do demandado primitivo no sentido de que venham atuar como litisconsortes os demais devedores da obrigação de direito material, assumindo, assim, a posição de réu na ação. Decorrente dessa intervenção contra os chamados se formará título executivo, de acordo com os artigos 78 e 80 do Código de Processo Civil brasileiro. Importa trazer a lume o ensinamento de Celso Agrícola Barbi para quem: “A finalidade do instituto é favorecer o devedor que está sendo acionado porque amplia a demanda, para permitir a condenação também dos demais devedores, além de lhe fornecer, no mesmo processo, título executivo judicial para cobrar deles aquilo que pagar”.566 562 563 564 565 566 Neste sentido: Flávio Cheim Jorge, Chamamento ao processo, p. 102-106; Vicente Greco Filho, Direito processual civil brasileiro, p. 150; Olavo de Oliveira Neto, A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada, p. 148-152. Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 410. Moysés André Bittar, As espécies de intervenções de terceiros no processo de conhecimento do trabalho, p. 82. Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 44; José Manoel de Arruda Alvim Neto, Código de processo civil comentado, p. 321. Celso Agrícola Barbi, Comenstários ao código de processo civil, p. 215. 243 Com a instituição do título executivo, aquele que paga a obrigação por inteiro – vencido que foi na ação condenatória – volta-se em ação de regresso contra os demais devedores que não efetuarem o pagamento de sua parte.567 Nelson Nery Júnior,568 Marcelo Abelha Rodrigues569 e Ovídio Baptista da Silva570 afirmam que a finalidade do chamamento ao processo é diferente, pois, para esses autores, o instituto processual em comento não tem por finalidade a ampliação do pólo passivo com o ingresso dos demais devedores de direito substancial, que não são partes no pólo passivo da ação por opção do autor. Enfatizam que ninguém pode ser obrigado a litigar em juízo contra alguém por imposição de um litisconsórcio. Importante ressaltar que essa modalidade de intervenção é admitida somente em questões obrigacionais, quando um dos coobrigados é acionado, nascendo para ele a faculdade de convocar os demais co-devedores para que venham responder pela obrigação juntamente com ele. É o que estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo 77, que admite ser possível o chamamento ao processo do devedor, na ação em que o fiador é réu, dos demais fiadores, quando a ação for proposta originariamente somente em relação a um deles, e de todos os devedores solidários, quando o credor propuser a ação apenas em relação a um ou a alguns deles para recebimento da dívida comum. Comungamos com Arruda Alvim ao afirmar que: 567 568 569 570 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 279. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação processual civil em vigor, p. 489. Marcelo Abelha Rodrigues, Elementos de direito processual civil, p. 329. Ovídio Araújo Baptista da Silva, Comentários ao código de processo civil, p. 366-371. 244 “Aquele que chama outrem ao processo não tem pretensão a fazer em relação ao chamado; apenas entende que este tem, tanto quanto ele, ou mais, obrigação de responde face ao autor”.571 Vislumbra-se que a sentença proferida em processo em que ocorrer o fenômeno do chamamento, poderá ser executada pelo autor, em casos de obrigação solidária, somente em relação ao chamado, se for essa sua vontade. Caso se trate de obrigação não solidária e divisível, poderá o autor executar, chamante e chamado, cada qual pela sua parte. 5.1.9.3 Hipóteses de Cabimento A matéria pertinente ao instituto do chamamento ao processo está disciplinada nos artigos 77 a 80 do Código de Processo Civil brasileiro. O artigo 77 do Código de Processo Civil estabelece em que hipóteses pode ocorrer o chamamento ao processo para integrar o pólo passivo da ação e quem pode ser chamado. O inciso I do artigo supra trata especificamente do caso em que o fiador é demandado primitivamente, possibilitando que este chame ao processo aquele a quem afiança. É interessante a discussão sobre a existência de interesse jurídico do fiador em chamar ao processo o devedor primitivo. Uma vez que o 571 Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 358-359. 245 patrimônio do devedor principal não seja suficiente para o pagamento do crédito do autor, este é autorizado nos termos do artigo 127, caput, do Código Civil, a se voltar contra o patrimônio do fiador consubstanciado na responsabilidade subsidiária. Portanto, fica claro o interesse jurídico do fiador demandado primitivamente em chamar ao processo o devedor principal e, ainda, os demais fiadores, se houver, pois, dessa forma, a sentença condenará cada um dos réus a sua respectiva cota obrigacional, de acordo com o que estabelece o artigo 80 do Código de Processo Civil brasileiro.572 O inciso II do mesmo artigo traz ao fiador, demandado isoladamente, a possibilidade de chamar ao processo, para integrar o pólo passivo da ação proposta somente contra ele, os demais fiadores, se houver, pois havendo mais de um, existirá entre eles solidariedade (artigo 829 do Código Civil). Exceção deverá ser feita quando na obrigação houver limitação de responsabilidade, ou que o autor esteja exigindo no processo somente a quota-parte do fiador demandado. Já o inciso III trata da hipótese de obrigação exigida dos devedores solidários. Sabemos que, havendo solidariedade entre os devedores, pode o credor da obrigação exigir de um, de alguns ou de todos, total ou parcialmente, o cumprimento da obrigação. Trata-se de instrumento que faz com que terceiro, embora legitimado a figurar no pólo passivo da ação, não o seja por opção do autor, 572 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 283. No mesmo sentido: Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 98. 246 que decidira não demandar contra este ou aquele, que deveria ser o primitivo réu. Já apontamos a crítica da doutrina quanto a essa possibilidade, pois, conforme já salientamos, forma-se por opção do réu primitivo um litisconsórcio passivo. Porém, não se trata de pedido formulado pelo réu contra terceiro. O que pretende o réu primitivo é que a tutela jurisdicional, inicialmente requerida, se eventualmente concedida, alcance todos os coobrigados. 5.1.9.4 Procedimentos O procedimento do chamamento ao processo é estritamente rigoroso. Todavia, o Código de Processo Civil, em seu artigo 78, limita-se a determinar que “(...) para que o juiz declare, na mesma sentença, as responsabilidades dos obrigados, a que se refere o artigo antecedente, o réu requererá, no prazo para contestar, a citação do chamado”. O artigo 79 do mesmo Códex, complementando o que dispõe o artigo anterior, faz menção ao fato de que o juiz deverá suspender o processo para que se observe. quanto à citação e aos prazos, o que dispõem os artigos 72 e 74. Há entendimento no sentido de que o chamamento ao processo e a contestação podem ocorrer ao mesmo tempo, uma vez que é perfeitamente possível que, em virtude da suspensão do processo, que ocorre com a citação dos chamados, o primeiro dos réus chame ao processo e, logo em seguida, apresente a sua resposta. 247 Ressalte-se que essa possibilidade de apresentação da contestação após a ocorrência de tal instituto dependerá da efetiva suspensão do processo, que pressupõe uma determinação judicial da citação do chamado.573 Em virtude do risco de perder o prazo para a contestação pelo fato de não ter sido acolhido o chamamento, é que Celso Agrícola Barbi574 sustenta que a melhor interpretação do artigo 79 seria a que, independentemente do recebimento, ou não, do pedido de chamamento, o processo deva ser suspenso, permanecendo nessa condição até que termine o ciclo citatório. Mas o contrário não é tido como igual, pois se o réu apresentar a defesa, não poderá mais chamar ao processo. Numa vez oferecida reconvenção ou contestação antes de apresentado o chamamento, ocorrerá a preclusão consumativa, e não se poderá ajuizar a ação de chamamento. Assim, nos casos em que é admitido o chamamento ao processo, o réu requererá a citação dos coobrigados, observando-se o prazo da contestação; deferido o requerimento, o juiz suspenderá o processo, não podendo nenhum ato processual ser realizado, a não ser a citação dos chamados, citar-se-á o chamado; em dez dias quando residente na mesma comarca, ou em trinta dias quando residente em outra, ou num lugar incerto. Se, por qualquer motivo, não se efetuar a citação nesses prazos, tem prosseguimento o processo somente com o chamante.575 573 574 575 Ibidem, p. 293. No mesmo sentido: Flávio Cheim Jorge, Chamamento ao processo, p. 128129. Celso Agrícola Barbi, Comenstários ao código de processo civil, p. 220-221. Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil, p. 37-38; Sérgio Luiz Monteiro Salles, Breviário teórico e prático de direito processual civil, p. 143; Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 135-136; Willian Couto Gonçalves, Intervenção de terceiros, p. 280-281. 248 Feita a citação, reabre-se o prazo de contestação para o primitivo réu e abre-se para os chamados o prazo para a defesa que entenderem por bem oferecer. O lapso temporal é de quinze dias no procedimento ordinário. Deferido o requerimento do chamamento e suspenso o processo, o juiz observará, quanto aos prazos, as disposições que lhes sejam pertinentes, previstas na denunciação da lide.576 Assim, entre o primitivo réu e os chamados ao processo, forma-se litisconsórcio passivo em relação ao autor. A defesa dos chamados, todavia, é mais ampla, podendo cada qual deduzir direitos tanto em face do autor como em face dos demais litisconsortes.577 5.1.9.5 Efeitos da Sentença e da Coisa Julgada A sentença irá definir a procedência ou não da demanda perante cada um dos demandados. Se os devedores forem condenados, a sentença valerá como título executivo em favor do que satisfizer a dívida, para exigi-la, no seu inteiro teor, do devedor principal, ou de cada um dos codevedores a sua quota, na proporção que lhes tocar (inteligência do artigo 80 do Código de Processo Civil brasileiro). Ao se falar em formação de título executivo, a sentença apresenta semelhança com a que é proferida nos casos de denunciação à lide, com uma diferença fundamental, pois na denunciação a sentença de 576 577 Ibidem, p. 38. Ibidem, mesma página. 249 procedência é título executivo no que se refere à ação regressiva, em favor do denunciante contra o denunciado. Aqui, nem sempre o título executivo será formado em favor do chamante e contra o chamado, mas dependerá, sim, de quem vier a satisfazer a dívida ao final da demanda.578 A esse respeito confira-se o entendimento de Ovídio Baptista da Silva: “(...) o traço distintivo essencial entre o chamamento ao processo e a denunciação da lide está em que, naquele, todos os réus são obrigados perante o credor comum, enquanto nas hipóteses de denunciação da lide há vínculo apenas entre o denunciante e o denunciado; e nenhuma relação jurídica entre este e o adversário do denunciante”.579 Assim, o chamamento não representa exercício de ação regressiva do chamante contra o chamado, mas apenas convocação para a formação do litisconsórcio passivo. É o que justifica o fato de ser a sentença de procedência, por si, só um título executivo apenas em favor do autor, como o é qualquer outra sentença condenatória.580 Quando somada ao comprovante de pagamento que fora efetuado ao autor, também será título executivo em favor daquele réu que efetuou tal pagamento, na medida em que esse réu tiver direito de reembolso em face dos demais litisconsortes.581 578 579 580 581 Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 136-137. Ovídio Araújo Baptista da Silva, Curso de processo civil, p. 246. Athos Gusmão Carneiro, Intervenção de terceiros, p. 137. Ibidem, mesma página. 250 O chamado, como parte que passa a ser, ficará sujeito não só aos efeitos da sentença condenatória, como também estará adstrito à imutabilidade dos mesmos, qual seja, à coisa julgada material. 582 Esse é também se perfaz no entendimento de Arruda Alvim: “Na realidade, aquele que ingressa, tendo em vista o chamamento de que tratamos, passará a figurar como réu da ação e, portanto, sofrerá a eficácia da referida sentença. E em sendo julgada improcedente a mesma ação, será beneficiário dos efeitos declaratórios negativos, do direito do autor. Em ambos os casos, parte que é, ou melhor, que fica sendo o chamado, a sentença proferida o atinge como, outrossim, a imutabilidade da mesma”.583 E, num breve trecho, complementa seu pensamento ao tratar do inciso I do artigo 77, bem como da possibilidade ou não da recusa do chamamento pelo afiançado: “(...) a este não assiste direito, através de manifestação de vontade, de se insurgir contra o chamamento que lhe faz o fiador, devendo necessariamente ser abrangido pelos efeitos da decisão, proferida sobre a responsabilidade dos obrigados, na forma do que dispõe o artigo 78 da mesma lei processual”. 584 Em virtude do chamamento, os chamados são tidos como réus, tanto quanto o chamante, devendo a sentença declarar a responsabilidade de cada um dos coobrigados, condenado-os nos termos do artigo 80 do 582 583 584 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 303. Arruda Alvim, Código de processo civil comentado, p. 339. Ibidem, p. 345. 251 Código de Processo Civil brasileiro, com eficácia e imutabilidade dos efeitos em relação a cada um deles.585 Na solidariedade há legitimação extraordinária e por isso, os devedores solidários não ajem ao lado do réu como litisconsortes, mas estão sujeitos à coisa julgada por imposição do sistema.586 Entende Scarpinela que a coisa julgada, para o devedor solidário, não guarda nenhuma relação com o ser chamado ao processo ou não, nem com o devedor que, não chamado, pretender ingressar no feito na qualidade de assistente litisconsorcial. Ocorre que o seu direito é agido em juízo por outro devedor, na forma como preconiza o artigo 275 do Código Civil.587 Essa corrente não deixa de reconhecer que a coisa julgada formar-se-á na sua íntegra na ação regressiva ajuizada pelo chamante em face dos chamados.588 O mais acertado, entretanto, é que se entenda o chamamento ao processo não como hipótese de propositura de ação regressiva do devedor, acionado pelo autor, em face dos demais coobrigados, no plano 585 586 587 588 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 304. Neste sentido: Moacyr Amaral Santos, Primeiras linhas de direito processual civil brasileiro, p. 3839; Nelson Godoy Bassil Dower, Curso básico de direito processual civil, p. 261. Ibidem, mesma página. Mesma posição adota por Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de direito processual civil, p. 417-418. Ibidem mesma página. “Tratando-se de dano a prédio vizinho ocasiondo pr construção, a responsabilidade é solidária e objetiva entre o proprietário e o construtor ou responsável técnico pela obra, descabendo a denunciação da lide ao segundo pelo primeiro, mas sim o instituto do chamamento ao processo previsto no artigo 77 do CPC”. RT nº 673/108. Nesse sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação processual civil em vigor, p. 492; Marcelo Abelha Rodrigues, Elementos de direito processual civil, p. 331. 252 do direito material, mas como hipótese de ampliação do subjetivado pólo passivo da relação processual por iniciativa do réu.589 5.1.10 Do Chamamento ao Processo no Código de Defesa do Consumidor A única oportunidade em que o CDC alude ao instituto do chamamento ao processo ocorre no art. 101, II, in verbis: “Artigo 101: Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste Título, serão observadas as seguintes normas: (...) II – o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador, vedada a integração do contraditório pelo Instituto de Resseguros do Brasil. Nesta hipótese, a sentença que julgar procedente o pedido condenará o réu nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Se o réu houver sido declarado falido, o sindico será intimado a informar a existência de seguro de responsabilidade facultando-se, em caso afirmativo, o ajuizamento de ação de indenização diretamente contra o segurador, vedada a denunciação da lide ao Instituto de Resseguros do Brasil e dispensado o litinconsorcio obrigatório com este”.590 Questão a ser enfrentada, é a natureza jurídica da modalidade chamamento ao processo preconizada pelo artigo em comento. Parece-nos que tal como foi introduzida no CDC o chamamento ao processo cria um instituto híbrido, pois, no caso previsto pelo CDC, o réu poderá chamar ao processo aquele com quem mantém seguro de responsabilidade para que venha a responder, diretamente, ao autor, por eventual condenação. Ao permitir ao fornecedor a possibilidade de chamar ao processo segurador 589 590 Cássio Scarpinela Bueno, Partes e terceiros no processo civil brasileiro, p. 306. Maria Berenice Dias, Código de defesa do consumidor, p. 826. 253 com que mantém contato, faz emergir uma obrigação direta deste ante ao consumidor, apesar de não haver entre consumidor e segurador qualquer relação jurídica contratual, gerando uma solidariedade entre fornecedor e segurador perante o consumidor. Ora, o caso é típico de denunciação da lide, pois conforme estabelece o art. 70, III, do Código de Processo Civil brasileiro, a denunciação é facultativa aquele que estiver obrigado pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva o prejuízo do que perder a demanda. Arruda Alvim comentando o art. 101 do CDC conclui que: “Fosse a matéria regulada pelo processo civil, essa seria hipótese de denunciação da lide, não de chamamento ao processo. Entretanto, na denunciação nunca o denunciado pelo réu poderia ficar diretamente responsável perante o autor. Assim, o instituto do chamamento ao processo foi usado pelo Código de Defesa do Consumidor, mas com contornos diversos dos traçados pelo Código de Processo Civil, para maior garantia do consumidor ( vitima ou sucessores)”.591 É nítida a intenção do legislador em tornar possível o acesso do consumidor a um processo célere e efetivo, ao permitir chamamento do segurador, pois o que se almeja nada mais é do que o pronto ressarcimento do consumidor autor, sem as delongas processuais inerentes à intervenção de terceiros no processo, que, como é sabido, requer um prazo maior para o deslinde da demanda. Outra questão a ser enfrentada é a possibilidade de se admitir a intervenção de terceiro, denominada chamamento ao processo, em 591 Arruda Alvim, Código do consumidor comentado, p. 414. 254 hipóteses que não a prevista no art. 101, II, do CDC, ou seja, nos casos de ação indenizatória quando o réu possuir seguro de responsabilidade civil. Como já salientamos alhures, a regra geral do CDC é o da responsabilidade objetiva e da solidariedade, ou seja, não se perquire da culpa do fornecedor pelos danos causados por fato do produto ou serviço o que possibilita que o consumidor acione um, alguns ou todos os integrantes da cadeia de fornecedores. Arruda Alvim enumera as seguintes razões para afirmar que o chamamento no CDC não deve ser admitido: “1. Apesar de o legislador não ter proibido expressamente, quando o CDC menciona a forma interventiva, o fez de forma expressa no art. 101, II do microsistema; 2. A forma indicada para a ação de regresso é a estabelecida no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, através de ação autônoma, mesmo que admitindo que seja efetivada nos autos da ação proposta pelo consumidor; 3.A definição da participação de cada fornecedor na ação indenizatória é hipótese que não se coaduna com o art. 77 do CPC; 4. A finalidade do chamamento ao processo do fornecedor no CPC é o favorecimento do réu, no CDC, é favorecer principalmente o consumidor”.592 Constituindo o CDC um microssistema normativo, as regras processuais do direito comum só serão aplicadas de forma subsidiária à legislação de proteção ao consumidor. É o que se observa da redação do artigo 90 do mesmo Códex, ressaltando-se que as normas subsidiárias só deverão ser aplicadas se não contrariarem os princípios informadores da norma consumerista. Mostra-se de forma clara que a intenção do legislador foi a de não permitir que o fornecedor acionado exercesse direito de regresso 592 Ibidem, mesma página. 255 incidentalmente à ação proposta pelo consumidor, orientado pelos princípios que informam o microssistema, tais como vulnerabilidade e acesso efetivo à justiça, além da facilitação da defesa de seus direitos em juízo. Se o microssistema permitisse o chamamento ao processo na forma especificada no Código de Processo Civil, introduziria também os efeitos colaterais inerentes ao chamamento: instauração de litisconsórcio passivo com a finalidade de favorecer o réu fornecedor e, a demora processual inerente ao instituto do chamamento ao processo. A doutrina brasileira593 rechaça a aplicabilidade do instituto intervencionista chamamento ao processo em situações que não aquela prevista no artigo 101, inciso II, do Código Consumerista, porém, é de se observar que em alguns casos pode ocorrer a utilização do instituto em comento, como os que venham a favorecer o consumidor. Dada a responsabilidade solidária da cadeia fornecedora, regra geral, quão maior for o número de coobrigados inseridos na lide como litisconsortes passivos, maior será a efetividade do ressarcimento integral do consumidor. Segundo Adriano Perácio de Paula: “É apropriado assentar – ainda que soe dispiciendo – que as regras de proteção ao consumidor no processo civil são de aplicação às demandas que envolvem matéria de consumo, não importando em que vértice do processo se situe a pessoa do consumidor. Estes princípios e esta ordem de idéias se aplicam a qualquer situação processual, e em alguns casos, especialmente quando este consumidor figure como réu. Assim que, havendo um contrato de mútuo, por exemplo- prestação de serviço de crédito (§2º, do artigo 2º do CDC) – cuja cobrança esteja sendo requerida, 593 Mário Helton Jorge, Da denunciação da lide no código de defesa do consumidor, p. 40; Maria Berenice Dias, Código de defesa do consumidor, p. 107-110. 256 e dirigida em face de somente um devedor solidário – o consumidor na relação jurídica material –, este pode requerer o chamamento ao processo daquele que solidariamente se obrigou”.594 O § 4° do artigo 14 foge à regra da responsabilidade objetiva inserida no Código de Defesa do Consumidor, pois estabelece que o fornecedor de serviços – profissional liberal – responderá mediante culpa. Imagine-se um profissional liberal, o médico, por exemplo, que é acionado pelo consumidor. Se a sua responsabilidade não é objetiva, nada obsta a que ele chame ao processo um ou mais médicos que também participaram da cadeia fornecedora de serviços, como o hospital onde prestou os serviços.595 Conclui-se, assim, que há possibilidade de aplicação do instituto intervenção de terceiro – chamamento ao processo – nos moldes do Código de Processo Civil brasileiro. Essa possibilidade se verifica em alguns casos diversos daquele previsto no inciso II, do artigo 101, quando o réu na ação proposta pelo consumidor for profissional liberal, ou em casos em que, com a formação do litisconsórcio passivo, ocorra efetivamente a adequada proteção ao consumidor, em obediência aos princípios informadores do microssistema. Negar essa possibilidade seria atentar contra os princípios informadores do microssistema, uma vez que aquilo que se busca é a promover a igualdade processual entre os litigantes. A possibilidade de chamamento ao processo em relações de consumo, assim, deveria ser uma opção do consumidor, que a aceitaria 594 595 Adriano Perácio de Paula, Direito processual do consumo, p. 78-79. Neste sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de processo civil comentado e legislação processual civil em vigor, p. 798. 257 quando lhe conviesse, ou seja, quando lhe trouxesse benefícios, possibilitando efetivamente a tutela de seus direitos. CONCLUSÕES 1. O processo civil atual está comprometido menos com suas formas do que com seus resultados, buscando cada vez mais entregar ao jurisdicionado uma tutela justa e útil, sem delongas. 2. Com o surgimento das relações de massa, era imperativo que o legislador dotasse o Brasil de um microssistema que regulamentasse as relações de consumo, salientando que o nosso Código de Defesa do Consumidor é modelo para qualquer país que deseje adotar uma legislação especifica para as relações de consumo. 3. O Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, infelizmente, ainda é um grande desconhecido dos envolvidos nas relações de consumo, como dos operadores do direito de uma forma geral, o que dificulta sobremaneira sua aplicabilidade. 4. O princípio da vulnerabilidade do consumidor é o grande alicerce do microssistema, pois suas regras foram construídas com a finalidade de harmonizar as relações de consumo entre fornecedores e consumidores. 5. A Lei nº 8.078/90 insere novidades na conceituação de partes quando se trata de legitimidade, haja vista, seu artigo segundo, que equipara a consumidor todos aqueles que hajam intervindo na relação de consumo. 6. Ainda quanto à delimitação de quem é parte e quem é terceiro no processo, toda nossa doutrina utiliza apenas o conceito processual de parte e 259 terceiro, sendo interessante a proposta de Scarpinella de que devemos procurar mesclar o conceito de parte em sentido material e processual. 7. Um dos temas que apresenta maiores dificuldades no Direito Processual Brasileiro é o relativo à intervenção de terceiros, dada a sua complexidade e sua sistematização imperfeita, tendo em vista que a assistência, que é um instituto típico de intervenção de terceiros, encontra-se inserida fora do capitulo próprio do código. 8. O instituto da intervenção de terceiros visa a diminuir o numero de processos e evitar resultados contraditórios. 9. A doutrina brasileira em sua maioria classifica a intervenção de terceiros como espontânea e provocada, sendo que se o terceiro ingressa no processo sem ser provocado, sem ser chamado, considerando provocada quando o terceiro vem a participar do processo, auxiliando uma das partes, ou mesmo para reclamar em seu favor o direito disputado na demanda. 10. A assistência tem sua origem no direito romano, com a finalidade de impedir que por negligencia, dolo ou conluio entre as partes, a sentença viesse a ferir o interesse de terceiro. 11. Apesar de não constar no capítulo destinado à intervenção de terceiros no Código de Processo Civil Brasileiro, trata-se evidentemente de modalidade de intervenção e pode ocorrer em processo pendente entre duas pessoas, para auxiliar uma delas, em cuja vitória tem interesse jurídico o virtual assistente. 12. Difere a assistência simples das demais formas de intervenção de terceiros pois, exclusivamente naquela o interveniente não sofre diretamente os efeitos da coisa julgada. 260 13. A doutrina contemporânea distingue duas formas de assistência: a adesiva simples e a adesiva litisconsorcial, sendo que ocorre a simples quando o terceiro intervém no processo com a finalidade de auxiliar uma das partes em cuja vitória tenha interesse. Já na assistência litisconsorcial o interveniente tem interesse jurídico próprio, que poderia ter deduzido em juízo contra o adversário do assistido, más não o fez. Por isso, quando intervém na lide alheia assume posição igual ao litisconsorte. 14. O Código de Defesa do Consumidor silencia quanto à impossibilidade da intervenção de terceiros, denominada assistência, nas relações de consumo, e a doutrina brasileira, de forma unânime é pela sua impossibilidade. 15. Entendemos que em casos excepcionais não se pode negar a possibilidade da assistência litisconsorcial nas relações de consumo, haja vista, que conforme salientamos no corpo do presente estudo, a mesma pode vir a beneficiar o consumidor, e tendo em vista que a doutrina entende pela impossibilidade, para proteger o consumidor, parte mais fraca na relação jurídica, se a adoção do instituto vier a beneficiá-lo, não há o porquê da vedação. 16. A finalidade da oposição, instituto de rara utilização prática, no direito brasileiro, é assegurar as vantagens da economia processual, dando oportunidade a que o opoente se valha do processo já instaurado, para nele incluir sua demanda excludente da demanda, proposta pelo autor da ação principal, ou da reconvenção do réu, contra a qual também pode se opor, constituindo-se em uma demanda mediante a qual terceiro deduz em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes de autor e réu de um processo cognitivo pendente. 17. Conforme já salientamos a doutrina é unânime quanto à impossibilidade da oposição nos processos que versem sobre relação de 261 consumo, porém, impedir que o consumidor se oponha em processo em que as partes litiguem sobre bem de sua propriedade, seria afrontar o princípio da facilitação da defesa dos consumidores, portanto, em nada prejudica, pelo contrário ao consumidor a possibilidade desse tipo de intervenção que certamente vem a beneficiá-lo. 18. A nomeação à autoria constitui um meio de retificar o erro do autor no endereçamento da ação, sendo uma correção de legitimação, em que o terceiro assume a condição de réu no processo, ocupando o lugar do primitivo demandado. 19. Negar a possibilidade de correção do pólo passivo da ação quando o consumidor vulnerável o faz de forma incorreta, não o favoreceria em nada, pelo contrário. Portanto, se o consumidor propõe a ação em relação a comerciante quando deveria propô-la em relação ao fabricante, deve-se permitir que o demandado nomeie à autoria aquele que deve ocupar o pólo passivo da ação, sob pena de o consumidor ter sua ação extinta sem o julgamento do mérito por ilegitimidade de parte e de ter que propor outra ação em relação ao fabricante. 20. O instituto do chamamento ao processo foi introduzido no Brasil pelo Código de Processo Civil de 1973, e tem a finalidade de chamar ao processo os coobrigados pela dívida comum quando o réu é demandado isoladamente, surgindo um litisconsórcio passivo por vontade do réu. 21. O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de utilização do instituto chamamento ao processo única e exclusivamente em seu art. 101, nos casos em que o réu demandado em ação indenizatória possua seguro de responsabilidade civil, visando à concreta reparação dos danos sofridos pelo consumidor. 262 22. A forma com que o Código de Defesa do Consumidor trata a possibilidade de chamamento ao processo, do segurador apresenta-se híbrida, pois de acordo com o art. 70, III, do CPC o caso é típico de denunciação à lide. 23. A forma como o Código de Defesa do Consumidor trata do chamamento ao processo, do segurador faz nascer entre o réu e o segurador uma obrigação solidária com o consumidor, apesar de este não possuir qualquer relação jurídica com o segurador. 24. Entendemos que se deveria dar ao consumidor a oportunidade de se manifestar sobre a conveniência ou não da aplicabilidade do chamamento ao processo, já que nas relações de consumo os fornecedores respondem de forma solidária pelos danos causados a consumidor. 25. A denunciação da lide é o ato pelo qual o autor ou o réu chamam a juízo terceiro que seja garante de seu direito, a fim de resguarda-lo no caso de ser vencido na demanda em que se encontram. 26. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 88 veda a denunciação na lide, porém, faculta a ação regressiva nos mesmos autos, na hipótese de ação do art. 13. 27. O CDC veda a denunciação na lide em decorrência da responsabilidade objetiva que regula as relações de consumo, portanto, se o denunciante for profissional liberal, no caso de ação proposta contra ele, nada obsta que ele denuncie á lide o hospital, haja vista, que este responde de forma objetiva. 28. Entendemos que, em qualquer circunstância, deve-se deixar a opção de aceitar a intervenção de terceiro a critério do consumidor, para que este verifique da sua conveniência ou não. BIBLIOGRAFIA AGUIAR JÚNIOR, Rui Rosado de. A boa fé na relação de consumo. In: Revista de direito do consumidor, nº 14. São Paulo: Revista dos Tribunais, s.d. _______. Aspectos do código de defesa do consumidor. In: AJURIS, nº 52, ano XVIII. Edições da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, julho de 1991. AJURIS. Edições da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nº 47, ano XVI. Porto Alegre, novembro de 1989. AJURIS. Edições da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nº 52, ano XVIII. Porto Alegre, julho de 1991. AJURIS. Edições da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nº 59, ano XX. Porto Alegre, novembro de 1993. ALBA, Isabel Espin. Algunas consideraciones sobre el derecho de consumo de España. In: Revista de direito civil, imobiliário, agrário e empresarial. São Paulo, 1995. ALMEIDA, João Batista de. A proteção jurídica do consumidor. 2ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2000. 264 ALMEIDA NETO, Amaro Alves de. Processo civil e interesses difusos e coletivos: questões resolvidas pela doutrina e pela jurisprudência. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2002. ALVARENGA, Maria Amália de Figueiredo Pereira; ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto. Apontamentos de metodologia para ciências e técnicas de redação científica. 2ª ed. atual. e aum.Porto Alegre: Fabris, 2001. ALVES, Alaôr Carfê. Lógica, pensamento formal e argumentação: elementos para um discurso jurídico. Bauru: Edipro, 2000. ALVIM, Angélica Arruda. Princípios constitucionais do processo. In: Revista de processo civil brasileiro, nº 74, ano LVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, s.d. ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. 6ª e 8ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997 e 2003. 2 vol. _______ et al. Código do consumidor comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. ALVIM, Eduardo Arruda. Curso de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. ALVIM, Pedro. O contrato de seguro. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. ALVIM, Thereza. O direito processual de estar em juízo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. 265 AMARAL, Luiz. As modernas relações de consumo: um novo capítulo do direito econômico. In: Defesa do consumidor textos básicos. 2ª ed. Brasília: Ministério da Justiça, 1988. AMARAL JÚNIOR, Alberto do. A boa-fé e o controle das cláusulas contratuais abusivas nas relações de consumo. In: Revista de direito do consumidor, nº 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 1993. ANDOLINA, Italo. Il modelo costeluzionale del processo civile italiano. Torino: Giappichelli, 1990. ANDRADE NERY, Rosa Maria; NERY JÚNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado e legislação processual civil em vigor. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. ANDRIOLI, Virgílio. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli: Casa Editrice Dott Eugenio Jovene, 1973. 1 vol. ARAGÃO, E. D. Moniz. Sobre o chamamento à autoria. In: Revista de processo, nº 27, ano VII. São Paulo: Revista dos tribunais, jul./set. de 1982. ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional positivo. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003. ARENHART, Sérgio Cruz; MARINONI, Luiz Guilherme. Manual do processo de conhecimento. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. ARNOLDI, Paulo Roberto Colombo; JACYNTHO, Patrícia Helena de Ávila. A proteção contratual ao consumidor no mercosul. Campinas: Interlex, 2001. 266 ARRUDA NETTO, José Manoel de Alvim. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. 1 e 2 vols. ASCARELLI, Túlio. Saggi di diritto commenti. Milão: Dott. A. Giuffré, 1955. ASCENSÃO, J. Oliveira. O princípio da prestação: um novo fundamento para a concorrência desleal? In: Revista de direito do consumidor, nº 44. São Paulo: Revista dos tribunais, out./dez. de 2002. ASSIS, Araken de. Manual do processo de execução. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. AZARA, Antonio; EULA, Ernesto. Novíssimo digesto italiano. Torino: Editrice Torinese, 1968. 8 vol. BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Princípios constitucionais do processo administrativo disciplinar. São Paulo: Max Limonad, 1998. BARBI, Celso Agrícola. Chamamento ao processo. In: Digesto de processo. Rio de Janeiro: Forense; Uberlândia: Universidade Federal de Uberlândia, 1982. 2 vol. _______. Comentários ao código de processo civil. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. 1 vol. BARROW, R. H. Los romanos. México: s.e., 1980. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editor, 2002. BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Rio de Janeiro: ELFOS, 1995. 267 BAUR, Fritz. Tutela jurídica mediante medidas cautelares. Tradução de Armindo Edgar Laux. Porto Alegre: Fabris, 1985. BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Direito e processo. São Paulo: Malheiros, 1995. BENJAMIM, Antonio Herman de Vasconselos et al. Comentários ao código de proteção do consumidor. Juarez de Oliveira (coord.). São Paulo: Saraiva, 1991. BERMUDES, Sérgio. Introdução ao processo civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do consumidor: código de defesa do consumidor. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. BITTAR, Moysés André. As espécies de intervenção de terceiros no processo de conhecimento do trabalho. São paulo: LTR, 1998. BOLSON, Simone Hegele. O princípio da dignidade da pessoa humana, relações de consumo e o dano moral. In: Revista de direito do consumidor, nº 46. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./ jun. de 2003. BONATTO, Cláudio; MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Questões controvertidas no código de defesa do consumidor: principiologia, conceitos, contratos atuais. 2ª ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 268 BORTOLAI, Edson Cosac. Da defesa do consumidor em juízo: legitimidade do consumidor ou da vítima para propor ação coletiva. São Paulo: Malheiros, 1997. BOUZON, Emanuel. Código de hamurabi. Petrópolis: s.e., 1992. BRANCO, Elcir Castello. Do seguro obrigatório de responsabilidade civil. Rio de Janeiro, São Paulo: Jurídica Universitária, 1971. BUENO, Cássio Scarpinela. Partes e terceiros no processo civil brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2003. BULGARELLI, Waldírio. Questões contratuais no código de defesa do consumidor: legislação, modelos, jurisprudência. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1999. BÜLOW, Oscar Von. La teoria de las excepciones procesales y los presupuestos procesales. Buenos Aires: EJEA, 1964. _______. Teoria das exceções e dos pressupostos processuais. Tradução e notas de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: LZN, 2003. CALAIS-AULOY.Droit de la consommation. 2ª ed. Dalloz: s.e., s.d. CALAMANDREI, Piero. Natura sostanziale dell’azione di garantia. In: Opere giuridiche. Napoli: Morano, 1972. _______. Direito processual civil. Tradução de Luiz Abezia e Sandra Drina Fernandez Barbiery. Campinas: Bookseller, 1999. 1, 2 e 3 vols. 269 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. 6ª ed. rev. Coimbra: Livraria Almedina, 1993. CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de terceiros. 14 ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. CARVALHO, Miriam Regina de. Direito do consumidor face à nova legislação. Leme: LED, 1997. CARVALHO NETO, Frederico da Costa. Ônus da prova no código de defesa do consumidor. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. CASADO, Márcio Mello. Proteção do consumidor de crédito bancário e financeiro. In: Biblioteca de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 15 vol. CASTRO FILHO. Princípios constitucionais aplicáveis ao processo civil. In: Revista de processo, nº 70. São Paulo: Revista dos Tribunais, s.d. CENEVIVA, Walter. Publicidade e direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil. 3ª ed. Campinas: Bookseller, 2002. 1, 2 e 3 vols. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo. Do chamamento à autoria: denunciação da lide. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1973. CÓDIGO DE HAMURABI. Código de Manu. Excertos: (livro oitavo e nono). Lei das XII Tábuas. Bauru: Edipro, 2000. 270 COSTA, Alfredo de Araújo Lopes da. Manual elementar de direito processual civil. Rio de Janeiro: Revista forense, 1956. COSTA, Judith Martins. A ambigüidade das peças publicitárias e os princípios do código de defesa do consumidor. In: AJURIS, nº 59, ano XX. Edições da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, novembro de 1993. COSTA, Sérgio. L’intervento in causa. Torino: Editrice torinense, 1953. COVIZZI, Carlos Adroaldo Ramos. Práticas abusivas da SERASA e do SPC. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Edipro, 2000. CRISAFULLI. La costituizone e lê sue disposizione di Principio. Milão: s.e., 1953. CRUZ, José Raimundo Gomes da. Assistência simples e denunciação da lide. In: Revista dos tribunais, nº 616, ano LXXVI. São Paulo: Revista dos Tribunais, fevereiro de 1987. _______. Estudos sobre o processo e a constituição de 1988. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. _______. Pluralidade de partes e intervenção de terceiros. São Paulo: Revista dos tribunais, 1993. DELFINO, Lúcio. Responsabilidade civil e tabagismo no código de defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 271 DENARI, Cristiane. Política nacional das relações de consumo e o código de defesas do consumidor. In: Revista de direito do consumidor, nº 29. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./mar. de 1999. DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: s.e., 1983. 2 vol. DIAS, Maria Berenice. O terceiro no processo. Rio de Janeiro: Aide, 1993. _______. Código de defesa do consumidor: alteração no campo intervencional. In: Revista de processo civil brasileiro. São Paulo, jan./mar. de 1994. 4 vol. DINAMARCO. Cândido Rangel. A reforma do código de processo civil. São Paulo: Malheiros, 1995. _______. Litisconsórcio. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996. _______. Intervenção de terceiros. São Paulo: Malheiros, 1997. _______. A instrumentalidade do processo. São Paulo: Malheiros, 2000. _______. O conceito de mérito em processo civil. In: Fundamentos do processo civil moderno. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 1 vol. _______. Aceleração dos procedimentos: In: Fundamentos do processo civil moderno. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. _______. Manual dos juizados cíveis. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2001. 272 _______. A reforma da reforma. São Paulo: Malheiros, 2002. _______. Instituições de direito processual civil. 3ª ed. rev. atual. aum. e com remissões ao código civil de 2002 (lei nº 10.406/02). São Paulo: Malheiros, 2003. 1, 2 e 3 vols. DOWER, Nelson Godoy Bassil. Curso básico de direito processual civil. 3ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Nelpa: Publicações Jurídicas, 1999. 1 e 2 vols. EFING, Antônio Carlos. Bancos de dados e cadastro de consumidores. In: Biblioteca de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 18 vol. FACHIN, Luiz Edson. Intervenção de terceiros no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. FARIA, José Eduardo (org.). Direitos humanos, sociais e justiça. 1ª ed. 2ª tirag. São Paulo: Malheiros, 1998. FAZZALARI, Elio. Instituzioni di diritto processuale. 8ª ed. Padova: Cedam, 1996. FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias; LOPES, Antônio Ribeiro. Comentários à lei dos juizados especiais cíveis e criminais. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de direitos do consumidor. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 273 FINCH, James. A history of the consumer movement in the United States: its literature and legislation. In: Journal of consumer studies and home economics. New York: DEG, 1985. FLAX, Milton. Denunciação da lide. Rio de Janeiro: Forense, 1984. FOURGOUX, Mihailov e Jeannin. Principes et pratique du droit de la consommation. s.l.: s.e., 1995. FRANÇA, Limongi (coord.). Enciclopédia saraiva de direito. São Paulo: Saraiva, 1977. 23 vol. FRIEDMAN, Monroe. Research on consumer protection issues: the perspective of the human sciences. In: Journal of social issues. New York: DEG, 1991. FUX, Luiz. Curso de direito processual civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. _______. Intervenção de terceiros. São Paulo: Saraiva, 2002. GAMA, Ricardo Rodrigues. Elementos de direito constitucional. Leme: LED, 1996. _______. Código de processo civil italiano: traduzido e adaptado para a língua portuguesa. Campinas: Agá Juris, 2000. GARCIA, José Augusto. O princípio da dimensão coletiva nas relações de consumo: reflexos no “processo do consumidor”, especialmente quanto aos 274 danos morais e às conciliações. In: Revista de direito do consumidor, nº 28. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. de 1998. GARCIA, Ricardo Alonso. Tratado de la union europea. 3ª ed. Madrid: Civitas, 1994. GIDI, Antônio. Assistência em ações coletivas. In: Revista de processo, nº 88, ano XXII. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. de 1997. GLANZ, Semy; GUSMÃO, Paulo Dourado de (coords.). O direito na década de 1990: novos aspectos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. GOMES, Marcelo Kokke. Responsabilidade civil: dano e defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. GONÇALVES, Aroldo Plínio. Da denunciação da lide. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1987. GONÇALVES, Maria Teresa Quintela. La protección de los consumidores y usuarios y la Constitución Española de 1978. Espanha: s.e., 1978. GONÇALVES, Renato Afonso. Banco de dados nas relações de consumo: a manipulação de dados, os serviços de restrição ao crédito e o habeas data. São Paulo: Max Limonad, 2002. GONÇALVES, Willian Couto. Intervenção de terceiros. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 17ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2003. 1, 2 e 3 vols. 275 GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela dos interesses difusos no direito comparado. In: Série de estudos jurídicos. São Paulo: Max Limonad, 1984. _______ et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. _______. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. GUASTINI, Riccardo. Dalle fonti alle norme. Turim: s.e., 1990. HUGON, Paul. História das doutrinas econômicas. São Paulo: Atlas, 1985. JORGE, Flávio Cheim. Chamamento ao processo. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. JORGE, Mário Helton. Da denunciação da lide no código de defesa do consumidor. In: Revista de processo. São Paulo: s.e., out./dez. de 2002. JUNOY, Joan Picó. Los principios del nuevo proceso civil español. In: Revista de processo, nº 103. São Paulo: Revista dos tribunais, s.d. KOPPER, Max Guerra. Da denunciação da lide. Belo Horizonte: Del Rey, 1996. LASPRO, Oreste Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. LEITE, Roberto Basilone. Introdução ao direito do consumidor. São Paulo: LTR, 2002. 276 LEONEL, Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 1 vol. _______. Estudos sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2001. LISBOA, Roberto Senise. Responsabilidade civil nas relações de consumo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípios sociais dos contratos no código de defesa do consumidor e no novo código civil. In: Revista de direito do consumidor, nº 42. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 2002. LUCCA, Newton. Direito do consumidor. In: Biblioteca de direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 10 vol. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa do meio ambiente, do patrimonio cultural e dos consumidores (Lei nº 7.347/85 e legislação complementar). 6ª ed. rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. _______. Manual do consumidor em juízo. 3ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 2001. MANDRIOLI, Crisanto. Corso di diritto processuale civile. 12ª ed. Torino: Giappichelli, 1998. 1 vol. 277 MARÇAL, Sérgio Pinheiro. Código de defesa do consumidor: definições, princípios e o tratamento da responsabilidade civil. In: Revista de direito do consumidor, nº 6. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. MARCATO, Antônio Carlos (coord.). Código de processo civil interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas de processo civil. 4ª ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 2000. MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. MARQUES, José Frederico. Manual de direito processual civil. 13ª ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 1990. _______. Instituições de direito processual civil. Campinas: Millennium, 2000. 2 vol. MAZEAUD, Henri. MAZEAUD, Léon; CHABAS, François. Leçon de droit civil. 9ª ed. Paris: Montechorestien, 1998. MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. MEDINA, José Miguel Garcia de. Chamamento ao processo. In: Revista de processo. São Paulo: s.e., jul./set. de 1999. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 1995. 278 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. MELLO, Sônia Maria Vieira de. O direito do consumidor na era da globalização: a descoberta da cidadania. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas: no direito comparado e nacional. In: Coleções e temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. MIRANDA, Gilson Delgado; PIZZOL, Patrícia Miranda. Processo civi: recursos. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. MONCADA, Luís S. Cabral. Direito econômico. 3ª ed. rev. e atual. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. MORAES, Voltaire de Lima. Da tutela do consumidor. In: AJURIS, nº 47, ano XVI. Edições da Diretoria da Revista de Jurisprudência e Outros Impressos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, novembro de 1989. MOREIRA, José Carlos Barbosa. Litisconsórcio unitário. Rio de Janeiro: Forense, 1972. _______. Estudos sobre o novo código de processo civil. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1974. _______. Regras de experiência e conceitos juridicamente indeterminados. In: Temas de direito processual civil. São Paulo: Saraiva: s.e., 1980. 279 _______. Comentários ao código de processo civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. 5 vol. MUKAI, Toshio. Comentários ao código de defesa do consumidor. Juarez de Oliveira (coord.). São Paulo: Saraiva, 1991. NERY JÚNIOR, Nelson. Os princípios gerais do código de defesa do consumidor. In: Revista de direito do consumidor, nº 3. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./out. de 1992. _______. Princípios do processo civil na constituição federal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. _______ et al. Código brasileiro de defesa do consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. _______. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. _______. Princípios do processo civil na constituição federal. 7ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. NISHIYAMA, Adolfo Mamoru. A proteção constitucional do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2002. NOGUEIRA, Paulo Sérgio. Curso completo de processo civil. 6ª ed. atual. aum. São Paulo: Saraiva, 1995. NORRIS, Roberto. Responsabilidade civil do fabricante pelo fato do produto. Rio de Janeiro: Forense, 1996. 280 OLIVEIRA, Juarez de (coord.). Comentários ao código de defesa do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1991. OLIVEIRA, Ubirajara Mach de. Princípios informadores do sistema de direito privado: a autonomia da vontade e a boa fé objetiva. In: Revista de direito do consumidor, nº 23 e 24. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./dez. de 1997. OLIVEIRA NETO, Olavo. A defesa do executado e dos terceiros na execução forçada. São Paulo: Saraiva, 2000. ORDENAÇÕES AFONSINAS. Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1792, L. III. ORDENAÇÕES FILIPINAS. Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1870, L. III. ORDENAÇÕES MANUELINAS. Edição da Fundação Calouste Gulbenkian, 1797, L. III. PANCOTTI, José Antônio. Elementos do processo civil de conhecimento. São Paulo: LTR, 1997. PASSOS, J. J. Calmon. Comentários ao código de processo civil. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1994. _______. O risco na sociedade moderna e seus reflexos na teoria da responsabilidade civil e na natureza do contrato de seguro. In: Instituto Brasileiro de Direito do Seguro – Escola Paulista da Magistratura (coord.). São Paulo: Max Limonad, 2001. 281 PEIXOTO, Ester Lopes. O princípio da boa-fé no direito civil brasileiro. In: Revista de direito do consumidor, nº 45. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./mar. de 2003. PERÁCIO DE PAULA, Adriano. Direito processual civil do consumo. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. PEREIRA, Caio Maio da Silva. Responsabilidade civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993. _______. Instituições de direito civil. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 3 vol. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. PINTO, João Augusto Alves de Oliveira. A responsabilidade civil do estadofornecedor se serviços ante o usuário-consumidor. Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1997. PISANI, Andrea Porto. Diritto processuale civile. 2ª ed. Napoli: Jovene, 1996. PIZZOL, Patrícia Miranda. Liquidação nas ações coletivas. São Paulo: Lejus, 1998. _______. A competência no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. PLÍNIO, Aroldo. Da denunciação da lide. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 282 PODETTI, R. Jamiro. Tratado de la terceria. Buenos Aires: Ediar Editores, 1949. POLO, Eduardo. La protección del consumidor en el derecho privado. Madrid: Civitas, 1980. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao código de processo civil. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 1 e 2 vols. PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. PRUX, Oscar Ivan. Responsabilidade civil do profissional liberal no código de defesa do consumidor. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. RADOLFF, Stephan Klaus. A inversão do ônus da prova no código de defesa do consumidor. Rio de Janeiro: Forense, 2002. REDENTI, Enrico. Derecho procesal civil. Tradução espanhola da edição italiana de 1952. Buenos Aires: s.e., 1957. RÊGO, Werson. O Código de proteção e defesa do consumidor, a nova concpção contratual e os negócios jurídicos imobiliários: aspectos doutrinários e jurisprudenciais. Rio de Janeiro: Forense, 2001. REIS, José Alberto dos. Código de processo civil anotado. 3ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1982. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 03. São Paulo: Revista dos Tribunais, set./out. de 1992. 283 REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 06. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 1993. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 26. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 1998. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 27. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. de 1998. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 29. São Paulo: Revista dos Tribunais, jan./mar. de 1999. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 30. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 1999. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 42. São Paulo: Revista dos Tribunais, abr./jun. de 2002. REVISTA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, nº 43. São Paulo: Revista dos Tribunais, jul./set. de 2002. REVISTA DOS TRIBUNAIS, nº 648, ano LXXVIII. São Paulo: Revista dos Tribunais, outubro de 1989. RIBEIRO, Paula M. C.; RIBEIRO, Pedro Barbosa. Curso de direito processual civil. 3ª ed. rev. atual. Porto Alegre: Síntese, 2000. 2 vol. RIZZATO NUNES, Luiz Antônio. Manual da monografia jurídica. 2ª ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 1999. 284 ROCHA, Ibraim. Litisconsórcio, efeitos da sentença e coisa julgada na tutela coletiva. Rio de Janeiro: Forense, 2002. ROCHA, Silvio Luis Ferreira da. Responsabilidade civil do fornecedor pelo fato do produto no direito brasileiro. 2ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. _______. A oferta no código de defesa do consumidor. São Paulo: Lemos Editorial, 1997. ROCHEL, Enilda Locato. Os recursos nos juizados especiais cíveis. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de pós graduação em direito, do centro de pós graduação da Instituição Toledo de Ensino, para obtenção do título de mestre em direito. Bauru: Manzano, 2001. ROSA, Josimar Santos. Relações de consumo: a defesa dos interesses de consumidores e fornecedores. São Paulo: Atlas, 1995. ROSENBERG, Leo. Tratado de derecho procesal civil. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 1995. 1 vol. ROTHENBURG, Walter Claudius. Princípios constitucionais. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999. SAAD, Eduardo Gabriel. Comentários ao código de defesa do consumidor. 2ª ed. São Paulo: LTr, 1997. SALLES, Sérgio Luiz Monteiro. Breviário teórico e pratico do direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 1993. 285 SANGENSTEDT, H. R. Meire recht als verbraucher. 2ª ed. Münchem: s.e., 1980. SANTOS, Altamiro José. Direito do consumidor. In: Revista do IAP, nº 10, ano LXVIII. Curitiba: Instituto dos Advogados do Paraná, janeiro de 1987. SANTOS, Ernani Fidelis. Manual de direito processual civil. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2002. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 1991. 2 vol. SAYEG, Ricardo Hasson. Práticas comerciais abusivas. Bauru: Edipro, 1995. SCHÖNKE, Adolf. Direito processual civil. 2ª ed. atual. Campinas: Romana, 2003. SCIALOIA, Vittorio. Procedimiento civil romano: ejercicio y defensa de los derechos. 3ª ed. rev. atual. ampl. Tradução de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Europa/América Edições Jurídicas, 1954. SILVA, José Afonso da Silva. Curso de direito constitucional positivo. 15ª ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 1998. SILVA, José Luiz Toro. Noções de direito do consumidor. Porto Alegre: Síntese, 1999. 286 SILVA, Luis Renato Ferreira da. O princípio da igualdade e o código de defesas do consumidor (lei nº 8.078/90). In: Revista de direito do consumidor brasileiro, nº 8, ano LVIII. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez. de 1993. SILVA, Ovídio Araújo Baptista da. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 1 vol. _______. Curso de processo civil. 5ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 1 e 2 vols. SOBRINHO, Mário de Camargo. Do litisconsórcio e seus efeitos: um estudo sobre os aspectos fundamentais da pluralidades de partes à luz do CPC. São Paulo: Interlex, 2002. SOUZA, Gelson Amaro de. Curso de direito processual civil. 2ª ed. rev. e ampl. Presidente Prudente: Data Juris, 1998. SOUZA, Miriam de Almeida. A política legislativa do consumidor no direito comparado. Salvador: Nova Alvorada, 1996. SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. 4ª ed. São Paulo: LTR, 1999. STIGLITZ, Gabriel A. Protección jurídica del consumidor. Buenos Aires: Delpalma, 1986. STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 287 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. TEIXEIRA FILHO, Manoel Antônio. Intervenção de terceiros. In: Cadernos de processo civil. São Paulo: LTR, 1999. 4 vol. THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000. 1 vol. TORNAGHI, Hélio. Comentários ao código de processo civil. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976. TUCCI, José Rogério Cruz e. A causa petendi no processo civil. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001. VECHIATO JÚNIOR, Walter. Curso de processo civil. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. 1 vol. VENOSA, Silvio de Salvo (org.). Novo código civil: texto comparado – código civil de 2002, código civil de 1916. 3ª ed. atual. São paulo: Atlas, 2003. VIGO, Rodolfo L. Los princípios jurídicos. Buenos Aires: Depalma, 2000. VILLAR, Willard de Castro. Do chamamento ao processo. In: Revista dos Tribunais. São Paulo, fevereiro de 1976. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Curso avançado de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. 1 vol. 288 WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2ª ed. atual. Campinas: Bookseller, 2000. YARSHELL, Flávio Luiz. Tutela jurisdicional. São Paulo: Atlas, 1999. ZIMMERMANN, Dagma. Processo civil: litisconsórcio e intervenção de terceiros. São Paulo: Ricardo Lenz Editor, 2001.
Download