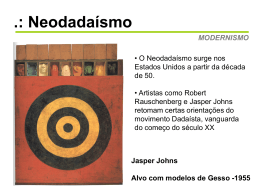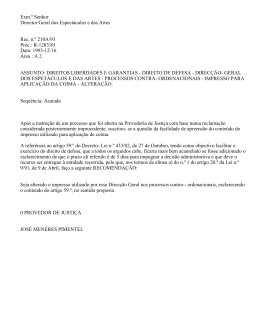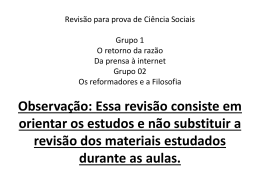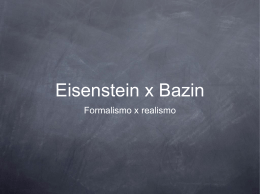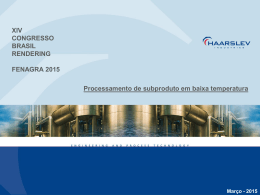II Seminário Brasileiro Livro e História Editorial McLuhan, Eisenstein e Johns Márcio Souza Gonçalves Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro1 Resumo: O presente texto parte das posições de McLuhan e Elizabeth Eisenstein acerca dos efeitos culturais do impresso para abordar algumas das principais teses do historiador Adrian Johns em seu The Nature of the Book. O foco central da discussão é o modo como a prensa e seus produtos produzem efeitos culturais, portanto o modo como opera a causalidade na relação entre o meio de comunicação impresso e a cultura. Trata-se portanto de uma discussão cotejando três teorias de três autores diferentes. Palavras-chave: McLuhan; Elizabeth Eisenstein; Adrian Johns; Determinismo Tecnológico. O que aqui se apresenta é uma abordagem inicial de um assunto delicado, abordagem mais rascunhada do que propriamente desenvolvida. Deste modo, o que segue deve ser tomado com todas as reservas necessárias. Tomaremos dois autores clássicos do campo da comunicação, onde nos situamos, McLuhan e Eisenstein, como pretexto para apresentar algumas das teses de Adrian Johns em seu The Nature of the Book. Nosso foco central é o modo como a prensa e seus produtos produzem efeitos 1 Márcio Souza Gonçalves é Doutor em Comunicação pela ECO-UFRJ e professor do Programa de PósGraduação em Comunicação da UERJ. É pesquisador Procientista desta instituição e autor de vários textos tratando de temas do campo da Comunicação. Atualmente desenvolve pesquisa sobre a escrita, o impresso e seus efeitos culturais. E-mail: [email protected] culturais, portanto o modo como opera a causalidade na relação entre o meio de comunicação impresso e a cultura. McLuhan e Eisenstein McLuhan é bem conhecido, de modo que podemos ser aqui bastante esquemáticos. O cerne de sua argumentação no que toca aos efeitos culturais da prensa está na noção de Galáxia de Gutemberg (nome de um de seus livros fundamentais) e sua posição relativamente ao efeito da prensa deve ser entendida no escopo de sua leitura do modo como os meios de comunicação afetaram as sociedades humanas ao longo da história. Grosso modo podem-se escandir três grandes momentos na história das sociedades humanas, cada um deles sendo marcado por uma forma de comunicação. O oral define as sociedades primitivas, onde de algum modo há uma integração psicológica (não haveria uma hipertrofia de nenhum dos sentidos humanos) e social (numa forma de existência absolutamente coletivizada). Dois eventos singulares marcam o surgimento e a consolidação da Galaxia de Gutemberg, que aqui nos interessa: a invenção da escrita alfabética (e neste ponto McLuhan está próximo da posição de Eric Havelock acerca dos efeitos da invenção do alfabeto na Grécia) e, posteriormente, a invenção da prensa tipográfica. Os meios eletrônicos operam a superação da era Gutemberg, com tudo que essa implicou, em favor da Aldeia Global. A maneira como os meios afetam as culturas para McLuhan remete à questão de seus efeitos psicológicos na organização de nossa sensibilidade. Os meios afetariam o equilíbrio entre nosso sentidos e seus efeitos culturais decorreriam dessa reorganização da sensibilidade. A oralidade seria correlata de um equilíbrio relativo entre os sentidos, daí a integração que engendra, tanto psicológica quanto socialmente. Psicologicamente: “A palavra falada envolve todos os sentidos intensamente (...)” (McLUHAN, 2005, p. 95); socialmente: “As culturas tribais não podem agasalhar a possibilidade do indivíduo ou do cidadão separado” (McLUHAN, 2005, p. 103). A escrita alfabética e sobretudo sua generalização pela prensa acarretariam uma exacerbação do visual em detrimento dos outros sentidos, o que gera para McLuhan um desequilíbrio, uma separação psicológica do olho, que se traduz numa série de separações sociais: Uma tal separação dos sentidos, e do indivíduo em relação ao grupo, dificilmente pode ocorrer sem a influência da escrita fonética. A palavra falada não permite a extensão e a amplificação da força visual requerida para os hábitos do individualismo e da intimidade (McLUHAN, 2005, p. 97). O eletrônico e, em sua forma mais aprimorada, a TV religariam o que a prensa separou, restabelecendo uma forma de harmonia subjetiva. “A TV mudou nossa vida sensória e nossos processos mentais. Criou um novo gosto por experiências em profundidade, que afeta tanto o ensino da língua como o desenho industrial dos carros” (McLUHAN, 2005, p. 373). Assim, a tese de que o meio é a mensagem, de que o próprio meio é a fonte básica de seus efeitos, e de que os conteúdos transmitidos são não determinantes e irrelevantes (McLUHAN, 2005, p. 353, onde aliás nosso autor sustenta que valorizar o conteúdo é algo típico de uma cultura livresca, portanto um anacronismo na era da TV), depende de um modo de ação psicológico dos meios que em última instância engendra determinados efeitos sociais. Se Kant realizou a Revolução Copernicana, McLuhan desaloja o sujeito, produzindo uma Revolução Midiática. Os efeitos da prensa para McLuhan se dão portanto ligados essencialmente ao próprio meio, independentemente dos conteúdos ou usos realizados. Eisenstein, por sua vez, não opera com o grande âmbito temporal de McLuhan, e se concentra numa mudança ocorrida dentro de um grupo específico, a “Comunidade do Saber” (EISENSTEIN, 1998, p. 11), numa região específica, a Europa Ocidental, e num período de tempo igualmente específico, o início da era Moderna. Claramente partindo de indagações levantadas por McLuhan (como ela mesma explica em seu Prefácio), sua reflexão passeia por uma certa cultura impressa, sua gênese, suas características, relacionando-a a três grandes movimentos culturais europeus, o Renascimento, a Reforma e a Ciência Moderna. Para a discussão que ora nos interessa, destacamos alguns pontos que em sua complexa obra a autora utiliza para dar conta da presença social da prensa tipográfica. Não temos a pretensão de ser exaustivos. E primeiro lugar, a prensa aumenta a quantidade de obras disponíveis. “Não deveria ser difícil chegar ao consenso sobre a idéia de que o aumento ocorrido na segunda metade do século XV foi abrupto, e não gradual” (EISENSTEIN, 1998, p. 36). Ora, essa quantidade é correlata de uma certa padronização dos textos, que por seu turno permite a criação de uma forma de trabalho coletivo de revisão por parte do público, de modo que “(...) as mesmas emendas e erros fossem localizados por muitos olhos” (EISENSTEIN, 1998, p. 68). Temos assim uma tríade importante: aumento no número de obras, relativamente semelhantes entre si, sendo esquadrinhadas e corridas por um número também aumentado de leitores. Some-se a isso o fato de uma tendência na melhora das edições sucessivas das obras: “Ao tirarem edições sucessivas de uma determinada obra de referência ou conjunto de mapas, os impressores não só competiam com seus rivais como faziam progressos em relação a seus predecessores. Além disso, passavam a poder melhorar a si próprios” (EISENSTEIN, 1998, p. 89). A própria forma do livro e da organização de seu conteúdo é destacada por Eisenstein como tendo efeitos. As decisões editoriais tomadas pelos primeiros impressores, no que diz respeito à apresentação e layout, muito provavelmente contribuíram para reorganizar o modo de pensar dos leitores. A sugestão de McLuhan, de que a varredura de linhas impressas afetou os processos de pensamento é, à primeira vista, um tanto estranha. Uma reflexão mais detida, contudo, sugere que os pensamentos dos leitores são guiados pelo modo como estão ordenadas e apresentadas as matérias contidas nos livros. Mudanças básicas no formato de um livro bem poderiam conduzir a mudanças nos padrões de pensamento (EISENSTEIN, 1998, p. 80). Finalmente, mas não menos importante, a prensa permite a preservação de textos num grau inimaginável na era manuscrita. “De todas as novas características trazidas pela capacidade de duplicação própria da imprensa, a de preservação é possivelmente a mais importante” (EISENSTEIN, 1998, p. 95), especialmente no que se refere à preservação da identidade do texto (a cópia manuscrita, multiplicando erros, adulteraria essa identidade, que a prensa, fazendo cópias iguais, manteria). Essa preservação da tradição, a seu modo, permitiu o progresso cumulativo dos conhecimentos: “A condição de permanência trouxe como resultado uma nova modalidade de mudança progressiva. Em resumo, a preservação do velho foi um requisito para que se criasse a tradição do novo” (EISENSTEIN, 1998, p. 104). Cabe perguntar o que faz com que a prensa faça tudo o que Eisenstein sustenta que faz, ou seja, o que leva a prensa a produzir seus efeitos. Uma resposta clara a isso implica evidentemente numa interpretação da obra de Eisenstein, e como toda interpretação a que aqui se faz é relativamente arbitrária e questionável (se não o fosse não seria uma interpretação). Parece-nos que é a própria materialidade da prensa, sua forma de operar, sua ação mais imediata (produzir cópias de uma matriz) que servem para explicar todos os efeitos acima mencionados. A prensa, sendo uma replicadora de um modelo, engendra conseqüentemente aumento quantitativo, padronização, trabalho coletivo de revisão, melhora nas edições, preservação, progresso cumulativo na veracidade dos conteúdos. Vimos acima, no mesmo sentido, que a forma do livro, diagramação etc., afetariam o funcionamento cognitivo do leitor. Assim nota-se uma ênfase muito grande no poder da própria prensa para gerar seus efeitos e conseqüências culturais. Tal nos parece ser um ponto em comum com McLuhan. Johns e a natureza do livro Paradoxalmente, se considerarmos o título de sua obra maior, para este autor a natureza do livro é exatamente não ter natureza. O mundo do impresso, o livro, a cultura impressa, tudo isso só ganha sentido (uma “natureza”) a partir das ações de pessoas, a sua natureza é assim uma construção social. A partir disso, o livro de Johns tenta escavar as questões complexas envolvidas na formação histórica do impresso – questões que nossa noção convencional de cultura impressa obscurecem com toda a autoridade de uma definição categórica. The Nature of the Book é a primeira tentativa real de retratar a cultura impressa em sua constituição (JOHNS, 1998, p. 3. tradução de todas as citações de Johns é nossa). Isso não significa evidentemente que a noção de uma cultura impressa não tenha sentido, mas indica que esta não deve ser tomada como um dado que decorre necessariamente da presença da prensa. Este livro argumenta que o que frequentemente encaramos como elementos essenciais e necessários concomitantes ao impresso são de fato muito mais contingentes do que geralmente reconhecido. A veracidade particularmente, ele sustenta, é extrínseca ao próprio impresso, e precisou ser nele enxertada. O mesmo pode ser dito de outros atributos cognatos associados com o imprimir. Em síntese, The nature of the book sustenta que a própria identidade do impresso teve de ser feita. Ele se tornou como agora o experimentamos somente em virtude do trabalho árduo, executado por muitas gerações através de várias nações (JOHNS, 1998, p. 2). Assim, a cultura impressa deve ser tomada como algo que foi construído pela ação de pessoas, e é precisamente dessa construção que nosso autor procura retraçar a história, notadamente no que essa toca a construção do conhecimento. O primeiro ponto fundamental que merece ser destacado, na medida mesma em que quebra com a visão que se tem da cultura impressa, é o fato de que a prensa na realidade gerou um ambiente cultural de incerteza extrema. Um leitor londrino dos primórdios da época moderna, ao tomar um texto impresso qualquer, não tinha em mãos um objeto sobre o qual pudesse depositar certezas, muito pelo contrário. Essa incerteza do público remetia aos próprios envolvidos na produção dos livros. A comunidade dos Papeleiros [Stationers] era distinta não só socialmente, mas epistemicamente – e até epistemologicamente. O crédito era frágil e efêmero num grau extraordinário. As condições nas quais o conhecimento deve ser construído, mantido e defendido eram dilaceradas por negócios piratas, intriga e desconfiança. O conceito de pirataria foi inventado como a mais vivida representação dessa situação. O fenômeno, nunca univocamente definido, era encarado como endêmico, e ameaçava a credibilidade de toda folha impressa. Significava que qualquer livro impresso dado poderia não ser o que dizia ser. O traço característico da comunidade dos Papeleiros, assim, era a incerteza (JOHNS, 1998, p. 183). A construção da cultura impressa como espaço de certeza, de confiabilidade, não se fez de modo fácil, e deve ser destacado que em muitas situações o liame que separava os que lutavam a favor da confiabilidade do impresso dos que operavam contra era difícil de definir e tênue. Assim por exemplo, frequentemente a própria Companhia dos Papeleiros, abrigava, mesmo em postos altos de sua hierarquia, grandes piratas do livro e da impressão, cuja ação minava a credibilidade do impresso. A estratégia de Johns para criticar a idéia de uma cultura impressa como naturalmente decorrendo da prensa e para descrever o processo ativo de construção social que a produziu é múltipla e erudita, nosso autor opera em várias frentes. Essas várias frentes são portanto ao mesmo tempo evidências de que a idéia de uma cultura impressa dada é problemática e evidências de como foi criada. Após realizar a apresentação de suas teses acerca da necessidade de se historicizar a cultura impressa (valendo-se inclusive da contraposição de duas figuras emblemáticas, Tycho Brahe e Galileu) e de se investigar o modo como foi construída, Johns faz uma excelente cartografia do mundo dos livros na Londres do início da era moderna, abordando detalhadamente o cotidiano dos envolvidos, a geografia da impressão e da venda, quem eram os envolvidos, como funcionavam as prensas, o fornecimento, armazenamento e tratamento do material, as dificuldades enfrentadas pelos autores, as livrarias, os cafés, os leitores, a duplicidade negócio/honra envolvida no domínio do livro, pirataria e uma série de outros elementos que seria tedioso enumerar aqui. Deve ser destacado o caráter extremamente detalhado do trabalho de nosso autor, seu cuidado na abordagem das relações humanas e sociais envolvidas. Para tornar mais palpável o modo de operar de Johns, veja-se por exemplo sua análise do trabalho dos compositores (p 85 e segs.). Longe de ser um mero reprodutor, que compõe o mais exatamente possível o texto do autor, o compositor gozava de uma liberdade de ação singular: Pois um compositor não copiava como escravo o manuscrito do escritor. Pelo contrário, ele gozava de uma liberdade substancial em seus domínios. Essa responsabilidade interpretativa derivava em parte do calibre especial das habilidades do compositor; mas derivava também do lugar central que essas habilidades ocupavam na manutenção da reputação do mestre. (...) Devido à “falta de cuidado” de alguns autores e à “ignorância” de outros - em resumo, devido ao fato de os autores não possuírem as habilidades dos impressores – a cópia manuscrita nunca podia simplesmente ser reproduzida na prensa. Um bom compositor deve deste modo ativamente “discernir e remendar” sua “Cópia”. Ele deve tomar cuidado para não reproduzir letras mecanicamente, mas sim “ler” sua cópia “com consideração”. (...) Além disso, para fazer isso, o compositor deve não somente reconstruir o sentido autoral, mas também antecipar a leitura (JOHNS, 1998, p. 87-8) Desnecessário destacar que o resultado impresso poderia estar bem distante do manuscrito... Johns realiza então uma análise microscópica (é o caso de se dizer) da Companhia dos Papeleiros, que agregava impressores, encadernadores, livreiros, enfim, os envolvidos no negócio do livro com a exclusão dos autores. A Companhia tinha suas próprias regras de civilidade, de decência, seu tribunal, seu livro de registro, que funcionava como um sistema de propriedade do direito de cópia e que operava de par com licenças oficiais para cada título registrado, sua hierarquia, etc.. O Livro de Registro de Cópias, para dar a palavra ao próprio Johns, era um volume manuscrito, guardado pelo secretário [clerk] e podia ser por ele apresentado no tribunal. Por um costume da Companhia, o que os Papeleiros chamavam de “cópia” pertencia ao membro relacionado quando ele ou ela o “inserira” no volume. A entrada dava posse perpétua baseada na convenção da Companhia. O registro era assim um arquivo dessas propriedades convencionais, indo até a própria fundação da Companhia. Sua autoridade dependia do poder do costume da Companhia (JOHNS, 1998, p. 213). O interessante do que destaca Johns é que essa instituição aparentemente bem ordenada, o livro de registro, era na prática furada por todos os lados e das mais variadas formas: muitos livros eram publicados sem constarem no livro de registro, uma vez que não havia um sistema de índices podia haver conflito de entradas, Papeleiros registravam obras inexistentes para inviabilizar o registro por concorrentes etc.. Uma infinidade de táticas de desvio relativizava assim a força de um registro. Ou seja, o livro de registro na prática não era suficiente para resolver o problema da propriedade, longe disso. Numa outra frente de argumentação, Johns toma o caso de John Streater, que entre outras coisas foi conspirador, ator político e impressor, para indicar como essa civilidade e sistema de regulação desenvolvido pelos Papeleiros, essa identidade ou essa natureza do impresso, foi modificada. Abrindo o capítulo dedicado a Streater, nosso autor assim se expressa: O capítulo precedente descreveu a construção dessa civilidade dos Papeleiros, e esboçou tentativas para regula-la através de patentes e licenças. A própria natureza da impressão, como representada e reconhecida pelos contemporâneos, foi forjada através dessas práticas. Este capítulo estende a argumentação além. Mostra como a natureza do impresso poderia ser transformada. Seu tema é o trabalho de um homem incomumente ativo na reestruturação tanto do conhecimento, como da ordem política e da cultura impressa: um soldado, panfleteiro e impressor chamado John Streater (JOHNS, 1998, p. 266). Sendo totalmente impossível resumir as peripécias da vida de Streater, indicaremos aqui apenas que ele entra numa batalha ferrenha contra a Companhia dos Papeleiros, notadamente em torno dos registros feitos no Livro de Registros de Cópias, aos quais Streater se opunha, advogando por um sistema de patentes sob concessão real: Atkyns e Streater propuseram uma solução radical para o problema do descrédito fazendo dele expressamente um problema político. Sugeriram intervenção real direta na civilidade do impresso. Sua proposta era de que a Companhia dos Papeleiros, com toda a sua maquinaria para proteger a “saúde do conhecimento”, fosse substituída por um sistema de patentes concebidas pela coroa, empregando impressores como empregados. O poder do Papeleiro seria removido como ameaça ao poder do rei. Assim Streater construiu representações fortes do impresso e do político que se embaralhavam. (...) Atkyns e Streater assim forçaram uma profunda reconsideração das origens e da natureza do impresso (JOHNS, 1998, p. 322-3). Um elemento importante no jogo político que opunha todos os atores envolvidos no negócio do livro era a própria história do impresso e da prensa, isso na exata medida em que “representações do passado geralmente se mostram poderosas fontes para os interessados em moldar ações presentes” (JOHNS, 1998, p. 324). A história da prensa seria um elemento importante para definir seu presente, e, conseqüentemente, seu futuro. Johns realiza então uma longa discussão das diferentes versões existentes e produzidas, versões muitas vezes francamente contraditórias. Um aspecto relevante em toda a discussão é o da leitura, pois é esta que em última instância permite que os livros produzam sentido. Johns discute o assunto a partir da análise do modo como os leitores nativos compreendiam o ato de ler e de quais eram os recursos culturais disponíveis para a construção dessa compreensão, o que envolve toda uma fisiologia do corpo humano (especialmente do ato de ver) e as paixões. No limite, aparece o tema do autocontrole como meio para a boa leitura e do bom conhecimento. “A discussão mostrou a necessidade para um súdito Inglês de restringir suas (dele ou dela) paixões. Do sucesso nesse esforço dependia o status do indivíduo como investigador confiável e relator da verdade” (JOHNS, 1998, p. 442). Se era necessária uma disciplina na produção de livros (a Companhia dos Papeleiros e as patentes, cada um a seu modo, apontavam para isso) era também necessária uma disciplina na leitura, de modo que a recepção se tornasse tão confiável quanto os livros deveriam ser. Uma instituição fundamental na disciplina dos livros foi a Sociedade Real (Royal Society). A natureza, associação e objetivos da Sociedade tiveram importantes aplicações para o papel desempenhado nela [a nova filosofia] por materiais textuais. Livros eram aí elementos centrais numa cultura para a qual patronagem e normas de “polidez” eram centrais. As publicações da Sociedade eram convenientemente pensadas para serem presentes diplomáticos, instrumentos de patronagem, e símbolos de status tanto quanto comboios neutros para o conhecimento. Os que entravam na Sociedade eram tratados de acordo. Como esboçado aqui, uma intrincada ordem de convenções se desenvolveu sobre como tratar livros: quem a eles tinha acesso, o que se podia deles dizer, e como era feitos e dispersados. Para além dos limites da Sociedade, também, os virtuosos tinham idéias firmes sobre como outros deveriam receber as palavras sábias que eles enviavam. Nesses sentidos, livros não eram apenas instrumentos de uma civilidade sábia; eles ajudaram a definir o que era civilidade (JOHNS, 1998, p. 541). O conhecimento científico dependia do impresso, mas o mundo do impresso era um mundo de plágio e falsificação: é contra isso que a Sociedade reage, tendo um sucesso que se poderia qualificar de relativo e indireto (cf. JOHNS, 1998, p. 542). O capítulo final do livro de Johns aborda a astronomia. Centrais na discussão são Newton e Flamsteed. Seu duelo demonstrou o quanto crucial poderia ser para um aspirante a fonte de conhecimento natural confiável conhecer os domínios da imprensa, mas também o quanto difícil isso era de ser atingido. A Historia Coelestis de Flamsteed compreendeu talvez o mais aparentemente objetivo e socialmente disjunto tipo desse conhecimento: além das figuras calculadas do próprio catálogo, o cerne do trabalho era uma longa série de observações empíricas simples e cruas. Mas mesmo num caso como este, vários tipos de problema vieram a tona – os problemas identificados em The Nature of the Book, relacionados ao uso de livros como presentes e como mercadoria, a importância da leitura, as práticas culturais das casas impressoras, os poderes e civilidades dos Papeleiros, as possibilidades de autoria, e a construção de crédito. Os problemas encontrados aqui eram os mesmos encontrados por um bom número de autores sábios. Sem uma apreciação deles nossa concepção de filosofia natural e astronomia nesse ponto chave seriam insatisfatórios. O conflito todo entre Newton e Flamsteed não era somente sobre um livro; foi também mediado por livros. Em todos os estágios, livros agiram como veículos, gatilhos, oportunidades, armas, propaganda e resultado da batalha (JOHNS, 1998, p. 621). Considerações finais Johns tece duras críticas ao trabalho de Eisenstein: Em seu trabalho, a própria prensa fica fora da história. A prensa é algo “sui generis”, ela nos diz, pairando além do alcance da análise histórica tradicional. Sua “cultura” é, de modo correspondente, sem lugar e sem tempo. É suposta existir dado que textos impressos possuem certas características chave, fixidez sendo a melhor candidata, e carregam-na com eles quando transportados de um lugar para outro. As origens dessa propriedade não são analisadas (JOHNS, 1998, p. 19.), O texto impresso teria assim para ela características que necessariamente levariam à cultura impressa. O trabalho de Johns vai no sentido de desmontar esta tese mostrando que os textos por si mesmos não engendram nada. É o modo como os atores definem que serão produzidos, distribuídos, lidos etc. que define seu sentido social, sua identidade, sua natureza. No centro da discussão está o problema da causalidade que liga o livro à cultura. Temos por um lado um modo de teorizar que parte da idéia de que de algum modo (reorganização dos sentidos, caraterísticas inerentes ao textos) o meio determina seus efeitos, determina como será apreendido culturalmente: McLuhan e Eisenstein. De outro uma posição que sustenta que o meio por si só nada define, o que define seria o que se faz com o meio: Johns. De um lado ênfase no meio, de outro nos agentes. Aqui nada mais fizemos do que seguir algumas indicações de Johns e tomar McLuhan e Eisenstein como base para então iniciar uma discussão das teses do historiador inglês. Não tivemos a intenção de em tão pequeno espaço de resumir o que quer que seja de modo exaustivo. Dois motivos nos levaram a escrever o presente texto. Em primeiro lugar, chamar a atenção para o fato de que uma consideração das ações humanas sobre os meios de comunicação é importante. O material empírico apresentado por Johns nesse sentido é fundamental por apontar os limites de uma teorização que desconsidera essa ação. Mas, além disso, pretendemos introduzir em nosso meio (falo do campo da Comunicação) a obra fundamental The Nature of the Book, que não tem recebido a atenção que merece. Se essa introdução foi feita, nos damos por satisfeitos. Referências bibliográficas EISENSTEIN, Elizabeth L.. A Revolução da Cultura Impressa – os primórdios da Europa Moderna. São Paulo: Ática, 1998. JOHNS, Adrian. The nature of the book: print and knowledge in the making. London: The University of Chicago Press, 1998. MCLUHAN, Marshall. meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 2005.
Baixar