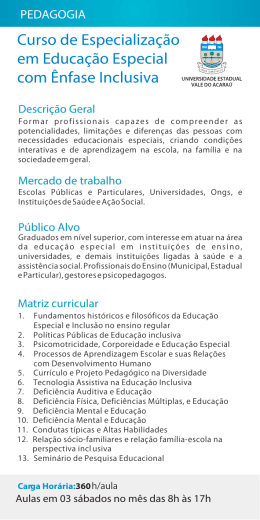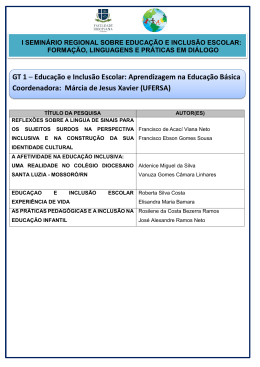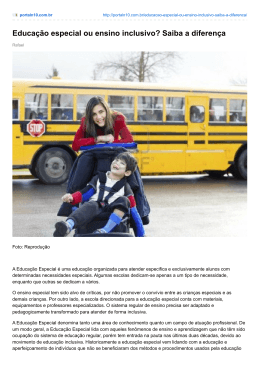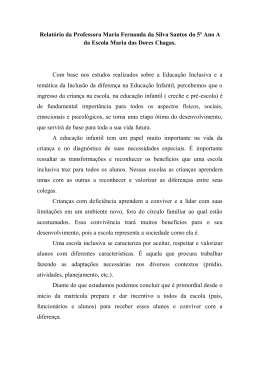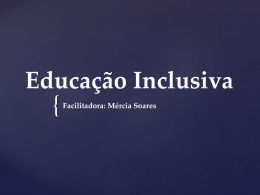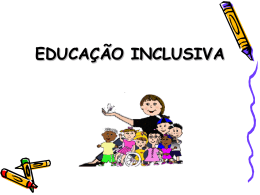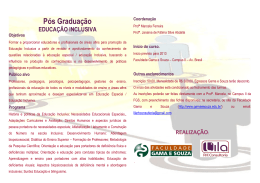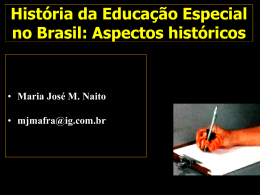FACULDADES INTEGRADAS IPIRANGA CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA JOELY GABRIELA BRASIL JULIANA FERREIRA DOS SANTOS VERA LÚCIA PINHEIRO ALVES PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA BELÉM 2013 JOELY GABRIELA BRASIL JULIANA FERREIRA DOS SANTOS VERA LÚCIA PINHEIRO ALVES PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito avaliativo da disciplina Orientação de TCC, do curso de Licenciatura em Pedagogia das Faculdades Integradas Ipiranga. Orientado pelo Prof. Me. Marcelo Augusto Vilaça de Lima. BELÉM 2013 JOELY GABRIELA BRASIL JULIANA FERREIRA DOS SANTOS VERA LÚCIA PINHEIRO ALVES PRÁTICA PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado como requisito avaliativo da disciplina Orientação de TCC, do curso de Licenciatura em Pedagogia das Faculdades Integradas Ipiranga. Data:/ / Joely Gabriela Brasil Juliana Ferreira dos Santos Vera Lúcia Pinheiro Alves _____________________________________________ Avaliador: Prof.Me. Marcelo Augusto Vilaça de Lima :_______ :_______ :_______ Dedicamos este trabalho, a todos que nos deram força para chegarmos ao término do curso, em especial aos nossos familiares e amigos, que muito colaboraram com apoio moral e financeiro. AGRADECIMENTOS A Deus, por ter nos possibilitado a oportunidade de cursar e terminar nossa graduação em Pedagogia. Aos nossos esposos, familiares e amigos, pelo incentivo e apoio que nos deram no decorrer desta caminhada. Ao professor orientador Marcelo Vilaça, pela dedicação, paciência e compreensão, que teve na elaboração deste trabalho. A turma PLPT 09, pelos anos de convivência e pelas lutas que realizamos em busca dos nossos ideais. Aqueles que colaboraram direto e indiretamente para elaboração deste trabalho. "Estar junto é se aglomerar com pessoas que não conhecemos. Inclusão é estar com, é interagir com o outro" (Mantoan) RESUMO Objetivou-se analisar se as práticas pedagógicas adotadas pelos educadores tornam-se efetivamente inclusivas. Utilizou-se como proposta metodológica estudos bibliográficos com base nos autores como: Carvalho (2004), Schaffner e Buswell (1999), Stainback e Stainback (1999), Guimarães (2003), Magalhães (2011), Ferreira (2003), Zabala (1998) e Denari (2006), Garcia (2004), Shiroma (2000), Mantoan (2003), Jesus (2010) e Padilha (2007) que trabalham a educação inclusiva em seus variados setores. Verificou-se a partir da fala dos autores que este processo mesmo que bastante discutido, ainda é um assunto complexo o qual encontra vários percalços, principalmente por ser tratado como um sistema político gerencial e não uma questão de cunho pedagógico. Este desafio é de suma importância, pois é preciso conhecer as políticas públicas educacionais e as práticas pedagógicas que deram certo, e que as mesmas sejam pontos norteadores para reflexão e posteriores ações mais eficientes no ensino e aprendizagem destes alunos. Conclui-se que as ações que devem ser implementadas pelos educadores para tornar a sua prática efetivamente inclusiva decorrem do processo de formação continuada, trocas de informações sobre metodologias que tiveram êxito, sendo utilizadas como pontos norteadores para posteriores ações mais eficazes no ensino e aprendizagem destes alunos e contando também com investimentos governamentais para dar suporte a esses profissionais. E mediante a complexidade do tema, a educação inclusiva é uma prática ainda em processo de construção, o qual requer novas reflexões e muitos estudos para que seja realmente inclusiva. Palavras-chave: Educação; Inclusão; Metodologias; Ensino-aprendizagem. ABSTRACT It was aimed to analyze if the pedagogical practices adopted by educators could be effectively inclusive. It was used as a methodological proposal bibliographical studies based on authors such as: Carvalho(2004), Schaffner and Buswell (1999), Stainback and Stainback (1999), Guimarães (2003), Magalhães (2011), Ferreira (2003), Zabala (1998) and Denari (2006), Garcia (2004), Shiroma (2000), Mantoan (2003), Jesus (2010) and Padilha (2007) who worked in inclusive education among its various sections. It was verified according to the authors that this process is still a complex subject, even though very well discussed there are many issues especially for being treated as a managing political system instead of a pedagogical question. This challenge has a big importance because it’s necessary to know the educational public policies and the pedagogical practices that succeeded, and that they can guide to more efficient reflection and later actions in the teaching-learning process of these students. It’s concluded that the actions which must be implemented by the educators to turn this practice effectively inclusive happen by the process of continuing education, information exchange about successful methodologies used as guides to posterior more effective actions in teaching and learning of these students counting on government investments to give support to these professionals. Key Words: Education; Inclusion; Methodologies; Teaching-learning. SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO.............................................................................................................. 10 2 REFERENCIAL TEÓRICO.......................................................................................... 14 2.1 HISTÓRICO DO DEFICIENTE NO CONTEXTO MUNDIAL E O PROCESSO INCLUSIVO........................................................................................................................ 14 2.2 SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL....................................................... 18 2.3 O AMPARO LEGAL.................................................................................................. 19 2.4 A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO ATUAL........................................... 21 2.5 OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL...... 22 3 METODOLOGIA.......................................................................................................... 25 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO.................................................................................... 27 4.1 OS SIGNIFICADOS DA PRÁTICA INCLUSIVA NAS ESCOLAS.......................... 27 4.2 AS METODOLOGIAS QUE PODEM SER UTILIZADAS NO ENSINO E NO APRENDIZADO DO ALUNO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA....................................... 30 4.3 AS POLITICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA................................................................................................ 32 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS......................................................................................... 34 REFERÊNCIAS.................................................................................................................. 36 10 1 INTRODUÇÃO A globalização veio com uma das finalidades de fortalecer uma nova ordem econômica e política mundial, e a busca por maior eficiência e competitividade. Indubitavelmente o conhecimento se torna fator de qualificação preponderante nas exigências do mercado. Transforma-se em um fator de exclusão para os indivíduos com déficit de aptidões, de forma a constituir-se em uma ameaça aos avanços do processo democrático de educação. O sistema educacional acompanha o homem em sua trajetória histórica, e se modifica de acordo com o tempo e as necessidades da sociedade. O processo de globalização fez com que a educação passasse por reformas e adequação a este novo contexto social. De acordo com Libâneo, (2003), essas reformas são inerentes aos avanços tecnológicos e ao papel que o Estado exerce diante da sociedade, seja na organização do trabalho ou em novas formas de aquisição e consumo, e este processo tem como principal característica a exclusão daqueles que apresentam alguma deficiência física ou algum distúrbio mental, que para este novo contexto não são viáveis, pois o mercado exige pessoas competitivas e produtivas, no qual, segundo este processo, tais pessoas não estão inseridas. Segundo Gurgel (2007), a história universal mostra muitas práticas sociais segregadoras, até mesmo ao acesso à educação e ao saber, e os indivíduos com deficiências, rotulados como incapazes, viviam à margem da sociedade e lhes eram tirados os direitos sociais, inclusive o direito a uma educação. Ao longo dessa trajetória, a educação de pessoas com necessidades especiais perpassou por diversas fases, desde os ditames da exclusão, marginalização, integração, até a implantação de políticas de inclusão escolar e social, as quais são debatidas e exercitadas em muitos países, inclusive o Brasil, que optou pela implantação de um sistema educacional inclusivo ao aderir à Declaração Mundial de Educação para Todos, firmado na Tailândia em 1990, e ao apoiar os princípios criados em Salamanca (ESPANHA, 1994), na Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, os quais pleiteavam uma igualdade no acesso aos meios sociais e melhor qualidade de vida, entre outros. O processo de inclusão de alunos especiais, no Brasil, teve inicio antes mesmo da capacitação dos professores, o que tem gerado certo desconforto nestes últimos, por se sentirem despreparados para lidar com essas dificuldades educativas (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI 2007, p. 265). 11 A educação inclusiva é um tema que não pode ser descartado no ramo educacional, já que a qualidade desta educação mostra de fato o nível de socialização de um país. Diante desta reflexão procurou-se verificar a seguinte problemática: Quais as ações devem ser implementadas pelos educadores para tornar a sua prática efetivamente inclusiva? Este tipo de pesquisa abre um espaço para reflexões e discussões, trata de pontos como a prática do docente na educação inclusiva que contribui para um ensino de qualidade e intelectualização desses educandos. Tem como objetivo preponderante investigar quais práticas pedagógicas podem ser adotadas pelos educadores para tornar a escola realmente inclusiva. De acordo com art 5º da Constituição Federal de 1988, que diz que todos são iguais perante a lei, ou ainda de que a igualdade é o ideal a ser alcançado, a educação inclusiva silencia em determinado momento este artigo da Constituição e este ideal ao longo de disparidades que podem provocar transformações produtivas no contexto escolar. Segundo Cavallari (2010), trata dessas diferenças que precisam ser vistas e encaradas de maneira objetiva já que são essas diferenças que causam esta exclusão dos alunos ditos especiais. A partir do momento que essas divergências forem solucionadas, a educação alcançará seu nível igualitário. Para que se entenda esta educação inclusiva, Kassar (2011) auxilia para um estudo na história da educação, dentro do próprio país para que se possa entender de fato como esta área da educação é tratada pela sociedade e por seus governantes, ao saber que este problema de exclusão causa sérios transtornos na educação e no contexto final que é a formação cidadã. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº9394/96, no capítulo V, art. 59, aponta que a educação inclusiva precisa ter como instrumento de qualidade para um bom desenvolvimento no trabalho, professores com especialização apropriada a uma educação especial voltada para o serviço, amplificar o auxílio aos educandos com necessidades especiais e atualização de recursos educativos adequados para melhor compreensão destes educandos. Em sua maioria não é o que se observa na educação inclusiva já que alguns desses itens não são atendidos por muitas instituições de ensino. A partir desta problemática se fazem essenciais discussões a respeito da educação inclusiva de qualidade já que também as pessoas ditas especiais fazem parte da sociedade. Com isso desenvolver a percepção de quais metodologias podem ser utilizadas no ensino e no aprendizado do aluno na educação inclusiva? Além disso, é preciso que a escola se adapte às necessidades dos mesmos, pois o processo de globalização que vigora na sociedade moderna exclui cada vez mais estas pessoas no âmbito trabalhista e no intelectual. 12 O processo de globalização procura promover cidadãos competitivos de acordo com as exigências do mercado e deixa de lado os alunos da educação inclusiva, mas estes são amparados por leis que exigem inserção nessa nova realidade. Na educação tradicional da criança com déficit, as ações educativas sofrem uma predisposição à filantropia, ao se interessar apenas pela deficiência e não com as práticas metodológicas e didáticas para progredir linearmente com objetivo de superá-las. Atitude discriminatória que afasta a criança com deficiência cada vez mais do convívio sociocultural do qual depende para progredir intelectual e socialmente. Conforme Góes (2007), mesmo temporalmente longe da realidade descrita por Vygotsky, e em contextos políticos diferentes, constata-se o mesmo problema hoje em “nossa República”, devido a não se chegar a um consenso em termos teóricos e práticos da educação especial com a educação geral. Para Feltrin (2004), estas dificuldades são vistas até hoje, principalmente por alguns profissionais que utilizam ainda métodos tradicionais de ensino que são voltados apenas para alunos padrões. O autor ainda cita a falta de dedicação de alguns profissionais em relação ao aluno da educação inclusiva, por isso faz-se importante este tipo de discussões para que se possam identificar os significados da prática inclusiva nas escolas e reverter este quadro da educação. É importante ressaltar que essas discussões não devem ficar apenas nos ambientes escolares, mas que sejam levadas para a comunidade, que é uma das principais interessadas na importância de se incluir de fato os alunos especiais e conhecer quais as políticas públicas adotadas na formação docente na área da educação inclusiva. Para Segiovanni (1994), a comunidade é importante para o ensino, já que ela une os alunos aos professores, em que os valores e os ideais são compartilhados e levam o professor e o aluno diante da comunidade ao compromisso de um bom desempenho da educação mesmo com seus fracassos e dificuldades enfrentadas em suas vidas cotidianas. A inclusão não é uma competição entre pessoas com deficiência e sem deficiência, e sim uma educação adequada a este tipo de alunado, pois os alunos especiais despertam as mesmas emoções e energias de um aluno dito normal. A inclusão é importante por trazer benefícios a todos os alunos, porém, é necessário que existam programas adequados para receber essa heterogeneidade e identificar quais os significados da prática inclusiva nas escolas. Isto é produtivo para ambos os alunos, pois acontecerá comunicação e a interação entre eles, porque ajudam no desenvolvimento da amizade e nos trabalhos com os colegas. 13 Desta maneira trabalha-se a sensibilidade, a compreensão, o respeito, e principalmente, o crescimento com respeito às diferenças. Por este motivo, a busca por uma educação igualitária se fez relevante neste tipo de educação, para que essas pessoas ditas especiais não ficassem à margem da sociedade, e que esta inclusão tivesse como ponto de partida a escola, a fim de que o educador pudesse conduzi-la a esta sociedade. 14 2 REFERENCIAL TEÓRICO A educação inclusiva é um assunto que é discutido ao longo de vários séculos, muitos autores dedicaram e se dedicam a escrever e pesquisar sobre este assunto, para deixar a sociedade, mas informada e tentar amenizar os preconceitos que ainda se tem em relação às pessoas com deficiência. Neste caso o referencial teórico baseia-se nas ideias desses autores para explanar este assunto, que tem como foco o histórico do docente no processo de ensino e aprendizado na educação inclusiva os significados das mesmas leis que amparam este tipo de educação e as praticas pedagógicas adotadas na educação inclusiva, pontos estes que serão discutidos neste tópico. 2.1 HISTÓRICO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NO CONTEXTO MUNDIAL E O PROCESSO INCLUSIVO A falta de informação em virtude do que é desconhecido, muito contribuiu para a segregação e marginalização das pessoas com deficiência por serem consideradas “diferentes” dos demais. E segundo Vieira e Pereira (2003), na Antiguidade, as pessoas com deficiência foram rotuladas como possessões demoníacas e possuidores de maus espíritos, os quais motivaram atitudes de rejeição e medo. As questões que envolviam as pessoas com deficiências dependiam do momento histórico e a sociedade envolvida neste contexto, pois, cada grupo social tinha uma relação conceitual a respeito do assunto, que se alteravam de acordo com os preceitos sociais, religiosos e econômicos desenvolvidos por cada sociedade. Em cada período notam-se visivelmente estas mudanças comportamentais, mas ainda hoje a perfeição corporal é um estereótipo social. Nas culturas mais primitivas, baseadas no nomadismo, a condição primária era a sobrevivência individual, e com isso os velhos e os inaptos eram abandonados ou isolados. Os que não se enquadravam nos padrões sociais de “normalidade”, em decorrência de problemas de nascimento ou por problemas externos como: guerras, acidentes e outros que causassem a anormalidade, eram excluídos do convívio social, e de acordo com a civilização ao qual se encontrasse eram exterminados, ato que não se caracterizava em barbárie, e sim uma seleção natural onde só os mais fortes sobreviviam. 15 Silva (1986) caracteriza várias civilizações tidas como ícones das sociedades atuais, e como eles se comportavam diante da questão das pessoas com deficiência: Na Grécia Antiga, mais especificamente em Esparta, quando uma criança nascia, os pais tinham por obrigação, apresentá-la aos funcionários do Estado, para ser avaliada, devido ao esforço que sua educação exigiria. Caso não valesse, o bebê seria jogado do alto do monte Taigeto, localidade destinada ao extermínio dos recém-nascidos com alguma deficiência. Os hebreus, por sua vez, consideravam a deficiência física e sensorial, uma punição de Deus, a qual lhe era negado acesso à direção dos serviços religiosos. Com relação à Lei das XII Tábuas, na Roma Antiga, os governantes autorizavam os patriarcas a matarem seus filhos com deficiências, segundo afirma Sêneca: Matam-se cães quando estão com raiva; exterminam-se touros bravios; cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas; matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos; afogamos se nascerem deformes e monstruosos, não por ódio, mas por razão, no sentido de distinguir as coisas inúteis das saudáveis. (SÊNECA, apud SILVA, 1986, p.129) Afirma Silva (1986), que há exemplos de comportamentos opostos a esses, povos que sempre cuidaram de seus deficientes, e outros que evoluíram moral e socialmente, mudaram sua postura com relação a essas pessoas. Os hindus, ao inverso dos hebreus, consideravam seus cegos, pessoas de apurada sensibilidade, justamente pela privação da visão, os encorajavam para as funções religiosas ou sua adaptação para trabalhos apropriados. Os atenienses, influenciados por Aristóteles, protegiam seus doentes e as pessoas com deficiência, por meio de um sistema que se assemelha à Previdência Social, em que todos contribuíam para a manutenção do mesmo. No discorrer histórico, Silva (1986) acrescenta os pensamentos religiosos, em especial a Igreja Católica, no período medieval, que julgava as pessoas com deficiências como demônios. Até o século XVIII, as informações a respeito da educação de pessoas com deficiências não eram significativas e baseavam-se em misticismo e ocultismo, sem contexto científico correlacionados com o desenvolvimento de noções realísticas. O respeito pelas diferenças não era compreendido ou avaliado, e as noções democráticas e de igualdade não existiam. O consenso social convertia-se no preconceito, o qual se fundamentava na ideia do ser “incapaz”, com sua condição imutável, que vivia à margem da sociedade. Não tinha significado a deliberação de esforços organizacionais de serviços para atender a essa classe. E somente quando o “clima social” tornou-se favorável, é que surgiram líderes sociais que 16 tentaram viabilizar medidas para o atendimento às pessoas com deficiências. Líderes que se tornaram representantes dos interesses desta classe ou a eles ligados. Com isso abriu-se espaço na vida social, no desenvolvimento de conhecimentos e alternativas para atuarem na melhoria das condições de vida destas pessoas. Segundo Mazzotta (2003) e Jannuzzi (1985), no Brasil, ainda no período da Colônia, no ano de 1854, D. Pedro II criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Rio de Janeiro, especialmente para pessoas com deficiências mentais, que em 1890 sofreu reformas em suas metodologias educacionais, a fim de valorizar a vertente científica no ensino destas pessoas. Em 1891, passa a denominar-se de Instituto Benjamin Constant (IBC), e em 1857, portanto, três anos depois, fundou também no Rio de Janeiro o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos, estabelecimento de ensino que girava entorno da “educação literária e o ensino profissionalizante” de meninos “surdos-mudos”, com faixa etária de 7 a 14 anos. Em 1957, ou seja, cem anos após sua fundação, passaria a denominar-se Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Conforme Jannuzzi (1985), a instalação do IBC e do INES abriu precedentes para discutir a educação de pessoas com deficiências, no 1º Congresso de Instrução Pública, em 1883, reunido pelo Imperador em dezembro de 1882, entre os temas do congresso estavam a sugestão de currículo e formação de professores para cegos e surdos. Mazzotta (2003) afirma que no período do Segundo Império, houve registros de outros trabalhos vinculados ao auxílio pedagógico ou médico-pedagógico voltado as pessoas com deficiências, mais especificamente em 1874, como o atendimento assistencial prestado pelo Hospital Estadual de Salvador, hoje denominado Hospital Juliano Moreira, mas não se encontrou dados suficientes que caracterizar-se o atendimento como educacional. Destaca Mazzotta (2003), que no início do século XX, a sociedade começou a mostrar interesse com relação à educação das pessoas com deficiências, e de 1900 a 1915, foram publicados vários trabalhos importantes na área, como: “Da Educação e Tratamento MédicoPedagógico” pelo dr. Carlos Eiras; “A Educação da Infância Anormal da Inteligência no Brasil”, do professor Clementino Quaglio; “A Educação da Infância Anormal e das Crianças Mentalmente Atrasadas na América Latina” e “Tratamento e Educação da Crianças Anormais da Inteligência”, de autoria de Basílio de Magalhães. Afirma Jannuzzi (1985), que em meados de 1930 o conceito de deficiência que era o modelo médico, foi substituído paulatinamente pela pedagogia e psicologia, que Jannuzzi caracterizou como vertente psicopedagógica, principalmente pela atuação dos educadores Norberto Souza Pinto e Helena Antipoff. 17 Destaca Mazzotta (2003), que em 1945, no Estado de São Paulo, foi inaugurado o primeiro curso que visava a especialização de professores para o ensino de pessoas com deficiências visuais, implantado no Instituto de Educação Caetano de Campos. Com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, na qual rezava: “Todo ser humano tem direito à educação”, as pessoas com deficiências passaram a ser vistas como cidadãos com direitos e deveres, mas ainda dentro de um contexto assistencial e segregatório. Segundo Jannuzzi (1985), a sociedade civil começou a se mobilizar pelas causas em favor destas pessoas, ao promover a criação de centros de reabilitação e clínicas psicopedagógicas, no entanto anexas aos hospitais. Segundo Mazzotta (1993), foi iniciada em 1970, a formação de professores de educação especial de ensino superior. Em 1973, criou-se o Centro Nacional Especial de Educação (CENESP), responsável pela melhoria e expansão em todo território nacional do atendimento as pessoas com deficiências em todas as instâncias educacionais, e em 1986, foi substituído pela Secretaria de Educação Especial (SESPE). Devido à reestruturação do Ministério da Educação, em 1990 a Secretaria de Educação Especial (SESPE), foi extinta e, diante de uma nova organização do magistério, em 1992 surgiu a Secretaria de Educação Especial (SEESP). Destaca Mazzotta (2003), com a promulgação da Nova Constituição Brasileira em 1988, mais especificamente no Artigo 208, capítulo III, que reza: “O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado as pessoas com deficiências, preferencialmente na rede regular de ensino”. Segundo Carvalho (2003), com a Conferência Mundial de Educação para Todos, na década de 1990, surgiu a necessidade de diversificação. Consideravam cada indivíduo como sujeito de direito, no sentido de democratizar o ensino e diminuir o processo de exclusão, assegurada através da Declaração de Salamanca (1994), que propôs uma educação com atenção voltada para as pessoas com deficiências. Jannuzzi (2006) enfatiza que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) de 1996, reconhece a essas pessoas o direito de estar incluso na rede regular de ensino, mesmo que o educando frequente a rede especial, este não pode deixar de estar matriculado na rede de ensino, que é uma organização legal instituída pelo MEC. De acordo com estas leis se fizeram presentes as mudanças na educação, principalmente na área especial que ocasionou adaptações nas estruturas físicas das instituições para atender a este público, exigidas pelas leis que foram criadas. Todavia, é 18 importante entender de fato o significado da educação especial que será explanado no próximo tópico. 2.2 SIGNIFICADOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL O histórico da educação sempre deixou evidente que pouco ou nada se tinha a respeito da educação inclusiva, seja no caso da universalização ou em termos de qualidade oferecida. Hoje com o novo panorama de educação, faz-se necessário uma discussão acerca dos direitos humanos como uma proposta da educação inclusiva, principalmente entre aqueles que defendem a ideia. Para que se esclareça melhor a respeito da educação inclusiva, é preciso entender o seu significado. Segundo Carvalho (2004), a educação inclusiva é a escola para todos, que implica no sistema educacional que reconheça e atenda as diferenças individuais, que respeite as necessidades de qualquer aluno. Esses desafios da educação inclusiva só vêm contribuir para a melhoria da qualidade da educação. Pode-se entender também a educação como uma forma de concepção que não exclui nenhum tipo de pensamento, já que as ideias democráticas são aceitas e proclamadas universalmente. Carvalho (2004) também afirma que a educação inclusiva é o conhecimento e a experiência específica no ramo da educação. Ela serve também como suporte para o trabalho dos professores junto com os familiares. A educação inclusiva também é uma forma de educar de acordo com as diferenças individuais sem que qualquer manifestação se traduza em impedimento a educação. De acordo com este aprendizado, Carvalho (2004) afirma que a construção do saber se faz com as limitações que a deficiência lhe impõe, que segue um modelo social. A educação inclusiva pode ser considerada como aquela especializada aos alunos com deficiências. Por este motivo que segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 2001. Pág. 17). Esses serviços educacionais especializados serviram como suplemento e complemento, para dar apoio à educação inclusiva e consequentemente uma melhoria nesta área educacional. Para Baptista (2010), a educação inclusiva era considerada como uma identificadora de barreiras, as necessidades que impediam os alunos ditos diferentes. Foi por isso que se valorizou a diversidade cultural, com a necessidade e perspectiva de construir acessibilidade a estes alunos. Não se podia entender a educação especial como uma aceitação da diferença, 19 mas sim uma igualdade de direitos que buscou fazer a relação de oposição entre a igualdade e desigualdade. Foi importante entender a educação especial como uma educação social, que para Vygotsky apud Góes (2010), era o único caminho cientificamente comprovado para que a criança com deficiências tivesse êxito na sua educação, mas para que isso ocorresse foi preciso avançar em novas pesquisas rumo às estratégias de aprendizado do sujeito com dificuldades especiais. Numa escola inclusiva é preciso que todos participem e interajam sem exclusões, para reconhecer a individualidade de cada um, por este motivo as escolas e o sistema de educação precisam passar por transformações para atender este público. Portanto, é importante defender a igualdade de oportunidades, e dar o que cada um necessita em sua função e interesse de cada característica individual. Para entender de fato a educação especial foi preciso fazer um apanhado a respeito da palavra inclusão, que na área educacional significava práticas mais justas, democráticas e solidárias, e que segundo Klein (2010) era uma preocupação de abarcar o ensino para todos, ou seja, manter todos incluídos. Com isso se fez necessário uma formação na área da educação especial, que para Klein (2010) é esta que proporcionava um ensino mais eficaz que garantia a aprendizagem de determinados sujeitos. A educação inclusiva nada mais é do que a inclusão daqueles que são rejeitados e levados para fora dos espaços do mercado de trabalho, dos padrões sociais e vítimas de representações estigmáticas. Hoje devido aos avanços do processo de socialização da informação, essas desigualdades sociais são denunciadas publicamente, deixando-as mais conhecidas e combatidas por meios de comunicação como a internet e de programas sociais que atendam a esta parcela da sociedade, por este motivo se faz necessário a discussão a respeito da educação inclusiva para que se tenha a igualdade entre todos através dos seus amparos legais. 2.3 O AMPARO LEGAL Segundo Carvalho (2003) e Aranha (2004), em 1980, em função de vários avanços tecnológicos, propiciou-se o surgimento de novas propostas de mudanças sociais, voltadas à garantia dos direitos das pessoas com deficiências em busca de uma melhor qualidade de vida. Porém, só passou a ser discutida devido a Conferência Mundial de Salamanca em 1994, que teve a participação de 92 países, entre eles, o Brasil, que afirmou mudanças no sistema de 20 ensino, com a visão de incluir, ao contribuir com o ingresso de indivíduos com deficiências no ambiente escolar, no sentido de garantir o direito de educação de qualidade a todos. Shiroma (2000) comenta que a educação brasileira segue os preceitos dos organismos internacionais, com o propósito de levar o país ao progresso, e que servem como direcionamento de nossas políticas educacionais. Esses movimentos trouxeram reestruturação para a escola (no sistema de ensino), que visa atender as diversidades. A educação especial está respaldada, como já citados em documentos e leis que sustenta esse modelo de inclusão, não somente na área de educação, mas também como na área de saúde, formação profissional, recursos humanos etc. A Lei nº 7.853 de 24 de outubro de 1989, em seu artigo 1º, que dispõe sobre o apoio as pessoas com deficiências, a efetivação e integração do mesmo no contexto social. Conforme esta lei, no inciso 1º, devem-se considerar os valores básicos de igualdade de formas de tratamentos e de oportunidades com respeito à dignidade humana, com oferta obrigatória e gratuita em estabelecimento de ensino público ou particular. Entretanto, com todas essas obrigatoriedades, a partir da Constituição de 1988, obtevese um novo olhar a respeito do atendimento a pessoas com deficiências. Porém, só foi regulamentada em 1999, com a Lei nº 3. 294 de 20 de dezembro de 1999, que estabelece uma política para integração destas pessoas, no sentido de obrigar as escolas a aceitarem e matricularem essas crianças. Segundo Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9.394/96: [...] o art. 58 ilustra que a Educação Especial é a forma de educação escolar que é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educando com necessidades especiais. Ao ressaltar os seguintes parágrafos desta lei: 1- O apoio especializado, no momento que se faça necessário para atender às particularidades da clientela de educação especial, dentro da escola regular. 2- O apoio educacional poderá ser feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que for necessário para beneficiar as condições de integração do aluno especial nas classes comuns de ensino regular. 3- A oferta de educação especial é um dever constitucional do Estado, com inicio na faixa etária de zero a seis anos, na educação infantil. [...] no artigo 59, inciso I, II, III e IV, os sistemas de ensino asseguram aos estudantes com necessidades especiais o tratamento diferenciado, com o objetivo de facilitar o aprendizado. (1996). De acordo com Prietro (2002), a Resolução CNE/CEB 2/2001, concomitantemente com as diretrizes do Plano Nacional de Educação para a Educação Especial, formam as recentes bases das politicas nacionais vigentes para atender as pessoas com deficiências, ao seguir uma tendência mundial de concepção democrática de educação escolar que não aceita qualquer tipo de exclusão. 21 A Resolução CNE/CEB 2/2001 determina que o atendimento dos alunos com deficiências deva ser realizado em salas comuns de ensino regular, ao contar com a presença dos professores especializados e capacitados para auxiliar este alunado. O professor especialista trabalha em cooperação com o professor da sala comum, ao desenvolver práticas necessárias para promover a inclusão destes discentes de forma a assegurar uma educação de qualidade para todos (MEC/SEESP,2001). Por este motivo, as leis da educação precisavam ser colocadas em prática e fiscalizadas para que os alunos ditos especiais fossem inseridos no contexto social atual, e é desta maneira que a educação especial será retratada no próximo tópico. 2.4 A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO CONTEXTO ATUAL De acordo com a cultura mundial da globalização, percebe-se a crescente e contraditória marginalização de alguns segmentos populacionais que são cada vez mais discriminados em sua capacidade de se apropriar de bem e serviço disposto na sociedade, que são expostos ao desemprego. Neste caso, incluem-se os alunos da educação inclusiva, já que a globalização prioriza uma educação formal, que tem como principal objetivo a formação de capital humano, com mão de obra capaz de enfrentar a competitividade. Segundo Carvalho (2003), este é um fator positivo para a globalização, já que estes indivíduos são bem aproveitados na produção de bens de consumo e na absorção de novas tecnologias. Neste caso as pessoas que apresentam algumas limitações são deixadas de lado neste novo processo mundial. A educação especial no século XXI, faz-se necessária a construção de cenários com perspectivas políticas, sociais, econômicas, científicas e tecnológicas da educação em geral. Não se pode isolar nenhum desses indivíduos. Para Carvalho (2003), é importante reconhecer a desigualdade, pois reflete na condição de acesso à escola e extensão da escolaridade. Na globalização observa-se que as pessoas com deficiências são desprezadas não pelas suas limitações, mas pelas representações sociais, que as colocam como incapazes e dependentes, e sentem-se discriminadas e com visões contraditórias em relação ao mundo. Segundo Guimarães (2003), é como se esses alunos fossem um fardo social, que através da invalidez e da incapacidade que lhes são atribuídas pela sociedade em geral, fossem impedidos de fazer qualquer tarefa de um dito “normal”. Esses grupos experimentam a discriminação social e vocacional e carregam consigo um forte sentimento de rejeição, que por este motivo em sua maioria, desenvolvem subculturas separadas. É preciso repensar e 22 reestruturar o sistema de educação convencional, a fim de diminuir ou até eliminar os obstáculos para os alunos ditos normais. É importante ressaltar que a estrutura no sistema de ensino mudou bastante devido às conquistas através de lutas feitas por profissionais da educação, isso inclui a criação de leis que amparam os alunos ditos especiais como foi visto na Constituição Federal do Brasil de 1988 no art. 206, que ressalta o dever do Estado com a educação, que garante o ensino para todos e atendimento especializado as pessoas com deficiências, que segundo Ribeiro (2003) as escolas regulares deveriam acolher todas as crianças, independente de suas condições físicas, intelectuais e outras. Em pleno século XXI ainda se formulam leis que amparam os alunos com deficiência, como o Plano Nacional de Educação, que segundo a lei 10172/2001, que segundo este, a educação deveria produzir uma construção de uma escola inclusiva, que garanta o atendimento a diversidade humana. Já em 2004, o Ministério Público Federal divulga um documento que inclui os alunos com deficiência em classes comuns da rede regular de ensino com o objetivo de inserir estes alunos neste contexto social. Com o Decreto Lei nº 6094/2007, estabelece também que a educação garanta o acesso e permanência das pessoas com deficiência no ensino regular, e assim fortalecer a inclusão educacional nas escolas públicas. Neste caso a escola do século XXI deveria criar possibilidades e vantagens para a convivência entre os diferentes tipos de indivíduos, e desta forma se alcançaria uma educação unificada com cidadania igualitária e eficaz. Porém, para que isso aconteça é necessário que sejam revistas as práticas pedagógicas na sala de aula, tendo assim de fato essa educação tão esperada. 2.5 OS DESAFIOS DA DOCÊNCIA NA PRÁTICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL Segundo Mantoan (1997), o grande desafio para os docentes na questão que envolve a sua atuação diante do currículo de educação voltada para os alunos com deficiências está em fazê-lo encarar o discente como uma pessoa que age, decide e pensa com seus próprios meios. E de acordo com a autora, antes de tudo o professor necessita conhecer o seu aluno, e usar este perfil como base para elaboração das atividades. Perceber o aluno como um sujeito inteiro e não como um traço restrito ao um único aspecto do desenvolvimento. Segundo Stainback e Stainback (1999), o profissional da educação, no caso o professor, precisa apresentar um novo perfil e um dos primeiros é conhecer as necessidades 23 dos alunos, e por meio desses conhecimentos, saberá como prosseguir com os mesmos. Para os autores, criar métodos de ensino que promovam a aprendizagem do aluno tanto na forma individual quanto a turma como um todo, e estabelecer relações positivas que ajudam a atender as necessidades psicológicas básicas dos alunos. O profissional da educação inclusiva precisa utilizar uma variedade de métodos que envolvam os alunos no exame e na correção dos comportamentos inadequados. É preciso que se tenha em mente que os bons mediadores em classe são frutos da aprendizagem, e não nascem com ela, mas para que isto ocorra é preciso se ter capacitação profissional, estudo continuado para que se tenha um bom desempenho em sala de aula. A disciplina deste profissional é fundamental para que conduza com paciência e inteligência a sala de aula, já que, a disciplina é um exemplo de saber lidar com situaçõesproblema em sala de aula, e solucioná-las, e lembrar que a capacitação específica para o profissional da educação é de suma importância. Esta capacitação se faz necessária para que o profissional tenha um bom desempenho em sala de aula, e desta forma procure modificar as atividades em que determinados alunos participam, com a verificação por parte deste profissional da maneira em que os objetivos são atingidos. De acordo com Stainback e Stainback (1999), essas modificações ajudam nas habilidades dos alunos que podem ser implementadas simultaneamente, para atingir os objetivos de aprendizado individual. Outro desafio da educação especial seria em relação a uma abordagem em equipe, que faz com que as atividades atinjam toda a turma. Segundo Stainback e Stainback (1999), isso só será possível se os educadores apresentarem algumas experiências e práticas no planejamento e nas adaptações curriculares que inclua e desafie todos os alunos. Para finalizar, este docente precisa ter a formação continuada, que segundo Caiado (2010), investir na formação continuada destes profissionais é de suma importância, pois alcança o fim da ignorância com o domínio e consciência na hora das decisões que são defendidas nas políticas de educação no Brasil. É importante ressaltar que para isto ocorrer, é preciso que o professor peça ajuda aos colegas especialistas, alunos e pais para desenvolver procedimentos ou acomodações curriculares contínuas. Para Stainback e Stainback (1999), antes de tudo os professores precisam da ajuda de uma equipe que ofereça a eles um ensino que discuta experiências de aprendizagem adequadas para os diferentes alunos e suas turmas. 24 Para Stainback e Stainback (1999), os alunos “especiais” requerem oportunidades para aprender habilidades da vida prática, vocacionais e sociais com orientações e oportunidades concebidas a eles. O modelo de gestão também necessitava se adaptar a estas mudanças para atender estes alunos, precisava-se criar projetos pedagógicos que permitissem ajustar a pedagogia às peculiaridades de cada aluno, que segundo Ribeiro (2003), cada criança apresentava interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem individual, por este motivo é que se dava a necessidade de criar programas aplicativos que visavam abarcar essas diferenças de cada indivíduo. A democratização no espaço escolar também é um ponto a ser visto pela gestão, já que a inclusão escolar perpassava também pelas mudanças estruturais físicas da escola, que segundo Oliveira (2009), a escola é o eixo referencial pedagógico de aprendizagem para que de fato os ditos especiais fossem incluídos no âmbito social. A estrutura física da escola também era uma grande colaboradora para a adaptação da inclusão destes alunos, que para Oliveira (2009), as mudanças neste espaço viabilizavam as mesmas condições e oportunidades de acesso aos indivíduos ditos especiais, que contribui com a convivência destes com a diversidade cultural com os ditos “normais”. O profissional da educação especial precisa entender que a razão para a inclusão não está na proficiência em socialização, história ou matemática, e sim dá oportunidades para todos crescerem e aprenderem. Este fator segundo Stainback e Stainback (1999), é de suma importância já que os alunos ditos “normais” ensinam os alunos com deficiência que todos são membros igualmente valorizados, a fazer com que todos enxerguem que é possível incluílos na sociedade. 25 3 METODOLOGIA Os métodos são de suma importância para um projeto de pesquisa, já que é ele que delimita as atividades de como vão ser praticadas dentro do objetivo estudado. Segundo Lakatos e Marconi (2010), não são todas as ciências que utilizam métodos científicos, e que esses métodos são conjuntos de atividades sistemáticas. Para Bervian (2007), os métodos científicos não substituem a inteligência do cientista, já que também tem seus limites e não pode ser entendido como uma fórmula ou uma receita que colhe sem erros os resultados desejados. Neste sentido a pesquisa foi de cunho bibliográfico, pois para Lakatos e Marconi (2007), a pesquisa bibliográfica é importante, por abranger um fato ocorrido que se tornou público e objeto de estudo, que exige uma elaboração do plano de trabalho, e principalmente um fichamento da obra utilizada, com suas análises e interpretações. Uma das características das pesquisas bibliográficas é fazer com que o pesquisador tenha contato direto com tudo que já foi escrito por determinados autores de determinados assuntos publicados ao identificar os tipos de fontes a serem utilizados na pesquisa por meio de livros, referências, artigos etc. Segundo Lakatos (2007), estes tipos de pesquisas vêm oferecer meios para resolver possíveis problemas existentes, e abrir a possibilidade de explorar outras áreas onde tais situações ainda não são visíveis, como é o caso da dificuldade dos docentes em trabalhar com a educação inclusiva. Para estes autores a pesquisa bibliográfica não é apenas uma repetição daquilo que já foi dito, mas propicia um novo debate ou uma nova abordagem do referido tema. A pesquisa bibliográfica se instrumentaliza no trabalho de coletas de dados, que faz um levantamento dos principais autores, como: Baptista, Padilha, Caiado, Jesus, Oliveira, entre outros, que discutem a temática da avaliação. As principais fontes, ou seja, os objetos de estudos são artigos científicos, livros técnicos, relatos publicados em congresso, entre outros. Depois do levantamento bibliográfico, todos os dados coletados serão tratados em forma de análises apresentados nas concepções de avaliação com suas devidas análises. Segundo Lakatos e Marconi (2010), os tratamentos de dados exigem um rigoroso controle na aplicação desses instrumentos de pesquisa. Isto serve para evitar erros e defeitos resultantes de algumas informações incoerentes. Para Bervian (2007), esta pesquisa busca conhecer e analisar os aspectos culturais e científicos do passado referente ao assunto, tema ou problema da atualidade. Já Lakatos e 26 Marconi (2010) preferem colocar a pesquisa bibliográfica como uma fonte da experiência pessoal ou profissional, de estudos, leituras e observações, e interage com os outros estudos e disciplinas. Esta pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa. Segundo Lakatos e Marconi (2010), esta abordagem permite uma pesquisa bibliográfica, sem a participação da pesquisa de campo, não apresenta gráficos, entrevistas, dados relacionados à quantidade. Consiste nas investigações empíricas, com o objetivo de delinear ou analisar as características dos fatos ou fenômenos, ou a avaliação de programas, ou isolamento de variáveis principais ou chave. Segundo Lima (2004), abordagem qualitativa é um método de estudo que condiz a uma maneira de realizar uma pesquisa empírica de caráter qualitativo de um fenômeno a ser estudado em seu contexto real. Envolve a execução de atividades sistêmicas de descrição e análise de uma ou várias unidades de estudos. Para isso, faz-se necessário uma variação de relevantes de fontes, com o objetivo de internalizá-las, mediante aos seus próprios termos, ao possibilitar a absorção integral, profunda e de forma minuciosa da pesquisa realizada. Os dados foram trabalhados por eixos com bases nas questões norteadoras apontadas nas intervenções. 27 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos através de pesquisa mediante a análise dos autores propostos no referencial teórico, como: Carvalho (2004), Schaffner e Buswell (1999), Stainback e Stainback (1999), Guimarães (2003), Magalhães (2011), Ferreira (2003), Zabala (1998) e Denari (2006), Garcia (2004), Shiroma (2000), Mantoan (2003), Jesus (2010) e Padilha (2007), os quais geraram as discussões que fomentaram o entendimento em relação à educação inclusiva. 4.1 OS SIGNIFICADOS DA PRÁTICA INCLUSIVA NAS ESCOLAS Com base nas leituras realizadas, percebeu-se que a sociedade sofreu várias mudanças comportamentais ao longo de sua história, e a questão do processo de inclusão das pessoas com deficiência é motivo de discussão e análise, não com objetivo de ser apenas um percentual estatístico a ser inserido na rede regular de ensino, e sim, para que haja uma inclusão real destas pessoas em nível social, com isso, se dignifica o ser humano e não a deficiência por ele portada. Nas leituras realizadas, foi possível verificar que existem vários significados que envolvem os processos da inclusão, um deles é reconhecer as necessidades individuais de cada aluno, e que os princípios da inclusão aplicam-se não somente as pessoas com deficiências, mas a todos os alunos. De acordo com os autores Schaffner e Buswell (1999), uma das grandes discussões desafiadoras enfrentadas pelos educadores e alunos nas escolas, hoje, é justamente não admitir que as crianças fiquem isoladas ou se concentrem em um único grupo de crianças. Porém, para evitar essas questões desafiadoras é relevante promover a interação para que todos venham se unir e participar em conjunto. O processo de inclusão é muito mais do que uma integração de crianças com deficiências, e não deve ser confundido entre o ato de integração e inclusão, pois ambos possuem definições e significados completamente diferentes. Sabe-se que o processo de ensino educacional de uma escola deve oferecer um ensino de qualidade para todos, quer seja inclusiva ou não, onde se atendam, respeitem e reconheçam as necessidades individuais de cada aluno. O processo de inclusão se dá por meio da participação e interação efetiva a partir de todos os envolvidos que compõem e estão inseridos no meio. 28 Por isso, de acordo com os conceitos dos autores a cima, a inclusão é muito mais que apenas integrar essas pessoas na escola ou na sociedade. Inclusão é, portanto, proporcionar qualidade de ensino, pronto atendimento em oferecer-lhes subsídios para desenvolverem a aprendizagem e habilidades desses alunos, conforme a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, que vem firmar o direito e oportunidades de acesso à escolarização de todas as crianças no ensino regular. No entanto, quando se toma a decisão de incluir as pessoas com deficiências, é preciso formar e recriar ações com desempenho metodológico para que venhamos sair e não cair no erro de não saber que maneiras ou atitudes tomar em determinadas ocasiões, e chegar onde realmente se quer, que é poder conviver e trabalhar dignamente com os “diferentes”. Para que se tenha a criação de uma escola inclusiva de qualidade o principal passo é que se estabeleça uma filosofia baseada nos princípios da democratização e igualização da inclusão, a fim de prover a inserção de uma educação de qualidade para todos os alunos. Para que a inclusão de fato aconteça, as escolas devem quebrar os paradigmas oriundos do tradicionalismo, que ainda é muito existente em relação aos ensinos e práticas adotadas na educação, não somente com as crianças com deficiências, mas também com todos que a compõe. Ao fundamentar-se nas ideias dos autores, já que se quer uma escola inclusiva de qualidade, por sua própria natureza. Este sistema de ensino deve se voltar às necessidades gerais de todas as crianças, pois a definição da missão a ser desenvolvida pela escola é o primeiro passo do processo de planejamento estratégico para que todos sejam de fato bem recebidos, envolvidos e apoiados como membros participantes em suas escolas de forma significante neste processo. O gestor deve propiciar uma liderança forte no sentido de que se deve reconhecer suas responsabilidades em função de definir os objetivos da escola, ao garantir as tomadas de decisões, a fim de enfrentar os desafios existentes, e oferecer apoio às interações e aos processos que as enfatizam. Como principal fonte de sentidos na escola, faz-se necessário saber que o papel a ser desenvolvido pelo gestor é garantir que a mesma eduque com sucesso todos os alunos sem especificidades, no sentido de propiciar práticas, a fim de que os professores aprendam técnicas educacionais para saber lidar e ajudar a escola, a fim de transformá-la e torná-la acolhedora como laço familiar, já que a interação entre ambos é um grande suporte para esse desenvolvimento e amadurecimento do conhecimento. 29 As escolas são de caráter microcósmica, ou seja, uma mini sociedade, e a ela cabe a responsabilidade de eliminar o lado negativo existente no indivíduo enquanto ser que está em formação, para que se desenvolva positivamente na sociedade, haja vista que no meio social existem grupos diversificados, e essas diversificações refletem e possuem cultura, saberes e valores. Valores estes que devem ser respeitados como colaboradores para o bem comum, onde todos compartilham os mesmos direitos básicos da Constituição. Acredita-se que desde o princípio até o presente momento a educação inclusiva atingiu um grande salto em seu desenvolvimento, mais ainda muito se deve fazer. Na perspectiva de que o sistema educacional brasileiro é regido por leis, sejam federais, municipais ou estaduais, o governo tem propiciado movimentações para democratizar ainda mais o sistema de ensino, movimento este que venha inserir de forma total todas as crianças com seus respectivos valores e direitos. Assim, a discussão a respeito dos significados da inclusão, hoje, é justamente fazer com que a educação abranja o ensino de forma que todos se façam presentes, importante e necessário neste processo, não somente no que diz respeito ao lado educacional, mas também no meio social. Por isso, faz-se necessário que a sociedade veja e tenha consciência de que independente das dificuldades que se encontra o indivíduo, é fundamental a convivência com o outro, pois compartilham de diferentes socializações entre as pessoas e favorecem o reconhecimento de suas habilidades e necessidades, com o intuito de fazer crescer o respeito e segurança para se desenvolverem no meio, com objetivo de aprender e fazer descobertas sem medo de suas possíveis dificuldades. Com o objetivo de fazer a inclusão de forma total, ressalta-se que não vale apenas pensar em um processo destinado às crianças com necessidades especiais, e sim desenvolver qualquer atividade que necessitem de adequações para progredir o cognitivo desses alunos, sejam elas de forma curricular, metodológica, física ou até mesmo afetiva para que possam se desenvolverem e se transformarem enquanto seres viventes e presentes na sociedade. A partir de então é possível observar que a cada momento o mundo passa por diversas mudanças. Por isso, entender e compreender o verdadeiro funcionamento do significado da inclusão requer ter um olhar crítico que vem de dentro para fora, a fim de reconhecer sua fundamental e necessária importância neste processo de transformação. No entanto, a instituição escolar é um dos locais onde o ser humano busca meios e alternativas para se tornar e se assumir enquanto sujeito ativo. 30 4.2 AS METODOLOGIAS QUE PODEM SER UTILIZADAS NO ENSINO E NO APRENDIZADO DO ALUNO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA De acordo com os estudos feitos dos seguintes teóricos: Guimarães (2003), Magalhães (2011), Ferreira (2003), Zabala (1998) e Denari (2006), percebe-se a necessidade de se discutir metodologias aplicadas na prática de ensino e aprendizagem na educação inclusiva. Mesmo com alguns avanços nesta área, ainda precisa se fazer reajustes para que se tenha êxito. A respeito desta questão é preciso investigar as práticas adotadas pelos profissionais em relação à educação inclusiva, já que velhos paradigmas ainda permeiam o surgimento do novo modelo e isto acarreta uma grande confusão de ideias. Acredita-se que estes desafios exigidos pelo processo de globalização e pela complexidade dos fatos é que o profissional da educação precisa enfrentar estes desafios e colocá-los em prática na educação inclusiva. Para isto é preciso que se acabe com o preconceito em relação ao aluno da educação inclusiva, vistos por muitos como inválidos, um ser digno de caridade, marginalizados e humanamente humilhados. Esta inferioridade em relação à estrutura física destes alunos é vista como uma incapacidade produtiva e acarreta numa dificuldade dentro da instituição escolar como forma de saber lidar com estes alunos. Diante deste ponto de vista é preciso que o profissional da educação tenha a capacidade de entender que estes alunos são capazes de produzir conhecimento e que carregam desejos, anseios, aspirações que contribuem para a aprendizagem do aluno. Se isto for alcançado, já demonstra ser um grande salto para compreender a necessidade de aprendizagem destes alunos, para que depois possa de fato fazer um trabalho com os mesmos. Neste caso é importante que se tenha um olhar diferenciado com os alunos da educação inclusiva, de uma forma igualitária e acreditar que o mesmo possa e deve apresentar uma evolução em seu conhecimento. A tecnologia é um ponto a favor para uma grande metodologia no ensino e aprendizagem destes alunos, os quais podem trabalhar com imagens associadas ao cotidiano dos mesmos. Esta ideia é vista de forma positiva, já que o uso da tecnologia serve também como uma forma de comunicar este aluno ao mundo em que vive e desta maneira ele se socializa com os outros. 31 A tecnologia por si só não conseguirá grande êxito e precisa que o profissional disponha de conhecimentos para lidar com a educação inclusiva. Para isso é preciso que se invista na formação continuada que inclui a participação em palestras, conferências e o contato na sala de aula com estes alunos, próximo de sua realidade. É este contato profissional que modifica seus aspectos nas práticas docentes e procura aplicar estratégias que facilitem o ensino e aprendizagem, e assim inserir este aluno no seu contexto social. Esta formação continuada é de suma importância para que se possa mudar com as questões da educação inclusiva e da diversidade cultural. É preciso também que se promovam diálogos entre a pedagogia e outras ciências para compreender melhor o ser humano e assim problematizar o papel social da escola no trabalho educacional com os indivíduos ditos normais e especiais. Mesmo com esta formação continuada, é preciso ver que o ser humano tem a capacidade de aprender e a obrigação do educando é colocar este fator em prática. Em relação à avaliação é preciso que se tenha cuidado com os métodos ditos tradicionais vistos de forma uniformizada. No que diz respeito a estes modelos, acredita-se em forma centrada na formação integral das pessoas, mas que neste caso implica em mudanças fundamentais no conteúdo e no modo de trabalhar. É importante ressaltar a precisão do conhecimento de mundo deste aluno, interagir e socializar este conhecimento com os demais indivíduos. Por este motivo, as avaliações precisam ter um caráter mais dinâmico e sem atribuições de notas e provas sistematizadas, ou seja, de maneira expositiva, que estimule a discussão em sala de aula e desta forma alcançar a socialização. Acredita-se que o conjunto destas atividades contribui para uma prática menos tradicional e favorece e atende as peculiaridades de cada um desses alunos da educação inclusiva. É algo que em tempos remotos não se tinha essas compreensões, ou seja, não se dava a importância para entender esses alunos, já que o conhecimento a este tipo de educação era bem restrito, pois o ensino e a aprendizagem estavam relacionados aos ditos normais. Neste caso os profissionais da educação envolvidos precisam repensar suas concepções acerca desses sujeitos para que possam saber suas características peculiares. Compartilhar estas ideias, acreditar nas mesmas e repensá-las torna-se um papel crucial para o desenvolvimento cognitivo destes alunos em todas as esferas educacionais. De acordo com estas discussões e apresentações pode-se notar algumas concepções a este tipo de educação no novo paradigma educacional, que tenta fazer com os alunos da educação inclusiva não se sintam excluídos. Mesmo com todas essas mudanças é preciso que 32 se tenha o olhar mais sensível para os alunos da educação inclusiva, por este motivo é que se devem discutir esses assuntos. Acredita-se e concorda-se na formação continuada dos docentes e nas políticas operacionais e serviços que devem ser modelos educativos e concepções diversas para entender estes alunos. É importante a formação continuada desde que estes profissionais adotem elementos teóricos, metodológicos e técnicos, que sirvam para desenvolver práticas profissionais. Para que tudo isto de fato possa acontecer é importante a formação do docente e o conhecimento do mesmo na área da educação inclusiva, mas é importantíssimo que ocorra também o apoio das políticas públicas nesta área como forma de investimentos, que será colocado no próximo tópico. 4.3 AS POLITICAS PÚBLICAS DE FORMAÇÃO DOCENTE NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA Com base nos estudos dos autores: Garcia (2004), Shiroma (2000), Mantoan (2003), Jesus (2010) e Padilha (2007), analisa-se que as ações docentes partem do pressuposto que os mesmos têm um papel crucial a desenvolver no processo enquanto mediadores entre o conhecimento cientifico e o discente, e com isso, percebe-se a crescente necessidade de uma formação para o educador, de forma a conseguir trabalhar eficazmente dentro do contexto atual de diversidade que permeiam a sala de aula, e diante da necessidade de uma formação inicial e continuada do docente, que deve romper com as práticas tradicionalmente excludentes encontradas ainda hoje nas escolas, e desenvolver a percepção primordial principalmente na área da educação do discente com deficiência, e o respeito à singularidade de cada aluno. E estas questões servem para investigar o Programa de Formação de Professores já previsto pelo MEC/SEESP e agora reinstituído na apresentação do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). A formação de professores para ajudar na política de educação inclusiva que vem desde a LDBEN 9.394/96, ao caracterizar a diferença entre professores capacitados e especializados, e a Resolução CNE/CEB 2/2001 (Brasil, 2001) que definiu mais precisamente a formação de competências e habilidades de cada categoria docente. E essa estrutura define uma ruptura na formação dentro da área educacional, de um lado os pedagogos e de outro os 33 professores. Para estes seria oferecida uma formação especifica, destituídas das condições para a pesquisa e que prioriza a pratica profissional técnica. Quanto ao primeiro, seria garantida a formação que lhes permitem gerenciar o processo pedagógico, a serem caracterizados como os verdadeiros profissionais. Percebe-se que a educação brasileira atual se mostra puramente política, e adequada aos moldes internacionais, com relação aos programas e serviços utilizados para atender a essa diversidade de alunos. Observa-se uma habilidade para trabalhar com as “inclusões educacionais”, puramente vinculadas ao gerenciamento das redes de ensino, ou seja, não existe uma real discussão a respeito da educação em nível pedagógico, discute-se o que fazer, mas nunca, como se fazer. Nota-se que, mesmo que a implantação de serviços especializados das redes de ensino represente um grande avanço em termos de oferta educacional para os alunos com deficiências, se torna importante investigar qual o real papel exercido por estes serviços, e como se relaciona ao trabalho pedagógico realizado na educação. E que os programas de formação deveriam trazer mudanças em nível qualitativo e que conduzissem há novas possibilidades educacionais como forma de lidarem com a pluralidade existente no contexto de sala de aula. Assim, formar professores pedagogicamente competentes e que garantam o desenvolvimento cognitivo de todos os alunos de forma igualitária, e principalmente os com deficiência. Ter como ponto primordial a relação de interação em nível de convivência deste alunado com seus pares “ditos” normais nas salas regulares, sem os ranços discriminatórios de uma didática segregatória. 34 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS De acordo com os estudos referenciados em autores que embasam a importância da educação especial, verificou-se que são muitos os desafios encontrados para que de fato a educação inclusiva seja concreta. Um desses desafios é a falta de estrutura física para atender a demanda que necessita de seu espaço totalmente adaptado para poder ter o acesso livre e direto em todo o ambiente escolar. Além da falta de estrutura das escolas, é perceptível a falta de profissionais capacitados com práticas pedagógicas para atuar nessa área, de forma que venha somar no desempenho e desenvolvimento não somente cognitivo mas sobretudo afetivo e até mesmo físico desses alunos que necessitam de uma atenção e tratamentos diferenciados já que as mesmas ainda são bem deficientes em relação ao ensino e à aprendizagem desses alunos, que ora ficam à mercê desses profissionais em sala de aula. Apesar de todas as leis que respaldam o direito das pessoas com deficiência, o Brasil ainda não se encontra totalmente desenvolvido e preparado para atender a esses “diferentes” de forma positiva, além do constante apoio dos governantes com construções de projetos que visem cada vez mais à inclusão dessas pessoas. Neste caso, não são as pessoas com deficiências que devem se adequar à sociedade ou ao ambiente escolar, mas, a sociedade deve se adaptar e se adequar a essa nova visão de transformação para seguir em frente unidos nesta nova etapa de aprendizagem. Esta análise só foi possível devido às pesquisas bibliográficas que discutem as práticas pedagógicas na educação inclusiva. Neste caso constatou-se de fato que os métodos pedagógicos utilizados em sala de aula não conseguem alcançar a maior parte desses alunos, já que os planos efetivos para essas práticas ainda não conseguem suprir as necessidades deste publico e que as políticas educacionais criadas para atender este tipo de aluno, em sua maioria não são colocadas em práticas. Neste contexto chegou-se à conclusão que o tema devido a sua complexidade, ainda se encontra em processo de construção, e no momento, as ações que devem ser implementadas pelos educadores, para tornar a sua prática efetivamente inclusiva, além de perpassar por uma formação continuada, devem-se envolver as trocas de informações sobre metodologias que deram certo, sendo utilizadas como pontos norteadores para posteriores ações mais eficazes no ensino e na aprendizagem destes alunos, contando também com investimentos do governo, ou seja, subsídios que possam dar suporte a esses profissionais. 35 Logo, os investimentos que são feitos pelos governos ainda são insuficientes, para atender a estas pessoas na área educacional e também ainda se tem muito preconceito por parte da sociedade, vista por alguns como indivíduos sem capacidade intelectual. Por este motivo é de suma importância este tipo de pesquisas e discussões em relação à educação inclusiva, para que se tenha uma perspectiva de melhora na área desta educação, e com isso vir a diminuir o preconceito em relação aos mesmos. 36 REFERÊNCIAS ARANHA, M. S. F. Programa de Educação Inclusiva: Direito à Diversidade. A Fundamentação Filosófica. v.1. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 2004. BAPTISTA, C. R.; CAIADO, K. R. M.; JESUS, D. M. Educação Especial: diálogo e pluralidade -2 ed. – Porto Alegre: Editora Mediação, 2010. 304 p. (organizadores). BERVIAN, Pedro A.,CERVO, Amando L., SILVA, Científica. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2007 Roberto da. Metodologia BRASIL, Ministério da Educação. Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica/ Secretaria de Educação Especial – MEC; SEESP, 2001. 79p. CARVALHO, R. E. Educação inclusiva: com os pingos nos "is". Porto alegre: Mediação, 2004. 176p. ______Removendo Barreiras da Aprendizagem: educação inclusiva – Porto Alegre: Mediação, 2000. ______Temas em educação especial.1937-- Rio de Janeiro:WVA ed. , 1998 DECLARAÇÃO DE SALAMANCA – Conferência Mundial sobre Necessidades Especiais - Acesso e qualidade. Brasília: CORDE, 1994. FELTRIN, A. E.,Inclusão Social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença – São Paulo: Paulinas, 2004. (coleção Pedagogia e Educação). FERREIRA, M. E. C., GUIMARÃES M. Educação Inclusiva/ Maria Elisa Caputo Ferreira e Marli Guimarães. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. GARCIA, R. M. C. Politicas públicas de inclusão: uma análise no campo da educação especial brasileira. Florianópolis, 2004. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina. 37 GÓES, M. C.R. Contribuições da abordagem histórico-cultural para a pesquisa em educação especial. In: III SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2007. Mimeo. JANNUZZI, G.M. A luta pela educação do deficiente mental no Brasil. São Paulo: Cortez, 1985. JESUS, D. M., BAPTISTA, C.R., BARRETO, M. A. S. C., VICTOR, S. L. Inclusão, práticas pedagógicas e trajetórias de pesquisa – Porto Alegre: Mediação, 2009, 304 p.(Organizadores). KLEIN, R. R., HATTGE, M. D. Inclusão Escolar: Implicações para o currículo – São Paulo: Paulinas, 2010 (coleção docente em formação). LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Cientifica – 6 ed. – 5 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2007. LIBÂNEO, J. C.; OLIVEIRA, J. F.; TOSCHI, M. S.Educação Escolar: políticas, estruturas e organização– 5 ed. – São Paulo: Cortez, 2007. LISITA, V.M.S. de S., SOUSA, L.F.E.C.P. Políticas educacionais, práticas escolares e alternativas de inclusão escolar – Rio de Janeiro: DP&A, 2003. MAGALHÃES, R.C.B. P. Educação inclusiva e escolarização: política e formação docente – Brasília: Liber Livro, 2011. 182 p. - (Série Formar) MANTOAN, M.T.E. A Integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon. Editora SENAC, 1997. MAZZOTTA, M.J.S. Educação especial no Brasil: História e políticas públicas – 4. Ed. – São Paulo: Cortez, 2003. ______. Educação Escolar: Comum ou especial. São Paulo: Pioneira, 1982. PEREIRA, M. M. Portal da educação. Disponível em: <http://www.portaleducacao.com.br/pedagogia/artigos/2284/inclusao-escolar-um-desafioentre-o-ideal-e-o-real#ixzz2BgUd7VSx>. Acesso em: 10.11.2012 e 11.11.2012. 38 PRIETO, R G. Atendimento escolar de alunos com necessidades educacionais especiais: Indicadores para análise de políticas públicas. In Revista UNDIME – RJ. Ano III, n.º 1, I Semestre de 2002. SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico– 22 ed.- São Paulo: Cortez, 2002. SHIROMA, Eneida Otto. et al (Org). Política Educacional. Rio de Janeiro: DP&A, 2000. SILVA, O. M. A Epopéia Ignorada: A pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. São Paulo: CEDAS, 1986. SILVA, S.; VIZIM, M. Políticas Públicas: educação, tecnologia e pessoas com deficiência – Campinas, SP: Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil (ALB), 2003. STAINBACK, S. Inclusão: um guia para educadores– Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. VIEIRA, F. D.; PEREIRA, M. C. Se Houvera quem me ensinara... A Educação de pessoas com Deficiência Mental. 2° ed. Fundação Calouste Gulbenkian, Serviço de Educação. Gráfica de Coimbra, Lda : Setembro, 2003.
Download