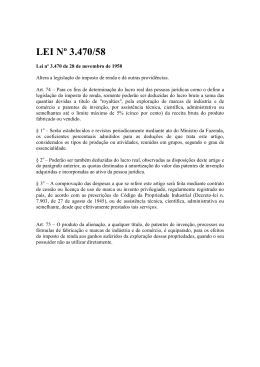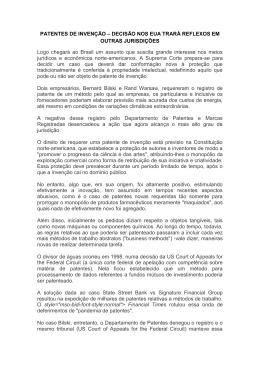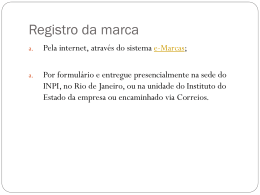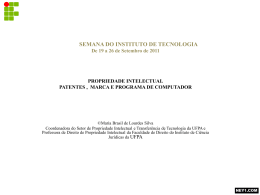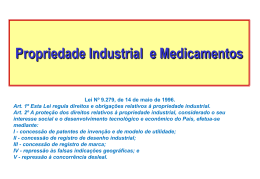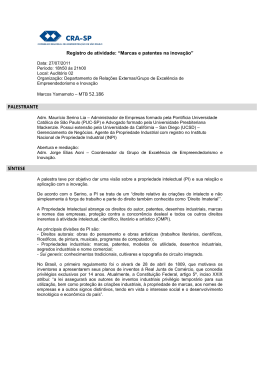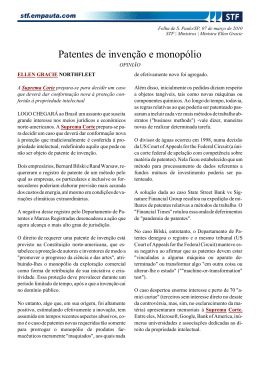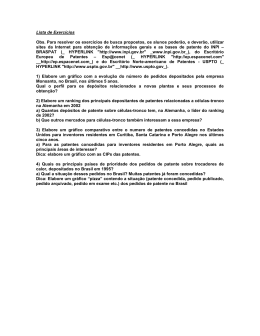Propriedade intelectual e Meio Ambiente Maria Edelvacy P. Marinho Renata de Assis Calsing (Organizadoras) Dreams Gráfica e Editora Brasília-DF 2012 Capa: Marcus Monici Editoração: Gleisse Ribeiro ISBN: 978-85-61157-09-8 MARINHO, Maria Edelvacy P. (org.) Propriedade Intelectual e Meio Ambiente. / Organizado por : Maria Edelvacy P. Marinho e Renata de Assis Calsing, Brasília : Dreams Gráfica e Editora, 2012. 168p. 1. Meio ambiente – Novas tecnologias 2. Propriedade intelectual e ambiental. I. CALSING, Renata de Assis (org.) II. Título CDU : 339.5:502.3(043) Sumário Apresentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 PARTE I Inovação Tecnológica e Meio Ambiente______________________________11 CAPÍTULO 1 Cooperação tecnológica entre Brasil e EUA em torno da questão energética Wilson Almeida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 CAPÍTULO 2 As limitações de incentivo à produção de tecnologias limpas pelo sistema de patentes Maria Edelvacy P. Marinho Gleisse Ribeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PARTE II Tecnologia e Mudanças Climáticas: o papel do sistema de propriedade intelectual_______________________________________________________43 CAPÍTULO 3 Propriedade Intelectual e Mudanças Climáticas Natália Braga Renteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 CAPÍTULO 4 A lei de patentes deveria ajudar a resfriar o planeta? Um questionamento do ponto de vista da lei ambiental? Parte 1* Estelle Derclaye**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 CAPÍTULO 4 A lei de patentes deveria ajudar a resfriar o planeta? Um questionamento do ponto de vista da lei ambiental? Parte 2* Estelle Derclaye**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 PARTE III Biotecnologia, Diversidade Biológica e Propriedade Intelectual_______ 123 CAPÍTULO 5 O acesso aos recursos genéticos e o Protocolo de Nagoya Tarin Cristino Frota Mont’Alverne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 CAPÍTULO 6 Efeitos e aplicabilidade da lei de propriedade intelectual no âmbito de proteção das patentes biotecnológicas: Brasil e União Europeia Charlene Maria C. de Ávila Plaza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 ÍNDICE ALFABÉTICO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3 Apresentação Uma das discussões mais relevantes no Direito, atualmente, é a relação entre propriedade intelectual, promoção de inovação e proteção ambiental. O tema, ainda pouco enfrentado pela doutrina, representa uma reflexão necessária sobre o rápido desenvolvimento tecnológico dos séculos XX e XXI e suas consequências para o meio ambiente e a saúde humana. Estamos na “era do conhecimento”, onde a inovação é valorizada amplamente no contexto socioeconômico, sendo, além de um motor financeiro, também uma busca incessante da sociedade, que visa o desenvolvimento de diversas áreas como: meios de transporte, aparelhos de informática e comunicação, etc. A inovação tecnológica, necessária para garantir o desenvolvimento da vida em sociedade, gera consequências diversas. Entre elas, podemos citar a dicotomia entre inovações que trazem benefícios diretos para a população, como novos medicamentos mais eficazes para o tratamento de doenças; e, a outra face da moeda, o desenvolvimento tecnológico que pode contribuir para o cerceamento do desenvolvimento “pleno”, já que para se produzir novos medicamentos, aparelhos de informática ou satélites de telecomunicações, são utilizados recursos naturais em larga escala, e que podem alterar o equilíbrio do ecossistema. Tal é o caso das mudanças climáticas. O efeito estufa é um mecanismo natural, indispensável para a sobrevivência do Homem na Terra, já que retém parte do calor do sol na atmosfera, permitindo que se mantenham temperaturas mais amenas. Entretanto, o aumento do uso de combustíveis fósseis e a crescente emissão de outros gases de efeito estufa, como o metano ou o HFC, fizeram com que a retenção de calor aumentasse, causando um desequilíbrio no ecossistema, com aumento de temperaturas (negativas e positivas), enchentes, secas, etc. Parte da sociedade se mobilizou, como consequência, para buscar um “retorno ao passado”, pregando a redução do uso das novas tecnologias, um voltar a viver no início do século XIX. Como resposta, vários grupos começaram a ignorar a necessidade de proteção ambiental, criando 5 um estereótipo de “ambientalista” como alguém dissociado da realidade e dos avanços e benesses proporcionados pelas inovações, passando a imagem de que a preocupação com o meio ambiente seria o oposto de desenvolvimento. Tais posições, antagônicas e extremistas, não oferecem uma resposta adequada para o problema. As novas tecnologias proporcionam um incremento na qualidade de vida da população que não pode ser esquecido, ou não se poderia esperar que a geração atual abrisse mão de suas conquistas, como realizar uma viagem a outro continente em algumas horas, em favor de uma geração futura que ainda não se conhece, não se sabendo mesmo se estes irão ou não adotar regras de proteção ambiental para seus descendentes. Mas, o desenvolvimento que não leva em conta a proteção ambiental também está fadado a gerar restrições na qualidade de vida da população, como a péssima qualidade do ar de algumas regiões que causam doenças respiratórias, ou as tragédias naturais causadas pelo aquecimento global. Esquece-se que tecnologia e proteção ambiental não são opostas. Pelo contrário. Um dos padrões do desenvolvimento sustentável é a produção de energias “mais limpas”, adaptadas a prover para a sociedade um desenvolvimento que garanta que as inovações não terão consequências tão gravosas para o meio, permitindo, então, o desenvolvimento desta geração e das futuras, dentro de um meio adaptado e condizente com as necessidades humanas. Vê-se, então, que a discussão da relação entre propriedade intelectual, promoção de inovação e proteção ambiental deve ter por cerne o conceito de desenvolvimento sustentável, que pode ser definido como “o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações”1. Ou seja, busca-se um equilibro entre avanços tecnológicos (com a devida proteção da propriedade intelectual para fomentar a inovação) e a necessidade de se utilizar deste processo para garantir, também, novas formas de se proteger o meio ambiente. 1 6 Definição usada Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, das Nações Unidas, sendo, hoje, o conceito mais aceito de Desenvolvimento sustentável. Acontece que, no Brasil, por exemplo, as discussões sobre propriedade intelectual são ainda reduzidas e concentradas em algumas temáticas, como a questão do acesso a medicamentos, e pouco se debate sobre o papel da propriedade intelectual para a proteção ambiental. De forma mais direta, alguns tratados ambientais têm enfatizado a necessidade de cooperação tecnológica entre os Estados e o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias limpas como meio de atingir os objetivos de preservação da diversidade biológica, redução das emissões de gases responsáveis pelo efeito estufa, tratamento de resíduos, entre outros. Contudo, pouco se tem avançado na elaboração de mecanismos que de fato promovam a cooperação e a inovação no campo ambiental. Diante dessa lacuna, foi proposto um Projeto ao CNPq intitulado “Promoção de tecnologias ambientalmente sustentáveis através do direito de propriedade intelectual”. O projeto se desenvolveu durante dois anos, culminando com um seminário realizado nos dias 15 e 16 de setembro de 2011. O presente livro é composto das conclusões dos pesquisadores que participaram do projeto e/ou do seminário. Os artigos aqui apresentados foram divididos em três partes. A Parte I : “Inovação Tecnológica e Meio Ambiente” é composta de dois artigos: Cooperação tecnológica entre Brasil e EUA em torno da questão ambiental, elaborado pelo Prof. Dr. Wilson Almeida, e o artigo elaborado pela Profa. Dra Maria Edelvacy P. Marinho e pela Profa Dra Gleisse Ribeiro sobre A possibilidade de incentivo à produção de tecnologias limpas pelo sistema de patentes. O Prof. Dr. Wilson Almeida, em seu artigo, apresenta o histórico complexo das relações entre Brasil e EUA no que tange às suas políticas energéticas e de incentivo à produção de energias renováveis, como o etanol, mostrando a forte influência dos diferentes governos na determinação dos padrões e consumo e proteção ambiental. A Dra. Maria Edelvacy P. Marinho e a Dra Gleisse Ribeiro, por sua vez, lançam importante questionamento sobre o uso do sistema de patentes, debatendo sua função dentro da temática da neutralidade do sistema versus seu uso privilegiado para possibilitar a produção de tecnologias limpas. A Parte II, intitulada: “Tecnologia e Mudanças Climáticas: o papel do sistema de propriedade intelectual” apresenta as pesquisas realizadas pela Profa. Dra Estelle Derclaye e a pesquisadora Natália Braga Renteria. No ar7 tigo: Propriedade Intelectual e Mudanças climáticas, Natalia Braga põe em discussão o papel que os direitos de propriedade intelectual exercem na questão climática, ou seja, na difusão das tecnologias renováveis. Para tanto, apresenta análise das discussões sobre propriedade intelectual nas negociações da Convenção sobre as Mudanças Climáticas, mostrando as diferentes posições entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, complementando com a apresentação da relação entre desenvolvimento e clima dentro de outros fóruns de debate, como a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Os artigos elaborados pela Profa. Dra Estelle Derclaye mostram de forma contundente como se dá a interação entre a proteção ambiental e a lei de patentes europeia, se questionando se tal lei deveria cumprir um papel de proteção ambiental, e, em caso afirmativo, até que ponto deveria exercê-lo. A Parte III do presente livro se concentra na “relação entre Biotecnologia, Diversidade Biológica e Propriedade intelectual”. Colaboram nessa parte a Profa. Dra. Tarin Cristino Frota Mont’Alverne que em seu artigo O acesso aos recursos genéticos e o Protocolo de Nagoya discute o tema da proteção da biodiversidade dentro do aparato jurídico da Convenção de Diversidade Biológica, destacando a temática do acesso e repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos; e Profa. Charlene Maria C. de Ávila Plaza, cujo artigo Efeitos e aplicabilidade da lei de propriedade intelectual no âmbito de proteção das patentes biotecnológicas: Brasil e União Europeia traz uma análise aprofundada de questões relativas à regulamentação dos direitos de propriedade intelectual no Brasil e na Europa, no que tange a Proteção de Obtenções Vegetais e biotecnologia, especialmente em relação à proteção para os organismos transgênicos. A realização do seminário e desse livro não seria possível sem o financiamento do CNPq e a colaboração dos pesquisadores-autores acima listados, além de outros que colaboraram para o seu sucesso, os quais destacamos: o Dr. Denis Borges Barbosa, Dr. Lucas de Abreu Barroso e Dr. Sérgio Paulino de Carvalho. Agradecemos, ainda, o apoio institucional dado pelo UniCEUB e pela Universidade Católica de Brasília. Maria Edelvacy P. Marinho e Renata de Assis Calsing 8 Breve Currículo dos participantes do projeto Charlene Maria C. de Ávila Plaza: Mestre em Direito na área de Integração e Relações Empresariais pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP-SP. Professora de Direito empresarial na Uni-Anhanguera (Centro Universitário de Goiás). Pesquisadora da Rede Ibero Americana de Propriedade Intelectual e Gestão da Inovação – RIAPIGI-PUC-GO. Pesquisadora da Rede Estadual de pesquisa em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia - REPPITTEC-FAPEG-GO. Denis Borges Barbosa: Advogado, Mestre em Direito pela Columbia University School of Law, Mestre em Direito Empresarial pela Universidade Gama Filho, Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica pela Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor do programa de Mestrado Profissional em Propriedade intelectual do INPI, no Programa de Mestrado e Doutorado (PPED) do Instituto de Economia Industrial da UFRJ, assim como em diversos Cursos de pós-graduação. Estelle Derclaye: Professora de Direito da Propriedade Intelectual na Universidade de Nottingham, Mestre em Direito pela George Washington University (LLM) de Doutora pela Queen Mary University of London. Gleisse Ribeiro: Doutora em Direito pela Universidade Nancy 2 (França); Mestre em Direito das Relações Internacionais pelo Uniceub; Professora universitária da Faculdades FORTIUM. Lucas de Abreu Barroso: Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Mestre em Direito pela Universidade Federal de Goiás; Professor universitário, de pós-graduação lato sensu e em cursos preparatórios para as carreiras jurídicas. Maria Edelvacy P. Marinho: Advogada, consultora, Professora do Programa de Mestrado e Doutorado do UniCEUB, Doutora em Direito pela Universidade Paris 1- Panthéon Sorbonne. Natália Braga Renteria: Advogada inscrita na OAB/RJ, pesquisadora e doutoranda na Universidade Católica de Louvain – Bélgica. Renata de Assis Calsing: Advogada, consultora jurídica e sóciagerente da empresa Newtech soluções integradas e sustentáveis, Mestre 9 em Direito das Relações Internacionais pelo UniCEUB, Doutora em Direito pela Universidade Paris 1- Panthéon Sorbonne, Professora do Programa de Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Sérgio Paulino de Carvalho: Economista graduado pela Universidade Federal Fluminense (UFF), Especialização em Desenvolvimento Rural e Abastecimento Alimentar pelo PROCADES/FAO/CEPAL e IPARDES-PR, Mestre e Doutor em Política Científica e Tecnológica pelo DPCT/Unicamp, pesquisador da Pesagro-Rio, exercendo suas atividades no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Tarin Cristino Frota Mont’Alverne: Professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Mestre em Direito Internacional Público pela Universidade Paris V. Doutora em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade Paris V e Universidade de São Paulo. Pós-doutora pela Universidade Federal do Ceará em Direito Internacional do Meio Ambiente. Wilson Almeida: Pós-doutor em Relações Internacionais pela Georgetown University; First Honorary Fellow, University of Wisconsin-Madison; Professor e Coordenador do Curso de Graduação em Relações Internacionais e Professor do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. 10 PARTE I Inovação Tecnológica e Meio Ambiente CAPÍTULO 1 Cooperação tecnológica entre Brasil e EUA em torno da questão energética Wilson Almeida1 Sumário: 1 Introdução; 2 O consumo e a produção mundial de energia; 3 O consumo e a dependência dos EUA; 4 O ethanol, as questões sociais e ambientais; 5 A “Ethanol Diplomacy”; 6 As empresas dos Estados Unidos no Brasil; 7 Como ficam as relações entre Brasil e EUA? 1 INTRODUÇÃO As relações entre o Brasil e os Estados Unidos sempre foram positivas para ambos os países. Ainda mesmo no período monárquico brasileiro e apesar dos Estados Unidos ser uma república exemplar, havia alguma identidade e alguns acordos entre este e a monarquia do sul. O Brasil exercia um regime político flexível, tolerante e também discordava da política externa da maioria das potências europeias. Pelo que se lê na maioria dos documentos da época, havia um certo respeito entre ambos com relação a hegemonia regional: o Brasil não interferia nas questões envolvendo os EUA com outros países da América do Norte e os Estados Unidos não se envolvia com as questões brasileiras com outros países do continente sul-americano.2 No início do Século XX houve reclamações da diplomacia do Barão do Rio Branco devido a tentativas de intervenção, por parte dos EUA em questões envolvendo a Bolívia, Peru, Chile e Equador. O Brasil evitou se posicionar em disputas dos EUA com vários países do Caribe e América Central. Essa tradição histórica fez com que o Brasil sempre estivesse ao lado dos Estados Unidos nos momentos cruciais da história recente da humanidade. Participou ao lado dos EUA das duas guerras mundiais e da Guerra Fria e enfrentou dificuldades internas quan1 2 Pós-doutor em Relações Internacionais pela Georgetown University; First Honorary Fellow, University of Wisconsin-Madison; Professor e Coordenador do Curso de Graduação em Relações Internacionais e Professor do Mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. BRINKLEY, Alan.The unfinished nation: the concise history of the United States Vol II. New York: McGrow Hill, 2004. 13 do teve que se posicionar contra o comunismo internacional iniciando um regime militar de exceção que durou 21 anos.3 As crises do petróleo dos anos 1970, que tinham motivações político-militares originadas nas retaliações, pelos países árabes, ao apoio dado, principalmente pelos EUA, a Israel nas guerras do Oriente Médio. A atual crise do petróleo tem raízes num forte aumento da demanda em um mundo cada vez mais consumista. Outras razões podem ser apontadas, as tensões em torno do programa nuclear do Irã, os conflitos étnicos na Nigéria, a nova proeminência da Russia como potência militar. Não é possível entender o comportamento da produção e consumo mundial de ethanol sem estabelecer uma correlação com a produção e consumo de petróleo. Além de terem a mesma aplicação estes dois combustíveis se complementam e se misturam. Em outras palavras, juntos podem ser utilizados para atender à mesma demanda. Com uma importante diferença, o uso de ethanol, sozinho ou junto com a gasolina ajuda a reduzir os níveis de poluição e consequentemente o aquecimento global.4 As relações entre o Brasil e os Estados Unidos no futuro próximo será marcada por dois fatores: o Brasil, com as descobertas de petróleo do pré-sal e com a liderança mundial da produção de energias renováveis, transformar-se-á em um importante fornecedor de energia para os EUA; O Brasil participou ao lado dos EUA, durante o último século, de todas as guerras a favor da democracia e do livre mercado. É uma democracia estável e mantém importante diálogo com os demais países da América do Sul, onde exerce uma liderança pacífica sem pretensões hegemônicas. A importância estratégica do acesso a fontes de energia para qualquer país é fundamental e difinidora de sobrevivência. Para os EUA, ficou claro, desde a Doutrina Carter, de 1980, quando da invasão da União Soviética ao Afeganistão, que temas ligados a energia estão intimamente ligados a geoestratégia e sobre vivência nacional. Afirmou o Presidente Carter: “An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America, and will be repelled by any means necessary, including military force.”5 3 4 5 BRINKLEY, Alan.The unfinished nation: the concise history of the United States Vol III. New ������������� York: McGrow Hill, 2004. KLARE, Michael T. Blood and Oil: the dangers and consequences of Americas’s growing dependency on imported petroleum. New York: Metropolitan Books, 2004. KLARE, Michael T. Resource Wars: the new landscape of global conflict. New York: Henry Holt, 2001. 14 A Doutrina Carter foi invocada (ostensivamente ou de forma velada) em vários outros momentos da história recente dos EUA: Na intervenção no Kuwait, durante a Guerra do Golfo, contra Sadam Hussein, nas operações militares no Mar Cáspio, no Governo Clinton (Operation CENTRAZBAT 97) e, até com a recriação da IV Frota, em 2008, para patrulhar o Atlântico Sul. O Presidente Clinton afirmou a respeito das operações militares realizadas no Mar Cáspio onde se acreditava existir grandes reservas de petróleo, “our nation cannot afford to rely on any single region for our energy supplies, we not only help Azerbaijan to prosper, we also help diversify our energy supply and strengthen our nation’s security.”6 É possível perceber a importância que os diversos presidentes dos EUA dedicam ao tema do petróleo. Foram trazidas para este estudo dois dos muitos pronunciamentos de presidentes daquele país, a começar por Eisenhower indo até Obama. A máquina militar dos EUA necessita de muito petróleo para se mover e atacar quando necessário e isso define, em grande parte, sua hegemonia. A sociedade dos Estados Unidos, se organizou em torno dos subúrbios, com boa qualidade de vida, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, usando veículos que consomem muita gasolina para se locomover. A permissão para dirigir aos 16 anos faz com que o número de veículos aumente e a infraestrutura excelente das estradas estimula as pessoas a ter cada vez mais carros, que são de boa qualidade, principalmente com a entrada dos japoneses e coreanos, e muito baratos. Os transportes públicos, com exceção do metrô, são precários e até inexistem, em muitos casos. O uso do petróleo como matéria prima fundamental para a produção de defensivos agrícolas e embalagens também o torna muito importante e até imprescindível.7 2 O CONSUMO E A PRODUÇÃO MUNDIAL DE ENERGIA O consumo mundial de energia aumentará nos 25 anos entre 2005 e 2030, em 50%, segundo estudo da Energy Information Administration (EIA). O consumo se deslocará de 462 para 695 quatrilhões de British Termal Units (BTU). Este consumo se dará de forma diferenciada, os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 6 7 KLARE, Michael T. Resource Wars: the new landscape of global conflict. New York: Henry Holt, 2001. KLARE, Michael T. Blood and Oil: the dangers and consequences of Americas’s growing dependency on imported petroleum. New York: Metropolitan Books, 2004. 15 aumentarão seu consumo em 19% e os países que não fazem parte da OCDE em 85%. Este crescimento no consumo de energia está conectado ao crescimento das economias desses países. A média de crescimento anual dos países da OCDE no período será de 2.3% ao passo que o crescimento dos países não membros da OCDE será de 5.2%.8 Os combustíveis líquidos crescerão seguindo a tendência histórica de 170 para 230 quatrilhões de BTU (35%), o carvão de 120 para 200, representando o maior crescimento relativo (66%); o gás natural de 100 para 150 (50%); os renováveis de 25 para 50 (100%) e o nuclear de 25 para 30 quatrilhões de BTU (20%). Pode-se observar que o aquecimento global será incrementado com o aumento do uso de carvão em proporção maior que em anos anteriores. Um dos maiores consumidores de carvão é os EUA, quase 70% da matriz energética deste país está baseada em carvão. Apesar disso, EUA e Índia juntos, dois dos maiores consumidores, serão responsáveis por menos de 10% do carvão mundial. A China sozinha consumirá, em 2030, 71% do carvão mundial como fonte de energia. 9 A produção de fontes renováveis será influenciada fortemente pelo preço do petróleo. Há uma projeção da EIA com dois cenários limítrofes para esta tendência: o primeiro cenário será de que em 2030 o barril de petróleo custará $110 e o segundo, $180. Portanto, em 2030 não haverá petróleo barato. Alguns fatores serão responsáveis pelo aumento dos preços: aumento da demanda, principalmente nos países emergentes, non-OCDE, aumento dos custos de exploração em função de que o petróleo fácil está acabando, a ausência de novas descobertas, principalmente entre os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e a desvalorização do dólar. Na Inglaterra a redução da produção é de 7,7% ao ano, Noruega 5,9% e EUA 1,8 ao ano.10 As expectativas de aumento da produção e oferta estão em novas áreas como o Mar Cáspio, a Costa Oeste da África e a recuperação de áreas produtoras tradicionais devastadas por conflitos como o Iraque. A possibilidade de redução dos conflitos que envolvem áreas produtoras, seria uma forma de aumentar a produção entretanto não há indicadores que esta redução ocorra. Os conflitos no Oriente Médio estão cada vez mais complicados e com tendência para continuar. Venezuela, Iraque, Rússia, Nigéria e Geórgia são exemplos de interrupções por conflitos. 8 9 10 HEINBERG, Richard. The party is over: oil, war and the fate of industrial societies. Canada: New Society Publichers, 2005. Department of Energy, EIA 2008. Department of Energy, EIA 2003. 16 Os biocombustíveis, incluindo o etanol e biodiesel, serão cada vez mais importantes fontes de energia na economia de 2030, em grande parte devido ao crescimento da produção dos Estados Unidos, 1,2 milhões de barris por dia em 2030, que representarão quase metade da produção de biocombustíveis, no mundo. Forçados pelos altos preços do petróleo, outros tipos de combustíveis líquidos tenderão a ganhar mercados antes do petróleo. Atualmente a participação de combustíveis como biodiesel e ethanol no consumo de combustíveis líquidos é de 9% do total, em 2030 será de 20%. Muitas oportunidades surgirão para que países com clima apropriado e disponibilidade de terras agricultáveis baratas possam se apresentarem como alternativas econômicas de produção de energia renovável.11 A utilização de combustíveis líquidos ao redor do mundo em meios de transporte se comparado com outros usos está aumentando. Os outros usos são geração de energia elétrica, utilização em edifícios residenciais e usos industriais. A utilização em meios de transporte atualmente é de 52% e passará para 58% do total, em 2030. Daí a importância crescente do uso de biocombustíveis. As emissões de CO2 em 2005 eram de 28,1 bilhões de toneladas. Em 2030 serão de 42,3 bilhões de toneladas. Os países da OCDE praticamente não alterarão as suas emissões. A infraestrutura de transportes desses países está praticamente pronta e a quantidade de carros cresce em números menos que nos países emergentes. O grande responsável pelo incremento serão os países emergentes que usam carvão e que continuam a crescer com taxas elevadas de GDP.12 3 O CONSUMO E A DEPENDÊNCIA DOS EUA No ano 2000 os Estados Unidos consumiam aproximadamente 20 milhões de barris de petróleo por dia e produziam aproximadamente 8 milhões. A projeção do National Energy Policy para 2020 é de que a produção será de 6,5 para um consumo de 27 milhões de barris por dia. A produção de petróleo dos Estados Unidos diminue, de forma acelerada desde 1986; Os estoques dos EUA são os menores em 30 anos; A dependência do país de petróleo importado aumenta todos os anos. Era de 35% em 1973, de 55% em 2001 e de 76% em 2020. A capacidade de 11 12 ROBERTS, Paul. The end of oil: on the edge of a perilous new world. New York: First Mariner Books, 2005. Department of Energy. EIA 2003. 17 enfrentar uma interrupção nas importações são cada vez menores comparadas com as crises da década de 1970; os cinco maiores fornecedores de petróleo para os EUA representavam 53% nos anos 1970 e em 2020 serão 77%.13 A maioria deles está incluída no grupo que o Presidente Obama chamou de governos hostis. O Presidente Obama afirmou que os Estados Unidos não será refém de governos hostis, com relação a recursos que se esgotam nem sofrerá pressões com pretexto de redução do aquecimento global. O projeto tem como meta a redução da dependência do petróleo tanto internamente criando fontes alternativas a partir do desenvolvimento de novas tecnologias como externamente reduzindo a dependência da importação de petróleo de países com governos hostis aos EUA. O Plano prevê que a partir de 2011 a produção industrial de automóveis dará as familias veículos mais eficientes que reduzirão o consumo de petróleo. Da mesma forma tais veículos reduzirão a emissão de gas carbônico, CO2, mitigando, no que toca aos EUA, o aquecimento do planeta. Outra alternativa apresentada pelo governo dos EUA, desde o Presidente Bush Jr., é a produção de etanol por países liderados pelo Brasil que possam abastecer os EUA, reduzindo a necessidade deste país de produzir ethanol de milho, que ao tempo é muito caro e pressiona os preços dos alimentos. 4 O ETHANOL, AS QUESTÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS Quando começou a produção de ethanol em larga escala no Brasil, em 1980, o custo do barril ficava em torno de $ 100,00 dólares americanos. O governo brasileiro decidiu, para viabilizar o consumo, subsidiar essa produção. Entretanto com o tempo foi retirando o subsídio de tal forma que atualmente, início do século XXI, não há mais subsídio para a produção de ethanol no Brasil. O aumento da produção nessa fase inicial não gerava economias de escala pelo fato de que havia a necessidade do uso de petróleo na produção de ethanol. Recentemente os custos têm sido reduzidos graças a boas práticas agrícolas e de gestão de empreendimentos agroindustriais, melhor preparação do solo, novas variedades de cana-de-açúcar, melhores tecnologias industriais e principalmente pelo uso de energia alternativa do bagaço de cana. Com essas novas condições os preços do barril de ethanol foi sendo reduzido, em 1985 era de $90; em 1990, $48; no ano 2000, $36; em 2005, $30 dólares americanos. A produção em 1980 era de 4 milhões de m3; em 1985 já era de 9 milhões 13 KLARE, Michael T. Blood and Oil: the dangers and consequences of Americas’s growing dependency on imported petroleum. New York: Metropolitan Books, 2004. 18 de m3 e em 2005, 15 milhões de m3. Não existe nenhuma matéria prima que possa atingir tamanha rentabilidade. A eficiência da cana-de-açúcar, em termos de inpus/outpus representa 5 vezes a eficiência na produção de ethanol da beterraba, madeira e palha de trigo (wheat straw). Em relação ao ethanol de milho essa relação é de quase 8 vezes (10,2 para 1,3 times).14 A tendência de aumento dos preços da gasolina no mercado internacional transformará o ethanol em um produto altamente competitivo. Os melhores estudos de tendência de preços, como o Departamento de Energia dos Estados Unidos e a Empresa de Pesquisa de Energia, do Ministério das Minas e Energia do Brasil, apontam uma tendência de preços acima dos $ 100 a partir de 2015. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo com 33,9% do total. A área plantada é de 7,8 milhões de ha e a produção anual é de quase 600 milhões de toneladas. O segundo maior produtor, a Índia, planta 4 milhões de ha e colhe 236 milhões de toneladas. A China o terceiro, 1,3 milhões de ha e 90 milhões de toneladas. Os demais, Tailândia, Paquistão, México, representam, cada um, em torno de 10 a 15% da produção brasileira. É importante assinalar que o Brasil usa em torno de 2% de suas terras agricultáveis para a produção de canade-açúcar, 72% dessas terras são usadas para pastagens e 16,9% para a produção de grãos.15 O Brasil possui um total de 355 milhões de terras agricultáveis e os EUA 270, apesar dos Estados Unidos terem maior território que o Brasil. O Brasil pode colher duas safras por ano por causa do clima e topografia facilita a colheita mecanizada elevando a produtividade e reduzindo o custo. A produção total de ethanol em 2007 era Brasil 5,1 milhões de galões e EUA 6,5 milhões de galões. É provável que em pouco tempo a produção brasileira supere a americana. A produtividade de ethanol por hectare, no Brasil é de 8,000 litros e nos EUA 4,000. Entretanto a produção dos EUA usa muita energia (inclusive de petróleo) enquanto no Brasil se usa bagasso da própria cana-de-açúcar para produzir o calor que move a indústria. Existem no Brasil 6,8 milhões de veículos flexible-fuel contra 7,3 milhões nos EUA. Todas as bombas de combustível no Brasil já abastecem com etanol, nos EUA apenas 1% das bombas abastecem ethanol. O custo dólar/galão de ethanol é no Brasil 0,83 enquanto nos EUA, 1,14. O gover14 15 ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. 19 no brasileiro não dá subsídios para a produção de ethanol, o governo dos Estados Unidos paga $0,51 por galão a fundo perdido e até recentemente cobrava imposto de importação de $0,54 por galão do ethanol brasileiro.16 Os destinos da exportações brasileiras de ethanol são: Estados Unidos e CBI (Caribean Basin Countries) 52%, União Europeia 28% e Japão 10%. O Estado de São Paulo é responsável por 60% de todo o ethanol brasileiro. Os outros Estados produtores são: Paraná (8%) Minas Gerais (8%), Goiás (5%) e Mato Grosso (5%), totalizando quase 90% da produção do país. Do total da cana-de-açúcar produzida no Brasil, 55% é destinada à produção de ethanol, 44% é destinada para açúcar e 1% para cachaça. O mercado de ethanol dos Estados Unidos é o principal alvo das exportações brasileiras. O mercado americano é muito atraente pelo fato de que há uma demanda crescente e agora, sem a taxa de $0,54 por galão, será possível planejar uma grande expansão. Os produtores americanos de ethanol frequentemente acusam o governo brasileiro de subsidiar a produção de ethanol e isso não é verdade, desde os anos 1990 que o subsídio dado ao ethanol acabou. Apesar de tudo isso, as exportações de ethanol do Brasil para os Estados Unidos têm crescido muito. Em 2005 o Brasil exportou 98 milhões de de dólares para os EUA; em 2006, esse valor foi de 1 bilhão de dóllares. O crescimento foi de mais de 1.000%, em um ano, somente para se ter uma ideia. O Protocolo de Kyoto pretendia uma redução de emissões de gás carbono da ordem de 1% para 2010. Se por acaso todos os países signatários adotassem a meta de misturar 10% de ethanol na gasolina, e isso não necessita mudar nada nos motores, haveria uma redução nas emissões da ordem de 66 milhões de ton naquele ano. Com isso uma das metas do Protocolo seria atingida. Como parâmetro, o Brasil já adiciona 25% de ethanol na gasolina a partir de 2008.17 Há críticos importantes ao redor do mundo que frequentemente reclamam da produção de ethanol brasileira. As principais críticas são dirigidas às relações de trabalho e ao meio ambiente. Com relação ao meio ambiente as críticas se referem a poluição, pelo uso de agrotóxicos, erosão do solo e uso excessivo de água. A Embrapa classificou a produção de ethanol no Brasil como uma produção limpa e sem impacto significativo ao meio ambiente. A produção cada vez mais intensiva de mudas resistentes a pragas reduz significativamente a necessidade de pesticidas. O uso de 16 17 20 ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. água tem melhorado com o reprocessamento e uso na própria lavoura. Inclusive a vinhaça é utilizada como adubo reduzindo a poluição ambiental. As condições de trabalho nos campos de cana-de-açúcar tem sido frequentemente modificadas. Apenas 48% das usinas usam o corte manual e há um compromisso da Associação dos Produtores de Açúcar e Álcool de São Paulo de que todo o corte será mecanizado após 2017. A atividade sucroalcooleira exerce importante contribuição social e econômica para o povo pobre do Brasil. Proporcionando trabalho formal e salário acima da média do país além de benefícios sociais e vantagens indiretas. O emprego formal no Brasil atinge apenas 45% dos trabalhadores. O setor sucroalcooleiro, em 2007 havia 72,9% de empregados registrados conforme as leis brasileiras. Em 1992 esse número era de 53,6% demonstrando a evolução positiva do setor. Nas melhores usinas de álcool de São Paulo esse índice era de 93,8% em 2005. O salário mínimo pago aos trabalhadores da cana-de-açúcar é maior que a média brasileira apesar de não ser, o salário mínimo suficiente para evitar a pobreza. O número médio de trabalhadores que cursaram 3 anos de escola formal e menos no Brasil é de 59%. No Sudeste esse número é de 46% e no Nordeste de 76%. Os salários, portanto, são mais altos na região canavieira que em outras regiões como o Nordeste. O salários de São Paulo normalmente são 58% mais altos que no Nordeste. Há que ser dito também que o trabalho de corte da cana, por exemplo, um dos mais criticados, leva o trabalhador a uma série de enfermidades profissionais. Um trabalhador no corte de cana normalmente dá 600 mil golpes de facão por dia, o tempo todo curvado, gerando problemas de saúde irreversíveis. Por outro lado, quando a mecanização ocupar todos os canaviais, em 2017, esses trabalhadores não terão o que fazer tendo em vista sua baixa recondução e readaptação em função da sua baixa escolaridade formal. Outra crítica feita por ambientalistas, principalmente europeus, é de que as novas unidades produtoras de ethanol estavam causando desmatamento na floresta amazônica e ameaçando outras regiões que devem ser preservadas como o Pantanal e o cerrado. Não há indústrias de ethanol no Pantanal nem na floresta amazônica. Alguns estudos, como um publicado em 2008 pelo governo da Holanda, afirmam que a produção do ethanol no Brasil avança em áreas da floresta amazônica. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) esclarece que 99,7% da produção brasileira de ethanol é processada a pelo menos 2.000 km de distância da floresta, 60% somente no Estado de São Paulo. 21 O cerrado tem sido utilizado pelas novas unidades de ethanol. Entretanto o débito de carbono do biocombustível no cerrado convertido, tem a sua recuperação estimada em 17 anos. No caso do ethanol de milho, dos EUA, a recuperação é feita em 93 anos. A Embrapa estima que é possível ampliar em 30 vezes a área plantada de cana-de-açúcar no Brasil sem afetar ecosistemas sensíveis. Apenas 20% das terras agricultáveis brasileiras são usadas atualmente e o Brasil é o maior produtor do mundo de suco de laranja, cana-de-açúcar, soja, carne de boi, couro, café, açúcar, leite, etc. E o segundo maior produtor do mundo de ethanol, carne de frango, algodão, carne de porco e outras carnes similares, etc. 5 A “ETHANOL DIPLOMACY” Em março de 2007 os presidentes Lula do Brasil e, George Bush dos Estados Unidos, assinaram um memorandum of understanding (MOU) que transformou os dois países em parceiros no campo da produção e consumo de energias renováveis e em termos de política energética em geral. O Presidente George W Bush cunhou o termo “Ethanol diplomacy” que significa a parceria dos dois países na produção e consumo de energia, principalmente proveniente de fontes renováveis. Nesse entendimento os dois presidentes acordaram que o Brasil deve líderar um grupo de países para produzir ethanol visando exportar para os Estados Unidos, um dos maiores responsáveis pelo aquecimento global. O Brasil transfere tecnologia agrícola e industrial para esses países capacitando-os para uma produção competitiva. Alguns desses países são: Honduras, Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Também estão incluídos alguns países do Caribe como a República Dominicana e provavelmente o Haiti. É importante assinalar que alguns desses países já gozam de direitos alfandegários junto aos EUA pelo fato de serem signatários do CAFTA. O Brasil atualmente exporta 26% de todo ethanol produzido para estes países que depois de hidratado é reexportado para o EUA, sem impostos. Na Jamaica estão sendo montadas unidades industriais para desidratar o álcool hidratado adquirido do Brasil e depois exportado para os Estados Unidos.18 Empresas brasileiras começam a fornecer para a Colômbia equipamentos para a produção de ethanol. O governo brasileiro quer que a Colômbia se torne uma base exportadora para o ethanol brasileiro chegar aos Estados Unidos sem a tarifa de importação. A Colômbia quer se tornar 18 22 ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. uma fonte de exportação para os Estados Unidos, mas através de produção própria, segundo revelou o presidente da Petrobrás na Colômbia, Abílio Paulo Pinheiro Ramos. Empresas brasileiras do ramo estão interessadas em fazer negócios na Colômbia. Um deles é a venda de destilarias para produção de ethanol. Outra possibilidade é a exportação do combustível já fabricado. Conforme dados do ministério de energia da Colômbia, a produção atual de ethanol no país é de 290 milhões de litros por ano, em 2007. A mesma fonte prevê aumentar essa produção para algo entre 11 bilhões e 15 bilhões de litros nos próximos anos, sendo que boa parte do volume será para exportação. A “Ethanol diplomacy” foi extendida para alguns países do continente africano como Ghana, Angola Mozambique e Kenya. Essa ajuda é dada por técnicos da Embrapa – Empresa de pesquisa agropecuária do Brasil e visa capacitar esses países para a produção de ethanol em condições semelhantes as brasileiras. Estados Unidos e Brasil estão organizando a lista de temas de pesquisa relacionados a biocombustíveis de segunda geração que integrarão as atividades de cooperação acordadas quando da visita de George Bush ao Brasil em 2007. Segunda geração é o nome dado a tecnologias que procuram produzir etanol de outras fontes que não apenas o açúcar de milho e de cana. É o caso da hidrólise, tecnologia em desenvolvimento, usada para extrair o açúcar contido na celulose da palha do milho e do bagaço da cana, e também de outros vegetais, como resíduos de madeira. Em 2008, uma delegação de pesquisadores dos EUA esteve no Brasil e pôde ver os projetos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e da Petrobras, das empresas Dedini, do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) e das empresas Allelyx e Canaviallis, do grupo Votorantim Novos Negócios. Em 2007, uma missão brasileira esteve nos EUA para conhecer os trabalhos dos norte-americanos na área de biocombustíveis. Pesquisadores brasileiros como Helena Chum, responsável pela área de biocombustíveis do Laboratório Nacional de Energia Renovável, do Colorado, vinculado ao Departamento de Energia dos EUA, que está há 30 anos nos EUA, acreditam que é possível também adaptar a cana-de-açúcar para ser implantada em regiões tradicionais de milho aqui nos EUA. 6 AS EMPRESAS DOS ESTADOS UNIDOS NO BRASIL Análise feita pelo coordenador-geral de Análises Econômicas do Ministério da Agricultura, Marcelo Fernandes Guimarães, mostra que em 1996 o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) para o agronegócio somava 23 US$ 568 milhões ou 6% do IDE total no País naquele período. Dez anos depois, o IDE do agronegócio atingiu US$ 3,5 bilhões ou 16% do IDE total registrado no ano 2007, que foi de US$ 22,2 bilhões.19 Apesar da crise econômica iniciada no final do Governo Bush, o Brasil tem recebido os últimos tempos aumento significativo de investimentos estrangeiros, principalmente de empresas dos Estados Unidos. O alvo dos últimos investimentos é sempre a produção de ethanol. Têm sido anunciadas frequentemente novas parcerias, operações de compra e organização de fundos de investimento destinados a colocar dinheiro na produção de ethanol no país. De acordo com a consultoria Datagro, os estrangeiros investiram 2,2 bilhões de dólares no setor de cana-de-açúcar desde 2000. Da lista das dez maiores empresas do setor no Brasil, quatro já possuem participação de capital estrangeiro: Cosan, Bonfim, LDC Bioenergia e Guarani. Uma quinta companhia, a Santa Elisa, fez recentemente parceria com a americana Global Foods para constituir a Companhia Nacional de Açúcar e Álcool, cujo plano é investir R$ 2 bilhões na construção de quatro usinas em Goiás e Minas Gerais.20 Criada em 2007 com um capital de US$ 200 milhões, a Brenco (Companhia Brasileira de Energia Renovável) captou US$ 2 bilhões no mercado de ações para investir no Brasil. Nos planos da empresa constam a construção de cinco usinas de etanol na divisa entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O investimento da Brenco faz parte de um ambicioso plano de expansão que pretende torná-la um dos grandes nomes do setor sucroalcooleiro. Até 2015, a empresa vai possuir 10 usinas capazes de produzir cerca de 4 bilhões de litros de etanol -- 20% do que o País inteiro produz hoje. A Brenco é comandada pelo ex-presidente da Petrobras Philippe Reichstul e inclui em sua lista de acionistas grandes personalidades e executivos, como o ex-presidente americano Bill Clinton, Steve Case, ex-AOL Time Warner, o investidor indiano Vinod Khosla e James D. Wolfensohn, ex-presidente do Banco Mundial.21 Duas das usinas da companhia já começaram a operar em 2008; as outras duas, em 2010. A meta do grupo é implantar outras seis novas usinas até 2015. As primeiras unidades forão instaladas em Mineiros (GO) e Alto Taquari (MT). Nas unidades de Morro Vermelho (GO) e Perolândia (GO), 19 20 21 24 ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. DATAGRO. Relatório das empresas estrangeiras no agronegócio brasileiro. São Paulo, 2008. ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. iniciram suas atividade em março de 2010. A Dedini fornecerá o processo completo de produção de etanol para as quatro usinas, além de módulo de geração de vapor para duas delas. A capacidade de moagem inicial de cada planta será de 3 milhões de toneladas de cana por safra, suficientes para produzir aproximadamente 270 milhões de litros de ethanol. 22 A Brenco está procurando parceiros para construir um alcoolduto de mais de mil quilômetros entre Alto Taquari, em Mato Grosso, e o porto de Santos em São Paulo. Mas destacou que, se não conseguir acordos para a execução do alcoolduto, fará sozinha o projeto estimado em 1 bilhão de dólares. O vice-presidente-executivo Rogerio Manso afirmou: Temos a porta aberta para projetos que tenham capacidade de trabalhar junto. Não tem negociação adiantada (com nenhum eventual parceiro), mas as nossas portas estão sempre abertas para aqueles que têm interesse de negociar conosco. 23 A empresa, cujas duas primeiras usinas já começam a operar, baseará a sua receita em geração de energia de biomassa de cana e também em etanol, principalmente para a exportação, o que explica a necessidade do duto para otimizar as operações. A Brenco não produzirá açúcar, diferentemente de quase todas as outras empresas do setor. O banco de investimentos americano Goldman Sachs Group Inc. formalizou sociedade com a Santelisa Vale SA, nova empresa formada a partir da fusão entre a Santa Elisa, Vale do Rosário e outras três usinas paulistas. A nova empresa nasce com uma moagem de 18,5 milhões de toneladas. O Goldman Sachs entra com uma participação de cerca de 15%, após um aporte de cerca de R$ 400 milhões. Os recursos do Goldman serão utilizados para quitar dívidas contraídas quando a Santelisa foi criada, pela fusão de cinco usinas de açúcar brasileiras. As usinas são controladas pelas famílias Biagi e Junqueira, que em fevereiro de 2007 aceitaram realizar uma fusão. A companhia americana Cargill depois de comprar 63% da indústria de ethanol Central Energética do Vale do Sapucaí Ltda.(Cevasa), em junho de 2007, estaria negociando a aquisição de mais outras unidades. A Dedini, a maior fabricante mundial de usinas de açúcar e álcool, tem números que confirmam essa tendência. De acordo com o vice-presidente Operacional da companhia, José Luiz Olivério, dos 189 projetos 22 23 ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. Seminário Rio Oil & Gas,(2008). 25 de novas usinas que solicitaram orçamento para a empresa, 30% são de investidores estrangeiros ou de empresas nacionais com parte dos recursos vindos do exterior.24 Da produção mundial de 40 bilhões de litros, o Brasil é responsável por uma fatia de cerca de 16 bilhões, juntando reais possibilidades de aumentar a sua participação. O país é de longe o fabricante mais eficiente, com um custo de produção de US$ 0,22 por litro de etanol, diante de 0,30 dos EUA e de 0,53 da União Europeia. Além disso, tem área suficiente para multiplicar as plantações e atender o esperado aumento da demanda. Segundo a Datagro, a quantidade de cana moída no país deverá aumentar de 473 milhões de toneladas na safra de 2010 para 700 milhões em 2014. Isso vai exigir investimentos em 114 novas usinas – hoje o Brasil tem 357 unidades em operação e outras 43 em construção.25 7 COMO FICAM AS RELAÇÕES ENTRE BRASIL E EUA? Brasil e EUA têm mantido contatos informais, a fim de realizar futuros acordos de comércio para aumentar o fluxo de petróleo e derivados do Brasil para os Estados Unidos. A Administração de Barack Obama já deixou claro a sua vontade de aumentar as importações de petróleo brasileiro. Realizado o pacto comercial, algo que hoje parece muito provável e que depende unicamente do Brasil, uma possibilidade no horizonte pode ser o deslocamento da Venezuela do mercado energético EUA, para onde envia entre 40 por cento e 70 por cento da sua produção de petróleo. Do total das importações norte-americanas de hidrocarbonetos, 11% vem da Venezuela. A estatal PDVSA da Venezuela não vende não somente petróleo para os EUA mas também mantém suas próprias refinarias em solo americano e uma extensa rede de postos que distribui os seus produtos. Para os Estados Unidos uma relação comercial estável com a Venezuela no campo de energia é importante. No entanto, e apesar de suas frequentes ameaças de fechar a torneira do petróleo, o regime de Chávez ainda se beneficia da venda de petróleo para o seu inimigo número um e que paga uma quantidade diária de cerca de 80 milhões de dólares.26 O governo Dilma pretende aumentar a presença brasileira no mercado dos EUA do petróleo, mesmo que isso signifique uma colisão frontal 24 25 26 26 DATAGRO. Relatório das empresas estrangeiras no agronegócio brasileiro. São Paulo, 2008. DATAGRO. Relatório das empresas estrangeiras no agronegócio brasileiro. São Paulo, 2008. ALMEIDA, Wilson J.B. Ethanol diplomacy. Working Papers, Georgetown University. CLAS 2009. com os interesses venezuelanos. Tudo isso vai depender da quantidade de petróleo que a estatal de petróleo brasileira, Petrobras, possa obter nos próximos anos dos poços em que os Estados costeiros do Sudeste, bem como os protocolos jurídicos que Washington e Brasília assinarem. A declaração do Governo brasileiro é que seu primeiro objetivo é abastecer plenamente o mercado interno e deixar de depender das importações de petróleo. Por sua proximidade geográfica e da fluidez do diálogo político que já foi estabelecido com o presidente Obama, os EUA se torna o grande comprador natural do petróleo brasileiro. O governo brasileiro, por meio de fontes diplomáticas, declara preocupação pelo fato de o Departamento de Defesa dos Estados Unidos decidiu reativar a sua Quarta Frota para o Caribe e América do Sul, originalmente composta por 11 navios, incluindo um porta-aviões e um submarino nuclear. Esta decisão não é uma coincidência. Agora, mais do que nunca o Brasil está no radar dos EUA. Para os Estados Unidos, a Venezuela é um motivo de preocupação. Obama olha para o Governo do Brasil como seu aliado natural na América do Sul. O Brasil é um país politicamente estável, de grande potencial econômico, com uma vasta riqueza natural e humana. Para Obama, “Se o Brasil continuar na sua linha de fortalecimento institucional, respeito pelos princípios da democracia e do ambiente, da segurança jurídica e diminuição da desigualdade social, vai ser um país produtor de petróleo único no mundo.” O governo brasileiro, por outro lado, insiste que a Petrobras está mais interessada na venda de derivados, como gasolina, uma vez que será muito mais rentável do que a venda de barris de petróleo bruto. Isto explica porque Lula e Dilma decidiram apostar em uma grande injeção de capital na Petrobras para a construção de quatro novas refinarias e a expansão das existentes. O Brasil aumentou suas exportações de petróleo e derivados em quase 10 por cento em 2008, e 40 por cento dessas vendas foi para os EUA. 27 CAPÍTULO 2 As limitações de incentivo à produção de tecnologias limpas pelo sistema de patentes1 Maria Edelvacy P. Marinho2 Gleisse Ribeiro3 Sumário: 1 Introdução; 2 Presunção de neutralidade do sistema de patentes ; 2.1 O exame do pedido de patentes como uma fase essencialmente técnica; 2.2 Aplicação do princípios da não discriminação; 3 Tratamento diferenciado às inovações sustentáveis ; 4 Conclusão 1 INTRODUÇÃO O direito de patentes se apresenta como uma das soluções encontradas pelo Estado para incentivar o investimento privado em invenções sem distinção da área de conhecimento onde estas foram geradas. Mas nem sempre foi assim. No período entre a criação e a consolidação dos sistemas nacionais, a patente era vista como um privilégio. A concessão da exclusividade de exploração era dada a partir de um julgamento subjetivo da Coroa, onde se levava em consideração a genialidade do invento e a conveniência da concessão do privilégio àquele inventor. A passagem do período de privilégio para o sistema atual foi marcado pela consolidação de critérios pré-estabelecidos de exame dos pedidos de patentes e pelos princípios da não discriminação de setores tecnológicos. Tal passagem foi lenta, vindo a se concretizar completamente a partir da assinatura do Acordo TRIPS (Acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio) em 1994. 1 2 3 Parte desse trabalho teve como base no Titulo 2 capítulo 1 da tese de doutorado de Maria Edelvacy P. Marinho: “L’idée d’um droit commun pluraliste à l’épreuve des processus d’internationalisation du droit des brevets“, defendida na Universidade Paris 1- Panthéon Sorbonne. Algumas alterações e inclusões foram realizadas no texto de modo atualizá-lo e a enfatizar a relação entre propriedade intelectual e meio ambiente. Advogada, consultora, Professora do Programa de Mestrado e Doutorado do UniCEUB, Doutora em Direito pela Universidade Paris 1- Panthéon Sorbonne, contato: [email protected] Doutora em Direito pela Universidade Nancy 2 (França); Mestre em Direito das Relações Internacionais pelo UniCEUB; Professora Faculdades FORTIUM. [email protected] 29 Passada essa fase de consolidação do sistema, onde o direito de patentes deveria ser considerado como instrumento neutro, nos deparamos com o retorno das discussões sobre como o direito de patentes poderia ser utilizado para incentivar tecnologias limpas4. O objetivo desse trabalho é discutir se o uso do sistema de patentes para privilegiar determinadas tecnologias seria possível e desejável. Seria essa a função do sistema? Que consequências tal uso privilegiado poderia trazer? Para responder esses questionamentos primeiramente vamos discutir a presunção de neutralidade do sistema de patentes e como esta foi construída ao longo do seu desenvolvimento. Para em seguida, discutir a possibilidade do uso do sistema de patentes para promover de maneira privilegiada a produção de tecnologias limpas5. 2 PRESUNÇÃO DE NEUTRALIDADE DO SISTEMA DE PATENTES A presunção da neutralidade do direito de patentes tem duas consequências: a primeira é a ideia de que o exame do pedido de patentes pressupõe uma análise essencialmente técnica, e a segunda é a aplicação do princípio da não discriminação. 2.1 O exame do pedido de patentes como uma fase essencialmente técnica Tendo nascido como um privilégio, o direito de patentes tinha um caráter meritório: recebia o título de patentes, aquele que tivesse desenvolvido um invento que o Rei julgasse merecedor. Na Inglaterra, até a proclamação do Estatuto do Monopólio em 1624, os títulos de patentes não tinham nem objeto definido nem critérios de análise pré-determinados. A passagem do estágio de privilégio para o de direito foi marcada pela substituição da análise qualitativa e parcial do Rei quanto ao objeto e quanto ao sujeito (inventor), pela adoção de critérios objetivos de exame e pela proibição de discriminação entre os inventores6. Ao longo dos anos, o direito de patentes buscou se basear cada vez mais em elementos técnicos que reduzissem o poder discricionário do examinador. Essa mudança tornou o processo de concessão do título mais democrático, vez que não era mais um privilégio real, contudo, essa mudança não teve efeitos positivos imediatos sobre a credibilidade do título7. Na França, os efeitos da mudança foram claros. Antes da lei de patentes de 1794, o exame dos pedidos de privilégio eram feitos pela Academia de 4 5 6 7 Aqui neste texto utilizaremos como sinônimas as expressões tecnologias limpas, invenções verdes, invenções ambientalmente sustentáveis, invenções sustentáveis, invenções ambientalmente saudáveis. Como o objetivo do trabalho é analisar o incentivo do sistema de patentes para a produção de inventos sustentáveis, não será abordado nesse trabalho o licenciamento compulsório, vez que esse tema diz respeito ao acesso aos inventos e não necessariamente incentivo a sua produção. Aqui a referencia é entre os inventores nacionais. A discriminação entre inventores nacionais e estrangeiros ainda perdurou até a Convenção de Paris. Cabe ressaltar que atualmente os títulos de patentes gozam de credibilidade 30 Ciências. A invenção era vista como um serviço para o Estado e era recompensada pela concessão de patentes e / ou a instituição de pensões, prêmios e até mesmo financiamento da produção da invenção8. Aquele que desenvolvia uma invenção era encorajado a apresentá-la para o exame da Academia, cuja aceitação do invento conferiria prestígio ao seu inventor. A partir da lei de 1794, o sistema francês aprovou o sistema de registro. A análise da demanda passou a ser limitada a realização de determinados procedimentos: bastava o pedido conter uma descrição da invenção, não se tratar de produtos farmacêuticos ou métodos de negócios (proibido por lei) e apresentar o comprovante do pagamento dos impostos9. O exame pouco apurado conduzido pelo Estado não garantia a validade do título concedido. No texto do próprio título declarava-se que: “O governo, através da concessão da patente, sem o seu exame prévio, não garante de qualquer forma a prioridade de mérito, ou o sucesso de uma invenção”. Caberia ao tribunal avaliar a validade de quaisquer reclamações de outras partes. Na Inglaterra, o direito de patentes também se dirigiu para o abandono da análise de mérito dos pedidos de patentes. ������������������ A descrição da invenção, em princípio, não era obrigatória, foi deixada à boa vontade do autor para que este apresentasse após a concessão do título. Esta obrigatoriedade só foi introduzida em 1734, mas o conteúdo da descrição apenas seria verificado se a validade da patente fosse contestada judicialmente.10 As “Especificações” eram utilizadas como prova, quanto mais elas delimitavam e descreviam o invento, mais dificil era a sua revogação.11 Na verdade, o Estado deixou o sistema de patentes ser conduzido pela iniciativa do inventor. Como resultado, diante das reclamações das pessoas interessadas, os abusos dos titulares de patentes poderiam ser limitados pelo Poder Judiciário.12 Dessa forma, o conceito de invento foi construído pouco a pouco pelas condições impostas aos inventores para a concessão do título e pelas exigências feitas pelos juízes diante dos questionamentos sobre a validade da patente deferida pelo Estado. 8 9 10 11 12 HILAIRE-PEREZ, L. L’invention technique au siécle des lumières., Paris, Albin Michel, 2002. HILAIRE-PEREZ, L. L’invention technique au siécle des lumières., Paris, Albin Michel, 2002. HILAIRE-PEREZ, L. L’invention technique au siécle des lumières., Paris, Albin Michel, 2002, p. 102 A decisão do caso Liardet vs Jhonson em 1778 reconheceu pela primeira quid pro quo que a concessão da patente dependia da descrição da invenção. C. MACLEOD, Inventing the industrial revolution. The English patent system, 1660-1800. Cambridge : Cambridge University Press, 1988, p. 49 Os tribunais tiveram uma importância fundamental na consolidação do direito de patentes. Sherman e Benttly indetificaram algumas decisões relevantes: Boulton and Watt vs Bull (1795), R vs Arkwright (1785), Hornbloweser vs Bull (1799) , Crane vs Price. Para os três primeiros casos, os autores acreditam que “[…] the courts clarified the extent to which principles as well as improvements or patents of addition could be patented.” Quanto a última, os autores defendem que esta decisão “[…] Which settled the question as to whether a method or process as distinct from the thing produced could be the valid subject matter of a patent.” B. SHERMAN e L. BENTTLY. The making of modern intellectual property law: the British experience, 1760-1911. New York, Cambridge University Press, 1999, p. 108. 31 Esse controle duplo construiu aos poucos as bases do conceito de invento relacionando-o com as provas apresentadas no relatório descritivo que acompanhava o pedido de patentes. A reforma de 1829 sistematizou as decisões proferidas pelo judiciario e definiu o que deveria ser considerado invenção, quais os limites e conteúdo deste direito emergente, começando por definir o “direito de patente”, como um ramo independente. A separação do direito de patentes dos outros ramos do direito aconteceu em todos os sistemas nacionais, mesmo em países como a Alemanha e os Estados Unidos que optaram desde as primeiras legislações por um sistema de exame para a concessão dos títulos13. O exame dos pedidos de patentes não podiam mais ser pautados pela relevância da solução apresentada pelo inventor para os problemas da sociedade, nem pelo valor potencial de mercado do invento. Ele era somente analisado pela novidade de sua solução e pela sua capacidade de ser reproduzido14. Se por um lado, a definição de critérios técnicos para o exame do pedido foi essencial para que o direito de patentes se tornasse mais objetivo, por outro, ele foi responsável pelo distanciamento do direito de patentes de outros ramos do direito. Essa escolha por um tratamento “neutro” para o progresso técnico fez com que outros ramos dos direitos fossem chamados a regular posteriormente as consequências da concessão do titulo, seja pela aplicação do direito penal, ou do direito da concor15 rência, por exemplo. �� Partia-se do princípios que a tecnologia em si não é boa nem ruim, a forma que esta será utilizada que pode gerar efeitos não desejáveis pela lei16, cabendo ao ramo do direito concernente regular tal situação. Essa construção isolada do direito de patentes em relação aos outros domínios do direito foi baseada nessa presunção de que não cabia ao direito de patentes apreciar qualitativamente o invento, apenas verificar seu conteúdo técnico, se isentando de todas as consequências que a concessão da patente pudesse apresentar.17 Como afirmou o Conseil 13 14 15 16 17 KHAN, B. ZORINA Intellectual Property and Economic Development: Lessons from Amerian and European History, Commission on Intellectual Property Rights, Study Paper 1a, 2002. KHAN, B. ZORINA Intellectual Property and Economic Development: Lessons from Amerian and European History, Commission on Intellectual Property Rights, Study Paper 1a, 2002. M.-A. HERMITTE, “Les appelation d’origine dans la genèse des droits de propriété intellectuelle”, Etud. Rech. Syst. Agraires Dév., n° 32, p. 196. PIRES DE CARVALHO , Nuno The TRIPS regime of patent rights, Kluwer Law and Taxation Publishers, 2005, p.206. “Patents are neutral in the sense they are property titles in ideas; if the ideas are bad, the blame should be put on the ideas themselves and the use made of them, not on patents.” Esse reconhecimento de que os limites a patenteabilidade dos inventos de um setor tecnológico seriam sobretudo de origem exterior ao direito de patentes corroborando com a ideia de que o direito de patentes é um ramo essencialmente técnico pode ser lida em: J-Ch. Galloux no artigo Éthique et brevet ou le syndrome bioéthique, Dalloz, 1993, p.83, Ch-Geiger, Fundamental Rights, a Safeguard for Coherence of Intellectual Property Law ?”, 35, IIC 268, 2004. 32 Fédéral Suisse não caberia ao direito de patentes “fazer a distinção entre invenções desejáveis e invenções indesejáveis”18. Com a chegada das inovações do setor biotecnológico e de softwares essa neutralidade do direito de patentes tem sido colocada à prova. A aplicação do argumento da neutralidade do direito de patentes oscila entre os aspectos econômicos e éticos para a concessão do título: ora a análise deve levar em conta a importância da nova tecnologia para a competitividade do país e da relevância da solução aportada pelo invento para a sociedade, minimizando assim o caráter neutro do sistema de patente; ora o direito de patentes não pode levar em conta os aspectos éticos do invento sob pena de ferir a neutralidade do sistema. Observa-se que diante da concessão de uma patente sobre uma nova tecnologia cuja proteção ainda não foi reconhecida expressamente pela lei, as indústrias nacionais passam a pressionar os escritórios de patentes de seus países para que estes reconheçam também a patenteabilidade desta tecnologia sob o fundamento de que sua rejeição poderia importar em perda de competitividade do país19. A patenteabilidade dos métodos de negócios e dos softwares representam um dos exemplos desse processo, onde pouco a pouco os escritórios de patentes passam a interpretar as condições de patenteabilidade de forma a comportar tais inovações20. O que reforça a ideia de que a escolha do objeto a ser protegido pela patente é influenciada tanto pela lei quanto pelas políticas industriais dos países, sendo a neutralidade do sistema apenas aparente. Quando confrontado com problemas éticos, a questão da neutralidade do direito de patentes tem sido tratada de forma diferenciada pelos países21. Enquanto que nos Estados Unidos se aplica a teoria de que a priori é patenteável “tudo que é feito pelo homem”22, cabendo à lei decidir expressamente 18 19 20 21 22 Département fédéral de justice et police, service d’information, 5 septembre 2001, communiqué de presse. Apud M.-A. HERMITTE, Bioéthique et brevets: le nouveau contrat social issu du système international”, in La société internationale et les enjeux bioéthiques, 2006. Esse movimento pode ser percebido após a decisão da suprema corte americana no caso da patente sobre uma bactéria, chakrabarty, conforme análise de Marie-Angèle Hermitte sobre os efeitos dessa decisão « sur la brevetabilité du vivant dans l’ensemble du monde industrialisé » in M.-A. HERMITTE, “La construction du droit des ressources génétiques - exclusivismes et échanges au fils du temps”, in Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud, Marie-Angèle HERMITTE e Philippe KHAN, Bruyant, 2004, p. 39 - 40. Ver mais sobre esse assunto na obra : VIVANT, Michel e BRUGUIERE, Jean-Michel (dir) Protéger les inventions de demain: biotechnologies, logiciels et méthodes d’affaires,), INPI, La documentation française, 2003. Essa questão da diferença de tratamento entre o direito norte-americano e canadense sobre a de limitação do conceito de objeto patenteável pode ser lida em SCHMIDT SZALEWSKI, J “La notion d’invention face aux développement technologiques”, in La prise en compte de l’innovation par le droit. Diamond V. Chakrabarty, 477 US 303, 206 USPQ 193, 1980. 33 o que não deve ser objeto de patente; para o tribunal canadense, a princípio, nem tudo que conta com a participação humana é patenteável, havendo a necessidade que a lei se manifeste para adaptar as condições de patenteabilidade23 para tornar possível a proteção de inventos que “implicariam em uma mudança radical no regime de patentes”24. Essa foi a conclusão do famoso caso “ rato de Harvard” cujo objeto era a “patenteabilidade de forma de vida superior”. Para o tribunal canadense, caso as formas de vida superiores devessem ser protegidas, essa hipótese apenas poderia ser concretizada em razão de instruções claras e inequívocas do Parlamento25. É válido salientar que em ambos os casos – sobre a patenteabilidade da bactéria geneticamente modificada na Suprema Corte Americana e sobre a patenteabilidade de um rato geneticamente modificado na Suprema Corte Canadense- as decisões foram proferidas por uma diferença de 1 voto, o que demonstra a controvérsia em relação a delimitação do objeto patenteável. O que estava em jogo era determinar a quem competiria delimitar, em um primeiro tempo, a abrangência do objeto patenteável diante de um conflito ético ou que modificasse de forma substancial a interpretação das condições de patenteabilidade: se o judiciário ou o parlamento, ou seja, a quem caberia julgar até que ponto a “neutralidade” do direito de patentes representaria a escolha da sociedade. Essa mesma questão também foi levantada no caso do Rato Harvard pela Divisão de exame do EPO (Escritório de Patentes Europeu), que se posicionou conforme o entendimento americano de que cabe ao legislador autorizar uma interpretação mais restritiva. Dessa forma, “������������������������ se o legislador considera que determinado conhecimento técnico deva ser usado somente sob certas condições, ele deve estabelecer uma lei adequada.”26 É interessante notar que o argumento em favor da existência e relevância do direito de patentes é utilizado nesse caso em sentido inverso: ao invés de se ressaltar sua capacidade de promover o investimento em P&D, se enfatiza suas limitações. Argumenta-e que a negação da patente para um invento não desejável pela sociedade poderia reduzir a velocidade de seu desenvolvimento, mas não seria um impeditivo. Essa argumentação pode ser compreendida na decisão da suprema corte americana sobre a concessão da patente para um micro-organismo: “ The Grant or denial of patents on microorganisms is not likely to put a end to genetic research or to its atten23 24 25 26 SCHMIDT SZALEWSKI, J. “La notion d’invention face aux développement technologiques”, in La prise en compte de l’innovation par le droit., Marie-Anne Frisson Roche et Alexandra Abello (dir) Droit et Économie de la propriété intellectuelle , Paris , L.G.D.J., 2005 Court Supreme du Canadá, Havard College v. Canada (commissioner fo patents), 5 dezembro de 2002 Court Supreme du Canadá, Havard College v. Canada (commissioner fo patents), 5 dezembro de 2002 OEB, Division d’examen, Affaire Souris Oncogène Harvard, 3 abril 1992, JO OEB 1992/10, p. 589. 34 dant risks. The large amount of research that has already occurred when no researcher had sure knowledge that patent protection would be available suggests that legislative or judicial Fiat as to patentability Will not deter the scientific mind from probing into the Unknown any more than Canute could command the tides. Whether respondent’s claims are patentable may determine whether research efforts are accelerated by the hope of reward or slowed by want of incentives, but that is all.” 27 Em outras palavras: do que se adiantaria proibir o patenteamento por questões éticas se ele será produzido de qualquer forma?28 2.2 Aplicação do princípios da não discriminação Outro aspecto da presunção de neutralidade do direito de patentes é a aplicação do princípio da não discriminação entre setores tecnológicos. Enquanto o processo de isolamento do direito de patentes de outros ramos tem sido realizado pouco a pouco desde a consolidação desse direito como ramo autônomo, o princípio da não discriminação só foi reconhecido no plano internacional recentemente pelo Acordo TRIPS. Durante muito tempo, o direito de patentes concedia um tratamento diferenciado para os setores tecnológicos, excluindo de sua proteção aqueles setores considerados relevantes para a política industrial do país29. Essa discriminação era praticada pelos países que precisavam alcançar o desenvolvimento tecnológico de um setor específico. Tratava-se para alguns de estratégia de imitação, para outros a exclusão significava uma política de facilitação do acesso aos inventos. Atualmente a questão de não discriminação tem se apresentado de forma inversa: ou seja, na obrigação dos Estados de adaptarem os critérios de patenteabilidade de modo a atender as especificidades de cada setor, permitindo a todos os setores o acesso a proteção30. Esse raciocínio 27 28 29 30 Diamond v. Chakrabarty, 447, US 303, 317 , 1980, par le juge : Esse tipo de questionamento permeia a argumentação de Nuno Pires de Carvalho quando este defende que : « technology has evolved, and will continue to evolve, without patents. Threfore, the mere exclusion from patenteability Will not discourage technological development, especially if it includes scientific research, wherer patents seldom have a role. At most, it may slow down private R&D, but it does not eliminate it. (…) In addition, given that the main function of patents is to serve as an instrument of market evaluation of technology, they cannot have either a positive or negative effect on basis scientific research.” The TRIPS regime of patent rights, Kluwer Law and Taxation Publishers, 2005, p.205: O setor farmacêutico é o exemplo mais marcante, ele foi excluído da proteção por patentes por diversos países como a Itália; o Brasil, o Japão. REMICHE, B. “Brevetabilité et innovation contemporaine: quelques réflexions sur les tendances actuelles du droit des brevets”, in Protéger les inventions de demain: biotechnologies, logiciels et méthodes d’affaires, VIVANT , Michel et BRUGUIERE ; Jean-Michel (dir) , INPI, La documentation française, 2003. 35 pode ser observado nos EUA na decisão da Corte do Circuito Federal na qual entende ser da responsabilidade do USPTO, a adaptação contínua do seus procedimentos “a fim de facilitar o progresso da ciência e da tecnologia.” Para a Corte, “ uma interpretação que rejeitasse a patente às invenções microbiológica seria contrária à lei.” 31 Diante desse movimento, Bernard Remiche faz um questionamento interessante sobre até que ponto a adaptabilidade das condições de patenteabilidade não conduzirão a perda de identidade do próprio sistema de patentes: “Somos pessoalmente muito cautelosos a esta evolução que consiste em permitir a patenteabilidade de criações comerciais e financeiras mesmo com ajuda do computador. Até onde, efetivamente, esta interpretação “ flexível” do termo “técnica” nos conduzirá ? (....) Devemos pensar em termos do que os Estados Unidos tem, ou em uma abordagem Europeia própria , se questionando se deve permitir a privatização, por vinte anos, de tais criações comerciais e se a resposta for positiva, qual será o limite final a patenteabilidade ? Tudo que é técnico é logo patenteável ?”32 O tratamento diferenciado de setores específicos 33 refletiria a adaptação do direito de patentes aos setores que em razão de suas características particulares teriam que ser analisados conforme suas diferenças. Nesse caso o tratamento diferenciado não significaria um tratamento discriminatório. A diretiva europeia 98/44 sobre as invenções biotecnológicas refletiria essa acepção do princípio da não discriminação de setores tecnológicos.34 De fato, o tratamento diferenciado dos pedidos de patentes a partir do setor tecnológico não poderia ser considerado discriminatório, pois ele consiste apenas em tratar situações diferentes na medida de suas diferenças. O OSC (Órgão de Solução de Controvérsias) da OMC estimou que há tratamento discriminatório quando há “ imposição injustificada de tratamento desfavorável em diferentes graus”35. Nem todo tratamento diferenciado poderia ser considerado de fato um tratamento discriminatório.36 Mark Lemley e Dan Burke resumem bem relação entre a presunção 31 32 33 34 35 36 In re Lundak, 773 F. Ed 1216, 227 USPQ 90, 1985. Esta ����������������������������������������������� decisão é citada em francês por Joana SCHMIDT SZALEWSKI ao analisar a relação entre invenção e descoberta no direito americano. SCHMIDT SZALEWSKI, J. “La notion d’invention face aux développement technologiques”, in La prise en compte de l’innovation par le droit., Marie-Anne Frisson Roche et Alexandra Abello (dir) Droit et Économie de la propriété intellectuelle , Paris , L.G.D.J., 2005 REMICHE, B. “Brevetabilité et innovation contemporaine: quelques réflexions sur les tendances actuelles du droit des brevets”, in Protéger les inventions de demain: biotechnologies, logiciels et méthodes d’affaires, Michel VIVANT e Jean-Michel BRUGUIERE (dir) , INPI, La documentation française, 2003. LEMLEY, M. A. e BURK, D. L. “Policy Levers in Patent Law”, Virginia Law Review, 89. Protéger les inventions de demain: biotechnologies, logiciels et méthodes d’affaires, Michel VIVANT et Jean-Michel BRUGUIERE, INPI, La documentation française, 2003. WT/DS114/R, parágrafo 7.94 PIRES DE CARVALHO, Nuno The TRIPS regime of patent rights, Kluwer Law and Taxation Publishers, 2005, p. 169. 36 de neutralidade do direito de patentes e o tratamento diferenciado de setores tecnológicos: “as a pratical matter, it appears that while patent law is technology-neutral in theory, it is technology-specific in application.”37 Essa aplicação do princípio da não discriminação tem engendrado a ampliação dos objetos patenteáveis. Se todos os campos tecnológicos são a princípio protegidos pelo direito de patentes, cabe aos aplicadores da lei interpretar as condições de patenteabilidade de modo a comportar as diferenças de cada setor. Essa ampliação pode ser explicada também pelas vantagens que o direito de patentes confere ao inventor, que prefere que seu “invento” seja protegido por um titulo de patentes do que por um tipo de propriedade intelectual suis generis.38 Do ponto de vista do legislador, a criação de sistemas suis generis de proteção à medida que novas tecnologias não se encaixem perfeitamente nas condições de patenteabilidade pode gerar a criação de “un monstre ingérable composé de formes multiples de propriété intellectuelle”39. Por outro lado, a incorporação de novos setores tecnológicos pelo direito de patentes obriga o sistema a “acrobacias jurídicas estruturais” 40. Em alguns casos as diferenças entre a proteção ou não de um novo setor tecnológico são passageiras, sendo reduzidas à medida que as tecnologias se incorporam nos produtos e na medida em que a tecnologia passe a ser conhecida pelos examinadores dos escritórios de patentes. Nas tecnologias de ruptura é difícil de reconhecer pedidos que contenham reivindicações que excedem as descrições do invento. Esse foi o caso das patentes no setor biotecnológico. Inicialmente, as patentes concedidas tinham reivindicações bastante abrangentes. Atualmente, como se tem mais conhecimento sobre esse setor, os escritórios tem exigido que as reivindicações quanto à patenteabilidade de sequências genéticas se atenham as funções descobertas e descritas no pedido. Em outros casos, a questão é de ordem moral, sendo relacionadas aos valores e preceitos religiosos da sociedade ou a própria estrutura do direito de patentes41. O que esta breve análise demonstra é que o sistema de patentes, apesar de almejar a neutralidade, vem se adaptando de modo a contemplar todos os setores tecnológicos, mesmo quando esta incorporação leva a perda 37 38 39 40 41 LEMLEY, M. A, BURK, “ D Is Patent Law Technology-Specific?” Social Sciences Reasearch Network Eletronic Paper Collection, 2002, diponível : http://ssrn.com/abstract_id=349761 . Sobre a criação de um sistema sui generis de proteção para as invenções biotecnologicas, ver a obra de J-P. CLAVIER, Les catégories de la propriété intellectuelle à l’épreuve des créations génétiques. HERMITTE, M-A. Conclusion in Le droit du génie génétique végétal, Litec, 1987, p. 249. HERMITTE, M-A. Conclusion in Le droit du génie génétique végétal, Litec, 1987, p. 249. Como é o caso da exigência do caráter técnico dos inventos no sistema europeu. 37 da identidade do próprio sistema. Percebe-se que a proteção por patente é utilizada pelas empresas inventoras como ferramenta de competitividade em relação a empresas estrangeiras. Parte-se da pressuposto que se um Estado não aceita a proteção de determinado segmento, por acreditar que este não se encaixa aos requisitos de patenteabilidade, ele estaria reduzindo o incentivo ao investimento das empresas nacionais naquele segmento. O receio da perda de competitividade tem tornado o sistema de patentes refém dos interesses econômicos de determinados segmentos. 3 TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS INOVAÇÕES SUSTENTÁVEIS A “neutralidade” do sistema de patentes não impede o tratamento diferenciado de setores, se tal tratamento objetiva adaptar as condições de patenteabilidade às especificidades do setor. É importante observar que as mudanças promovidas no sistema, nesse caso, se concentram na interpretação dos critérios de patenteabilidade. Em termos de direitos do titular da patente, não há mudanças diretas, significativas, que tenham sido promovidas por um exame diferenciado dos critérios de patenteabilidade. Entretanto, há que se fazer uma ressalva quanto ao setor farmacêutico. Em certos Países, é possível a concessão de um certificado que permitiria a extensão da duração dos direitos de exclusividade do titular em razão do tempo levado pelas agências sanitárias para avaliar o medicamento a ser posto no mercado42. É interessante nos perguntar se um tratamento diferenciado como o descrito acima poderia ser aplicado às inovações sustentáveis: por exemplo, ampliar a duração da patente em razão do benefício que o invento protegido trouxe para o meio ambiente. Contudo, antes de respondermos essa questão, se faz necessário primeiramente responder a outro questionamento: a ampliação dos direitos do titular de patentes levaria a um aumento da produção de tecnologias sustentáveis? É notório que a relação entre o direito de patentes e incentivo à produção de inovação não é clara. Há diferenças entre o grau de incentivo e o campo tecnológico, e nível de desenvolvimento de cada país43. Em países 42 43 SERGHERAERT et A. SOETEMONT, Actualité récente de la procédure de prorogation des certificats complémentaires de protection instituée par le règlement pédiatrique, Propriété Intellectuelle, 2009, n. 5, p. 17. ZORINA KHAN et K. L.SOKOLOFF, Intellectual Property Institutions in the United States: Early Development and Comparative Perspective. Washington: World Bank Summer Research Workshop on Market Institutions, July 17-19 2004; MAY, C. e SELL S., “Forgetting history is not an option! Intellectual property, public policy and economic development in context”. In International IPR conference: Intellectual property rights for business and society, 15 September 2006, Bikbeck College, University of London disponivel em: http://www.dime-eu.org/files/active/0/MaySell.pdf, CHANG, H-J ; GRABEL, I. Reclaiming development: an alternative economic policy manual. London: Zed Books Ltd., 2004; STERNBERG, R ; ARNDT,O. The firm or the region: What determines the innovation behaviour of European firms? Economic Geography, 2007, vol. 77, n.4, pp. 364-382. 38 desenvolvidos em setores onde os investimentos em inovação são elevados e o risco é grande, como o caso do setor farmacêutico, a existência de uma proteção por patentes tem se revelado um importante fator de incentivo. Em outros setores tal relação é ambígua44. Mesmo que se considere que a ampliação dos direitos dos titulares promova um maior incentivo, não se pode esquecer que quando se aumenta a proteção, o acesso a tais inovações pela sociedade é reduzido. Por exemplo, se a duração do titulo de patentes para invenções sustentáveis for ampliado, significa que tal invenção demorará mais tempo para entrar em domínio público, ou seja, o público consumidor poderá pagar mais caro por mais tempo para ter acesso ao produto. No caso, das inovações sustentáveis, essa consequência ainda é mais problemática, vez que quando se restringe o acesso a esse tipo de invento, se reduz também os benefícios para o meio ambiente que a difusão dessa tecnologia poderia proporcionar. Ampliar os direitos do titular de patentes, não seria a princípio, uma solução para o aumento da produção de invenções sustentáveis. De fato, o valor do título de patentes, ou seja, a capacidade de um invento de ser convertido em lucro depende principalmente da solução que este aporta para os problemas da sociedade, o valor é dado pelo mercado.45 Se passarmos parte da avaliação do valor do invento para o Estado, criaremos outro problema, aumentaríamos a incerteza do sistema, vez que caberia ao Estado determinar o que seria uma invenção sustentável passível de um tratamento diferenciado. Além disso, há que se compreender que quando falamos em inovações sustentáveis, não há um setor especifico onde estas inovações possam ser identificadas, elas podem estar disseminadas em diferentes setores: um aparelho que reduz o consumo de energia, uma bactéria que é capaz de decompor um composto tóxico, um software que controla o gasto energético, etc. Diante dessa característica, caso se queira modificar o direito de patentes para incentivar inovações sustentáveis isso significaria adicionar mais um item no exame dos pedidos. Esse problema começou a ser resolvido com a criação de um critério para a classificação de pedidos referentes a tecnologias ambientalmente saudáveis pelo OMPI. Dentre as modalidades de classificação foram definidas as seguintes categorias: produção de energia alternativa; transporte; conservação e economia de energia; gestão de resíduos; agricultura e silvicultura; energia nuclear; e, aspectos administrativos, regulatórios, ou conceituais.46 44 45 46 PAVITT, K. “Sectoral Patterns of Technical change : toward a taxonomy and theory”, 1984, Research Policy, vol.13, n. 6, pp. 343-373; DI MININ. “Patel and Pavitt revised: innovation and IP management in multinational corporation 10 years after the case of _non globalization‘II 2005. Prepared for the International Workshop on Innovation, Multinationals and Local Development 30th September 1st October 2005 Catania, Italy. Disponivel em; http://centrolink.interfree.it/alberto/DiMinin2005-PatelPavittRevised.pdf LEVËQUE, F. ; MENIERE, Y. Economie de la propriété intellectuelle, Paris, La Découverte, 2003. Classificação disponível no site da OMPI http://www.wipo.int/classifications/ipc/fr/est/ 39 De todo modo, apesar da classificação prévia do invento, esta isentaria a análise subjetiva do examinador. O que seria inovação sustentável? Haveria um critério objetivo a se examinar? Qual seria a redução ao consumo de energia que poderia ser considerado passível de proteção diferenciada? Que testes deveriam ser apresentados para indicar a sustentabilidade do invento? Ou seria mais eficiente se apenas o titular declarasse que o invento seria sustentável para fazer jus ao tratamento diferenciado? Essas perguntas nos sugerem que a alteração do sistema de patentes para estimular a produção de invenções sustentáveis promoveria uma modificação na própria estrutura do sistema. Abriria espaço para uma avaliação subjetiva por parte do Estado do que seria invento sustentável e com isso se aumentaria a incerteza que cerca a concessão do título. Somado a isso, os resultados de um tratamento diferenciado na duração da patente para a produção de inventos sustentáveis levaria a redução do acesso a essa tecnologia pela população. Atualmente, percebe-se que os avanços em termos de melhorias quanto ao gasto energético e quanto ao consumo de matéria-prima são constantes pois interessa a empresa reduzir custos na elaboração de seu produto final. Dessa forma, em muitos casos relacionados à sustentabilidade, é interesse da própria empresa realizar tais investimentos, não só em razão do marketing que esse tipo de investimento promove, mas também na redução de custos. Ainda que tal possibilidade de mudança fosse desejada pelo Estado, há que se considerar que o Acordo TRIPS proíbe a discriminação entre setores: “os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente”47. O tratamento preferencial às invenções sustentáveis poderia gerar um tratamento discriminatório em relação às demais tecnologias. Tal possibilidade é proibida pelo acordo TRIPS, e caso um Estado desejasse implementar um tratamento mais favorável aos inventores de tecnologias sustentáveis, outros Estados membros da OMC poderiam questionar tal tratamento no Órgão de Solução de Controvérsias da, ficando o Estado infrator sujeito a sanções. O sistema atual prevê a possibilidade de uma patente não ser concedida caso o invento a ser protegido represente riscos ao meio ambiente. O acordo TRIPS, artigo 27.2 dispõe que: “ Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública 47 40 OMC, Acordo TRIPS, art. 27 ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.” O artigo 27.2 permite aos Estados a rejeição de pedidos de patentes com base no argumento da proteção ao meio ambiente. Seria um meio de desestimular o investimento em inventos potencialmente nocivos ao meio ambiente. Contudo, esse desestímulo tem se provado retórico, pois os Escritórios de Patentes não tem condições de analisar a nocividade de um invento para o meio ambiente e saúde humana. Esse exame é feito pelas agências fitossanitárias. A concessão da patente não significa a aprovação pelas agências sanitárias e vice-versa. No sistema atual de patentes, o meio ambiente é tratado como exceção, como justificativa autorizada para a rejeição de um pedido de patentes. De fato, o sistema de patentes é um dos diversos meios que dispõe o Estado para incentivar a inovação, sua alteração para atender o desejo da sociedade na promoção de tecnologias mais limpas parece não ser a melhor solução para o atendimento deste propósito. O Estado dispõe de outros meios, talvez até mais eficazes, para promover o investimento em invenções sustentáveis. É o caso, da regulação da emissão de gases, do controle dos resíduos, da proibição de uso de materiais nocivos, da obrigatoriedade de apresentação do estudo de impacto ambiental, etc. Uma vez que o padrão de controle se eleva, as empresas se veem compelidas a investir em mecanismos que viabilizem o cumprimento da norma. Em se tratando de inovações de ruptura, como, por exemplo, o desenvolvimento de uma nova fonte de energia, sabe-se que os investimentos são altos e que para que estes sejam alcançados o Estado subsidia tais pesquisas. 48 Outro meio seria através da compra pública. Ao se identificar o objeto da licitação, o Estado poderia exigir o cumprimento de padrões ambientais elevados como um dos requisitos, ou como critério de desempate. Ao garantir a compra, se garantiria o mercado, e o risco da iniciativa privada na produção daquele invento seria bastante reduzido. 49 A lei 12.349/2010, inseriu modificações na lei de licitações de modo a permitir tal uso. Na exposição de motivos se lê que: 48 49 GOLDBERG, M. Federal Energy Subsidies: not all technologies are created, Renewable Energy Policy Project, Washington, 2000; Imperial college, London Centre for Energy Policy and Technology (ICEPT) e E4TECH, The UK Innovation System for New and Renewable Energy Technologies, Report for UK Department of Trade and Industry, 2003, disponivel em; http://www.dti.gov.uk/energy/ renewables/policy/iccept2003.pdf. ; Sobre o tema, ver: BARBOSA, Denis Borges ; PLAZA, Charlene d´Ávila. The role of government procurement in regard to development, dissemination, and costs of climate change technologies. Direito da Inovação. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2011, v. , p. 268-290 41 “ Paralelamente, impõe-se a necessidade de adoção de medidas que agreguem ao perfil de demanda do setor público diretrizes claras atinentes ao papel do Estado na promoção do desenvolvimento econômico e fortalecimento de cadeias produtivas de bens e serviços domésticos. Nesse contexto, torna-se particularmente relevante a atuação privilegiada do setor público com vistas à instituição de incentivos à pesquisa e à inovação que, reconhecidamente, consubstanciam poderoso efeito indutor ao desenvolvimento do país.” O incentivo da lei 12.349 não estaria restrito ao desenvolvimento sustentável, mas também ao desenvolvimento tecnológico nacional. Deslocar o discurso sobre a promoção de tecnologias sustentáveis para o direito de patentes é perder de vista todo o arcabouço institucional que dispõe o Estado para incentivar de maneira mais eficiente o desenvolvimento tecnológico sustentável. Isso contudo não quer dizer que nada pode ser feito pelo sistema de patentes atual para promover especificamente as invenções verdes. Recentemente, uma iniciativa de alguns escritórios de patentes (Coréia, Japão, EUA, Grã-Bretanha) prevê a redução do tempo de exame de pedidos relacionados a “patentes verdes”. No Brasil, trata-se de um programa-piloto que deve ser iniciado a partir da RIO+20 e tem previsão de funcionamento durante 1 ano. 4 CONCLUSÃO A neutralidade do sistema de patentes deve ser entendida a partir do princípio da não discriminação entre os setores tecnológicos. Tal princípio integra o núcleo estruturante do sistema atual de patentes. Logo, sua alteração tendo em vista um possível aumento da produção de invenções ambientalmente sustentáveis não se justifica. Não se trata de não consideramos tais inventos relevantes, a questão é que a relação entre ampliação da proteção do titular e aumento dos investimentos em inventos sustentáveis é permeada de incertezas. Além disso, existem meio mais eficientes para estimular um setor tecnológico determinado que alterar todo o sistema de patentes. A utilização de critérios objetivos para a concessão do titulo de patentes é resultado de um longo processo de dissociação do direito de patentes da ideia de privilégio. Uma mudança nos direitos dos titulares em razão do tipo de invento socialmente desejável não representaria um avanço do sistema, mas um retrocesso. 42 PARTE II Tecnologia e Mudanças Climáticas: o papel do sistema de propriedade intelectual 43 CAPÍTULO 3 Propriedade Intelectual e Mudanças Climáticas Natália Braga Renteria1 Sumário: 1 Introdução; 2 Propriedade Intelectual e a Convenção Climática ; 2.1 O Surgimento da propriedade intelectual na Convenção de Mudanças Climáticas ; 2.2 O Desenvolvimento da propriedade intelectual durante as negociações ; 2.2.1 Países Desenvolvidos; 2.2.2 Países em desenvolvimento; 2.3 Texto de negociação em Copenhague ; 2.4 Pós Cancun – A situação atual da discussão; 3. O Papel da PI no clima: pontos da discussão ; 3.1 A influência do caso dos medicamentos ; 3.2 Outros fóruns de discussão ; 3.3 Transferência de Tecnologia e Desenvolvimento; 3.4 Estudos sobre a Propriedade Intelectual e o Clima ; 4 Conclusão 1 INTRODUÇÃO O direito da propriedade intelectual foi ligado diretamente à discussão do aquecimento global do clima quando a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC – sigla em inglês) determinou a transferência de tecnologia aos países do sul como uma das suas prioridades. Desde então, a discussão sobre a propriedade intelectual tem ocupado um papel de destaque nas negociações desta Convenção e do seu protocolo de ação, Quioto. A Convenção Quadro estabelece como obrigação dos países desenvolvidos – chamados de ‘Países do Anexo I’ – não somente a obrigação de reduzir suas emissões dos gases causadores do efeito estufa mas igualmente a obrigação de apoio financeiro e a realização de transferência de tecnologia (TT) para os países em desenvolvimento – chamados de ‘Países do não-Anexo I’. O objetivo da TT neste caso é fomentar o desenvolvimento econômico sustentável dos países do não-Anexo I através do fornecimento de tecnologias renováveis, menos poluentes em relação aos gases do efeito estufa. E os direitos de propriedade intelectual (PI) apresentam-se como um fator chave da discussão uma vez que estes direitos são intimamente li1 Advogada inscrita na OAB/RJ, pesquisadora e doutoranda na Universidade Católica de Louvain – Bélgica. 45 gados à atividade da transferência tecnológica pelo sistema de patentes e direitos co-ligados. Depois dos obstáculos apresentados pelos direitos da PI, que dificultaram o acesso aos medicamentos para os países em desenvolvimento, a discussão atual sobre a influência que estes direitos apresentam para a difusão das novas tecnologias verdes é uma evidência. Assim, a grande discussão do sistema da PI e do desenvolvimento evoluiu do acesso aos medicamentos ao clima. Durante várias passagens das negociações climáticas os países em desenvolvimento fazem alusão aos medicamentos e utilizam a experiência adquirida neste campo para propor alternativas ao monopólio industrial gerado pelo sistema das patentes. Inclusive cabe ressaltar que os países do sul estão utilizando a Convenção Climática como fio condutor para relançar a discussão sobre a aplicação uniforme dos direitos da PI imposta pelo TRIPS. Esta pretensão de “reforma dissimulada” misturada com o aspecto econômico que implica estes direitos transformou esta discussão num assunto de repercussão que ultrapassa a Convenção Climática para chegar à outros fóruns de discussão da PI. O presente artigo propõe a apresentação da discussão sobre o papel que os direitos da propriedade intelectual exerce na questão climática, ou seja, na difusão das tecnologias renováveis. Para isso, o artigo é dividido em dois pontos principais. O primeiro ponto apresenta uma análise da relação da propriedade intelectual com a Convenção sobre as Mudanças Climáticas. Esta análise começa com a apresentação do desenvolvimento da matéria durante as negociações da Convenção para chegar até a situação atual. Entender o que está em jogo e os perigos de omissão que cercam a matéria atualmente tem-se apresentado essencial. O segundo ponto apresenta questões complementares que vêm adicionar informações para a compreensão do assunto, como a relação do desenvolvimento com o clima, o papel da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) na discussão e os últimos estudos sobre a transferência de tecnologia renovável. 2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E A CONVENÇÃO CLIMÁTICA 2.1 O Surgimento da propriedade intelectual na Convenção de Mudanças Climáticas A incitação à transferência internacional de tecnologias, também conhecida como transferência norte-sul, já faz parte da agenda interna46 cional há vários anos, sem que, no entanto, nenhuma tentativa de regulamentação tivesse funcionado com sucesso.2 A Convenção das Nações Unidas sobre mudanças climáticas – chamada em seguida simplesmente de “Convenção” – inclui a transferência norte-sul de tecnologias renováveis como uma das obrigações dos países desenvolvidos para alcançar o objetivo maior da estabilização da concentração de gases do efeito estufa na atmosfera. A imposição desta obrigação para os países do Anexo-I é uma consequência do princípio do reconhecimento das emissões históricas de gases efetuadas por estes países, em conjunto com o princípio “da obrigação comum mas diferenciada”. Portanto, de acordo com o texto desta Convenção, os países desenvolvidos estão engajados à realizar uma transferência tecnológica aos países em desenvolvimento. Levando-se em conta que a Convenção Quadro é um conjunto normativo geral, torna-se necessário a adoção de protocolos conexos para a sua aplicação prática. Este é o caso do Protocolo de Quioto, adotado posteriormente à Convenção e que regulamentou a obrigação dos países desenvolvidos de redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa – estas emissões são chamadas genericamente de “emissões de CO2”. Dentro do Protocolo de Quioto não há a regulamentação da questão da transferência de tecnologia e nenhum outro protocolo foi adotado neste sentido, o que deixou a questão sem aplicação prática até então. Buscando chegar à sua aplicação completa, os países partes à Convenção mantiveram negociações ao longo dos anos e, diante do prazo limitado de validade do Protocolo de Quioto3, estas negociações foram intensificadas a partir da COP 13 em 2007. Este encontro gerou uma série de decisões conhecida como “Folha de rota de Bali”4 que consiste num plano de negociação para a obtenção de um acordo geral para o clima, que se esperava adotar durante a COP 16, em 2009 em Copenhague. A estrutura de negociação adotada sob a determinação de Bali consistiu na criação de dois grupos de trabalhos especiais distintos; um gru2 3 4 Neste sentido encontra-se o abandonado « projeto de código de conduta para a transferência internacional de tecnologias desenvolvido pela Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD em inglês), que apesar de ter chegado à um texto bastante evoluído, não obteve o acordo necessário para a sua adoção. Uma análise do texto e do seu processo negociatório pode ser encontrada no livro “International Technology Transfer – The origins and Aftermath of the United Nations Negotiations on a Draft Code of Conduct” escrito pelos autores Surenda J. Patel e outros. O primeiro período de engajamento do Protocolo é de 2008 à 2012. Esta série de decisões está contida no documento FCCC/CP/2007/6/Add.1, Déc. 1/CP.13, disponível no endereço eletrônico www.unfccc.int. 47 po para negociar as questões ligadas à Convenção (AWG-LCA, sigla em inglês) e outro para negociar o futuro de Quioto (AWG-KP, sigla em inglês) . O trabalho do grupo encarregado de negociar o futuro da Convenção foi dividido em cinco grandes blocos de assuntos especializados, dentre os quais, um grupo especial para a questão da transferência de tecnologia. A criação deste polo de discussão foi a primeira grande evolução do assunto dentro da Convenção com o objetivo de colocar em prática uma transferência norte-sul. Foi assim que dentro deste grupo de discussão começaram as negociações para o estabelecimento de um “mecanismo de transferência de tecnologia”. E é neste ponto que o direito da propriedade intelectual fez a sua aparição oficial nas discussões do clima. A questão foi trazida pela primeira vez para as discussões via uma proposta do G-775, principal grupo que representa os países em desenvolvimento, adotada durante um workshop sobre transferência de tecnologia6 dentro do quadro das negociações do novo acordo. Inclusive vale salientar que, durante todo o processo de negociação, a propriedade intelectual foi uma questão levantada pelos países em desenvolvimento e sempre evitada pelos países desenvolvidos. A proposta do G-77 consistia em uma estrutura para o novo mecanismo de TT baseada em um comitê executivo, responsável duplamente pelos aspectos de orientação político – científica, e um fundo multilateral de financiamento7. Ainda segundo esta proposta, a propriedade intelectual era abordada sob base de duas ideias principais: facilidade de acesso e cooperação no desenvolvimento dos direitos da PI. Outro ponto da proposta que aborda a PI é uma diferenciação entre as tecnologias de propriedade de empresas privadas e as tecnologias de propriedade dos governos. As pri5 6 7 O grupo de países denominado “G-77 + China” é o principal grupo que representa os países em desenvolvimento nas negociações. Trata-se de um grupo bastante heterogêneo que engloba não somente grandes países em desenvolvimento – atualmente chamados de países emergentes, como a China, Índia, Brasil e África do Sul, mas também pequenos países em desenvolvimento, como o Lesoto ou o Malauí. Apesar de muitas vezes o interesse destes países divergirem na prática, a manutenção do bloco é justificada pela força que uma posição comum confere às idéias apresentadas. Este workshop ocorreu em Bonn, cidade da Alemanha que acolhe a Secretaria da Convenção sobre Mudanças Climáticas, em junho de 2008 e a submissão apresentada à Convenção em decorrência deste encontro pode ser encontrada no documento “FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5” de 27 de outubro de 2088. Nota-se que esta orientação inicial apresentada pelo G-77 foi objeto de negociações para evoluir dentro de um primeiro momento para uma estrutura tripartida aonde encontrava-se financiamento, tecnologia e orientação política e, num segundo momento, para uma estrutura simplesmente político -cientifica, aonde o financiamento foi excluído do corpo do mecanismo, como era o desejo dos países desenvolvidos. 48 meiras deveriam ser disponibilizadas à preços abordáveis, inclusive com a eliminação dos entraves impostos pelos direitos da PI, através, principalmente, das licenças obrigatórias. As segundas deveriam ser disponibilizadas gratuitamente ou sob preços reduzidos.8 Nota-se que neste momento os países em desenvolvimento não fizeram nenhuma menção direta ao Acordo TRIPS mas a simples menção às licenças obrigatórias demonstra a intenção destes países de utilizarem as flexibilidades contidas no acordo. 2.2 O Desenvolvimento da propriedade intelectual durante as negociações Durante os dois anos de negociações que separaram Bali de Copenhague a posição dos países desenvolvidos e em desenvolvimento permaneceu de completa oposição, tornando a PI um entrave nas negociações do novo mecanismo de TT. 2.2.1 Países Desenvolvidos Em seguida à primeira proposta do G-77, os países desenvolvidos evitavam tratar do tema propriedade intelectual alegando que a Conferência Climática não era o local adequado para discutir a questão. A posição da União Europeia (UE) consistiu em afirmar que os direitos de propriedade intelectual não estavam em negociação. Durante a presidência francesa da UE, a proposição da Europa sobre o mecanismo de TT fazia apenas uma menção discreta, mas clara, sobre a PI afirmando que a regulação das mudanças climáticas se apoiava por medidas de proteção destes direitos9. Em seguida, a posição Europeia foi a de não abordar mais o assunto e mantê-lo fora das discussões, de acordo com os textos apresentados pelas sucessivas presidências da UE10. Por sua vez, os Estados Unidos nunca fizeram menção à estes direitos ao longo de todas as suas propostas. A orientação americana era de não tocar no assunto para não dar abertura à discussão. Essa posição foi o reflexo de uma forte pressão interna no país, que resultou na adoção de uma resolução pela “Casa dos Representantes dos EUA” lembrando ao 8 9 10 BRAGA RENTERIA, Natália. Le transfert de technologie dans la négociation internationale du climat. L’entreprise face au droit des quotas de CO2. Direção de Denis Philippe e Cédric Cheneviere, Larcier, 2011, Bruxelles. Proposição depositada pela França no dia 14 de novembro de 2008 em nome da União Europeia, disponível no endereço eletrônico www.unfccc.int. As presidências da UE que se seguiram à da França foram exercidas pela Republica Tcheca e pela Suécia. A proposição Tcheca é datada de 28 de abril de 2009 e pode ser encontrada no endereço www.unfccc.int. 49 presidente que este deveria assegurar a proteção dos direitos da PI dentro das negociações do clima.11 2.2.2 Países em Desenvolvimento A posição brasileira sempre foi a de moderação quando o assunto é direitos da propriedade intelectual. O Brasil defendeu uma solução que combine proteção destes direitos com a facilitação de acesso ao seu uso, fazendo referência à Declaração de Doha do Acordo TRIPS.12 A China adotou em princípio uma linguagem bastante forte, defendendo a utilização das licenças obrigatórias para lutar contra os “efeitos nocivos do poder monopólio” gerado pela PI13. No entanto, em seguida, este país abrandou o tom de suas intervenções, fazendo apenas uma referência à necessidade de “medidas específicas” para tratar do assunto14. Os países menos desenvolvidos por sua vez, fizeram intervenções lembrando que a propriedade intelectual deveria ser tratada de maneira diferente em relação à eles quando comparados aos países emergentes que apresentam um quadro industrial já desenvolvido. Isso porque o acesso tecnológico e a capacidade de absolvição da tecnologia transferida é feita de maneira mais precária. Neste sentido, o Lesotho15 afirmou que os países menos desenvolvidos utilizarão as novas tecnologias originárias dos países desenvolvidos como uma “caixa preta”, uma vez que estes países não serão capazes de copiá-las ou adaptá-las. Dentro desta lógica, a PI não será um fator determinante para os países menos desenvolvidos, assim como o é para os países emergentes, verdadeiros alvos do sistema da PI. Apesar desta ressalva apresentada pelos próprios países menos desenvolvidos em suas propostas individuais, a questão de como considerar a PI continuou sendo tratada de maneira uniforme pelos países em desenvolvimento, que mantiveram a posição de colocar a questão em destaque. Seguindo então a estratégia de forçar uma discussão sobre os direitos da propriedade intelectual dentro da negociação, os países em desenvolvimento fizeram uma série de propostas sobre o assunto em diferentes 11 12 13 14 15 Lee Berenice, Lliev Llian e Preston Felix, Who Owns Our Low Carbon Future ? A Chatham House Report, 2009. Documento FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5, proposta depositada em 30 de setembro de 2008, disponível no endereço www.unfccc.int. Depósito da proposta em 28 setembro de 2008, FCCC/AWGLCA/2008/MISC.5. Depósito da proposta em 24 de abril de 2009, FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (part I) de 19 maio de 2009. FCCC/AWGLCA/2009/MISC.4 (Part II) de 19 maio de 2009. 50 partes do texto geral. Assim, o projeto de texto de negociação formado antes de Copenhague, apresentava nada menos que quatro pontos de referência à estes direitos além do ponto específico à TT16. Esse crescimento do assunto dentro da negociação é resultado não somente do impasse entre os países mas também de uma falta de direção dos órgãos técnicos da Convenção, criados especialmente para informar os países sobre diversos assuntos. Neste caso especifico, trata-se do “Grupo de Experts em Transferência de Tecnologia”. O objetivo da criação deste grupo, na COP 7 em Marrakesh, foi o de fornecer conselhos técnicos e científicos para a criação do mecanismo de transferência de tecnologia da Convenção graças à apresentação de relatórios regulares. No entanto, nenhum dos trabalhos publicados apresentou elementos úteis para tratar a matéria da PI. Uma das poucas referências ao assunto foi feita de maneira vaga e ambígua em um relatório apresentado em Bonn em 2009. Segundo esta referência, “para o sucesso da transferência de tecnologia é necessário que se trate de maneira equilibrada a propriedade intelectual”. No entanto, o significado e os meios desta “maneira equilibrada” de se tratar a PI não foram identificados. Toda esta falta de liderança na matéria, assim como a grande oposição de interesses entre os países do norte e do sul, fizeram com a que a propriedade intelectual fosse um dos assuntos de maior impasse durante as negociações. 2.3 Texto de negociação em Copenhague Foi durante a reunião de Copenhague que a discussão sobre o papel da propriedade intelectual no clima atingiu o seu ápice. Muitos alegavam inclusive que a PI estava sendo utilizada pelos países em desenvolvimento como ‘moeda de troca’ dentro das negociações. No texto submetido para negociação entre as partes em Copenhague via-se claramente o impasse da discussão. Duas opções apresentavam-se no texto. A primeira, defendida pelos países desenvolvidos, propunha ‘nenhuma menção aos direitos da PI’. A segunda, defendida pelos países em desenvolvimento, afirmava que estes direitos constituem uma barreira à TT e propunha uma série de flexibilizações ao seu uso, como listado no quadro abaixo17. 16 17 Documento FCCC/AWGLCA/2009/14, disponível no endereço eletrônico www.unfccc.int. BRAGA RENTERIA, Natália, op.cit., p. 220. 51 § 17 do texto de negociação: Opção 1: Nenhuma referência aos direitos da propriedade intelectual. Opção 2: 1. Criação de uma reserva mundial de direitos da propriedade intelectual (ou patent pools), que permita aos países em desenvolvimento de obter um acesso irrestrito e sem a necessidade do pagamento de remuneração. 2. Adoção de disposições para garantir a disponibilidade de tecnologias e de know-how relacionados que foram financiados por fontes públicas. 3. A exclusão da proteção da PI para todas as tecnologias renováveis ligadas às mudanças climáticas de maneira ampla. 4. Permitir aos países em desenvolvimento a utilização de todas as tecnologias previstas no TRIPS, inclusive a concessão de licenças obrigatórias. 5. Instituir como obrigação do comitê executivo do novo mecanismo de transferência de tecnologia, a recomendação de medidas internacionais para apoiar a eliminação de obstáculos ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias, principalmente aqueles que resultam da PI. A matéria não foi mais desenvolvida do que estas opções genéricas apresentadas. Os países em desenvolvimento não apresentaram propostas concretas de como tornar estas disposições de flexibilidade uma realidade. Ao fim do encontro em Copenhague, as duas opções opostas permaneciam intactas18. Nos meses que separaram Copenhague de Cancun, a discussão continuou bloqueada neste ponto e as opções presentes no texto não se alteraram. 2.4 Pós Cancun – A situação atual da discussão O sommet de Cancun foi considerado a reunião de salvação das negociações da Convenção. Após o fracasso da reunião de Copenhague, baseado não somente na falta de um acordo sobre os temas da negociação, mas principalmente por conta da perda de confiança entre os países19, avançar sobre alguns pontos era essencial para a retomada das negociações. 18 19 FCCC/AWGLCA/2009/L.7/Add.3 de 15 dezembro de 2009. A perda de confiança dos países em desenvolvimento nos países desenvolvidos foi causada por uma acusação contra a Presidência da Dinamarca – que guiava as negociações – de desenvolver contatos bilaterais entre os países desenvolvidos, excluindo do processo os países em desenvolvimento, numa tentativa de impor decisões. 52 Assim, dentro desta vontade de salvar a governança das nações unidas no processo climático, foram adotados os “Acordos de Cancun”. Estes acordos nada mais foram do que a adoção de pontos não polêmicos do texto das negociações, como uma sinalização da vontade de continuar negociando. Um dos pontos que se beneficiou deste pacote de acordos foi o da transferência de tecnologia. Nota-se que uma estrutura para o chamado ‘mecanismo de transferência de tecnologia’ foi adotada, o que representou o maior avanço para o tema até então dentro da Convenção.20 Apesar deste marco, vale salientar duas ressalvas em relação à adoção deste mecanismo. Primeiro, não se trata de um verdadeiro ‘mecanismo de mercado’ como encontramos em Quioto, verdadeiro responsável pelo sucesso deste Protocolo, neste caso trata-se de uma estrutura institucional de cooperação. Segundo, a estrutura adotada é baseada em linhas genéricas de conduta não apresentando ainda nenhuma estrutura de funcionamento prática, caracterizando uma ‘casca vazia’. Os direitos da propriedade intelectual foram uma das vítimas desta falta de recheio do mecanismo adotado. Ao fim das discussões nesta reunião, a posição defendida pelos países desenvolvidos foi a posição vencedora naquele momento, e toda referência à utilização destes direitos foi suprimida não somente do texto adotado mas também do texto não acordado que continuou em negociação. No entanto, no início de 2011, numa das primeiras reuniões após o sommet, os países em desenvolvimento já recolocaram o assunto da propriedade intelectual na mesa, provando que a exclusão ocorrida em Cancun não foi realmente uma opção para estes países. Foi assim que no ‘Encontro Ministerial do BASIC’21 ocorrido em 26 e 27 de fevereiro de 2011 foi declarado a vontade dos países emergentes de rediscutirem a questão, e em seguida no mês de março de 2011, em outro encontro ministerial no México, a Índia reforçou a necessidade de discutir a PI no clima. E assim, outras declarações extra-Convenção se seguiram para dar o tom ao assunto durante o ano de 2011. Finalmente, ao fim de 2011 e pouco antes do sommet de Durban, a Índia apresentou oficialmente à Convenção uma proposta para retomar o assunto da PI dentro das discussões.22 20 21 22 FCCC/CP/2010/7/Add.1 de 15 de março de 2011. “BASIC” é a sigla em inglês que denomina os países emergentes, ou seja, Brasil, Africa do Sul, India e China. FCCC/CP/2011/INF.2/Add.1 53 Segundo este país, muitas das tecnologias necessárias para ajudar a Índia e outros países em desenvolvimento à alcançar um crescimento de baixa emissão de CO2 estão fora do seu alcance devido aos direitos da propriedade intelectual e custos proibitivos. A Índia defende então um regime que equilibre a compensação dos inventores com a possibilidade dos países em desenvolvimento de utilizarem estas tecnologias para atingir seus objetivos de redução de emissões e adaptação às mudanças climáticas.23 A proposta da Índia utiliza um tom moderado, que demonstra a vontade de respeito do sistema da PI existente garantindo, entretanto, o necessário acesso às novas tecnologias. Essa proposta chega num tom bastante diferente do tom utilizado anteriormente que muitas vezes se baseava na exclusão total das tecnologias do sistema de proteção da PI. Talvez esta retomada das negociações num tom mais equilibrado favoreça avanços úteis na discussão. 3 O PAPEL DA PI NO CLIMA: PONTOS DE DISCUSSÃO 3.1 A influência do caso dos medicamentos A discussão atual sobre a relação entre a PI e a transferência de tecnologia dentro da Convenção foi essencialmente influenciada pela experiência vivida pelos países do sul em relação ao acesso aos medicamentos. A declaração de Doha seguida da declaração especifica teve como objetivo confirmar a possibilidade da utilização das exceções contidas no TRIPS, esclarecendo quando e como as flexibilidades do acordo podem ser utilizadas em relação à saúde pública. Esta declaração, portanto, liga a questão do desenvolvimento às flexibilidades na aplicação uniforme das regras. Uma combinação perigosa para os países desenvolvidos e uma referência importante para os países em desenvolvimento. Evitar uma declaração de Doha para o clima é o objetivo dos países do norte, enquanto a existência de Doha é um estimulo para os países do sul forçarem a discussão da PI dentro da Convenção. No entanto, vale ressaltar que a referência do acesso aos medicamentos deve ser utilizada com cautela. Isto porque a disponibilidade das tecnologias climáticas e a concorrência neste meio ocorrem de maneira essencialmente diferente dos medicamentos. 23 54 Página 3 da proposta. Enquanto que nos medicamentos uma única empresa pode controlar a única droga disponível contra certa doença, as tecnologias climáticas são múltiplas e uma mesma tecnologia pode ser dominada por várias empresas, o que diminui a força do monopólio criado pelo depósito de patentes. Embora seja claro que o cenário no qual a PI se apresenta na saúde não é idêntico àquele do clima, fica claro que em ambos os casos encontramos referência à ordem pública e como lidar com os direitos uniformes impostos pelo TRIPS diante de quadros de importância pública imperiosa aos países do sul. Neste sentido, a própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) realizou seminário em que reagrupa dentro da mesma discussão as questões de acesso aos medicamentos, mudanças climáticas e segurança alimentar, demonstrando que é pertinente a comparação entre os temas.24 3.2 Outros fóruns de discussão A relação da propriedade intelectual e do clima é também objeto de discussão na OMPI. Trata-se de um debate tímido que surgiu dentro do quadro da Agenda pelo Desenvolvimento25 e que, até agora, apesar de apresentar algumas iniciativas26, se mostrou mais protocolar que efetivo. Muitos entendem que esta dinâmica demonstra a vontade da OMPI de resgatar um pouco da sua liderança em matéria de propriedade intelectual – perdida para a OMC após o TRIPS – e de estar pronta para assumir uma negociação sobre o assunto se assim indicar a Convenção climática. Dentro das negociações da Convenção, uma das opções possíveis é de encaminhar toda discussão que envolva a relação entre propriedade intelectual e clima à OMPI, garantindo assim um fórum de discussão dentro das Nações Unidas - o que é importante para os países em desenvol24 25 26 Conferências da OMPI realizadas em Geneva, em julho de 2009 e agosto de 2011. A Agenda pelo Desenvolvimento foi uma iniciativa dos países em desenvolvimento, na qual o Brasil foi um dos países chaves para a sua criação, que consiste em uma reação dos países do sul contra as regras restritivas impostas pelo regime internacional da propriedade que possam frear o desenvolvimento econômico e social destes países. Ela foi criada em 2007 e estabeleceu uma série de 45 recomendações visando a aproximação da propriedade intelectual às preocupações ligadas ao desenvolvimento. Dentre estas iniciativas podemos citar a criação do “Comitê do Desenvolvimento e da Propriedade Intelectual – CDIP”, instituído pela Assembléia Geral através do documento A/43/16. Outra série de iniciativas foi a elaboração de duas conferências para discutir o assunto, ocorridas na sede desta organização em junho de 2009 e agosto de 2011. 55 vimento - mas ao mesmo tempo, excluindo a matéria do acordo climático - o que é da vontade dos países desenvolvidos. 3.3 Transferência de Tecnologia e Desenvolvimento Duas discussões importantes surgiram a partir da análise da relação entre a propriedade intelectual e o sistema climático. Em primeiro, foi identificado que discutir a propriedade intelectual dentro do clima é discutir o desenvolvimento dos países, daí a grande dificuldade do assunto. As tecnologias exigidas pelos países em desenvolvimento visam dois objetivos: tecnologias que permitam uma redução da emissão de CO2 na atmosfera e tecnologias que permitam à estes países de se adaptarem às alterações climáticas causadas em seus territórios. Ambas as formas de tecnologias são formas de desenvolvimento econômico. E muitos países desenvolvidos veem nesta situação uma forma de financiamento de um desenvolvimento econômico de base interior aos países que não é uma obrigação dos países desenvolvidos. Esclarecer o objetivo da transferência de tecnologia e definir quais são as tecnologias alvos deste processo é um exercício fundamental para os países em desenvolvimento. Daí a afirmação de que o primeiro passo dentro do processo de transferência norte-sul deve ser dado pelos países receptores da tecnologia. O que coloca os países em desenvolvimento numa posição pró-ativa no processo e não simplesmente passiva. Em segundo, surgiu a questão de saber o que deve vir primeiro: i) um desenvolvimento tecnológico de base que permita a recepção das tecnologias de baixa emissão de carbono ou ii) a transferência de tecnologia que permita o acesso à este desenvolvimento. Existe uma corrente na doutrina27 que defende que para que se ocorra uma verdadeira transferência de tecnologia, os países receptores devem dispor de um poder de negociação real (barganing power) para que acordos benéficos (win-win) para ambas as partes sejam possíveis. Segundo esta ideia, os países em desenvolvimento só conseguirão ser atores do processo de transferência de tecnologia quando eles forem capazes de participar de negociações pela transferência dentro de uma real concorrência de mercado. 27 CANNADY, Cynthia. Access to Climate Change Technology by Developing Countries : A Practical Strategy. ICTSD’s Programme on IPRs and Sustainable Development, Issue Paper No. 25, International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, 2009. 56 Esta posição exige que os países em desenvolvimento disponham de dois tipos de capacitação: uma técnica, que envolve o conhecimento tecnológico e outra humana, que envolve a disponibilização de pessoas aptas para a realização de negociações. Este quadro perfeito de transferência atinge principalmente os países emergentes, que apresentam um desenvolvimento tecnológico suficiente para dispor da tecnologia exportada ou importada, assim como uma formação humana de boa qualidade. No entanto, este quadro não contempla os países menos desenvolvidos que não apresentam uma capacitação tecnológica/humana competitiva. Para responder à exigência de uma transferência tecnológica para os países menos desenvolvidos, é necessário que ocorra em primeiro lugar uma sequência de canais de transferência tecnológica menos sofisticados dentro de uma trajetória de desenvolvimento. Assim sendo, não é possível iniciar uma transferência de tecnologia via contratos de licença de patentes nestes países. O que decorre desta discussão é que uma resposta única à questão de saber como realizar a transferência de tecnologia para os países em desenvolvimento não é possível, a diversidade de realidades entres estes países exige uma análise individual e uma resposta adaptada à cada realidade econômica. Afinal, a estratégia de uniformização de tratamento já demonstrou a sua ineficácia dentro dos acordos internacionais que aqueles que trabalham com a propriedade intelectual conhecem bem. 3.4 Estudos sobre a Propriedade Intelectual e o Clima Uma das dificuldades que cercaram a discussão da relação entre a propriedade intelectual e o clima foi a falta de estudos práticos sobre o assunto. Responder às questões de saber quais tecnologias tem o seu uso limitado pela PI e qual a extensão desta limitação é essencial para o avanço do debate. Assim, a partir de 2005 surgiu uma onda de estudos sobre o tema. Barton (2007)28 realizou um estudo teórico sobre as tecnologias solar, eólica e bicombustível em três países emergentes: Brasil, China e Índia. Entre as suas conclusões, foi identificado que o objeto dos depósitos de patentes são as melhorias e funcionalidades específicas das tecnologias e não as tecnologias de base. Com este resultado, o autor defende que a PI 28 BARTON, John H. Intellectual Property and Access to Clean Energy Technologies in Developing Countries : An Analysis of Solar Photovoltaic, Biofuels and Wind Technologies. ICTSD Trade and Sustainable Energy Series Issue Paper No. 2. International Centre for Trade and Sustainable Development, Geneva, Switzerland, 2007. 57 não é uma barreira importante à TT norte-sul uma vez que os países em desenvolvimento tem acesso à grande parte da tecnologia disponível no mercado. Já Copenhagen Economics (2009)29, através de um estudo estatístico de depósito de patentes de sete energias renováveis, analisou as patentes em países emergentes e em desenvolvimento durante o período de 10 anos (1998-2008). O resultado sugere que o custo elevado de certas tecnologias renováveis recentes é mais ligado à imaturidade destas tecnologias que aos direitos da PI. Outra constatação do estudo foi a enorme concentração de depósitos em poucos países emergentes, demonstrando que a falta de depósitos nos países menos desenvolvidos caracteriza que estes países não podem ser alvo de eventuais barreiras impostas pela PI. Outro estudo desenvolvido pelo CERNA (2009)30 sob base de 81 escritórios de patentes no mundo, incluindo países de todos os níveis de desenvolvimento e cobrindo o período de 1978 à 2003, constatou um “efeito Quioto” no depósito de patentes após a adoção do protocolo, com um grande aumento do número de depósitos a partir de 1999. Este fato confirma a influência dos tratados internacionais do meio-ambiente no mundo empresarial de desenvolvimento de novas tecnologias. Finalmente, cabe ressaltar que o estudo desenvolvido pelo ICTSD/ OEB/PNUE (2010)31 propôs uma nova classificação específica às tecnologias ligadas às mudanças climáticas desenvolvida e adotada pelo Escritório Europeu de Patentes, que apesar de exclusiva à este escritório, fornece uma fonte preciosa de identificação destas tecnologias. Outra contribuição do estudo foi a de identificar que os pedidos de depósito de patentes ligados à tais tecnologias aumentaram em geral 20% por ano depois de 1997, o que confirma o resultado do estudo realizado pelo CERNA e a importância de Quioto no desenvolvimento de novas tecnologias. 29 30 31 Copenhagen Economics and The IPR Company. Are IPR a barrier to the transfer of climate change technology ?, Copenhagen, 2009. DECHEZLEPRÊTRE, Antoine ; GLACHANT, Matthieu ; HASCIC, Ivan ; JOHNSTONE, Nick ; MÉNIÈRE, Yann. Invention and Transfer of Climate Change Mitigation technologies on a Global Scale : a Study Drawing on Patent Data, CERNA, Mines Paris Tech, 2009. Patents and clean energy : bridging the gap between évidence and Policy. The United Nations Environment Programme (UNEP) ; the European Patent Office (EPO) and the International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD), 2010. 58 Infelizmente, até o presente momento, poucos estudos se dedicaram à este exercício, e estes poucos disponíveis fazem estudos econômicos, baseando-se principalmente na análise do depósito de patentes. Ora, por máximo que esta proposta de estudo apresente a vantagem de se basear sobre dados mesuráveis de avaliação – o número de depósito de patentes realizados – ela não leva em consideração a extensão da matéria e tão pouco os vários canais de transferência de tecnologia disponíveis. Novos estudos que abordem a importância dos contratos de licença de patentes, de contratos de know how e, ainda, de outros canais, se mostra importante para uma melhor compreensão do assunto. 4 CONCLUSÃO A discussão do papel dos direitos de propriedade intelectual no clima é um reflexo de um movimento de contestação e reforma destes direitos que ultrapassa a questão climática. O que os países em desenvolvimento estão buscando com esta contestação é muito mais do que uma flexibilização da aplicação dos direitos da PI, mas sobretudo, um retorno ao respeito da diversidade nacional, enfraquecida depois da adoção do Acordo TRIPS. O movimento contestatório que ocorre via a Convenção Climática é uma escolha inteligente dos países em desenvolvimento, pois além de possibilitar a reabertura da discussão da utilização destes direitos limitada pelo TRIPS, ela pode efetivamente trazer benefícios práticos para estes países, via o fornecimento de projetos tecnológicos dentro da Convenção. No entanto, o desafio de reabrir a discussão e obter um resultado prático ainda não está ganho. Pelo contrário, até o momento, os países desenvolvidos obtiveram a vantagem de oficialmente afastar a questão do texto do acordo climático adotado. Mas a pressão exercida pelos países em desenvolvimento continua forte dentro das negociações e a criação de um fórum específico para a discussão da relação entre a PI e o clima tem de ser o objetivo destes países. E dentro deste fórum ou dentro de toda e qualquer discussão sobre o assunto, um passo importante será dado quando for assegurado o principio básico da propriedade intelectual de “promover a inovação e recompensar os inventores” como base de toda contestação na utilização destes direitos. 59 Nenhuma discussão séria sobre eventuais flexibilidades na utilização das regras existentes da propriedade intelectual pode ser desenvolvida sem o respeito deste principio básico do sistema. Discutir os vários aspectos da questão e, sobretudo, levar em consideração os vários interesses dos países envolvidos é a única forma possível de abordagem deste assunto limítrofe entre o jurídico-político. 60 CAPÍTULO 4 A lei de patentes deveria ajudar a resfriar o planeta? Um questionamento do ponto de vista da lei ambiental? Parte 1* Estelle Derclaye** Sumário: 1 Introdução; 2 A proteção do meio ambiente e a redução das emissões dos gases do efeito estufa: um papel exclusivo da legislação ambiental? ; 2.1 Legislação Ambiental em poucas palavras ; 2.1.1 Princípios Gerais; 2.1.1.1 O princípio do desenvolvimento sustentável; 2.1.1.2. Os princípios da precaução e da prevenção ; 2.1.1.3 O princípio do poluidor pagador ; 2.1.1.4 Princípio da retificação dos danos ambientais na fonte; 2.1.1.5 Princípio da Integração; 2.1.1.6. Natureza jurídica dos princípios ambientais; 2.1.2. Regulamentação específica das emissões de gases de efeito estufa ; 2.1.2.1. Quadro Internacional; 2.1.2.2. Quadro comunitário; 2.1.2.3 Conclusão; 2.2 Implicações da lei ambiental para a lei de patentes; 2.2.1. Implicações dos princípios gerais; 2.2.2. Implicações nas regras específicas; 2.3 Nenhum relacionamento antagônico: leis de patente e leis ambientais podem trabalhar juntas 1 INTRODUÇÃO Atualmente é praticamente banal dizer que o aquecimento global é um dos problemas mais prementes que estamos enfrentando. Poucos também negariam que a causa do efeito estufa e a mudança de clima relacionada a ele seja o homem1. O que não foi muito notado até agora * Este texto intitulado na versão inglesa original: “Should patent law help cool the planet? An inquiry from the point of view of environmental law: Part 1.” foi publicado em International Energy Law Review, 2009, 5, p. 186-201. A tradução para a língua portuguesa foi feita por Girlayne Costa Faria. ** Professora de Direito da Propriedade Intelectual na Universidade de Nottingham, Mestre em Direito pela George Washington University (LLM) de Doutora pela Queen Mary University of London. 1 “Em novembro de 2007, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) finalizou o seu Quarto Relatório de Avaliação (AR 4), resumindo seis anos de pesquisa científica rigorosa e análise da forma como o clima mundial está mudando. Este relatório de referência, certamente não será a última palavra no debate sobre mudanças climáticas, mas estabelece, indubitavelmente, que as emissões de gases de efeito estufa resultantes da atividade humana estão gerando o aquecimento global, o que pode ter um impacto devastador sobre as pessoas, nossas economias e nosso meio ambiente” (ênfase adicionada). Ver: http://ec.europa.eu/environment/climat/ campaign/news/news08en.htm [Acessado em 20 de janeiro de 2009]. Relatório disponível no sítio: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm [Acessado em 20 de janeiro de 2009]. 61 é que esta emissão extraordinária de gases de efeito estufa (GHG) na atmosfera da Terra pode ser devida, em grande parte às nossas leis de patentes. De fato, o principal objetivo das leis de patentes é incentivar o desenvolvimento industrial e tecnológico, que por sua vez cria poluição, incluindo a liberação de gases de efeito estufa. A questão é, portanto, se a lei de patentes deve desempenhar um papel na proteção do ambiente e mais especificamente no resfriamento do planeta. A primeira sub-questão a ser discutida é se as justificativas da patente atendem a este objetivo. Este é o assunto de outro artigo2. Ele revela que, apesar da neutralidade externa às leis de patentes, este último na verdade, já atende a alguma medida de proteção do ambiente através do art.53.a da Convenção de Patentes Europeia (EPC)3 e as correspondentes disposições nacionais. A pesquisa também mostra que as justificativas atuais não impedem que sejam consideradas as preocupações ambientais, mais particularmente a mudança climática, sendo que alguns parecem até ser receptivos a ela. A esta luz, considera-se que as justificativas e as leis de patentes devem ser repensadas para incluir metas ambientais. A próxima pergunta é, não obstante esta conclusão, se a lei de patentes deve ser cumprir este papel além da legislação ambiental. E em caso afirmativo, qual o papel - modesto ou mais pronunciado - que deverá desempenhar na prevenção da poluição e de redução de gases de efeito estufa em particular, e como ela deve ser implementada na prática. Este artigo visa fornecer uma resposta para estas perguntas. Este vai mostrar que qualquer que seja o posicionamento da lei de patentes positiva e suas justificativas filosóficas, na União Europeia, as leis de patente têm que levar em conta as leis ambientais, porque o Tratado de Comunidade Europeia (ECT)4 as obriga. Este artigo está dividido em duas partes. A primeira parte analisa os princípios gerais do meio ambiente, como eles se aplicam a questão da mudança climática, e suas regras específicas relacionadas ao aquecimento global de forma a descobrir qual é o impacto das leis ambientais nas leis de patente. A segunda parte, que deve ser publicada na próxima edição da International Energy Law Review, analisa como a lei de patente pode ajudar ainda mais a reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera, acima da lei ambiental vigente. Ele analisa os possíveis di2 3 4 E. Derclaye, “Patent law’s role in the protection of the environment - Re-assessing patent law’s functions and justifications in the 21st century” [2009] 3 IIC 249-273. A Convenção Europeia de Patentes (EPC) art 53.a dispõe: “As patentes Europeias não devem ser concedidas para: (a) invenções cuja publicação ou exploração seja contrária à ‘ordem pública’ ou à moralidade, não podendo a exploração de uma invenção ser considerada como tal simplesmente por ser proibida por lei ou regulamentação, em algum ou todos Estados contratantes.” Versão consolidada do Tratado que institui a Comunidade Europeia [2002] OJ C325/33. 62 ferentes sistemas que podem ser postos em prática, determina qual é o melhor, e determina um método para verificar a eco-amizade de uma invenção e quem deve arcar com o ônus da prova. O artigo conclui que as leis de patente precisam urgentemente abordar questões ambientais e mais particularmente o problema da mudança climática defendendo a adoção de um sistema misto. O foco está nas leis de meio ambiente e de patente, em âmbito nacional e europeu. O problema específico abordado é o aquecimento global. Muitas das conclusões podem também se aplicar a proteção ambiental em geral, embora mais pesquisa seja necessária para fazer esta extrapolação genérica. 2 A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E A REDUÇÃO DAS EMISSÕES DOS GASES DO EFEITO ESTUFA: UM PAPEL EXCLUSIVO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL? As leis de patente devem abordar o aquecimento global ou as leis ambientais são suficientes? Em outras palavras, este último já aborda adequadamente o problema? O argumento de que a lei de patente não deveria ser modificado para garantir tratamento específico às invenções ecológicas e mais especificamente aquelas que emitem menos gases de efeito estufa sejam preteridas em vista do quadro jurídico-ambiental já existente? Visando responder esses questionamentos é necessário examinar o que as leis ambientais na verdade fornecem (seção 2.1).Com o objetivo de descobrir qual o papel que as leis ambientais desempenham na redução das emissões, uma avaliação dos princípios gerais da lei de meio ambiente (seção 2.1.1.) e, as regras mais específicas relacionadas a redução de emissões nesta ordem. (seção 2.1.2.). Será visto que a lei ambiental é um bom ponto de partida, mas que mais precisa ser feito, não só através das leis ambientais por si só, mas também por meio das leis de patente devido a certos princípios orientadores da legislação ambiental. (seção 2.2). A análise das normas de meio ambiente também mostra que virtualmente não existem conflitos entre as leis de patente e de meio ambiente. 2.1 Legislação Ambiental em poucas palavras 2.1.1 Princípios Gerais Antes de examinar os princípios gerais que regem a legislação ambiental da UE, é necessário esclarecer o que, legalmente falando, a noção de meio-ambiente cobre. A definição de meio ambiente varia, mas principalmente inclui tudo, para além de seres humanos, ou seja, terra, ar, 63 água, flora e ecossistemas naturais5. De acordo com a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (UNCTAD) a interpretação do Acordo sobre Aspectos relacionados com o Comércio dos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS), o ambiente se refere aos “ objetos ao redor, regiões ou condições especialmente circunstâncias da vida de pessoas ou da sociedade6. Embora ���������������������������������� o Tratado da Comunidade Europeia não conceitue meio ambiente, pode-se derivar uma ampla definição dos art. 174.1 e 175.2. Assim, na União Europeia, o ambiente inclui seres humanos, recursos naturais, uso da terra, ordenamento do país, herança arqueológica e natural, resíduos, água, ar, fauna e flora7. Legislação ambiental é, talvez, melhor definida pelo conceito de desenvolvimento sustentável, que reconhece que a natureza e as atividades humanas estão fundamentalmente interconectados e interdependentes8. O conceito de desenvolvimento sustentável é, em si parte do ordenamento jurídico europeu como será examinado a seguir. O Tratado da Comunidade Europeia (ECT) exige a proteção do meio ambiente. Proteção ambiental é tratada em dois lugares diferentes no Tratado, nomeadamente nos arts.. 2 e 6 (no âmbito de Pt I “Princípios”) e nos arts. 174, 175 e 176 (em Pt III, Título XIX “Meio-Ambiente”). Os primeiros quatro princípios ambientais (ou seja, o princípio da prevenção, do poluidor-pagador, princípio da correção na fonte e o princípio da integração) foram introduzidos no Tratado em 19879. Os quatro primeiros são consagrados no art.174 do ECT, enquanto o último está previsto no artigo 610. O princípio da precaução foi adicionado mais tarde no Tratado e entrou em vigor em 01 de novembro, 199311. A noção de desenvolvimento sustentável foi adicionada em 1997 no Tratado de Amsterdã, que entrou em vigor em 1999 (art.2)12. Os artigos 174-176 são 5 6 7 8 9 10 11 12 J. Thornton and S Beckwith, Environmental Law, 2nd ed. (London: Sweet & Maxwell, 2004), p.5; P. Stookes, A Practical Approach to Environmental Law (Oxford: Oxford University Press, 2005), p.12. A. Plomer et al, “Stem cell patents: European patent law and ethics report”, Comissão Europeia, 2007, p.95 citando United Nations Conference on Trade and Development’s (UNCTAD) “Resource Book on TRIPS and Development: An authoritative and practical guide to the TRIPS Agreement, http://www.iprsonline.org/unctadictsd/resourcebookindex.htm [Acessado em 20 de Janeiro de 2009], atualizada em 1º de Junho de 2005, p.376 obtida em: Concise Oxford Dictionary, p.323. L.Krämer, EC Environmental Law, 6th edn (Sweet & Maxwell, 2006), pp.1-2. A inclusão de ordenamento do território mostra que o ambiente também inclui o ambiente antrópico Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, pp.6 e 12. Krämer, EC Environmental Law, 2006, pp.21 e 8-9. O princípio da integração originado em 1987 no art. 130 R (2) do European Community Treaty (ECT) e foi revisto em 1922 e 1999 ,N. Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, (Groningen, 2003), p.16. Douma “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 132. Uma versão embrionária da noção de desenvolvimento sustentável já existia em Maastricht Treaty in 1992. S. Bell and D.McGillivray, Environmental Law, 6th edn (Oxford: Oxford University Press, 2006), p.197. 64 definidos de forma tão abrangente que dificilmente qualquer área da política ambiental é deixada fora da competência da União Europeia13. Estes princípios e regras são, então, elaborados em legislação secundária. Aplicam-se a políticas ambientais em geral e, portanto, também para a redução das emissões de GHG. A maioria destes princípios são também consagrados em convenções internacionais14 e na legislação nacional15. O Tratado também estabelece quatro objetivos nos arts.. 174-176, ou seja, preservar, proteger e melhorar a qualidade do ambiente, proteger a saúde humana, utilizando os recursos naturais de forma prudente e racional e promover medidas em nível internacional para lidar com os problemas de regionais e mundiais meio- ambiente. Não existe hierarquia entre eles, por vezes eles entram em conflito16. As disposições mais importantes para os nossos propósitos são os seis princípios acima enumerados. Eles serão examinados a seguir. 2.1.1.1 O princípio do desenvolvimento sustentável O conceito de desenvolvimento sustentável está disposto nos arts.. 2 e 6 do ECT. O Artigo 6 menciona que a proteção ambiental deve promover o desenvolvimento sustentável. O Artigo 2 dispõe que a União Europeia deve promover um “desenvolvimento harmonioso, equilibrado e sustentável das atividades econômicas “e também exige” um nível elevado de proteção e de melhoria da qualidade do meio ambiente”. O Artigo 2 aplica-se a todas as áreas. Um nível elevado de proteção implica que as medidas que apenas prevêem o menor denominador comum de proteção do ambiente podem não mais ser adotadas, mas permite aos Estados-Membros a adoção de medidas mais rigorosas se assim o desejarem17. 13 14 15 16 17 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.83. Para o direito internacional sobre estes princípios, ver:Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.41 ff. Os princípios da precaução e o do poluidor pagador estão fundamentados na Declaração do Rio. O princípio da prevenção está fundamentado no art. da Convenção da Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) 1992 a qual afirma que, “O objetivo final é alcançar a estabilização das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera a um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático”.N. de Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules (Oxford: Oxford University Press, 2005), p.330. Isto significa que os princípios são dirigidos a utilizadores privados e públicos do meio ambiente, em contraste com as leis internacionais e da UE que são apenas dirigidas aos Estados. N. de Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules (Oxford: Oxford University Press, 2005), p.330. This means that the principles are addressed to private and public users of the environment in contrast with international and EU laws which are only addressed to states. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.83. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.12; Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.82. 65 O desenvolvimento sustentável é, portanto, um objetivo declarado da União Europeia18. Este conceito não foi precisamente definido no Tratado e ainda não foi interpretado pelo Tribunal Europeu de Justiça (ECJ)19. E após 20 anos de discussão, ainda não há consenso internacional sobre o significado exato de desenvolvimento sustentável20. Na verdade, existem indiscutivelmente mais de 200 definições para este termo, sendo a definição mais consensual a do Relatório da Comissão Brundtland de 1987, “Nosso Futuro Comum”.21. Este também é o conceito adotado na legislação da União Europeia22. Ela define desenvolvimento sustentável como “desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades”. Desenvolvimento sustentável é freqüentemente considerado como a busca das três metas: desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, proteção e valorização ambiental23. Também tem sido sugerido que o desenvolvimento sustentável consiste em quatro elementos: • “A necessidade de preservar os recursos naturais para o benefício das gerações futuras (o princípio de ‘ equidade intergeracional ‘); • o objetivo de explorar os recursos naturais de forma sustentável ou prudente (princípio do “uso sustentável “); • a utilização equitativa dos recursos naturais, o que implica que, no uso de recursos, os estados devem considerar as necessidades de outros estados (‘o princípio da utilização equitativa “ou “equidade intrageracional); • a necessidade de assegurar que as considerações ambientais estão integradas na economia dos planos de desenvolvimento e que as necessidades de desenvolvimento são consideradas na aplicação dos objetivos ambientais (o princípio da “integração”)24. 18 19 20 21 22 23 24 P. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, (Aldershot: Ashgate, 2004), p.28; Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.56. Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, pp.64-65. No entanto, “é possível identificar julgamentos que implicitamente incorporam alguns dos aspectos mais importantes do desenvolvimento sustentável, incluindo o equilíbrio das considerações ambientais em relação a outras questões.” Krämer,ECEnvironmental Law, 2006, p.9;Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.60 citando outros autores. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, pp.12 and 82. Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.72. Stookes, A Practical Approach to Environmental Law, 2005, p.276. De acordo com o Tribunal Internacional de Justiça é a necessidade de equilibrar o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Vide: Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, pp.63-64. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.46; Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.59 citing P. Sands, Principles of International Environmental Law, 2nd edn (Cambridge:Cambridge University Press, 2003). 66 O requisito de satisfazer as necessidades das gerações futuras pode ser interpretado de duas diferentes maneiras. Um ponto de vista é que a próxima geração deve herdar um patrimônio ambiental não menor que o da geração anterior. A outra visão é de que o princípio pode ser satisfeito, deixando um estoque de ativos ambientais, mas também ativos tecnológicos e conhecimento. Portanto, alguns ativos ambientais podem ser trocados por tecnologia. Por exemplo, se um tipo de paisagem desaparece, é suficiente se a tecnologia pode substituí-la (isto é, pessoas podem vivenciar a paisagem, por exemplo, pelo computador)25. No entanto, o conceito de desenvolvimento sustentável é de caráter econômico ou político, em vez de jurídico26. Portanto, segundo alguns, a aplicação das disposições do ECT sobre o desenvolvimento sustentável são: “ mais uma diretriz para a ação política que qualquer conceito jurídico significativo27.” Alguns têm notado que, se o direito internacional pode influenciar a noção na União Europeia, isso parece significar que: “... embora as considerações ambientais não devam ter prioridade sobre a necessidade do crescimento da economia, os recursos não devem ser reduzidos na medida em que as necessidades das gerações futuras não possam ser sustentadas.28” 2.1.1.2. Os princípios da precaução e da prevenção O princípio da precaução só foi introduzido no art.174.2 do ECT em 1993, mas não foi definido. Foi primeiro implicitamente e depois explicitamente conceituado pelos tribunais comunitários, e também foi definido pela Comissão Europeia na sua Comunicação sobre o Princípio da Precaução29, os quais devem ser examinados a seguir. O que está claro, em qualquer caso, é que as instituições da UE devem basear as suas políticas ambientais no princípio da precaução. Portanto, o princípio da precaução deve ser refletido, explícita e implicitamente na legislação secundária adotada como conseqüência desta política30. Não existe uma definição única do princípio da precaução, mas é consenso que “a falta de evidência científica absoluta não deve ser uti25 26 27 28 29 30 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.47. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.13. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.12. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.28. European Commission. Communication from the Commission on the precautionary principle. COM (2000) 1. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 132. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 133. 67 lizada como razão para postergar medidas para evitar degradação ambiental31.” Os tribunais comunitários têm interpretado o princípio em uma série de casos. Os primeiros casos que fizeram isso, fizeram-no implicitamente de modo a não citar o princípio, embora fosse apropriado fazêlo32.. No entanto, os casos lançam alguma luz sobre o significado do princípio da precaução33. Em resumo, os casos mostram que as instituições comunitárias podem tomar medidas de proteção sem ter que esperar até que a realidade e a gravidade dos riscos para a saúde humana sejam comprovadas34. Além disso, eles desfrutam de um amplo poder de fazêlo. Assim, o Tribunal Europeu de Justiça considerou que: “...ele só pode examinar se o legislador comunitário cometeu um erro manifesto ou mau uso do poder, ou manifestamente ultrapassou os limites do seu poder discricionário, através da adoção de uma medida de precaução35”. Assim, “os princípios do artigo 174.2 podem ser usados como um meio de testar marginalmente a validade das medidas36 da Comunidade Europeia. Finalmente, em 2002, no caso Pfizer Animal Healthy SA contra o Conselho da União Europeia37, o Tribunal de Primeira Instância (CFI) explicitamente interpretou o princípio da precaução pela primeira vez38. Isto confirmou que o princípio se aplica quando um risco para a saúde humana não foi cientificamente provado. “O que não foi claro no julgamento foi o ponto em que incerteza exigiria uma resposta de precaução39. “ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.13. Ver também: Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.45. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 135 Para uma explicação detalhada dos casos, ver Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 135. R. v Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (“MAFF ”) Ex p. National Farmers Union (C-157/96) [1998] E.C.R. I-2211 at [63] (caso relativo a carne britânica possivelmente infectada pela doença da vaca louca). Vide Bettati v Safety Hi-Tech Srl (C-341/95) [1998] E.C.R. I-4355 at [34] (envolvendo medidas para proteger a camada de ozônio) e também o caso da proibição de redes de deriva, citado em Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 135. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 138.. Pfizer Animal Health SA v Council of the European Union (T-13/99) [2002] E.C.R. II-3305. Bell andMcGillivray, Environmental Law, 2006, p.74; Stookes, A Practical Approach to Environmental Law, 2005, pp.31-32; Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132143, 138; M. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decision-making, (Oxford: Hart Publishing, 2005), p.105. Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.156 revisão da jurisprudência diz que “já não se afigura necessário que os Estados-Membros tenham que sempre dar evidência clara e indiscutível de que um produto ou substância constitui uma ameaça para a saúde ou vida. A forte suspeita vai fazê-lo, em alguns casos “. 68 Em 2000, a Comissão Europeia deu a sua definição do princípio na sua Comunicação sobre o Princípio da Precaução40. Junto com o Tribunal Europeu de Justiça, o posicionamento da Comissão é que, mesmo se o princípio da precaução tenha sido só explicitamente mencionado no Tratado no campo do meio ambiente: “...o seu âmbito é muito mais amplo e abrange aquelas circunstâncias específicas em que a evidência científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e em que existem indicações através de avaliação preliminar objetiva científica de que existem motivos razoáveis para suspeitar de efeitos potencialmente perigosos (não somente) para o meio ambiente (como também) para a saúde humana, animal e vegetal que podem ser incompatíveis com o nível escolhido de proteção41”. A Comunicação também dá orientações sobre como aplicar o princípio da precaução e sob esta luz, incentiva a inversão do ônus da prova42. Tem sido argumentado que, em sua comunicação, a Comissão Europeia adotou uma visão minimalista43. A proteção do meio ambiente não é mencionada quando se discute a inversão do ônus da prova44.. A Comunicação também faz não faz menção ao princípio da integração45. Além disso, o Comissário Ambiental minimizou a importância da Comunicação46. A abordagem Europeia do princípio da precaução é forte e não fraca. A abordagem fraca é a da Declaração do Rio que se baseia em “dados científicos” e na análise custo benefício (CBA). Esta abordagem requer danos sérios ou irreversíveis. Estas duas palavras não aparecem na discussão da União Europeia sobre o princípio da precaução, apesar de que a análise de custo benefício, é frequentemente evocada para a regulação 40 41 42 43 44 45 46 Communication from the Commission on the precautionary principle. COM (2000) 1. Communication from the Commission on the precautionary principle. COM (2000) 1, p.9-10. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.46 citing cases R. v MAFF Ex p. National Farmers Union [1998] E.C.R. I-2211 and United Kingdom v Commission of the European Communities (C-180/96) [1998] E.C.R. I-2265 at [99] (proibindo a exportação de carne bovina britânica devido a provável ligação entre BSE em vacas e Creutzfeldt-Jakob em humanos). Communication from the Commission on the precautionary principle. COM (2000) 1, p.21; Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 143. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 141. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 143. Sobre a relevância deste princípio em relação a outras políticas da UE do que a política ambiental, ver seção 2.1.1.5 deste artigo Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 143. 69 do risco47 e também na política da União Europeia sobre o princípio da precaução48. Uma forte abordagem para o princípio da precaução: “...proveria que, quando há ameaças ao meio ambiente ou à saúde, o proponente de atividade deve provar a sua segurança, sem referência aos custos e benefícios.”49 No entanto, isso levanta dificuldades; é quase impossível provar que não há nenhum risco e que este não pode no final parar completamente o desenvolvimento da tecnologia no futuro50. Portanto, a abordagem forte muitas vezes não é apoiada oficialmente51. Porém, alguns interpretaram o princípio: “... ao ponto de apoiar uma inversão do ônus da prova no sentido de que a responsabilidade é colocada sobre aqueles que desejam usar um método ou substância para provar que é seguro”52. Em outras palavras, é responsabilidade dos produtores provar que “as drogas, pesticidas ou aditivos alimentares são seguros onde o risco para a saúde humana não pode ser determinado com suficiente segurança”53. A Comunicação da Comissão Europeia sobre o princípio da precaução também incentiva a inversão do ônus da prova e refere-se à condição atendida da necessidade de identificar “efeitos potencialmente negativos”54. No entanto, a Comissão e o Tribunal de Primeira Instância (CFI) rejeitaram a abordagem de risco zero55. O mais importante é que enquanto uma medida não pode ser baseada em uma “mera conjectura que não tenha sido verificada cientificamente”, esta pode, no entanto, ser baseada em um risco que: “...embora a realidade e seu alcance não tenham sido “plenamente” demonstrados por dados científicos con47 48 49 50 51 52 53 54 55 Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, p.98. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, pp.98, 103. Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.77 apesar de dizer que a versão fraca é a versão atual na UE e Reino Unido. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, p.100. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, p.100; Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.77. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, p.100. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.47. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, pp.47-48. Communication from the Commission on the precautionary principle. COM (2000) 1, p.13; Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decision-making, 2005, p.98. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, pp.100-101 (ver também Alexander na última seção). 70 cludentes, parece, no entanto ser suficientemente respaldado por dados científicos disponíveis na época56. Tudo isso levou alguns a concluir que “o potencial do princípio da precaução ainda não foi plenamente explorado pelas instituições da Comunidade Europeia” (EC)57. Relacionado ao princípio da precaução está o princípio da prevenção. O Tratado também não o define58, mas ele tem estado em vigor na União Europeia por um longo tempo59, e existem muitos instrumentos legislativos que o aplicam (por exemplo, Diretiva 2000/53 veículos em fim de vida útil [2000] OJ L269/34 Diretiva 96/61 (IPPC Diretiva) [1996] OJ L257/2660 e os regulamentos sobre rótulos ecológicos)61. Também em seu parecer sobre o caso “Association pour la Protection des Animaux Sauvages” contra “Prefet de Maine-et-Loire (APAS)”, Van Gerven A.G. menciona o princípio da prevenção62. A literatura está dividida sobre a existência de uma diferença entre os princípios da prevenção e de precaução. Alguns pensam que não existe nenhuma diferença de modo que os princípios podem ser usados de forma intercambiável63, enquanto alguns pensam que ela existe64. Parece, entretanto que existe uma diferença entre os dois princípios65. De acordo com alguns analistas, o fato de que o princípio da precaução foi adicionado ao princípio da prevenção, em vez de substituí56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, p.102, citando o caso Alpharma Inc v Council (T-70/99) [2002] E.C.R. II-3495 at [157]; Pfizer Animal Health SA v Council (T-13/99) [2002] E.C.R. II-3305 at [144]. Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decisionmaking, 2005, p.105 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.83. Veja por exemplo, primeiro Programa Comunitário de Ação sobre o meio ambiente [1973] OJ C112/1, Title II, para.1, citado por Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.49. Directive 96/61 Referente à integração do controle e prevenção da poluiçãol (IPPC Directive) [1996] OJ L257/26, vide seção 1.1.2.2 deste artigo. Article 1 of the IPPC Directive afirma que as regulamentações podem prevenir as emissõespoluientes. Stookes, A Practical Approach to Environmental Law, 2005, p.31 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, pp.49-50 Association pour la Protection des Animaux Sauvages v Prefet de Maine-et-Loire (“APAS” ) (C435/92) [1994] E.C.R. I-67, citado por Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.150. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.25; Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.83 (o princípio da precaução tende a ser usada como sinônimo de princípio da prevenção) De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, pp.74-75; Stookes, A Practical Approach to Environmental Law, 2005, pp.30-31; Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decision-making, 2005, p.100 (o princípio da prevenção é menos radical que o princípio da precaução). Estes últimos dois autores distinguem os dois princípios, mas não mostram em que eles diferem. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 132. See also De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, pp.74-75. 71 lo, mostra que os dois princípios não são o mesmo66. Assim, aplica-se o princípio da prevenção quando é mais ou menos certo de que os danos ambientais irão ocorrer, o princípio da precaução é aplicado quando está claro que os danos ocorrerão67. A distinção entre os dois é, portanto, “o grau de incerteza em torno do grau de risco”68. Em outras palavras, se a medida é preventiva ou cautelar depende da questão de saber se o risco é certo ou incerto. Um exemplo concreto da aplicação do princípio da prevenção pode ser visto no campo da mudança climática, já que a União Europeia se comprometeu em reduzir as emissões mesmo com a falta de evidências científicas69. Poderia ainda ser argumentado agora que é o princípio da prevenção aquele que se aplica ao aquecimento global, se alguém acredita que existe diferença entre os dois princípios70. 2.1.1.3 O princípio do poluidor pagador O terceiro princípio estabelece que o poluidor deve pagar o custo da limpeza ambiental. Foi incluído no ECT (art. 174.2) em 1987, mas existe na regulamentação comunitária desde 1973. Embora não haja uma definição consensual do princípio71, isto significa que o preço de danos ambientais não devem ser custeados pelos impostos sociais, mas pelo poluidor. O problema, no entanto, é a identificação do poluidor: no caso do carro, é o produtor do combustível, o fabricante do carro ou o motorista72? Também é difícil avaliar o custo da degradação73 e antes de tudo, o que é poluição74? O problema é que, na realidade, fontes mais poluentes são difíceis de encontrar (por exemplo, água, degradação das florestas, erosão do solo, alterações climáticas) e, portanto, as autoridades públicas são os únicos que podem garantir a limpeza75. Até agora, o princípio só é encontrado em diretivas da UE que regulam resíduos76. No entanto, alguns Estados-Membros adotaram impostos sobre os produtos de energia e combustível, assim, indiretamente, promovem o desenvolvimento de 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 133. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 132.. De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.75. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.24.. Vide Fourth Assessment Report of the IPCC, disponível em http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr. htm [Acessado em 8 de junho de 2009]. Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.266. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.84. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.14 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.52.. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.28. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.52. 72 tecnologias ambientalmente amigáveis77. Um imposto europeu nunca viu a luz do dia porque exige unanimidade no Conselho (art. 175.2 do ECT). O princípio ainda está insuficientemente implementado pela União Europeia e Estados-Membros78. Mas a União Europeia está empenhada em aplicá-lo de forma mais ampla; determinadas diretivas já aplicam o princípio e outras medidas têm sido recentemente adotadas, tais como a Diretiva 2004/35 [2004] JO L143/56 sobre a responsabilidade ambiental, que também incorpora o princípio79. Em relação ao aquecimento global, pode-se dizer que o sistema de comércio das emissões80 é uma forma de fazer quem produz as emissões pagar. 2.1.1.4 Princípio da retificação dos danos ambientais na fonte O princípio da retificação dos danos ambientais na fonte como uma prioridade parece favorecer o controle da poluição no ponto de emissão ao invés de mais abaixo na cadeia81. Mas isso não impediu que a União Europeia adotasse medidas que controlam a poluição mais tarde na cadeia de qualquer maneira82. “O princípio permite que os valores limite das emissões da Comunidade sejam priorizados com relação aos padrões de qualidade, mas isso não exige que tal abordagem seja adotada83.” Alguns argumentam que o princípio é mais “um desejo que realidade84.” O termo “retificada” não está definido e, portanto, as instituições da União Europeia têm um amplo poder discricionário para decidir como aplicar o princípio. 2.1.1.5 Princípio da Integração O princípio da integração é um princípio geral do direito da União Europeia, em comparação com os quatro princípios acima referidos, que são princípios específicos. Isto significa que o princípio da integração 77 78 79 80 81 82 83 84 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.53. Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.266. Diretiva 2004/35 sobre a responsabilidade ambiental com relação à prevenção e à remediação dos danos ambientais [2004] OJ L143/56. Vide também o Sixth Environmental Action Programme, citado e explicado por Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.53 ff.. Diretiva 2003/87/[2003] OJ L275/32 (ETS Diretiva) alterada pela Diretiva 2004/101que altera a Diretiva 2003/87 estabelece um esquema para o comércio de permissões de emissão de gases do efeito estufa na Comunidade, com respeito aos mecanismos de projeto do Protocolo de Kyoto [2004] OJ L338/1 Vide seção 2.1.2.2. deste artigo Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.51. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.51. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.27. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.84, citando Krämer, EC Environmental Law, 2006. 73 “guia as atividades e os objetivos políticos e a implementação destas políticas85”. É indicado no art. 6 do ECT, que prevê que: “...requisitos de proteção do ambiente devem ser integrados na definição e implementação das políticas e ações comunitárias referidas no artigo 3º, em especial com vista à promoção do desenvolvimento sustentável.” Como alguns corretamente observaram, “a questão do combate às alterações climáticas (...) prevê o exemplo clássico da necessidade de integrar requisitos de proteção ambiental em outras políticas86.” O fato de que o princípio da integração é colocado no início de o ECT é muito importante e simbólico. Desde o Tratado de Amsterdã, a proteção ambiental é um objetivo fundamental da Comunidade. Objetivos econômicos não são mais prioridade87. A proteção ambiental é agora considerada como parte integrante do mercado comum e deve ser levada em consideração, mesmo se ela interferir na realização dos objetivos econômicos. O Artigo 6 é o princípio ambiental mais significativo, pois é a ponte entre as políticas ambientais e outras políticas da EU88. É aplicável a todas as políticas comunitárias89 e convida90 ou impõe91 a “ecologização” contínua de todas estas políticas. Portanto, o art. 6 tem um impacto não só sobre a legislação secundária, mas também sobre a legislação primária92. As “políticas e ações da Comunidade” afetadas pelo artigo 6 são listadas no art. 3 da ECT, ou seja, todas as atividades da Comunidade no âmbito do Tratado93. O artigo 3 lista, entre outros: • a aproximação das leis dos Estados-membros na medida do necessário para o funcionamento do mercado interno94; 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.33.. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p. 35 referindo à Comisão Europeia. Partnership for integration-a strategy for integrating environment into European Union policies. COM (98) 333, pp.9-10. M. Wasmeier “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.390.. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.65. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.21.. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, pp.3233; Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decision-making, 2005, p.44, citando a opinião de Jacobs A.G. em PreussenElektra AG v Schleswag AG (C-379/98) [2001] E.C.R. I-2099 at [231] “article 6 is not merely programmatic; it imposes legal obligations”. Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 175.. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.21. “Porque está agora incluído na parte geral intitulada ‘princípios’, é claro que o princípio da integração deve ser aplicado a mais regras específicas do Tratado”, por exemplo, quando são interpretadas regras da livre circulação de mercadorias. Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 175 74 • o reforço da competitividade da indústria da Comunidade; e • a promoção da investigação e do desenvolvimento tecnológico. Estas três políticas são as mais relevantes em matéria de propriedade intelectual. Os “Requisitos de proteção ambiental” mencionados no art. 6 incluem os diferentes objetivos e princípios estabelecidos nos arts.. 2 e 174.1 e 174.2, portanto princípios de desenvolvimento sustentável , da precaução, do pagador poluidor e da retificação na fonte95. “Na verdade, não faz sentido aplicar o princípio da precaução no âmbito da política ambiental e adotar medidas sem recente evidência científica da periculosidade da substância e, em seguida adotar a abordagem oposta no contexto da política do mercado interno96. Embora, de acordo com artigo 6 do Tratado ECT, as instituições da UE devam levar o impacto ambiental das atividades comunitárias em conta97, eles também têm um amplo poder discricionário sobre como implementar o princípio da integração em nível de medidas legislativas específicas98. ���������������������������������������������������������� No entanto, é claro que Art.6 não tem prioridade sobre outros interesses ou requisitos99. Isso ocorre porque os diferentes objetivos do Tratado CE têm o mesmo valor. Isso ocorre porque os diferentes objetivos do Tratado CE têm o mesmo valor. Assim, a Comunidade deve se esforçar para alcançá-los todos100. O princípio da integração implica que, quando a legislação da Comunidade exigir interpretação, esta deve favorecer um significado que torna a disposição consistente com o princípio Krämer, EC Environmental Law, 2006, pp.21-22. Krämer, EC Environmental Law, 2006, pp.21-22 também notando que “Todo o debate sobre como classificar uma medida específica da Comunidade é notoriamente vã. (...) Parece um pouco antiquado classificar uma medida específica como pertencente a uma política específica: o artigo 6 contribui para a progressiva superação dessa artificialidade.“ 97 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.33. For Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 164, toda a legislação UE deve ser compatível com o art.6. O Tratado Maastricht tornou o princípio jurídico (através do uso de termos mandatórios). Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 160. 98 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.33; De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.322; Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.22-23 (duvidando que toda medida individual no campo da agricultura, transporte, etc. deve respeitar o Art.6. A interpretação do Artigo 6 é abrangente, assim, “sempre que uma medida é tomada sob o tratado da Comunidade Europeia, deve ser plenamente consideradaa proteção ao meio ambiente.” Entretanto, ele nota novamente que isso deve ser feito no nível da formulação e interpretação política, não de medidas individuais). 99 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.21; Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 163. 100 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.21. See also Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 160 95 96 75 da integração, ou pelo menos ser coerente com ela, especialmente quando existe uma lacuna na lei, ou mais de uma interpretação101. Quando um conflito entre os objetivos econômicos e ambientais surge, os dois devem ser conciliados na medida do possível102. Se isto não for possível, então um dos objetivos conflitantes deve ser priorizado temporariamente103. “É duvidoso que, em caso de tal conflito, uma interpretação do direito da Comunidade que causaria aumento ou intensificação da poluição não poderia em nenhum a circunstância estar alinhado com o princípio da integração104.” O Tribunal de Justiça (ECJ), até o momento, não discutiu a questão de saber se um ato da EU teve que ser anulado porque não levou em consideração os requisitos ambientais, mas alguns analistas pensam que eles deveriam ter sido105. ������������������������������������������������� Por exemplo, o Quinto Programa de Ação A mbiental defendeu a integração do ambiente em setores chave da economia (partircularmente tourismo, transporte, energia, indústria e agricultura) e o Sexto Programa de Ação Ambiental pretende reduzir as pressões no ambiente devido a várias fontes106.” Então por exemplo: “... a política de transporte da Comunidade tem que ter em devida conta os potenciais impactos ambientais, mas o fato de uma proposta particular neste campo poder ter efeitos ambientais negativos pode ser compensado por considerações econômicas e sociais. Se for provado ser este o caso, o impacto ambiental negativo deveria ser analisado e mantido a um dano ambiental mínimo, mas pode muito bem ainda ser infligido mesmo que seja devidamente considerado o príncípio da integração”107. Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159,160-162. 102 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 160. 103 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 163. 104 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 163. 105 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.23 citando Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003. Krämer acredita que não considerar completamente o impacto ambiental da Regulamentação 1954/2003 (acesso à pesca nos Açores) violaria o Art. 6 e, portanto, deveria ser evitado. 106 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.33. 107 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.34. 101 76 Embora essa seja a maneira de como o princípio da integração deva ser aplicado na teoria, a história atribulada da aplicação do princípio mostra que na realidade, a proteção ambiental é, ainda agora, longe de ser bem integrada às outras políticas da União Europeia (UE). Não é o lugar para traçar a história do princípio, mas basta dizer que o Primeiro Programa de Ação Ambiental da UE, que data de 1973, já mencionou que a proteção ambiental deveria ser integrada nas outras políticas da UE, mas a Comissão nada fez nesse sentido e isso assim permaneceu mesmo após a introdução do princípio no Tratado em 1987 e com as ações que a Comissão previa em 1993 (ou seja, marca todas as propostas com signitifiativos impactos ambientais, e instala uma rede ambiental entre as Diretoriasgerais) mas nunca foi realmente executada108. No final, se existem progressos, isso tem sido lento e desigual, principalemte devido à falta de compromisso (político)109. Isso leva alguns a concluir que essa integração vai começar a se tornar uma realidade quando os tribunais da Comunidade anularem uma regulamentação ou diretiva porque não respeitaram o art.6110. Até então, Art.6 continuará a ser um bom princípio não levado a sério pelas instituições111. Em suma, mais ainda precisa ser feito para dar pleno efeito ao princípio da integração. 2.1.1.6. Natureza jurídica dos princípios ambientais Tudo isso é muito bom, mas os princípios ambientais descritos acima têm qualquer efeito jurídico? A literatura está dividida sobre esta questão crucial112. Alguns negam aos princípios qualquer caráter vinculante113, enquanto alguns argumentam que eles são vinculativos114. No L. Krämer, “Thirty Years of Environmental Governance in the European Union” in R. Macrory, Reflections on 30 Years of EU Environmental Law, A high level of protection? (European Law Publishing, The Avosetta Series 7, Groningen, 2006), p.560; Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.34. 109 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, pp.34, 36; Krämer, EC Environmental Law, 2006, pp.392-393 110 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.396. 111 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.396. 112 A. Espiney, “Environmental principles” in R. Macrory, Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection? (European Law Publishing, The Avosetta Series 7, Groningen, 2006), pp.20-21; Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 135; Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.181. 113 Por exemplo, Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.15 (para este autor, art.174 somente significa que a Comunidade deve basear sua política nisso); J. Jans&A.-K. VonDerHeide, Europaesiches Umweltrecht, (Groningen: Europa Law Publishing, 2003), p.18 ff. 114 Por exemplo, C. Callies “Article 174” em C. Callies and M. Ruffert (eds), Kommentar zu EU-Vertrag und E.G.-Vertrag, 2a edição (Neuwied, Luchterhand, 2002), para.43, 44; W. Kahl, “Article 174” em R. Streinz (ed.), EUV/EGV Vertrag ueber die europaesiche Union and Vertrag zur Gruendung der europaeischen Gemeinschaft, (Muenchen, Beck, 2003), para.64 ff.; Espiney, “Environmental principles” em Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006; De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.321. A forma como os autores do Tra108 77 entanto, quando analisados mais de perto, seus posicionamentos não são tão diferentes, uma vez que aqueles que negam o caráter vinculativo dos princípios ainda admitem que eles são um leitmotiv (do alemão, motivo condutor) e uma regra de interpretação, o que implica certo efeito jurídico115. Aqueles que argumentam que eles têm um caráter vinculativo, continuam a insistir que, como os princípios são vagos, as instituições têm uma ampla margem de discricionariedade. A opinião da maioria parece ser que os princípios são juridicamente vinculativos por três razões principais. Primeiro, eles estão incluídos no Tratado, segundo, sua natureza vaga não significa que eles não têm nenhum efeito legal e, terceiro, o Tribunal de Justiça reconheceu que alguns princípios têm força jurídica116. No entanto, a forma como são elaborados os princípios difere, assim como sua força jurídica117. Por conseguinte, três tipos diferentes de princípios podem ser distinguidos conforme proposto por Espiney: 1) objetivos globais; 2) obrigações a serem consideradas, e 3) obrigações relativas aos resultados118. Em que categoria se enquadram os vários princípios ambientais? Os objetivos globais são formulados de forma tão vaga que a discricionariedade das instituições é muito grande. Portanto, é quase impossível que o ECJ possa afirmar que essas obrigações foram violadas119 e, portanto, que o não cumprimento de um objetivo global possa ser usado tado redigiram os princípios (usando o tempo verbal presente e não o futuro o pretérito) indica que as instituições da Comunidade devem aplicá-los quando implementarem suas políticas ambientais. Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 134-135 citing L. Hancher, “EC environmental policy-a precautionary tale?” em D. Freestone and E.Hey, The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation, (The Hague: Kluwer, 1996), 187, at 202, somente referindo-se ao princípio da precaução. Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, pp.182-183 (à luz dos seus resultados (ver abaixo), a literatura que se posiciona contra a relevância legal dos princípios deveriam ser desconsideradas). 115 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, pp.19-39, 21. 116 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.21, citing Safety Hi-Tech Srl v S&T Srl (C-284/95) [1998] E.C.R. I-4301. 117 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.22 118 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.23. 119 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.23. 78 para anular uma medida tomada pela União Europeia120. Estes objetivos globais são, portanto, recomendações não vinculativas. Espiney classifica o desenvolvimento sustentável e “um nível elevado de proteção” (ambos previstos no art. 2º do ECT) como objetivos globais. No entanto, no caso Safety Hi-Tech Srl contra S & T Srl “, a Corte parece admitir que toda medida deveria conter um nível desta magnitude”,121 A frase “com o objetivo de” é, indubitavelmente, uma obrigação para as instituições tomarem atitudes “de forma que o alto nível possa ser atingido ou aproximado”122. Obrigações relativas aos resultados são precisas e se referem ao conteúdo das medidas comunitárias123. Indiscutivelmente, os arts.. 174,2 e 6 são tais obrigações. Os princípios nessa categoria ainda são muito imprecisos para inferir obrigações exigíveis124. Ao legislar, no entanto, as instituições devem respeitar os princípios, portanto, eles são vinculativos. Mas, uma vez que eles têm uma ampla margem de discricionariedade (embora de forma menos ampla do que no âmbito dos objetivos gerais), os princípios seriam violados somente se as medidas manifestamente desrespeitassem os princípios,125 i.e., quando as instituições cometessem um erro manifesto, fizessem mau uso de seus poderes ou manifestamente excedessem os limites de sua discricionariedade126. Assim, um ato poderia ser somente excepcionalmente anulado127. De fato, os tribunais comunitários concordaram em rever a validade da legislação secundária Davies, EuropeanUnion Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.31. Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.28. 122 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, pp.28-29. 123 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.30. NA mesma linha, vide De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, pp.339, 368, que argumenta que, para um princípio a ser adotado como vinculativo, deve ser escrito no formato de um texto legal e ser redigido em termos prescritivos. 124 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.33. De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.340, também opina que seus níveis de abstração signifiquem que ele sejam menos vinculativos que outras regras mais prescritivas. 125 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.34. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.15, não diverge muito dessa visão mesmo considerando os princípios meros guias (“eles não são regras vinculativas de leis que se aplicam a cada medida individual da comunidade; eles também não representam a obrigação de se adotar medidas específicas em favor do meio ambiente”). Ele então afirma que “eles poderiam apenas ser reforçados pela Corte Européia em casos extremos onde um desrespeito sistemático aos princípios na política é demonstrado”. 126 Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 140; Lee, above fn. 38, p. 105. Page18. 127 Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.183. 120 121 79 de acordo com os princípios do art. 174.2, mostrando claramente que os princípios são vinculativos128. O fato de que a legislação comunitária só pode ser anulada quando é desconsiderada de forma flagrante não muda esse fato129. As decisões mostram que, por exemplo, o princípio da precaução é executório “no sentido de que pode influenciar o resultado de litígios perante o ECJ”130. Mas “na prática, será difícil provar que esta obrigação não foi cumprida devido à ampla margem de discricionariedade”131. Não obstante: “... Ainda que o número de decisões judiciais que invocam os princípios do poluidor-pagador, da prevenção e da precaução tenha sido pequeno até o momento, a evolução fez com que fossem atribuídos a alguns desses princípios um valor normativo autônomo, que os torna diretamente aplicáveis nas leis alemã, francesa, belga e holandesa “132. É improvável, no entanto, que os princípios venham a ter efeito direto, ou seja, que um indivíduo possa argumentar que uma medida nacional pode ser anulada, por não respeitar um dos princípios133. De fato, os princípios do Tratado são endereçados apenas às instituições comunitárias134. No entanto, ainda que a legislação secundária não se refira explicitamente aos princípios, mas contudo, os consagre, o Art.10 da ECT obriga os Estados-Membros a dar-lhes efeito porque afirma que os Estados-Membros devem tomar medidas para cumprir as suas obrigações decorrentes do Tratado ou, ao menos se abster de tomar qualquer medida que possa comprometer a realização dos objetivos deste Tratado135. De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, pp.322-323; Dhondt, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 183. Veja também a seção 2.1.1.2. deste artigo. 129 Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 141. 130 Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 140. 131 Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 143. 132 De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.332, colocando as decisões belgas como exemplo. 133 De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.328. Ver também Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 134-135 citando L. Hancher, “EC Environmental Policy-A Precautionary Tale?” in D. Freestone and E. Hey, The Precautionary Principle and International Law, The Challenge of Implementation (The Hague: Kluwer, 1996), 187, p.202 (discutindo apenas o caráter legal do princípio da precaução). 134 Douma, “The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 135.. 135 De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.328. Ver também Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.108 (Art.6 é também relevante para as políticas dos Estados Membros e o princípio da integração, fora das áreas harmonizadas e em conjunção com art.10 of the ECT (sigla em inglês), carrega um obrigação 128 80 Assim, segundo alguns, uma vez que o princípio da precaução (e na nossa opinião, por extrapolação, os outros princípios também) está incluído na legislação secundária, os indivíduos podem argumentar que ações ou legislações nacionais que se enquadrem no âmbito da legislação da UE, que violem o princípio da precaução são nulas136. A violação das instituições comunitárias - e, se o argumento acima é seguido, dos Estados-Membros - poderia ser uma ação ou, sem dúvida, também uma omissão137. Por exemplo, Espiney se questiona se o princípio da precaução é (suficientemente) levado em consideração na Diretiva IPPC138. Também na área do tráfego rodoviário, o princípio da integração é muito provavelmente não suficientemente levado em consideração139. Mesmo se haja discricionariedade, ela acha que os princípios estabelecem algum tipo de norma mínima e: “... isto deve ser levado em consideração no nível da obrigação de uma ação positiva, bem como no nível da maneira de moldar a legislação secundária”140. Espiney também considera que o ECJ tende a ser muito generoso na margem de discricionariedade que deixa às instituições141. Na mesma linha, Dhondt acredita que o princípio da integração deve ser interpretado como uma: “... Obrigação de levar em conta os requisitos de tal forma que deva existir consequências reais para ação (existente e proposta)”142. passiva para os Estados Membros evitarem a adoção de políticas que possam impedir o sucesso dos objetivos e princípios ambientais). 136 Douma, The precautionary principle in the EU” [2000] 9(2) R.E.C.I.E.L. 132-143, 135.. 137 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.37. Contra : De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.323 (porque o art.174.2 “não requer que a EC (sigla em inglês) legisle sobre um tópico particular de uma maneira específica e detalhada, portanto não seria possível anular uma medida da EC (sigla em inglês) por omissão.”). 138 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.37. 139 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.37. Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.472, compartilha sua opinião. Por exemplo, “o fato de instrumentos fiscais terem sido insuficientemente utilizados, resultando em uma falha sistemática em garantir a internalização dos custos ambientais, pode ser considerado uma violação do princípio da integração, o que constitui uma falha em aplicar sistematicamente o princípio do poluidor pagante” (p. 173). 140 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.38. Veja também, na mesma linha: Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, pp.109-110. 141 Espiney, “Environmental principles” in Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection?, 2006, p.38.. 142 Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.109. 81 Nesta interpretação, a margem de discricionariedade é mais limitada. Isso pode significar que há uma obrigação de aplicar os princípios ambientais “da mesma forma que eles são aplicados no contexto da política ambiental”143. Alguns analistas são mais categóricos e acreditam que: “... Qualquer legislação comunitária que não integre os requisitos de proteção ambiental de forma adequada, em particular, se um efeito resultante for prejudicial ao meio ambiente e não puder ser justificado por razões claras e absolutas, é, portanto, sujeita a anulação pelo tribunal, em conformidade com o artigo 230 e seguintes. EC “(ênfase adicionada)144. O que parece claro sob este ponto de vista é que os interesses econômicos e outros, quando em conflito com as preocupações ambientais, terão que ser conciliados e equilibrados145. Alguns chegam a argumentar que o equilíbrio deve favorecer as questões ambientais quando os três princípios da precaução, da prevenção e do poluidor-pagador vão de encontro com outras normas146. Em conclusão, os analistas divergem quanto à exata força jurídica dos princípios, mas há consenso de que eles devem ter algum efeito legal. 2.1.2. Regulamentação específica das emissões de gases de efeito estufa 2.1.2.1. Quadro Internacional Antes de analisar a legislação da EU, uma breve descrição do quadro jurídico internacional criado para combater a mudança climática e, portanto, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, vai ajudar a colocar a legislação da EU no contexto mais amplo. Existem dois grandes instrumentos jurídicos internacionais dirigidos ao combate das alterações climáticas, nomeadamente a Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) e seu subsequente Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, p.109. Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 164. 145 De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.371. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.16 nota que se todos os princípios do art. 174 tivessem sido considerados em cada medida individual, eles teriam entrado em contradição com outras medidas. Isso pode ser verdade, mas não evita uma conciliação ou um balanço de interesses. 146 De Sadeleer, Environmental principles: from political slogans to legal rules, 2005, p.369; Dhondt, Integration of Environmental Protection into other EC Policies, 2003, pp.109-110 (“Na prática, isso significa que o legislador terá que escolher o mais “amigável com o meio ambiente” (situação sem conflito) ou o menos danoso para o meio ambiente (situação de conflito), formas disponíveis para atingir os objetivos específicos de outras áreas da política”). 143 144 82 Protocolo de Quioto147. A revisão do Protocolo de Quioto deverá acontecer em Copenhagen em 2009. A UNFCCC, assinada no Rio de Janeiro, data de 1992 e entrou em vigor em 21 de março de 1994,148 186 governos estavam envolvidos em 2004. Tanto a Comunidade quanto os Estados-Membros estão vinculados por ela149. O objetivo da Convenção é de estabilizar ao invés de reduzir a emissão de GHG,150 Mais precisamente, seu objetivo é: “... Estabilizar as emissões de gás a um nível que não iria interferir com o sistema climático ou com a proteção de alimentos, mas que ainda permitiria o desenvolvimento econômico sustentável (art. 2)”151. Na Convenção, as partes se comprometem, inter alia, a: “... Desenvolver e transferir tecnologias, práticas e processos para controlar gases de efeito estufa em todos os setores industriais relevantes (incluindo energia, transportes, agricultura, silvicultura e gestão de resíduos) e promover pesquisas (...)”152. O Protocolo de Quioto data de 1997 e entrou em vigor em 2005,153 Ele vai além da Convenção, uma vez que visa reduzir as emissões dos seis principais GHG, i.e., o dióxido de carbono, metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorcarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6). O objetivo é chegar a uma redução de 5,2 por cento dos níveis de GHG atingidos em 1990, até 2012. A redução pode ser feita de três maneiras: a implementação conjunta (países criando parcerias para reduzir os níveis de GHG de forma que um país possa reduzir o GHG menos do que o outro), mecanismos de desenvolvimento limpo (projetos de redução de emissões nos países em desenvolvimento financiados pelos países industrializados) e comércio de emissões154. De acordo com o Tratado, o comércio de emissões poderia começar apenas a partir de Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.55. UNFCCC Framework Convention on Climate Change, New York, May, 9, 1992, 31 I.L.M. 849 (1992). 149 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.272. 150 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.56. 151 Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.639. 152 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.57. 153 Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.640. Veja por exemplo P. Davies “Global Warming and the Kyoto Protocol” [1998] 47 International and Comparative Law Quarterly, 446-461. 154 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.61; Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.640. 147 148 83 2008,155 mas isso não impediu que países começassem o comércio de emissões antes desta data. A EU iniciou o comércio de emissões em 1 de janeiro de 2005. 2.1.2.2. Quadro comunitário Como a União Europeia enfrenta as mudanças climáticas? O que a legislação ambiental da EU dispõe sobre as emissões de GHG? A União Europeia tomou a iniciativa de combater as emissões de GHG cedo, na década de 1970, e ainda acredita firmemente que os países desenvolvidos “devem mostrar liderança na redução das emissões”156. Muitas das medidas adotadas até agora pela União Europeia, reduzem direta ou indiretamente o GHG na atmosfera, e serão examinadas a seguir. Instrumentos ambientais são em sua maioria diretivas, ao invés de regulamentos. A medida recente mais importante é a ratificação do Protocolo de Quioto pela União Europeia em 31 de maio de 2002, em que ela concordou em reduzir seus níveis de emissões em oito por cento em relação aos níveis de 1.990157. Antes da ratificação, em 2000, o Parlamento Europeu União já havia começado a implementar o Protocolo de Quioto no Programa Europeu para as Alterações Climáticas (ECCP)158. A abordagem adotada pelo ECCP é: “... um bom exemplo de integração externa de considerações ambientais em outras áreas políticas, uma vez que envolve iniciativas nos setores de energia, de transporte, e industrial”159. Em 2002, a decisão sobre o Sexto Programa de Ação Ambiental mencionou que seu objetivo era limitar o aumento da temperatura global a dois graus Celsius e reconheceu que para atingir este objetivo, seria neDavies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.287. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.304 citing Commission documents. This was repeated by G. Verheugen, Vice-President of the European Commission at the European Patent Forum 2008, http://www.epo.org/about-us/events/archive/2008/epf2008/forum-1.html [Acessado em 20 de janeiro de 2009],adicionando também que sendo mais limpo trará uma vantagem competitiva à EU (sigla em inglês). Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.348 entretanto é muito mais pessimista, partindo de que a União Européia não é um player político global e não possui peso para liderar o mundo em uma política bem sucedida relativa às mudanças climáticas”. 157 C. Streck and D. Freestone, “The EU and climate change” in R. Macrory, Reflections on 30 Years of EU Environmental Law, A High Level of Protection? (European Law Publishing, The Avosetta Series 7, Groningen, 2006), p.95. 158 European Commission. Communication from the Commission on policies andmeasures to reduce greenhouse gas emissions: Towards a European Climate Change Programme (ECCP). COM (2000) 88 159 Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.642. 155 156 84 cessária uma redução global das emissões de GHG de 70 por cento em relação aos níveis de 1990, conforme identificado pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC)160. Segue aqui uma lista das medidas ambientais mais relevantes adotadas pela União Europeia em relação à redução das emissões de GHG. Elas são classificados por tipo de medida (se reduzem direta ou indiretamente as emissões de GHG161) e em ordem cronológica, para destacar se foram tomadas antes ou depois do Protocolo de Quioto (i.e., 1997). As medidas mais relevantes no contexto deste artigo incluem o esquema de comércio de emissões da EU (como previsto na diretiva ETS), a implementação efetiva dos requisitos de eficiência energética da Diretiva IPPC, a promoção das energias renováveis e biocombustíveis162 e outras medidas que melhorem o isolamento térmico dos edifícios, e a eficiência de determinados equipamentos, tais como os elétricos. O que esses instrumentos fazem, portanto, será brevemente descrito abaixo. Medidas diretas: • Diretiva 93/76 para limitar as emissões de dióxido de carbono através do aumento da eficiência energética (SAVE) [1993] OJL237/28. • Diretiva 95/12 implementação da Diretiva 92/75 no que diz respeito à rotulagem energética de máquinas de lavar roupa [1995] OJ L 136/1. • Diretiva 96/57, relativa aos requisitos de eficiência energética para geladeiras, congeladores e combinações destes [1996] OJ L236/36. • Diretiva 96/60 implementação da Diretiva 92/75 no que diz respeito à rotulagem energética das máquinas de lavar e secar combinadas[1996] OJ L 266/1. • Diretiva 96/61, relativa à prevenção e controle integrado da poluição (Prevenção e Controle Integrado da Poluição (IPPC) [1996] OJ L257/26, alterada pela Diretiva 2003/87 abaixo. • Diretiva 2001/77 sobre a promoção da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia no mercado interno da eletricidade [2001] OJ L283/33. Veja a Decisão 1600/2002 que estabelece o 6th Community Environment Action Programme [2002] OJ L242/1, art.2.2 citado por Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.337. 161 “A implementação de outras Diretivas também contribuirá com a redução de emissões”. Davies, European Union Environmental Law, an Page19Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.303. 162 Estes são combustíveis derivados de biomassa, isto é, matéria vegetal ou animal. 160 85 • Diretiva 2002/91 relativa ao desempenho energético dos edifícios [2003] OJ L1/65. • Diretiva 2003/30 relativa à promoção da utilização de biocombustíveis ou de outros combustíveis renováveis nos transportes [2003] OJ L123/42. • Diretiva 2003/87 [2003] OJ L275/32 e Diretiva 2004/101 que altera a Diretiva 2003/87, estabelecendo um regime de comércio de licenças de emissão na Comunidade, no diz respeito aos mecanismos de projeto do Protocolo de Quioto (Diretiva ETS) [2004] OJ L338 / 1. • Diretiva 2003/96 que reestrutura o quadro comunitário de tributação dos produtos energéticos e da eletricidade [2003] OJ L283/51. • Decisão 2004/280, relativa a um mecanismo para monitoramento das emissões comunitárias de gases de efeito estufa e para a implementação do Protocolo de Quioto [2004] OJ L49/ 1. Nos termos desta decisão, a Comissão Europeia elabora relatórios periódicos e avalia os programas nacionais para limitar as emissões de GHG163. • Diretiva 2006/40, relativa às emissões de sistemas de ar condicionado em veículos motorizados [2006] OJ L161/12. • Regulamento 2006/842 relativo a determinados gases de efeito estufa fluorados [2006] OJ L 161/1. • Há também várias diretivas que estabelecem normas para emissões de gases na atmosfera164. Medidas indiretas: • Diretiva 94/62, relativa a embalagens e resíduos de embalagens [1994] OJ L365/10. • Diretiva 2000/53 sobre veículos cuja vida útil está no fim [2000] OJ L269/34. Uma vez que a diretiva obriga os Estados-Membros a incentivar a redução da quantidade de materiais para a fabricação de carros, indiretamente, reduz o consumo de materiais que podem produzir GHG quando os carros são construídos do principio. A diretiva “vai incentivar, por exemplo, o aumento das taxas 163 164 86 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.345. Para uma lista, vide Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.205. de reciclagem e de recuperação de carros usados, e a melhoria do tratamento de fluidos contendo gases de efeito estufa”165. • Diretiva 2002/96 sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (Diretiva WEEE) [2003] OJ L37/24, alterada pela Diretiva 2003/108 [2003] OJ L345/106. Vamos agora examinar o impacto dessas medidas sobre as emissões. Diretiva 96/57 exige que: Os Estados-membros tomarão todas as medidas necessárias para assegurar que os aparelhos de refrigeração abrangidos pela presente diretiva possam ser colocados no mercado comunitário somente se o consumo de eletricidade do aparelho em questão for menor ou igual ao valor do consumo de eletricidade máximo permitido para a categoria, conforme o que foi calculado de acordo com os procedimentos definidos no anexo I. Diretiva 96/57 é apenas um primeiro passo, já que não define as metas específicas para reduzir o consumo geral de tais aparelhos. Diretiva 96/61, também chamada Diretiva IPPC pode ser considerada o antepassado da diretiva ETS. O objetivo da Diretiva IPPC é reduzir as emissões na terra, água, ar, causada por determinadas atividades; principalmente as de indústrias pesadas, como coque e madeira, e indústrias químicas166. (art.1) A Diretiva IPPC define “substância” como “qualquer elemento químico e seus compostos, com exceção das substâncias radioativas, na acepção da Diretiva 80/836/Euratom e os organismos geneticamente modificados na acepção da Diretiva 90/219/CEE e da Diretiva 90 / 220/EEC.” (art 2.1). “Poluição “ é definida como: “... a introdução direta ou indireta, como resultado da atividade humana, de substâncias, vibrações, calor, ruído no ar, água ou terra que possa ser prejudicial para a saúde humana ou para a qualidade do meioambiente, resultando em danos à propriedade material, ou impactando ou interferindo com os recursos e outros usos legítimos do meio-ambiente.” (art 2.2) Artigo 2.5 define “emissão” como a liberação de substâncias, calor, ruído ou vibrações no ar, água ou terra. Esta linguagem é muito ampla. As substâncias enumeradas no anexo III da Diretiva IPPC incluem GHG e, 165 166 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.303. Ver Anexo I para uma completa lista de indústrias. 87 portanto, a sua liberação constitui poluição167. De acordo com a Diretiva IPPC, as indústrias listadas (“instalações”) têm que ter um título de emissão de substâncias. A Comissão define os valores-limite de emissão, enquanto os Estados-Membros estabelecem as autoridades competentes que concedem licenças. Portanto, as emissões das substâncias listadas são reduzidas. Diretiva 2001/77: “... estabelece metas ‘indicativas’ não vinculativas para a proporção de eletricidade proveniente de energias renováveis, e exige que os Estados-membros publiquem relatórios sobre o seu desempenho”168. O objetivo global da UE é de 22 por cento. O Artigo 3 da Diretiva 2001/77 prevê que os Estados-Membros devem tomar “medidas adequadas para promover um maior consumo da eletricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia.” O artigo 3 indica ainda que se o progresso dos Estados membros é insuficiente, a vinculação das metas será definida169. A Diretiva 2001/77 também exige que os Estados-Membros garantam que a eletricidade produzida a partir de energias renováveis seja seguramente a partir destas (art. 5). As energias renováveis são energias provenientes de fontes que ocorrem natural e repetidamente no meio-ambiente; estas incluem vento, ondas, sol, biomassa, marés, gás de aterros sanitários e tratamento de águas residuais170. À luz do fato de que os edifícios representam mais de 40 por cento do consumo final de energia na União Europeia (o considerando 6), a Diretiva 2002/91171 exige que os Estados-Membros estabeleçam requisitos As substâncias relevantes são dióxido de enxofre e outros compostos de enxofre, óxidos de nitrogênio e outros compostos de nitrogênio; monóxido de carbono; flúor e seus compostos. Mesmo alguns não sendo gases ligados ao efeito estufa, alguns contribuem com sua produção (por exemplo, monóxido de carbono contribui com a produção de dióxido de carbono e metano). Para os seis gases de efeito estufa listados no Protocolo de Kyoto, veja seção 1.1.2.1 deste artigo. 168 Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.211. Vide também Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.344. 169 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.69. 170 Diretiva 2001/77 artigo 2; Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.67. 171 Notar também a Diretiva 93/76 para limitar as emissões de dióxido de carbono através do aumento da eficiência energética (SAVE (sigla em inglês)) e a Diretiva 89/106 na aproximação das leis, regulamentações e provisões administrativas dos Estados Membros relacionados à construção de produtos [1989] OJ L40/12 reformulado pela Diretiva 93/68 [1993] OJ L220/1. A Diretiva 93/76 requereu aos Estados Membros “elaborar e implementar programas para a eficiência energética de edifícios, o faturamento do aquecimento, ar condicionado e água quente na base anual de consumo, isolamento térmico de novos edifícios, inspeções regulares de boilers, e auditorias em energia nas empresas com elevado consumo energético”. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.342. 167 88 mínimos para o desempenho e certificação de eficiência energética para todos os edifícios novos e grandes edifícios antigos submetidos a grande renovação (arts.. 4-7)172. Diretiva 2002/91 também exige que os EstadosMembros tomem medidas para que as caldeiras e sistemas de ar condicionado sejam verificados regularmente por peritos173 independentes a fim de limitar o consumo de energia e as emissões de CO2 especificamente (arts.. 8-10). O objetivo da Diretiva 2003/30 é que até 2011, os biocombustíveis constituam 5,75 por cento das emissões de transportes do mercado de combustíveis174. Diretiva 2003/30 reitera que “as contas do setor de transporte sejam mais de 30 por cento do consumo final de energia na Comunidade” e que este é obrigado aumentar175. A responsabilidade principal para o aumento de CO2 é do transporte rodoviário (84 por cento)176. Diretiva 2003/30 exige que os Estados-Membros “assegurem que uma proporção mínima de biocombustíveis e de outros combustíveis renováveis sejam colocados em seus mercados”, e, para esse efeito, eles têm que estabelecer metas indicativas nacionais (art.3). Diretiva 2003/87 ou Diretiva ETS altera a Diretiva IPCC, que já tratou, entre outras, as licenças das emissões de gases do efeito estufa. A Diretiva ETS faz com que o sistema comunitário de comércio das emissões levem em consideração as metas do Protocolo de Quioto177. Em suma, a diretiva ETS obriga um número de indústrias (refinarias de óleos minerais, fornos de coque, o metal, minerais (o que inclui vidro, aço e fabricação de cimento) e indústrias de papel) a ter uma autorização que determina a quantidade máxima de gases de efeito estufa que podem emitir (art.4)178. Estas indústrias serão responsáveis por cerca de 46 por cento do estima- Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.643. Para boilers, os Estados Membros têm a escolha de requerer que sejam checados ou recomendar aos usuários sobre a substituição de boilers ou outras soluções. Para sistemas de ar condicionado, os Estados Membros devem adotar medidas que incluam tanto a verificação quanto a recomendação. 174 Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.643. 175 Diretiva 2003/30 na promoção do uso de bio-combustíveis ou outros combustíveis renováveis para o transporte [2003] OJ L123 considerando 4. 176 Diretiva 2003/30 considerando 5. 177 ETS (sigla em inglês) Diretiva considerando 22. Para detalhes, vide Streck and Freestone, “The EU and climate change” in Reflections on 30 Years of EU Environmental Law, A High Level of Protection?, 2006, p.104; Davies, “GlobalWarming and the Kyoto Protocol” [1998] 47 International and Comparative Law Quarterly. 178 Indústrias químicas e de incineração de resíduos são excluídas. Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.72. 172 173 89 do para as emissões de dióxido de carbono em 2010 na União Europeia179. A diretiva ETS inicialmente trata apenas das emissões de CO2 das “instalações” (ou seja, unidades técnicas fixas) (art.3). No entanto, a Comissão propôs que a Diretiva ETS pudesse ser ampliada para outros setores e outras emissões GHG em uma data posterior, com a intenção de que todos os GHG sejam eventualmente negociáveis180. O esquema começou em 01 de janeiro de 2005 e funciona da seguinte forma. Se uma instalação considera difícil cumprir o limite que lhe foi permitido, ela pode adquirir licenças (títulos de emissão de CO2) de uma outra instalação que considera fácil respeitar seu respectivo limite e portanto não o atingiu e tem licença sobressalente para negociar. Se a instalação emite mais CO2 do que permitido, terá que pagar multa por tonelada (esta pena começou a ser aplicada em 2008). Aos Estados-membros é dada bastante flexibilidade para atribuir licenças. Eles devem designar uma autoridade competente que irá entregar as licenças (art. 18) e quando ela o fizer deve ter satisfeita a condição de que os operadores sejam capazes de monitorar e reportar as supracitadas emissões.(art. 6.1) Estados-Membros devem também estabelecer um registro para anotar a realização, transferência e cancelamento de subsídio. Qualquer pessoa pode ter subsídios (artigo 19). A diretiva ETS não evita regimes de comércio nacionais (o considerando 16) e será alterada à luz dos desenvolvimentos futuros em nível internacional (ou seja, se futuras convenções internacionais requerem uma maior redução das emissões GHG) (o considerando 22). A este respeito, a União Europeia reconhece que nas emissões de longo prazo terão de ser reduzidas em cerca de 70 por cento em comparação aos níveis de 1990 para combater o aquecimento global corretamente (o considerando 2). O regime comunitário de comércio de emissões, portanto, incentiva o desenvolvimento de tecnologias mais limpas181. Diretiva 2003/96 introduz taxas mínimas sobre todos os produtos energéticos. Estes incluem o carvão, gás, eletricidade, motor e combustíveis para aquecimento. ���������������������������������������������� “Os Estados-Membros são autorizados a introduzir taxas reduzidas para os biocombustíveis e electricidade produzida a Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.72, citando o Explanatory Memorandum of the ETS Directive. Também mencionado por Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.340. 180 Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.299; Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.71. Conforme sugerido pelo Anexo II da Diretiva ETS (sigla em inglês), a Diretiva se aplica aos seis GEE listados no Protocolo de Kyoto. Entretanto, inicialmente apenas o CO2 é coberto. Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, p.643. 181 Thornton and Beckwith, Environmental Law, 2004, p.74; Bell and McGillivray, Environmental Law, 2006, pp.653-654. 179 90 partir de energias alternativas”182. Regulamentação 2006/842 visa reduzir ao mínimo o uso de certas metas de redução de GHG, nomeadamente SF6, HFCs e PFCs. ���������������������������������������������������� De acordo com o artigo 3, os operadores das aplicações estacionárias (isto é,sistemas de proteção de refrigeração, ar condicionado, equipamento de bomba de calor e fogo), que contêm gases fluorados devem utilizar todas as medidas que sejam tecnicamente exequíveis e não acarretem custos desproporcionados, para prevenir e reparar o vazamento. Artigo 4 exige que os gases sejam reciclados, recuperadas ou destruídas. Finalmente, a Diretiva 2006/40 prevê a limitação de gases fluorados no sistema de ar condicionado de carros, limitando a homologação de veículos que contenham gases com muito alto potencial de aquecimento global. A Diretiva 2006/40 entrou agora em vigor (art. 5) uma vez que uma regulamentação para a detecção de fugas harmonizado foi adotada183. 2.1.2.3 Conclusão Agora pode ser visto que as regras ambientais da União Europeia já desempenham um papel importante e crescente na redução das emissões de GHG. Por um lado, os vários princípios do Tratado estabelecem uma sólida base na qual a União Europeia deve basear a sua política ambiental. O desenvolvimento sustentável agora também é parte dos objetivos gerais de todas as políticas da União Europeia. Mais importante ainda, o princípio da integração impõe que os princípios do Tratado sejam respeitados em qualquer política da UE que tenha impacto sobre o meio ambiente. A imprecisão do princípio minimiza a sua força jurídica, mas os tribunais da Comunidade poderiam ser mais agressivos no futuro, em assegurar o respeito às legislações secundárias, reduzindo a margem de apreciação das instituições. Legislação secundária específica impõe a redução das emissões de GEE pela maioria das indústrias (incluindo aquelas que produzem eletricidade), pelo tráfego rodoviário (através da promoção de biocombustíveis) e pelas novas construções e estabelecem um mercado de comércio de emissões, o qual funciona como um incentivo para também reduzir as emissões. Todas essas iniciativas demonstram não apenas um compromisso da União Europeia para reduzir as emissões de GEE, mas também cons182 183 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.346. Regulamentação 706/2007 que estabelece, nos termos da Diretiva 2006/40, disposições administrativas para a homologação de veículos na CE e um teste harmonizado para a medição de vazamentos em certos sistemas de ar condicionado [2007] OJ L161/33. Ver também Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.347. 91 tituem um arsenal abrangente de medidas que efetivamente obrigam os Estados-Membros a reduzir sua pegada de carbono. Este rápido esforço europeu (as diretrizes mais importantes para a redução das emissões foi determinado dentro de um período de três anos, entre 2001 e 2003) só pode ser aplaudido. O objetivo do Conselho em 1999 de aumentar significativamente o perfil da eficiência da energia184 está, certamente, perto de ser alcançado. No entanto, estas medidas não vão longe o suficiente para combater o aquecimento global corretamente. O papel legislação ambiental permanece, de alguma forma, limitado a este respeito. Em primeiro lugar, a legislação até agora só impõe redução de emissões pequenas. As metas determinadas pelas diretivas são geralmente indicativas ou não existentes, ou existentes, mas ainda muito baixas com vista as elevadas metas que precisam ser alcançadas para que exista um efeito significativo. Por exemplo, a diretiva relativa à promoção de eletricidade a partir de energias renováveis tem uma meta de 22 por cento, e as metas nacionais são indicativos185. Da mesma forma, a diretiva que promove biocombustíveis estabelece apenas uma pequena e indicativa meta. Em segundo lugar, nem todas as indústrias são cobertas (somente as indústrias pesadas, embora nem as indústrias químicas, nem as de resíduos sejam cobertas), além disso, não há, de forma alguma medidas relativas ao transporte aéreo, marítimo e ferroviário186. A obrigação que a maioria dos produtos e aparelhos (como aparelhos eletrodomésticos) emitam menos GEE é limitada ou inexistente. É verdade,entretanto, que se , no final, a maior parte da energia for produzida a partir de fontes de energia renováveis, isso não seria um problema. As emissões provenientes da agricultura também não estão cobertas. Além disso, a maioria das construções antigas não tem que dar cumprimento à Diretiva 2002/9. Em terceiro lugar, ainda não há um imposto europeu sobre as emissões de GEE187 (embora a Diretiva 2003/96 trate da tributação dos produtos enerDavies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.297. Provavelmente, no entanto, o fato de os Estados Membros poderem ser solicitados a produzir eletricidade a partir de energia renovável caso os objetivos indicativos não sejam cumpridos e o fato de que os objetivos certamente serão revistos no futuro pode significar que dentro de uma quantidade de tempo razoável, quase toda a eletricidade pode ser produzida por fontes renováveis na CE. 186 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.345 nota os últimos relatórios da Comissão Européia. A comunicação na implementação da primeira fase do European Climate Change Programme (ECCP). COM (2001) 580; COM (2005)655; COM (2006)658 ressaltou que o progresso internacional na redução da emissão de GEE por navios e aeronaves é limitada. Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.347 nota que “os limites de emissões para instalações industriais, casas, navios, aeronaves, navegação fluvial e outros emissores são não previstos.” 187 Uma proposta para uma diretiva sobre a cobrança de taxas de carros de passageiros de acordo com suas emissões de CO2 foi proposta pela Comissão em 2005 (COM (2005)261 final). 184 185 92 géticos e da eletricidade). Embora a diretiva ETS indiretamente incentive a invenção de tecnologias limpas, isto não é suficiente, embora o seu objetivo seja reduzir as emissões GEE, o comércio das emissões não as reduz por si só188 (algumas indústiras continuam poluindo se pagam por isto) e não existe um real controle da Europa sobre as licenças, que são definidas de forma independente pelos Estados-membros e que podem ser, portanto, mais ou menos generosas. A Shell e outros proponentes de captura e armazenamento de carbono (CCS) recentemente expressaram que: “... a estrutura do sistema d ecomércio das emissões Europeias prevê (sic) incentivo insuficiente para as companhias construirem multibilionárias usinas de energia solar que prometem converter os sujos poluentes das usinas termelétricas em geradores de baixa emissão189. Estas iniciativas são excelentes primeiros passos, mas não são ainda suficientes para completa e adequada resolução do aquecimento global no nível da Europa, e muito menos em nível internacional. Isto ocorre porque nem todos os processos: industriais, agrícolas e individuais e produtos são obrigados a emitir menos GEE. Portanto, o sistema de patentes tem certamente um papel a desempenhar para incentivar a invenção de tecnologias verdes. Mas antes de determinar a extensão deste papel, é necessário verificar o impacto exato das leis ambientais para as patentes. 2.2 Implicações da lei ambiental para a lei de patentes Temos agora uma visão global das regras gerais e específicas ambientais adotadas pela União Europeia para reduzir as emissões de GEE. Qual é o impacto sobre as leis de patentes Europeias e nacionais? Esta primeira seção prevê as implicações dos princípios gerais e, em seguida, das regras específicas que regulam as emissões de GEE. 2.2.1. Implicações dos princípios gerais Enquanto o art. 2 da ECT é demasiado vago para ser aplicado como tal, os arts.. 6 e 174.2 da ECT força, em qualquer caso, a União Europeia e seus Estados-membros a desenvolverem de forma mais sustentável certificando-se de que o desenvolvimento econômico não prejudique o meio-ambiente. Isto porque, por definição, o conceito de desenvolvimento sustentável inclui o princípio da integração. Como pode um país alcan188 189 Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.342. The Independent, May 16, 2008, p.40 (business section). 93 çar o desenvolvimento sustentável se não integrar a proteção ambiental dentro de suas regras econômicas?190 A maioria concordaria que a combinação dos artigos 6 e 174.2 significa que as leis de patente (e para este caso, outras leis de propriedade intelectual, se necessário) devem ser reformuladas para levar em conta questões ambientais. Como visto acima, art. 6 estabelece que: “...requisitos de proteção do ambiente devem ser integrados na definição e implementação das políticas e ações da Comunidade referidas no artigo 3 , em especial com vista à promoção do desenvolvimento sustentável.” Artigo 3, listas de aproximação (h) das legislações dos EstadosMembros para a exigência de extensão para o funcionamento do mercado interno, (m) o reforço da competitividade da indústria comunitária e (n) promoção da investigação e desenvolvimento tecnológico, políticas e das atividades que se referem às leis de propriedade intelectual. Consequentemente, se uma invenção emite GEE acima de um certo limite legal, seria, indiscutivelmente, violar tanto o art. 6 como o 174.2. Isso seria por causa da falta das leis de patentes para integrar os princípios contidos no art.174.2. Uma invenção patenteada não respeitaria os princípios da prevenção (ao invés de precaução)191, do poluidor pagador e o da retificação na fonte. No momento, não há medida alguma no EPC; as leis de patente nacionais e a patente proposta pela Comunidade Europeia, que tentam integrar, mesmo que seja um pouco, qualquer um dos princípios estabelecidos no art. 174.2, por exemplo, vem dando tratamento especial para as invenções “verdes” ou penalizando as invenções “não verdes”192. Davies, European Union Environmental Law, an Introduction to Key Selected Issues, 2004, p.29, “o conceito do desenvolvimento sustentável apóia uma abordagem na qual as necessidades ambientais e econômicas para o desenvolvimento são integradas.” 191 O aquecimento global é agora uma certeza, assim o princípio da prevenção se aplica no lugar do princípio da precaução. “Em novembro de 2007, a United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) finalizou o seu Fourth Assessment Report (AR4), sumarizando seis anos de rigorosa pesquisa científica e análise do modo como o clima mundial está se modificando. Este relatório marco certamente não será a última palavra no debate da mudança climática, mas estabelece sem sombra de dúvida que as emissões de gases do efeito estufa provenientes das atividades humanas estão gerando um aquecimento global que pode ter um impacto devastador nas pessoas, nas nossas economias e no nosso meio ambiente.”(grifo nosso). Ver http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/news/news08_en.htm [Acessado em 9 de junho de 2009].O relatório está disponível em http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm [Acessado em 9 de junho de 2009]. 192 Além do efeito indireto e limitado do art.53.a do EPC (sigla em inglês) através da jurisprudência pertinente. Sobre o art.53.a (a moralidade e a disposição da ordem pública), vide E. Derclaye, “Patent law’s role in the protection of the environment - Re-assessing patent law’s functions and justifications in the 21st century” [2009] 3 IIC 249-273. Vide, entretanto, um recente caso na Noruega envolvendo um hormônio de crescimento para peixes transgênicos, onde questões ligadas à avaliação e precaução do risco foram levantadas pelo conselho consultivo norueguês em aspectos éticos do 190 94 Portanto, o Tribunal de Justiça poderia decidir que tal omissão é uma violação do Tratado193. O princípio da precaução já é parte integrante da legislação médica (farmacêutica) Europeia (GM) e da lei de segurança alimentar194. Não há nenhuma razão para que ele não possa fazer parte da lei de patentes, tendo em conta os perigos que certas tecnologias podem representar, incluindo as emissões de poluentes e de gases do efeito estufa. O Instituto Europeu de Patentes (EPO) não tem se saído melhor. Como bem explicado por Pavoni em relação às invenções biotecnológicas: “... na prática, nas suas decisões de indeferimento de pedidos com base em riscos ambientais das invenções biotecnológicas, o Escritório Europeu de Patentes (...) nunca demonstrou o menor esforço para considerar e avaliar os princípios e instrumentos jurídicos do direito ambiental internacional (...) Por outro lado, o princípio da precaução, certamente representa a norma legal mais adequada relacionada com a legalidade das transações comerciais sobre produtos da biotecnologia. O estado de desacordo generalizado sobre o impacto ambiental adverso destes produtos, parece, de fato, estar aptos para uma solução consistente a partir do apelo das medidas do princípio para minimizar ou evitar tais riscos cientificamente incertos. Infelizmente, a EPO tem desrespeitado o princípio de um modo semelhante ao que foi feito por órgãos da OMC. Mais importante, ele apoiou as concepções que estão completamente em desacordo mesmo com o reconhecimento tímido do princípio que tenha ocorrido no âmbito da OMC”195. Infelizmente, o ECJ não tem jurisdição sobre o EPO. No entanto, se o EPO vai contra as convenções internacionais ou mesmo contra a legispatenteamento. O conselho norueguês “abordou o princípio da precaução e risco em relação ao evento devido ao potencial impacto negativo de peixes transgênicos nas populações do mundo (por exemplo, no caso de alguns peixes de fazendas escaparem das redes).” T. Sommer, “Interpreting ordre public and morality in a patent law context: which is the correct approach?” [2006/07] 2 B.L.S.R. 62, 70. O autor não afirma se isso foi feito depois ou antes da patente ter sido concedida. 193 Veja a seção 2.1.1.6. deste artigo. 194 H. Somsen, “Some reflections on EU biotechnology regulation” em R. Macrory, Reflections on 30 years of EU Environmental Law, A high level of protection? (European Law Publishing, The Avosetta Series 7, Groningen, 2006), pp.331-332. 195 R. Pavoni, “Biosafety and intellectual property rights: balancing trade and environmental securitythe jurisprudence of the European Patent Office as a paradigm of an international public policy issue” in F. Franconi (ed.), Environment, human rights and international trade, (Oxford: Hart Publishing, 2001), p.91. 95 lação da UE com os quais seus membros têm de cumprir, vai ser forçado a mudar seus pontos de vista. Mesmo que as instituições da Comunidade não ajam para integrar a legislação ambiental nas outras políticas e que o ECJ não tenha oportunidade de se pronunciar sobre o assunto, isso não impede os Estados-membros de agir para fazê-lo. Em um caso anterior a introdução do princípio da integração,196 o Advogado Geral considerou que o imposto nacional sobre o combustível de aeronave era compatível com a diretiva sobre impostos do petróleo “se prestasse incentivos demonstráveis para o uso de aviões “ambientalmente amigáveis”, portanto teve um efeito de orientação ambiental”197. Assim, de acordo com alguns: “(...) Se medidas nacionais de proteção têm um efeito útil no ambiente comunitário e ajudar a identificar as melhores práticas, este fato deve ser levado em conta”198. Isto é porque os Estados-Membros podem adotar um maior nível de proteção ambiental. Assim: “... artigo 6 [ECT], juntamente com o artigo 5.2 e 5.3, podem fornecer para a preferência por uma interpretação do direito da Comunidade que abre uma certa margem de ação nacional, com a condição de que: (i) a formulação do direito da Comunidade esteja aberta a tal interpretação, (ii) medidas nacionais possam ter um efeito útil no ambiente comunitário e, (iii) outros objetivos da Comunidade não sejam severamente afetados”199. Portanto, os Estados-Membros são livres de mudar suas leis de patentes para integrar a proteção ambiental, na ausência de iniciativa da União Europeia ou EPO. 2.2.2. Implicações nas regras específicas E sobre as implicações das medidas específicas que regulam as emissões de GEE da concessão de patentes? Inventores sempre terão um incentivo para “inventar verde” por causa da regras ambientais Europeias Braathens Sverige v Riksskatteverket (C-346/97) [1999] E.C.R. I-3419 (tributação nacional do combustível de aeronaves). 197 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, 172. 198 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, p.176. 199 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, p.177. 196 96 (e é claro das nacionais). Mais especificamente, quando uma indústria ou produtor têm que cumprir com a legislação secundária que regula as emissões, eles terão incentivo para usar novos processos ou produtos que reduzam as emissões. Assim, as regras ambientais têm um efeito indireto sobre o incentivo para patentear invenções ecologicamente corretas. No entanto, como dito anteriormente, as normas ambientais ainda estão incompletas, por isso enquanto as regras específicas ambientais que regulam as emissões, indiretamente, não gerarem invenções mais verdes, a lei de patentes ainda tem um papel claro, o de preencher as lacunas da legislação ambiental vigente, incumbidas pelo art. 6 do ECT. Por exemplo, a Diretiva 2003/96 vai incentivar os produtores de energia a produzi-la a partir de fontes renováveis, uma vez que estas não são tributadas em comparação com aquelas que emitem GEE (carvão, combustível e carburantes). Portanto, ele irá seduzi-los a inventar tecnologias para produzir esta energia que não envolvam fontes de GEE como eles, caso contrário, serão tributados. No entanto, não irá forçar os produtores a produzir energia a partir de fontes renováveis e, assim, se necessário, inventar novas tecnologias para fazê-lo. Por outro lado, a Diretiva 2002/91 irá forçar os construtores a utilizar materiais que não emitam GEE. Por conseguinte, irá estimular a invenção de tecnologias que permitam isso. Da mesma forma, a Diretiva 2001/77 e a Diretiva 2003/30 irão incentivar a produção de tecnologias permitindo que eletricidade e combustível sejam produzidos a partir de fontes renováveis.O considerando 15 da Diretiva 2003/30 afirma-se que a promoção do uso dos biocombustíveis enquanto o mesmo respeita o desenvolvimento sustentável, poderia “abrir um novo mercado para produtos agrícolas inovadores no que diz respeito aos Estados-membros atuais e futuros.” (grifo nosso) O considerando 24 também diz que “a pesquisa e desenvolvimento tecnológico no domínio da sustentabilidade dos biocombustíveis devem ser promovidos” (grifo nosso) Pode-se ver que há um incentivo implícito para integrar a política ambiental na lei de patentes. Ampliá-lo, poderia, sem dúvida, significar que um regime especial poderia ser estabelecido para tais invenções patenteáveis. A Diretiva 2003/30 também parece implicitamente aplicar o princípio da precaução, já que requer que a Comissão acompanhe o impacto dos biocombustíveis no desenvolvimento sustentável e nas emissões de CO2200. Finalmente, na mesma linha, o regime de co200 A Diretiva 2003/30 considerando 25 estabelece que “um aumento no uso de biocombustíveis deve ser acompanhado de uma detalhada análise dos impactos ambiental, econômico e social de forma a decidir se é aconselhável o aumento da proporção de biocombustíveis com relação aos combustíveis convencionais.” De acordo com o art.4.2, a Comissão tinha que ter elaborado um relatório até 31 de dezembro de 2006 e então a cada dois anos subseqüentemente, o que cobre inter alia: 97 mércio de emissões deveria impulsionar as indústrias pesadas a patentear novas tecnologias que permitam –nas reduzir suas emissões de GEE, como também sugere o considerando 1 da Diretiva 2003/30’s201. No entanto, como visto acima, o esquema ETS não parece ser suficiente como incentivo de acordo com algumas empresas202. Como a diretiva relativa à promoção dos biocombustíveis, é interessante notar que a diretiva ETS parece aplicar o princípio da integração, mas aqui um pouco mais explicitamente203. Esta análise confirma as nossas conclusões na seção 2.1.2.3. deste artigo que as patentes têm um papel a desempenhar na redução das emissões de GEE. Como podem as empresas e indivíduos ir mais longe, além da conformidade com as atuais regras ambientais para combater o aquecimento global e reduzir suas emissões das pegadas de carbono? Em resumo, produzindo menos e / ou usando menos poluentes materiais e energias. Este é o lugar onde as leis de patentes entram em cena. Inventores podem reduzir as pegadas de carbono de todos inventando e patenteando novas tecnologias, sejam elas processos mais eficientes em termos energéticos (por exemplo, invenções usando energia solar ou eólica, processos que absorvam ou transformem GEE em gases neutros, ou seja, não gerando calor ou até mesmo se possível gerando frio) ou produtos (ou seja, que emitam menos emissões de GEE quando usados ou que sejam, recicláveis)204. Em suma, enquanto as regras ambientais funcionarem como um incentivo indireto para inventar tecnologias mais verdes, em função da urgência do combate às alterações climáticas, em função da urgência do combate às alterações climáticas, de acordo com o princípio da integração e não obstante as justificativas da lei atual de patentes, es“(b) os aspectos econômicos e o impacto ambiental de um posterior aumento da parcela de biocombustíveis e outros combustíveis renováveis; (...) (d) a sustentabilidade das culturas utilizadas na produção de biocombustíveis, especialmente a utilização do solo, o grau de intensidade do cultivo, a rotação de culturas e o uso de pesticidas; (e) a avaliação do uso de biocobustíveis e outros combustíveis renováveis em matéria de alterações climáticas e do seu impacto sobre a redução de emissões de CO2.” 201 “The Directive will encourage use of more efficient technologies (…)” (Considerando 20 da Diretiva 2003/30). 202 The Independent, May 16, 2008, p.40. 203 A Diretiva ETS Considerando 25 estabelece que “Políticas e medidas devem ser implementadas tanto a nível nacional como comunitário abrangendo todos os setores econômicos da União Européia, e não apenas nos setores da indústria e energia, de forma a gerar uma redução substancial de emissões” (grifo nosso). 204 Vide, por exemplo, o prêmio Inventor Europeu de 2008, que foi concedido a pesquisadores da Audi pela invenção ligada à produção de carros mais leves e, portanto, mais eficientes do ponto de vista energético por meio da aplicação de materiais mais leves e o time francês, designado para o mesmo concurso, que inventaram um sistema que reduz o nível de ruído de motores de aeronaves, o que também implica na diminuição da emissão de GEE. Vide http://www.epo.org/about-us/ events/archive/2008/epf2008/inventor.html [Acessado em 20 de janeiro de 2009]. 98 tas podem e devem fazer mais para reduzir as emissões de GEE na atmosfera da Terra. 2.3 Nenhum relacionamento antagônico: leis de patente e leis ambientais podem trabalhar juntas Antes de abordar quanto a redução das emissões ainda pode ser alcançada concretamente é útil responder a uma possível objeção, apesar das leis de patentes (Pt 2). Alguns poderiam dizer que as leis ambientais e as leis de patente estão fundamentalmente em conflito, já que a lei de patentes supõe o desenvolvimento de novas tecnologias que inevitavelmente poluiriam. A resposta a esta objeção pode, em grande parte ser encontrada na discussão das seções anteriores. Vale a pena resumi-los aqui, bem como acrescentar outras razões. Se se admite que o princípio da integração tem algum efeito legal, as legislaturas nacionais e Europeias não têm realmente uma escolha. Eles devem integrar o controle de poluição, incluindo o controle de emissões de GEE em suas políticas relevantes para além da sua política ambiental. Como explicado anteriormente (s.2.1.1.5), se houver um choque entre os interesses ambientais e outros, eles devem ser conciliados, sempre que possível, já que todos os objetivos estão em “pé de igualdade” no Tratado205. Somente quando for impossível conciliar os diferentes interesses que, excepcionalmente, um terá de prevalecer sobre o outro206. Este equilíbrio, evidentemente, dependeria da situação, embora se possa argumentar que no caso do aquecimento global, os interesses ambientais devem geralmente prevalecer já que o problema é tão agudo. Isto dito, será que existe realmente um conflito fundamental entre as leis ambientais e a as leis de patente? Provavelmente não, e por várias razões. Em primeiro lugar, o “conflito” entre a propriedade intelectual e o meio-ambiente, se é que existe algum, já está internalizado internacionalmente no art. 27.2 do TRIPS e em nível europeu no art. 53.a do EPC e na jurisprudência pertinente207. Provavelmente, no entanto, eles não vão Krämer, EC Environmental Law, 2006, p.21; Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, p.160. 206 Wasmeier, “The integration of environmental protection as a general rule for interpreting community law” [2001] 38 C.M.L.R. 159, p.163. 207 O Artigo 53.a do EPC (sigla em inglês) é supracitado na fn.3 art.27.2 do Acordo relativo aos aspectos comerciais dos direitos de propriedade intelectual (TRIPs-sigla em inglês) estabelece que “Os membros podem excluir da patenteabilidade as invenções cuja exploração comercial é necessário impedir no seu território, a fim de proteger a ordem pública e os bons costumes, incluindo a proteção da saúde e da vida dos seres humanos, dos animais e dos vegetais, ou no intuito de evitar danos graves no ambiente, desde que essa exclusão não decorra unicamente do fato de a exploração ser proibida pela respectiva legislação. 205 99 longe o suficiente, já que são aplicados somente para evitar sérios danos ao meio ambiente e o princípio da precaução estabelece um teste mais rigoroso. Em segundo lugar, as justificativas importantes e atuais para as leis de patentes não são hostis à “ecologização” das patentes208. Se a justificativa utilitária engloba o progresso em seu sentido mais amplo (isto é, não somente o progresso material, mas também o bem- estar geral ( social, ambiental / climático), tanto a lei de patentes quanto as leis ambientais convivem harmoniosamente. Mesmo a teoria de trabalho de Lock, que implica que deve haver o suficiente que deve ser deixado para a comunidade, o que pode ser encarado coerente com o desenvolvimento sustentável. Em terceiro lugar, o conceito de direito ambiental do desenvolvimento sustentável, por definição, visa conciliar crescimento econômico e proteção ambiental. Os dois não são incompatíveis209. Mesmo além, a proteção ambiental pode ser vista como um incentivo para inventar novas tecnologias. O objetivo do resfriamento global deve, de fato, estimular as atividades de patenteamento; assim a proteção ambiental de fato gera desenvolvimento econômico, como foi sugerido na seção anterior. Pelo menos em parte, a nova tecnologia irá permitir um maior crescimento. Se continuarmos usando tecnologia antiga ou simplesmente os nossos recursos como fazemos agora, inevitavelmente, o desenvolvimento econômico terá que diminuir consideravelmente ou até mesmo terá que parar. Relacionado a isso, a mudança climática também deve promover as invenções, uma vez que o objetivo da invenção é encontrar soluções para os problemas e este é o teste principal da exigência da lei de patentes de invenção210. Esta objeção foi deixada de lado, a segunda parte deste artigo, irá analisar como as leis de patentes podem fazer mais para combater as alterações climáticas. Vide E. Derclaye, “Patent law’s role in the protection of the environment - Re-assessing patent law’s functions and justifications in the 21st century” [2009] 3 IIC 249-273. 209 Lee, EU Environmental Law, Challenges, Change and Decision-making, 2005, pp.35-37 (“Deve ser lembrado que a reconciliação entre o crescimento econômico e a proteção ambiental é o objetivo do desenvolvimento sustentável”).O Considerando 5 da Diretiva ETS estabelece claramente que a EU quer cumprir suas obrigações internacionais “com a menor redução possível do desenvolvimento econômico e do emprego”. 210 Para o Reino Unido, vide Biogen Inc v Medeva Plc [1997] R.P.C. 1, HL. A inventividade é o problema e a sua própria solução. 208 100 CAPÍTULO 4 A lei de patentes deveria ajudar a resfriar o planeta? Um questionamento do ponto de vista da lei ambiental? Parte 2* Estelle Derclaye** Sumário: 1 Introdução; 2 Implementação da lei de patentes-como a lei de patentes pode ajudar a reduzir as emissões de GEE; 2.1 Sistema Negativo; 2.1.1 Prós e contras ; 2.2 Sistema positivo; 2.2.1 Prós e Contras; 2.3 Qual sistema é o melhor?; 2.4 Formas de se determinar e provar a consciência ecológica de uma invenção; 2.4.1 Estabelecendo padrões; 2.4.2. Ônus da prova; 2.5 Conclusão; 3 Conclusão 1 INTRODUÇÃO A Parte 1 deste artigo examinou os princípios gerias ambientais que se aplicam à questão da mudança climática, e as regras específicas relativas ao aquecimento global, a fim de descobrir qual é o impacto das leis ambientais sobre as leis de patentes. Ele revelou que de acordo com o Tratado UE, as leis de patentes devem integrar as preocupações ambientais. A parte II prevê concretamente como a lei de patentes pode e deve ajudar a reduzir ainda mais os gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, acima das leis ambientais atuais. Ele analisa os diferentes sistemas possíveis que podem ser postos em prática (negativo, positivo ou misto), determina qual é o melhor (seções. 2.1 a 2.3) e analisa um método para determinar a consciência ecológica de uma invenção e quem deve suportar o ônus da prova. (seção 2.4) O artigo conclui que as leis de patentes precisam urgentemente responder às preocupações ambientais e, mais particularmente, ao problema das alterações climáticas, e defender a adoção de um sistema misto. 2 IMPLEMENTAÇÃO DA LEI DE PATENTES - COMO LEI DE PATENTES PODE AJUDAR A REDUZIR AS EMISSÕES DE GEE A questão abordada neste artigo é como a lei de patentes pode concretamente fazer algo para resfriar o planeta. Há três maneiras em que isto 101 pode ser alcançado. Em primeiro lugar, isto pode ser alcançado “negativamente”, ou seja, impedindo o patenteamento de invenções poluentes, ou, em outras palavras, requerindo que todas as invenções sejam “ecofriendly”. Em segundo lugar, ele pode ser alcançado “positivamente”, ou seja, através ao patenteamento de invenções “verdes” ou, em outras palavras, concedendo-lhes um tratamento especial em comparação com as outras invenções. Em terceiro lugar, pode ser feito através de um sistema misto combinando os componentes positivos e negativos supracitados. Esta seção irá pesar os prós e contras de cada solução e propor um dos sistemas como o mais adequado. Antes de examinar as diversas possibilidades, deve-se notar que algumas disposições dentro de uma lei de patentes, às vezes têm o efeito de proteger o ambiente e reduzir as emissões de GEE. Estes são, nomeadamente, as licenças compulsórias e do princípio de esgotamento. As licenças compulsórias forçam o inventor de uma invenção “eco-friendly” ou, mais especificamente de carbono neutro, a fazer uso dele, se ele ou ela se recusarm a fazê-lo, ou a conceder a uma licença a um inventor subsequente que a melhorou substancialmente. O princípio do esgotamento permite a reciclagem de produtos patenteados1. Estas disposições gerais, que ajudam a reduzir as emissões de GEE, têm sido exploradas em uma outra contribuição já referenciada ao leitor2. 2.1 Sistema Negativo A ideia de sistemas positivos e negativos dentro de leis de patentes pode ser comparada com sistemas similares utilizados em leis ambientais. O Emissions Trading Scheme (ETS) é uma medida positiva (se você concorda em reduzir as emissões de CO2, damo-lhes incentivo financeiro), enquanto a tributação de substâncias poluentes (por exemplo, a taxa3 sobre a mudança climática no Reino Unido é uma medida Este texto intitulado na versão inglesa original: “Should patent law help cool the planet? An inquiry from the point of view of environmental law: Part 2.” foi publicado em International Energy Law Review, 2009, 6, p. 229-237. A tradução para a língua portuguesa foi feita por Girlayne Costa Faria. ** Professora de Direito da Propriedade Intelectual na Universidade de Nottingham, Mestre em Direito pela George Washington University (LLM) de Doutora pela Queen Mary University of London. 1 A exceção da pesquisa pode também permitir que outros inventores aprimorem patentes ecologicamente corretas já existentes. Vide, por exemplo UK Patents Act 1977 art.60.5.b. 2 E. Derclaye, “Intellectual property rights and global warming” (2008) 12(2) Marquette Intellectual Property Law Review 264-97. Os Direitos Humanos podem também, até certo ponto, auxiliar na proteção do meio ambiente. 3 Sobre esse assunto, vide, por exemplo S. Bell and D. McGillivray, Environmental Law, 6th edn (Oxford: Oxford University Press, 2006), p.651. * 102 negativa (se você não reduzir CO2, vamos tributar você). Assim, ao abrigo de um sistema de patentes negativo, a lei exige que para ser patenteável, uma invenção deve ser “eco-friendly.” Nenhuma patente seria entregue para, no nosso caso específico, as invenções que aumentam o nível de GEE na atmosfera em uma certa percentagem. Esse percentual seria fixado na lei e revisado, se necessário. Poderia ser fundamentado nas exigências das leis ambientais ( por exemplo, O Protocolo de Quioto) ou ir mais longe e basear-se nos dados de 1990 do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que afirmou que a estabilização das concentrações de CO2), emissões atuais, teriam que ser reduzidas em 60 a 80 por cento4. Como alternativa, em um sistema negativo suave, as invenções poluentes patenteadas seriam permitidas, mas seriam tributadas. Por exemplo, uma taxa, além das taxas regulares seria pago a um fundo que financiaria invenções verdes. Seria, portanto, como um imposto verde e permitiria a sociedade para reconhecer a utilidade do regime de patentes5. As leis de patente nacionais e Europeias já têm previsto um sistema negativo através da prestação de ordem pública da Convenção da Patente Europeia (CPE) (art.53.a) e da interpretação da jurisprudência6. Já é uma ferramenta importante para resfriar a Terra já que a lei poderia ser aplicada no caso da liberação excessiva de GEE pela invenção, uma vez que ela poderia danificar seriamente o meio-ambiente. No entanto, a interpretação corrente do art. 53.a não aprofunda o suficiente, pois não integra devidamente os princípios da prevenção e da precaução. Além disso, apenas nos casos em que é provável que a invenção patenteada irá danificar seriamente o meio-ambiente, esta não será patenteável ou será revogada. Um olhar mais atento ao caso mais relevante, Plant Genetic Systems (PGS)7, demonstra isso com riqueza. Neste caso, o conselho se contradiz ligeiramente em dois pontos importantes. Primeiro, o conselho não aplica o princípio da precaução, embora, sem dúvida, refira-se implicitamente a ele. Ele diz que pode haver sérios danos ao meio-ambiente, mas considera que a patente é válida. Em segundo lugar, ele diz que o art. 4 5 6 7 J. Thornton and S. Beckwith, Environmental Law, 2nd edn (London: Sweet & Maxwell, 2004), p.55. I. Nitta, European Patent Forum 2008, slide 11, http://www.epo.org/about-us/events/archive/2008/epf2008/forum-1/details2.html [Acessado em 12 de fevereiro de 2009], adicionando que se aplicaria a todas as patentes (não está claro, entretanto, se isso incluiria invenções verdes). D. Alexander, “ Some themes in intellectual property and the environment” (1993) 2(2) Review of European Community and International Environmental Law 116 (o caso PGS) “ilustra uma abordagem negativa à proteção da propriedade intelectual para tecnologias que afetam o meio ambiente – argumentando que a proteção deveria ser recusada se a exploração da invenção representa ameaça de danos ao meio ambiente”. [sic]). Plant Genetic Systems/Glutamine Synthetase Inhibitors v (Opposition by Greenpeace) (T-356/93) [1995] E.P.O.R. 357. 103 53.a obriga-o a examinar as implicações de ordem pública das patentes8, mas isso não pode substituir a autoridade reguladora competentes. É melhor citar algumas passagens da decisão para ilustrar estes dois pontos. Em relação aos estudos científicos que foram apresentados antes, o conselho disse: “Esses documentos fornecem evidência fundamental de possíveis riscos decorrentes da aplicação de técnicas de engenharia genética para plantas, em especial sobre a produção de plantas resistentes a herbicidas. Isto é feito a fim de aumentar a sensibilização dos leitores da necessidade de explorar esta tecnologia com precaução9. (grifo nosso) Quanto ao prejuízo ao meio ambiente, ele disse: “É claro que estes eventos podem ocorrer em certa medida. Este fato tem mesmo sido admitido pelos inquiridos10.” Conclui-se que: “O Conselho observa que o simples fato de que... pode haver deficiências no quadro regulamentar, isto não confere autoridade ao EPO para realizar tarefas que deveriam ser adequadamente o dever da atividade reguladora especial ou órgão constituído para este efeito.” No entanto, na opinião do Conselho de Administração, os documentos citados não levam à conclusão definitiva de que a exploração de qualquer assunto alegado poderia seriamente prejudicar o meio-ambiente, e é, portanto, o contrário de ’ordem pública’. Seria injustificado negar uma patente nos termos do artigo 53 (a) EPC [Convenção sobre a Patente Europeia] apenas com base em possíveis perigos, ainda não conclusivamente – documentados” 11(grifo nosso). Esta declaração não está claramente aplicando o princípio da precaução como na visão do conselho, uma “conclusão definitiva” de que o meio-ambiente seria seriamente prejudicado teria de ser elaborada a fim de revogar a patente. 8 9 10 11 A idéia de que a lei de patentes é protegida das considerações da política pública “foi (embora cuidadosamente) rejeitada pelo próprio EPO quando é admitido que ‘os escritórios de patentes estão situados entre a ciência e a política pública’ e, portanto, qualificados para fazer juízos de valor sobre uma dada tecnologia”. R. Pavoni, “ Biosafety and intellectual property rights: balancing trade and environmental security—the jurisprudence of the European Patent Office as a paradigm of an international public policy issue” in F. Franconi (ed.), Environment, human rights and international trade (Oxford: Hart Publishing, 2001), p.93. PGS [1995] E.P.O.R. 357 at 373. PGS [1995] E.P.O.R. 357 at 372. PGS [1995] E.P.O.R. 357 at 373. 104 Pode-se, no entanto, simpatizar com a decisão do Instituto Europeu de Patentes (EPO), num segundo ponto. Ele é forçado pelo art. 53.a a decidir se uma invenção é contra a ordem pública, mas em muitos casos (complexos), não se tem ferramentas para fazê-lo. Isto é, talvez, a justificativa para se preferir dar o benefício da dúvida para a invenção. Agências competentes especializadas seriam mais bem equipadas para avaliar os perigos de uma invenção. Além disso, tem-se argumentado que pode ser inapropriado deixar esses assuntos importantes para o EPO, porque não é tão democrático como quanto um corpo legislativo12. No entanto, pode ser contra-argumentado que as jurisdições em todos os lugares são obrigadas a aplicar esta disposição e também não são eleitas. As soluções para este problema serão propostas a seguir. Quanto ao primeiro ponto, pode-se argumentar se o EPO deve ou não estar vinculado ao princípio da precaução, já que a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia, membros do EPO estão vinculados a ele e devem integrá-lo a sua legislação, o EPO pode ser obrigado a levar isso em conta na sua jurisprudência13. Se não o fizesse, isto criaria discrepâncias entre as decisões dos escritórios de patentes nacionais e dos tribunais dos Estados – Membros da UE, que estão definitivamente vinculados pelo princípio. Infelizmente, é bem possível que até mesmo a tímida interpretação em PGS não se desenvolva tanto, ou seja, até mesmo abandonada. Enquanto o presidente anterior da EPO era a favor de uma interpretação ampla da cláusula da moralidade e da ordem pública14, esta não parecia ser o ponto de vista corrente15. No entanto, os analistas parecem concordar que o art.53.a deve permanecer e não ser interpretado de forma restritiva. Não 12 13 14 15 D. Alexander, “Some themes in intellectual property”, pp.115-116. T. Sommer, “Interpreting ordre public and morality in a patent law context: which is the correct approach?” (2006/07) 2 B.L.S.R. 62, 69,fn.41 nota que um grupo de trabalho do Danish Group of Technology, em um relatório chamado “Recomendações para o sistema de patentes do futuro”, recomenda que as leis de patentes considerem o princípio da precaução. Vide também a consideração do princípio pelo comitê consultivo norueguês em aspectos éticos do patenteamento em um caso envolvendo um hormônio do crescimento para peixes transgênicos. Sommer, p.70. O fato de exceções deverem ser interpretadas restritivamente foi questionado por Alain Pompidou em um convite para comentar o caso WARF . De acordo com ele, a convenção de Vienna estabelece claramente que “a interpretação de um tratado internacional não deve depender exclusivamente da reconstituição das intenções originais das partes contratantes... O Artigo 52(1)EPC não consagra o princípio geral de interpretação restritiva das exclusões. A presunção em favor de uma interpretação restritiva das exceções à patenteabilidade limitaria indevidamente a importância da competência moral nos termos do artigo 53(a) da EPC e do regulamento 23d(c), propósito do qual é a incorporação de uma classificação mais elevada dos princípios legal e moral na lei de patentes Europeia, e estaria, portanto, em conflito com o objetivo geral dessas normas. ... O princípio da interpretação restrita das exceções não deveria ser invocado de forma genérica sem indicar as razões quanto à sua aplicabilidade.” Vide Sommer, “Interpreting ordre public ”, p.70. Comentários de Pompidou estão disponíveis em http:// www.cipa.org.uk/download_files/epo_warf.pdf [Acessado em 12 de fevereiro de 2009]. A presidente atual do EPO, Alison Brimelow, prefere uma interpretação restrita do Art.53 (baseado em uma conversa pessoal entre ela e o autor no Forum Europeu de Patentes em 2008). Conseqüentemente, o EPO não deve estar inclinado a ampliar ou até mesmo seguir suas decisões anteriores. 105 há fundamentação jurídica para apoiar o argumento de que as patentes não são instrumentos de política pública e, portanto, não deve impor princípios da legislação ambiental e as regras de patentes em um processo jurisdicional16. Em qualquer caso, estamos presos ai EPC art. 53.a e às disposições similares da diretiva Biotech Directive eand TRIPS art.27.217. Pavoni argumenta veementemente que já que a concessão de uma patente é “uma recompensa pública para a contribuição ao progresso científico e, consequentemente, para o bem estar da humanidade”, as invenções que irreversivelmente ameaçam prejudicar o meio-ambiente “não cumpre este requisito básico” e, portanto não devem ser patenteáveis18. Artigo 53.a, obriga assim escritórios de patentes e tribunais a negar a patenteabilidade ou a revogar as patentes que danificam o meio ambiente19. Outros analistas também acreditam que o sistema de patentes não deve desconsiderar as questões éticas e morais20. 2.1.1 Prós e contras Várias vantagens para este sistema podem ser identificadas. Primeiro, é ético. Em segundo lugar, evita um conflito em situações em que o Estado, através do seu escritório de patentes, aceita a patenteabilidade de uma invenção e endossa esta como uma recompensa pública pelos esforços do inventor e, posteriormente, a rejeita, através de seus órgãos reguladores. Em terceiro lugar, também evita o desperdício do dinheiro do inventor em taxas. Finalmente, talvez o melhor argumento, que está ligado ao primeiro, seja que o art.53.a está aqui para ficar (é improvável que este seja suprimido ou revisto a partir da EPC e / ou de leis nacionais) e seu propósito é desencorajar os pesquisadores a investir dinheiro em invenções antiéticas, uma vez que eles correm o risco de não serem recompensados. O principal argumento contra este sistema é que as leis de patentes não deveriam estar fazendo considerações éticas, e que isso deveria 16 17 18 19 20 Pavoni, “Biosafety and intellectual property rights”, p.92, citando Alexander, “Some themes in intellectual property”, p.113 e A. Wells, “Patenting new life forms: an ecological perspective” [1994] E.I.P.R. 111, 112-113, que também acredita que a lei de patentes é um “servo da política pública”. Pavoni, p.92. Diretiva 98/44 sobre a proteção legal das invenções biotecnológicas [1998] OJ L213/13. Pavoni, p.93. Pavoni, p.93. P. Drahos, “Biotechnology patents, markets and morality” [1999] E.I.P.R. 441, 449, citado por Pavoni, pp.9293; G. van Overwalle, “Legal and ethical aspects of bio-patenting” em P. Drahos, Death of Patents (QMIPRI and Lawtext publishing, 2005), p.222, fn.18 (Embora acrescentando que o sistema de patentes deveria atuar apenas como um “pedágio” moral na medida em que se trata de assuntos que estão diretamente ou inextricavelmente ligados com patentes e o exercício das patentes: a lei de patentes não deve interferir quando a pesquisa é eticamente indesejável”), citado por Sommer, “Interpreting ordre public”, p.73. 106 ser deixado para outras leis. Em tal sistema, o inventor ainda seria capaz de obter a patente, e se o órgão regulador se recusar a dar a sua autorização de exploração, pode ser possível rever esta decisão, uma vez que mais evidencias sejam apresentadas, ou que as políticas públicas ou as normas ambientais sejam alteradas anos depois, possibilitando que a a patente seja finalmente explorada. Em resposta a este argumento, podese pensar que os inventores poderiam ainda enviar (não propriamente depositar um pedido de patente) documentos registrando suas invenções, para o escritório de patentes, o que poderia mantê-los até que a evidência ambiental fosse mais concreta e, o que constituiria uma prova de primeiro a depositar. Uma vez que a evidência é comprovada, o titular de patente poderia, então, depositar seu pedido. No entanto, em alguns casos, isto pode levar anos e a tecnologia pode ter se tornado obsoleta de qualquer maneira. Outro argumento poderoso à primeira vista é que, se invenções poluentes são proibidas, elas caem no domínio público de forma que todos podem explorá-las, elas se tornam mais difundidas e, como custam menos do que as com patente verde, as pessoas as usam mais21. No entanto, este argumento não é verdadeiro por duas razões principais. Primeiro, se elas são proibidas, aqueles que desejam ter exclusividade não vão perder dinheiro investindo em invenções sujas ou poluentes22. Eles irão, em vez disso, tentar inventar produtos ecológicos para serem recompensados com a exclusividade de uma patente. Em segundo lugar, as leis ambientais também proíbem a poluição, de modo que, mesmo que algumas empresas queiram continuar usando produtos e processos poluentes, a lei vai contra-atacá-los de outra maneira para puni-los. Isso mostra novamente que as leis ambientais e as patentes são complementares. Consequentemente, parece que um sistema negativo é indispensável (pelo menos atualmente e de forma realista). Soluções para o sistema negativo baseado na EPC art.53.a aplicar, podem ser elaboradas de modo que o sistema funcione melhor do que atualmente. Primeiro, em essência, mudanças nas leis nacionais e, idealmente, na EPC seriam melhor para a segurança jurídica. A maneira mais fácil seria incluir os danos ao meio ambiente no art.53.a para que as invenções prejudiciais ao meio ambiente não fossem patenteáveis. Isto incluiria todos, e não apenas os danos ambientais graves. Para maior clareza, a disposição também incluiria a liberação excessiva de GHG no âmbito dos danos ambientais. Em 21 22 E. Armitage and I. Davis, Patents and Morality in Perspective (London: Common Law Institute of Intellectual Property, 1994), p.58. Armitage and Davis, p.58 (deterrence effect). 107 segundo lugar, sobre o procedimento, embora seja claro que o EPO deve verificar se uma invenção não ofende a ordem pública, o que está menos claro é como ele deve fazer isso. É uma acusação recorrente que o EPO não deve executar esta tarefa, pois: “... Iria interferir com outras autoridades competentes [sic] que aplicam o princípio da concessão de autorizações, quer para atividades de pesquisa a montante, ou a jusante da comercialização dos produtos”23. Também foi argumentado que os escritórios de patentes estão mal equipados para fazer essa avaliação. No entanto, isto não é um problema insolúvel. As soluções podem ser previstas. A mais fácil é que a EPO ou os escritórios nacionais de patentes suspendam seus procedimentos relativos a patenteabilidade de uma invenção potencialmente poluidora, até o organismo ou agência se pronuncie sobre esta questão, e então, sigam a sua decisão. Alternativamente, se a EPO ou os escritórios nacionais precisarem de ajuda nesta questão, eles devem fazer perguntas ao organismo regulador, e suspender o processo até receber as últimas respostas e, em seguida, decidir, com base no parecer do organismo regulador. Sistemas similares podem ser usados em processos de infração. O réu poderia reconvir, dizer que a patente é contrária à ordem pública e pedir ao tribunal para submeter uma questão ao órgão regulador. Por conseguinte, o art.53.a também deveria incluir uma frase referindo-se a como avaliar os danos ambientais. Atualmente, no entanto, a lei não é satisfatória. A lei de patentes serve para a proteção ambiental muito inadequadamente, e muito menos para a redução das emissões de GHG na atmosfera. A jurisprudência do artigo 53.a não se aprofunda o suficiente e o princípio de integração não é implementado (ainda) em leis e decisões Europeias e nacionais. A força atual do princípio da integração é um empecilho para sua melhor aplicação. Pode haver um vislumbre de esperança, no entanto, na própria decisão do PGS. O conselho afirmou que: “... Seria indubitavelmente contra a “ordem pública” ou, a moralidade propor um mau uso ou, o uso destrutivo destas técnicas. Assim, nos termos do artigo 53.a EPC, nenhuma patente pode ser concedida a uma invenção voltada para tal uso “24. Portanto, se um argumento do adversário de que a invenção prejudica gravemente o meio ambiente não conseguisse convencer o EPO, o 23 24 Sommer, “Interpreting ordre public”, p.69, fn.41. PGS na 370. 108 escritório de patentes nacional ou um tribunal, ele ou ela poderia dizer que a tecnologia proposta é mal utilizada ou contribui para a destruição do meio ambiente, por exemplo, através do aumento de GHG na atmosfera, acima de um determinado percentual. Resta saber, no entanto, como essas duas sentenças serão ainda interpretadas pelo EPO e pelos escritórios e tribunais nacionais. 2.2 Sistema positivo Sob um sistema positivo, invenções ecológicas seriam incentivadas através de um tratamento especial e preferencial no âmbito das leis de patentes. Este sistema não iria proibir invenções que não são ecologicamente corretas, mas simplesmente incentivar aquelas que são. Uma série de medidas podem ser consideradas para tratar invenções ecológicas de maneira mais favorável, ou em outras palavras, subsidiá-las: • dar invenções ecológicas prioridade sobre as outras, dando aos candidatos vantagens administrativas,% Y (3) 6D exames mais rápidos, taxas reduzidas para o pedido, concessão e manutenção de patentes, a remoção das invenções ecológicas do exame diferido, publicação mais rápida e / ou prioridade nos estágios de oposição e infração25 (a chamada “via rápida”do sistema)26; • maior proteção, e.g.,27 alongar o prazo de invenções ecológicas (um exemplo seria o de dar um Certificado Complementar de Proteção (SPC) no final do prazo da patente normal, se for provado que a patente tinha benefícios ambientais significativos)28; • As licenças compulsórias29, aquisições voluntárias de patentes e compromissos de compra30; 25 26 27 28 29 30 Vide R. Blum, “The threat to our environment and the protection of intellectual property” [1973] Industrial Property 243; F.-K. Beier, “Future problems of patent law” [1972] I.I.C. 423, 443 (que recomenda a maioria dessas medidas seguindo os regimes especiais americano e japonês para invenções amigáveis ao meio ambiente e estendendo a idéia para outros tipos de tratamento preferencial para invenções úteis socialmente). C. Bastioli, European Patent Forum 2008, slide 22. Verheugen em seu discurso no Forum Europeu de Patentes 2008. Beier, “Future problems of patent law”, p.443 Alexander, “Some themes in intellectual property”, p.116 (contudo, duvidando se tal sistema incentivaria necessariamente as empresas a desenvolverem tecnologias amigáveis ao meio ambiente). Sobre esses assuntos, vide Derclaye, “Intellectual property rights and global warming”. Mas alguns proporiam licenças de invenções verdes ainda mais agressivas, as quais podem ter o efeito contrário da dissuasão, em primeiro lugar, das invenções verdes. Y. de Boer, European Patent Forum 2008, slide 12. 109 • pesquisas financiadas pelo Estado para proteger o meio ambiente31 (isto já é parcialmente feito por financiamentos nacionais e da UE, e.g, através de centros universitários de pesquisa financiados pelos órgãos concessores e pela fonte de financiamento FP7); • “prestando assistência oficial na exploração de invenções”32, e • Os prêmios ou montantes fixos, que seriam pagos ao inventor em proporção com a utilidade da invenção33. Em um sistema positivo, devem haver prioridades específicas do setor? Em primeiro lugar, uma prioridade pode ser estabelecida entre os diferentes tipos de poluição. Como o aquecimento global é provavelmente o problema ambiental mais urgente, aquelas invenções que o enfrentam devem ser examinadas prioritariamente34. Então, no âmbito deste setor específico, uma vez que a fonte de crescimento mais rápida das emissões de GHG é o transporte,35 poderia haver uma outra prioridade nesta área de patentes, por exemplo, por melhores carros com combustível eficiente, combustíveis que emitam menos ou nenhum CO2, etc. 2.2.1 Prós e Contras As vantagens deste sistema são evidentes (redução da poluição, incluindo as das emissões de GEE que deve acontecer). No entanto, tal regime especial funciona nos “dois sentidos”36. Ele fornece um incentivo mais forte, mas por outro lado, torna a tecnologia mais cara para o uso37. Também pode demorar mais tempo para a concessão de patentes38. Além disso, se esse tratamento especial é dado às invenções “verdes”, então patentes em outros campos alegarão que também deveriam ter tratamento favorável (por 31 32 33 34 35 36 37 38 Blum, “The threat to our environment”, p.248. que propôs a criação de institutos de pesquisas estatais com este propósito. Gostaríamos de acrescentar para atualizar seus pontos de vista, e mais especificamente, para reduzir as emissões. Beier, “Future problems of patent law”, p.445 Blum, “The threat to our environment”, p.247. Sob o sistema proposto, as invenções seriam classificadas por um organismo internacional, de acordo com o critério de utilidade. Blum, em seguida, discute o financiamento desses prêmios. No entanto, ele acha que tal sistema de prêmios e de pesquisas financiadas pelo governo, não é suficiente para incentivar invenções mais “verdes” e mais precisa ser feito no âmbito internacional. J. Barton, European Patent Forum 2008, slide 18, é a favor disto. Bell and McGillivray, Environmental Law (2006), p.64 Alexander, “Some themes in intellectual property”, p.116. Ver também, J. Phillips, Editorial, “Green patents”, Patent World (1990), p.2; e S. Scotchmer, European Patent Forum 2008, slide 2: “Patentes são apresentadas como solução e problema” para o aquecimento global. “ O problema com as patentes é que, se uma tecnologia limpa é cara para ser usada, ela não será adotada.” Phillips, “Green patents”, p.2; e Armitage and Davis, Patents and Morality in Perspective (1994), p.63 110 exemplo, produtos farmacêuticos)39. Além disso, um sistema inteiramente positivo significaria que o art.53.a e as disposições nacionais semelhantes teriam que ser revogados, o que é improvável, e, em nosso ponto de vista, insalubre. Alguns também argumentam que , por vezes, uma invenção que não está ligada ao meio ambiente, pode vir a tornar-se mais tarde. Portanto, as invenções verdes não devem se beneficiar do tratamento favorecido. Isto não é irremediável. Se isto é assim, o titular da patente poderia ser recompensado a posteriori pelo longo prazo, por exemplo, ou pelo reembolso das taxas de patente entre outros. Finalmente, um tratamento especial pode favorecer uma corrida para a criação de invenções “verdes”, o que é bom, claro, mas pode efeitos secundários porque os inventores vão tentar se encaixar nos critérios. É por isso que precisamos de normas rígidas para que não haja “lobby”. O argumento mais forte contra o recurso específico que poderia prolongar o prazo da patente é a sua contradição com o EPC. No entanto, EPC art.63.2.b poderia ser usado para justificar o prolongamento, tais como, em cada caso, uma autorização teria de ser concedido. Por outro lado, O TRIPS não impede um prazo mais longo (art.33) e especificamente, permite uma maior proteção se isto não contradisser o acordo TRIPS (art.1). Caso contrário, parece que a União Europeia poderia “burlar” o EPC art. 63, pois, sem dúvida, o fez para os SPCs. Finalmente, um sistema misto simplesmente combinaria os elementos de cada, isto é, aqueles do sistema negativo e positivo. Assim, os inventores seriam incapazes de patentear invenções poluentes, ou então seriam tributados, e invenções mais “verdes” se beneficiariam de um tratamento especial em comparação com outros tipos de invenções. 2.3 Qual sistema é o melhor? Olhando para trás, todos os prós e contras, qual sistema seria melhor? E como é que um sistema positivo, negativo ou combinado evoluiria ao abrigo de diversas correntes e novas justificativas propostas para a lei de patentes? Existem mais prós do que contras, ou os contras têm menos peso do que parece. As vantagens falam por si só. O golpe do sistema negativo já foi abordado na Parte 1, seção 2.1. Para os que são contrários ao sistema positivo, pode ser verdade que haja mais demora para concessão de patentes, mas, em qualquer caso, o inventor tem que ter a sua primeira invenção avaliada pelo órgão ambiental competente. Somente quando ele recebe o aval, a patente é devidamente arquivada, então o prazo 39 Alexander, “Some themes in intellectual property”, p.116. Para resolver o problema, Nitta, European Patent Forum 2008, slide 2 coloca os medicamentos nas tecnologias “verdes”. 111 não seria afetado. Em muitos casos, para todos os tipos de inventos que implicam um perigo, (medicamentos, alguns alimentos, algumas outras tecnologias que envolvem a segurança), patenteadores têm que esperar para poderem explorar a sua invenção. Portanto, esse problema não é novo (e foi resolvido para alguns produtos com SPCs) O mesmo vale para o custo. Pela mesma razão, não custaria mais do que no presente, já que a avaliação deveria ser feita pelo mesmo órgão regulador, e aprovado pelo escritório competente de patentes. A objeção de que as invenções de outros setores, como o setor farmacêutico, também são dignas de tratamento preferencial pode ser facilmente resolvida através da adoção de um tratamento especial para elas também. Na realidade, eles já desfrutam de tal tratamento graças aos SPCs. Além da lógica da justiça e da equidade, as razões de patentes atuais não parecem estar em contradição evidente com um sistema positivo e / ou negativo. Alguns são mais fortemente favoráveis a um sistema que aos outros. A teoria do trabalho é suficiente e é tão bom requisito que parece estar de acordo com o sistema negativo e talvez com o sistema positivo também. A lógica da equidade ou justiça provavelmente ditaria que todas as invenções merecem ser patenteados, mesmo que elas danifiquem o meio-ambiente. Por conseguinte, nem o sistema positivo, nem o negativo seria possível, embora um tratamento que favorecesse as invenções “verdes” pudesse ser discutido. Um sistema negativo poderia ser encarado sob a teoria da recompensa um pouco mais detalhada (parece contraditório premiar invenções prejudiciais) e um sistema positivo poderia ser defendido indubitavelmente considerando que as invenções “verdes” merecem uma recompensa maior. A lógica utilitarista, que ainda subjaz a maioria das leis de patente atuais, já concorda com um sistema negativo (como ilustrado pelo EPC, art. 53.a e as disposições nacionais correspondentes)40. Um sistema positivo, no entanto, não é óbvio devido ao princípio da neutralidade, embora a justificativa per se não evite tal sistema41. A função de divulgação (em que, como um lembrete, patentes existem para fornecer informações para o resto da indústria) concordaria tanto com o sistema negativo como com o sistema positivo42. Um sistema negativo impediria a divulgação de tecnologia danosa43, e um sistema positivo incentivaria 40 41 42 43 TRIPs art.33 afirma: “...a duração da proteção oferecida não terminará antes da expiração de um período de vinte anos, contados da data do depósito.” Apesar do princípio da neutralidade ligado à presente justificativa. Vide: e Alexander, “Some themes in intellectual property”, p.116, que diz que ele pode conceder mais incentivo. Pelo menos o seu apoio estatal, já que tal informação poderia ser revelada de qualquer maneira. (exemplo, na internet, etc.) 112 ainda mais a divulgação. Finalmente, a função de sanção pública do sistema de patente é definitivamente a favor de um sistema negativo e , possivelmente, também de um sistema positivo. E sobre a proposta revisitada ou novas justificativas? Se a função utilitária da lei de patentes é revisada, seguindo as evoluções feitas no artigo previamente publicado44, um sistema negativo é obrigatório. Assim, sob essa visão ampliada no progresso (ou seja, a ideia de que a lógica do “progresso” inclui não somente a riqueza material, mas a riqueza geral, e, portanto, um bom ambiente), todas as invenções e criações devem ser “eco-friendly” e não há a necessidade de um regime especial para invenções e criações “eco-friendly”. Somente um regime negativo poderia, portanto, ser previsto. É claro que o ponto de vista que propõe simplesmente levar em consideração as preocupações ambientais nas leis de patente, acomoda os dois sistemas combinados ou em separado. O que pode ser aprendido desta análise? Para além de uma justificativa, (que não é correntemente popular), todas as outras justificativas tradicionais parecem acomodar tanto um sistema positivo, como o negativo, embora alguns,(a divulgação e as funções públicas de sanção) pareçam concordar com elas mais que os outros. É claro que a visão que simplesmente propões incorporar as questões ambientais é agradável a ambos os sistemas. A teoria revista do incentivo pode estar indo muito para o outro extremo. Portanto, pelo menos do ponto de vista do meio-ambiente, nós podemos e provavelmente devemos, reformar as leis de patente no âmbito da divulgação e das funções públicas de sanção. É claro que uma reforma mais fundamental através da qual seria incorporada a preocupação ambiental como uma função da lei de patentes poderia ser pensada, em nossa opinião. Em nosso ponto de vista, um sistema misto positivo e negativo parece ser o melhor sistema, pelo menos, para enfrentar graves problemas ambientais como as alterações climáticas. Um sistema negativo já é bom, contanto que ele seja aplicado de forma eficaz e, portanto, que leve em consideração os pontos levantados na parte 1, seção 2.1. Um sistema positivo, sem um negativo seria pouco eficaz, mas enviaria o sinal errado. Em qualquer caso, não é possível prever, a menos que as leis de EPC e as leis nacionais de patentes sejam revisadas para suprimir a disposição da ordem pública. Sistemas puramente negativos poderiam permanecer para problemas menos graves que o aquecimento global. 44 E. Derclaye, “Patent law’s role in the protection of the environment-Re-assessing patent law’s functions and justifications in the 21st century”, [2009] IIC 249-273. 113 2.4 Formas de se determinar e provar a consciência ecológica de uma invenção Para que os sistemas positivos e/ou negativos funcionem, as normas precisam ser estabelecidas para saber o que é uma invenção “eco-friendly”. Como nós definimos estes padrões? Concretamente, quanto menos GEE deve emitir um produto patenteado de forma que esta invenção seja classificada como “amiga” do clima e possa ser beneficiada com as vantagens do sistema específico? Quem é que vai decidir sobre estas normas e se elas são ou não, em cada caso particular, cumpridas? Uma questão relacionada abordada por esta seção é: quem deve arcar com o ônus da prova de que o produto, ou processo patenteado, respeita esses padrões ambientais. 2.4.1 Estabelecendo padrões Antes de abordar a questão das normas, um ponto importante deve ser notado. No campo das alterações climáticas, é o princípio da prevenção que se aplica, e não o princípio da precaução, se alguém fizer diferença entre os dois. A distinção é importante. Como observado na Parte I, seção 2.1.1.2, o princípio da prevenção se aplica quando se é mais ou menos certo que um evento irá ocorrer. O relatório do IPCC, em novembro de 2007 declarou que estava, além de qualquer dúvida razoável, que o homem contribuiu para o aquecimento global através da emissão de GEE. Portanto, a avaliação dos riscos para a saúde humana, animal ou planta não precisa ser feita como já está claro. ��������������������������������� Assim, os métodos de análise custo-benefício (CBA) ou outro não precisa ser usado45. Além disso, se foi feita uma avaliação de acordo com a decisão do PGS, a ameaça das emissões de GEE de uma invenção, no meio-ambiente acima de um determinado limiar, provavelmente, nunca será suficientemente fundamentada. Isto é o motivo do efeito cumulativo de todas as invenções fazendo isso substanciar a ameaça. Esta ������������������������������������������������������ é outra razão pela qual este método não é adequado, no caso do problema ambiental específico do aquecimento global. Se alguém ainda não estava convencido, pode inspirar-se na obrigação de que as leis de propriedade intelectual não são contrárias à segurança ambiental (art.16.5 da Convenção sobre a Biodiversidade), que: “requer, necessariamente, órgãos judiciais e legislativos para dar prioridade aos interesses de biosse45 Existem razões adicionais pelas quais a CBA pode não ser um método adequado, pelo menos, na relação entre meio-ambiente e comércio, principalmente por causa da “discrição potencialmente ilimitada que deixa os organismos adjudicatórios no desempenho do exercício de ponderação.” Ver: Pavoni, “Biosafety and intellectual property rights”, pp.97 and 102. 114 gurança sobre valores comerciais que são promovidos por patentes sobre invenções potencialmente devastadoras”46. No entanto, a CBA e outros métodos de avaliação podem ser apropriados para outros problemas ambientais em que o princípio da precaução se aplica ao invés do princípio da prevenção. Tal discussão é deixada para pesquisas futuras. Existem várias maneiras de definir os padrões. A maneira mais simples que vem à mente é, simplesmente, seguir aqueles já definidos nas leis ambientais. Para questões de mudanças climáticas, várias metas foram estabelecidas nas diretivas e regulamentos, que poderiam ser seguidas. Mais genericamente, pode-se dizer que, para ser patenteado, cada processo ou produto que emite GEE, deverá emitir 8 por cento menos em comparação com as emissões do mesmo produto em 1990 ( a meta da União Europeia concorda em respeitar isto no contexto da ratificação do Protocolo de Quioto, ver Parte 1, seção 2.1.2.2). O organismo regulador competente (por exemplo, Agência Europeia do Meio-ambiente)47 poderia verificar se o produto ou processo cumprem este requisito48. Isto não impediria o requerente da apresentação de sua patente. O exame só seria suspenso até que o órgão competente emitisse sua opinião. Poderia até haver a possibilidade de alterar a patente se o órgão competente emitisse 46 47 48 Pavoni, p.102. William Cornish and David Llewelyn, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5th edn (London: Sweet & Maxwell, 2007), p.232, fn.5-83 note que existem órgãos reguladores da União Europeia e Reino Unido que determinam se algumas práticas devem ser proibidas, entre outros, para garantir a proteção do ambiente. Por exemplo, no campo dos organismos geneticamente modificados (GMOs), a diretiva 2001/18 “estabelece um procedimento, da Comunidade, de autorização e colocação no mercado de GMOs, como ou em produtos, onde o uso pretendido do produto envolve a liberação deliberada do organismo (s) no meio-ambiente.” (H. Somsen, “Some reflections on EU biotechnology regulation” in R. Macrory, Reflections on 30 Years of EU Environmental Law, A High Level of Protection? (European Law Publishing, The Avosetta Series 7, Groningen, 2006), p.338). Tal procedimento exige a notificação à autoridade nacional competente e ao depósito de um dossiê técnico. Os GMOs não podem ser liberados antes do consentimento da autoridade. “ A autoridade nacional competente deve dar seu consentimento só depois de ter sido convencido de que o lançamento será seguro para a saúde humana e para o meio-ambiente.” ” (Somsen, p.338). Um sistema semelhante poderia ser usado para as invenções que emitem GEE; G. Verheungen, vice presidente da Comissão Europeia, quando falou no Fórum de Patentes Europeu de 2008, parecia dizer que o que está em vigor é bom e funciona bem e, portanto, não há a necessidade da organização de uma nova padronização. Krämer, EC Environmental Law, 6th edn (Sweet & Maxwell, 2006), p.391 nota que a Agência Europeia do Meio-Ambiente já definiu uma lista de critérios para avaliar a integração das ações ambientais nas outras políticas (por exemplo, há a identificação qualitativa e quantitativa de todos os custos ambientais e benefícios;? há uma avaliação de impacto ambiental de projetos antes da implementação;? ter metas e indicadores de eco-eficiência desenvolvidos e utilizados para monitorar o progresso?). Armitage and Davis, Patents and Morality in Perspective (1994), p.58 ir mais longe e vê-lo como uma obrigação. Para eles, “os limites éticos da tecnologia são aceitáveis para os governos para definir o sistema de patentes que deveria operar dentro desses limites”. 115 uma declaração negativa. Se 8 por cento deveria ser o padrão geral ou pertinente é controverso. Em algumas áreas, pode ser mais difícil de inventar produtos ou processos que liberam menos GEE. Por conseguinte, nos campos, uma percentagem menor pode ser o padrão. Em outros campos, onde é mais fácil, um percentual superior pode ser definido. Outra questão é se este padrão deveria ser escrito e revisado com freqüência nas leis de patentes. Já foi discutido que o art. 53.a deveria ser revisado para incluir uma invenção que não pode ser patenteada se pode prejudicar o meio ambiental. Na mesma linha, em um sistema combinado: negativo e positivo, as leis de patentes devem prever que uma patente não pode ser concedida se a invenção não atende ao padrão de 8 por cento de emissões de GEE (ou x como revista) em relação aos níveis de 1990, e que vantagens (conforme listado na seção 2.2 acima) deve ser concedida se a invenção supera o padrão, ou melhor ainda, se é de GEE ou carbono neutro. Quanto mais “eco-friendly” uma invenção é, mais vantagens podem existir, ou várias vantagens podem ser combinadas. O “céu é o limite” em termos de flexibilidade a lei pode permitir vários graus de consciência ecológica. Nesta perspectiva, as leis de patentes incentivariam ir além das metas do direito ambiental. As leis de patentes poderiam prever ainda que o titular da patente deve primeiro entrar em contato a agência competente para checar se sua invenção está em conformidade com a norma. Para certas invenções, verificações adicionais devem ser feitas. Por exemplo, com base na diretiva relativa à promoção dos biocombustíveis, antes que a patente seja concedida, a avaliação da sustentabilidade da invenção (o biocombustível específico em questão) deve ser realizada. Como é sabido, os biocombustíveis podem reduzir as emissões de CO2 quando usados para conduzir veículos, mas pode ex ante esgotar os recursos naturais de alimentos e aumentar os nível de CO2 se as florestas precisarem ser cortadas para permitir uma agricultura das matérias primas que são usadas para fazê-los. Como já foi dito no início deste artigo, apenas a questão da mudança climática é abordada aqui, mas a proteção do meio ambiente em geral está em questão. A mesma questão deve ser pensada para todos os problemas no contexto de proteção ambiental e, portanto, o desenvolvimento sustentável. Este exemplo evidencia um problema relacionado que a lei também poderia prever. Até agora, a mudança legal exige que o produto ou processo proposto, durante sua vida útil, não emita de x por cento de GEE (ex post). No entanto, a lei poderia ainda exigir que o fabrico do produto (ex ante) também não o faça. Esta é uma questão adicional que deve ser co116 locada. Talvez o IPCC e as diretivas ETS já lidem com esta questão já que os produtos são geralmente feitos de componentes pesados. Há, no entanto, um problema com o sistema proposto acima. Ambos os art.27.2 TRIPS e EPC art.53.a preveêm que os países não podem impedir a patenteabilidade de uma invenção, simplesmente porque a exploração da invenção é proibida por sua legislação49. A maneira de contornar isso é dizer que a proibição é aquela que se baseia unicamente na ordem pública e não apenas na legislação ambiental, mas isso parece que não será feito. Isto significa que uma patente deve ainda ser concedida mesmo se a sua comercialização depender de uma autorização (para atender a certos requisitos)50. Em outras palavras, os escritórios de patentes: “... Não deve deixar patentes pendentes sobre a decisão relativa a reunião a invenção de requisitos extra-direito de patentes (como a segurança e qualidade). As patentes devem ser concedidas ou negadas somente em razão da patenteabilidade51” Na verdade, a lei sobre a segurança ou a qualidade poderá ser posteriormente modificada ou revogada, portanto, permitindo a exploração (comercial ou não) da invenção patenteada52. Em nosso sistema atual, isso tem um efeito perverso. Isto significa que todos os pedidos de patentes sejam tratados da mesma forma (potencialmente ou mesmo claramente); invenções prejudiciais serão tratadas da mesma maneira 49 50 51 52 For the text of EPC art.53.a, ver fn.3. Artigo 27 do TRIPs afirma: Os Membros podem considerar como não patenteáveis invenções cuja exploração em seu território seja necessário evitar para proteger a ordem pública ou a moralidade, inclusive para proteger a vida ou a saúde humana, animal ou vegetal ou para evitar sérios prejuízos ao meio ambiente, desde que esta determinação não seja feita apenas por que a exploração é proibida por sua legislação.(grifo nosso). Ver também o artigo 4 da Convenção Trimestral de Paris. Não é exatamente o melhor tratamento para excluir uma invenção da patenteabilidade sob o TRIPs. Art 27.2 . Os membros devem cumprir art.2 da Organização Mundial do Comércio (OMC) Acordo sobre barreiras técnicas ao comércio, onde se lê em partes relevantes: “(2) Os membros assegurarão que os regulamentos técnicos não estão preparados ou adotados ou aplicados, tendo em vista, ou com o efeito de criar obstáculos desnecessários ao comércio internacional. Para este efeito, regulamentos técnicos não serão mais restritivos ao comércio do que o necessário para cumprir um objetivo legítimo ...(3) os regulamentos técnicos não serão mantidos se os objetivos... puderem ser abordados de uma maneira menos restritiva ao comércio.”“. Em outras palavras, se o objetivo de excluir a exploração comercial de invenções em um determinado campo da tecnologia pode ser conseguido de uma maneira que não requer invenções excluindo a patenteabilidade, então dessa forma deve ser sempre preferido. “ Ver N. Pires de Carvalho, The TRIPs Regime of Parent Rights (The Hague: Kluwer Law International, 2002), pp.172-173. Pires de Carvalho, p.174. Pires de Carvalho, p.174 Ver também: Armitage and Davis, Patents and Morality in Perspective (1994), p.51. Também podese argumentar que, se a autorização regulamentar não é concedida, a patente não é inútil, sem dúvida, mesmo que a invenção não possa ser explorada. Como foi publicado, se alguém melhorálo durante o prazo da patente, e a autorização necessária for a partir de então conferida, aquele que o melhorou terá que pagar royalties ao primeiro inventor e este último poderá ter uma licença para usar a invenção do segundo. 117 que aquelas “merecedoras” (por exemplo, as ecologicamente corretas). Isto pode ser visto como um desperdício de tempo, dinheiro e recursos públicos (isto é, dos escritórios de patentes) se a patente não pode, no final ser explorada, de qualquer maneira53. No entanto, num sistema misto positivo e negativo, este problema pode ser resolvido. Na verdade, nada no EPC ou no TRIPS impede um tratamento especial para algumas invenções. Os SPCs europeus são prova disto. Assim, se por um lado a suspensão do pedido de patente até que o órgão regulador tenha emitido seu parecer possa constituir infração do direito internacional, fazer com que os pedidos de patente estejam à frente dos outros não o constitui. 2.4.2 Ônus da prova Quem deveria arcar com o ônus da prova de que o produto ou processo patenteado cumpre a norma? Se seguirmos os princípios ambientais da correção na fonte e do poluidor-pagador, que deveriam estar integrados nas políticas da UE, deveria ser o inventor. Recorde-se que pelo princípio do poluidor-pagador o preço de danos ambientais não deve ser arcado pela sociedade (através de impostos), mas pelo poluidor. O princípio da retificação dos danos ambientais na fonte favorece o controle da poluição no ponto de emissão, e não em um nível mais abaixo na cadeia. Entretanto, o problema é a identificação do poluidor e a fonte da poluição. Se a invenção é um novo motor para um carro, o poluidor é o produtor de petróleo, o inventor ou o motorista? Poderíamos tomar como princípio que é o inventor do carro. O petróleo já pode ter sido tributado, de qualquer maneira. Isto significaria que o inventor, não a autoridade regular, teria de convencer a autoridade reguladora que sua invenção satisfaz o conjunto padrão. Isto também significa que em processos de oposição anteriores aos institutos nacionais de patentes ou ao EPO, não deve ser o oponente, mas o titular da patente, quem deve arcar com o ônus da prova. Atualmente, este não é o caso54. Isto foi ilustrado no caso PGS, 53 54 O Tratado de Budapeste e sua aplicabilidade às linhas de células- tronco humanas. A abordagem de WIPO sobre as questões éticas.” “ A declaração da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) na mesa redonda sobre os aspectos éticos das patentes de invenções que envolvem células- tronco humanas, European Group on Ethics in Science and New Technologies, Bruxelas, 20 deNovembro de 2001. 1, http://ec.europa.eu/european_group_ethics/archive/2001_2005/activities_enhtm [Acessado em 12 de fevereiro de 2009]. Esta declaração afirma que as patentes de invenções antiéticas são um desperdício de tempo e pelos recursos públicos dos escritórios de patentes. ( que muitas vezes são subsidiadas pelo dinheiro público, já que as taxas que os escritórios de patentes iriam cobrar seriam muito altas para os inventores de outra forma). Pavoni, “Biosafety and intellectual property rights”, p.96 (“Reivindicações com base no impacto ambiental negativo das invenções são normalmente apresentadas na oposição, e , onde, como regra, o ônus da prova recai sobre o adversário ou recorrente “). 118 onde o ônus da prova de que a exploração da invenção iria prejudicar seriamente o meio ambiente, coube ao Greenpeace, e não ao PGS55. Na sua comunicação relativa ao Princípio da Precaução, a Comissão também favorece a inversão do ônus da prova56. De fato: “... Neste contexto, é de importância crítica a quem cabe o ônus da prova. Uma coisa é exigir que o titular da patente estabeleça que a invenção é ambientalmente segura (por algum critério aceito). É algo muito diferente, exigir que um oponente de uma patente demonstre que a invenção não é segura “ 57. Esta regra não irá desencorajar a invenção de tecnologia ecológica em um sistema misto negativo e positivo, ou mesmo em um sistema puramente negativo. Todos os inventores terão de respeitar a regra de que as invenções devem satisfazer o Protocolo de Quioto ou mesmo as metas mais rigorosas da UE. Se eles não o fizerem, não serão patenteáveis. Se eles forem além, talvez, o ônus da prova devesse ser transferido de volta para a entidade reguladora. Portanto, desde que o requerente prove que sua invenção cumpre a norma, se ele ou ela afirmasse que a invenção é amigável ao GHG, caberia à entidade reguladora refutá-la. Isto manteria um bom equilíbrio e proporcionaria incentivos adicionais para inventar produtos “neutros em carbono” e, em geral, “inventar produtos verdes”. 2.5 Conclusão O melhor sistema é uma combinação de ambos os aspectos negativos e positivos, como na legislação ambiental58. As atuais leis de patentes e do EPC teriam de ser revistas, como dito acima, de modo a incorporar as mudanças. Portanto, o art. 53.a e disposições correspondentes nacionais deveriam especificamente registrar o risco de prejuízo para o meioambiente como contra a ordem pública, que o princípio da prevenção ou precaução deve ser levado em consideração, dependendo do risco da tecnologia para o meio-ambiente. Estas e outras disposições que deveriam ser adicionadas também devem afirmar que as invenções “mais verdes” (aquelas que cumprem as normas estabelecidas pelos órgãos ou organismos competentes) recebem tratamento especial. A escolha do regime especial (tratamento acelerado, longo prazo) cabe às legislaturas. 55 56 57 58 M. Llewelyn, “Artigo 53 revisitado” [1995] E.I.P.R. 509. Vide: Parte 1, seção 2.1.1.2 Alexander, “Some themes in intellectual property”, p.115. Ver: seção 2.1 acima sobre a diretiva ETS e a tributação das substâncias poluentes. 119 Este tratamento pode ser modulado em função do grau de facilidade de consciência ecológica da invenção. As invenções que cortam liberação de GEE, certamente, devem receber o regime mais vantajoso. O ônus da prova deve estar no inventor, mas se ele ou ela afirma que sua invenção está acima da meta estabelecida na lei, esta carga passaria para o órgão regulador de modo que o mesmo prove o contrário. Desta forma, os incentivos devem ser mantidos de forma equilibrada. Por conseguinte, embora não seja possível suspender a patenteabilidade até que a autoridade competente pronuncie seu veredicto ou recusem a patente se o veredicto for negativo (ou seja, afirme que a invenção não é ecologicamente correta) as invenções infratoras seriam relegadas ao final da pilha e as ecologicamente corretas continuariam na via rápida. Embora a melhor maneira de conseguir isto fosse, obviamente, alterar as leis nacionais e do EPC, isso pode levar um tempo considerável. Uma solução alternativa seria que as organizações ambientalistas como o Greenpeace e similares incentivassem a interpretação do art.53.a na direção defendida neste artigo, como no caso PGS. No entanto, um compromisso por parte da legislatura seria necessário para a concessão de um regime favorável às invenções mais verdes. Parece, pelo que foi proferido pela Comissão Europeia e pelos oficiais do EPO no Fórum de Patentes Europeu de 2008, e pelo vice-presidente , Manuel De Santes, no ATRIP Annual Congress, que isso pode não ser impossível. 3 CONCLUSÃO A resposta à questão colocada por este artigo é definitivamente afirmativa. As patentes podem ajudar a resfriar o planeta – e deveriam. A lei ambiental da União Europeia quase os obriga também. Soluções foram propostas acima e não serão aqui repetidas. O que deve ser dito em conclusão é ainda mais pragmático. A Europa, como uma das regiões mais ricas e mais poluentes do mundo, onde a Revolução Industrial e seus infelizes efeitos ruins começaram, deveria liderar o caminho para encontrar soluções para o aquecimento global. Como fizemos antes, quando inventamos todas estas novas máquinas nos séculos 18 e 19, devemos voltar a ser os primeiros, não somente no inventar, mas em inventar “verde”, e assim estabelecer um exemplo para o resto do mundo. Não é (pelo menos, não só isso) uma questão de orgulho, entretanto. É uma questão de sobrevivência. A questão é intrinsicamente internacional, como todos nós somos dependentes do bem-estar dos nossos ecossistemas, e antes de tudo do clima e da temperatura mundiais. É claro que a ecologização das leis de patentes não é uma panacéia, mas dá incentivos (para não dizer, 120 pressiona) para inventar mecanismos para resfriar a Terra. Será visto que o sistema de patentes não é uma “máquina de concessão de monopólio” e que “os capitalistas” também podem ser “verdes”. Essa retórica não é prerrogativa das organizações ambientais. O público talvez se reconcilie com a propriedade intelectual, ou pelo menos com as patentes, as quais, infelizmente, tiveram sua popularidade diminuída nos últimos anos por causa dos excessos de titulares de direito, para os quais a legislatura se curvou quase que cegamente59. Tais mudanças também vão promover a conscientização, o comportamento e a responsabilidade ecológicas. Será bom se a União Europeia definir a tendência, mas, naturalmente, só será um passo, como a questão -para ser eficaz- deve ser abordada em nível mundial. Este artigo tem-se centrado, principalmente, na legislação Europeia. No entanto, os argumentos desenvolvidos e os modelos definidos também podem ser aplicados em nível internacional. Assim, o art. 27.2 do TRIPS deveria ser revisto, da mesma forma como defendido neste artigo. Uma declaração poderá ser elaborada e assinada por acadêmicos de destaque para convencer os órgãos políticos a avançarem nesta direção. É claro que a lei ambiental deve continuar regulando atividades, já que nem todos os produtos poluentes e métodos são patenteados. As leis ambientais e patentes são complementares. Já existem também muitas máquinas e processos “amigáveis” ao clima, não protegidos por patentes60. Estes já podem ser postos em prática. Por outro lado, existem patentes que podem ser usadas gratuitamente, graças à boa vontade de seus proprietários. As patentes ecológicas comuns da iniciativa privada podem ser notadas61. Além da lei, outras ferramentas e iniciativas também podem regular ou impedir danos ao meio-ambiente, incluindo instrumentos econômicos (por exemplo, ETS voluntárias), a auto-regulação (por exemplo, rotulagem dos produtos)62 e acordos voluntários (ver, por exemplo, os acordos dos fabricantes de automóveis com a Comissão)63. 59 60 61 62 63 Ver, por exemplo, após o alargamento dos direitos de autor para 70 anos após a morte do autor em 1993 (Diretiva 93/98 harmonização do prazo de proteção dos direitos de autor e de certos direitos conexos [1993] OJ L290/9), proposta recente da Comissão Europeia de estender ainda mais o prazo de proteção das gravações sonoras e os direitos dos artistas, enquanto a frágil evidência econômica proferida, justifica fazê-lo. Vide: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/termprotection/term-protection_en.htm [Acessado em 12 de fevereiro de 2009] Y. de Boer, European Patent Forum 2008, slide 11; and M. Childs, European Patent Forum 2008, slide 2. Vide http://www.wbcsd.org/templates/TemplateWBCSD5/layout.asp?type=p&MenuId=MTU1OQ &doOpen=1&ClickMenu=LeftMenu [Acessado em 12 de fevereiro de 2009]. Thornton and Beckwith, Environmental Law (2004), p.21. Nestes acordos, ver : Bell and McGillivray, Environmental Law (2006), p.647 121 Naturalmente, prêmios, recompensas, bolsas de pesquisa, etc. concedidos pelo Estado ou por patrocinadores privados podem ser usados, além das patentes64, e existem inúmeras iniciativas como esta no mundo65. Portanto, mesmo que o sistema misto positivo e negativo proposto não seja colocado em prática, o que seria embaraçoso, outros instrumentos já estão fazendo a sua parte para nos ajudar a sobreviver neste planeta único e maravilhoso. No final, o resfriamento global irá ser o resultado de esforços conjuntos. Não devemos mudar apenas a lei, mas também os nossos hábitos e ideologias66. Além disso, o crescimentos e o lucro capitalista que são decorrentes dele, normalmente não deveria ser parado com o objetivo de resfriar a Terra67; eles devem continuam, mas devem ser ecológicos. Isso deve fazer com que vivamos (e também os outros seres vivos, plantas e a Terra) melhor e mais felizes do que nunca. Vida longa ao progresso... 64 65 66 67 Como essas subvenções são em grande parte dependente da vontade, interesse e recursos do patrocinador privado ou público, os economistas geralmente concordam que só pode funcionar ao lado do sistema de patentes e não em vez dele.Para uma visão matizada, veja, por exemplo, Shavell and T. van Ypersele, “Rewards versus Intellectual Property Rights” (2001) 44(2) Journal of Law and Economics 525-547. Childs, European Patent Forum 2008, slides 9 and 10, citando entre outros o prêmio da Virgin para combater o aquecimento global: http://www.associatedcontent.com/article/146302/virgins_prize_to_fight_global_warming.html [Acessado em 12 de novembro de 2009], The Virgin Earth Challenge, Bright Tomorrow Lighting Prizes initiated by US Senate S.1115 Energy Efficiency Promotion Act, s.103 Outras idéias incluem um prêmio para reduzir as emissões de carbono financiados pelo imposto da gasolina. Childs, slide 3, acredita que “Às vezes, temos mais necessidade de inovações no comportamento ou na melhor utilização da tecnologia existente do que de novas tecnologias que seriam dispendiosas e raramente usadas.” . Intellectual Property Rights (IPR) são importantes, mas outras iniciativas, tais como os subsídios do governo, impostos, normas regulamentares e normas sociais também são importantes. O IPCC diz que a estabilização das emissões de GEE é possível através da tecnologia por si só. Ver: See De Boer, European Patent Forum 2008, slide 5. Isto não é surpreendente, uma vez que é composta principalmente de cientistas.No entanto, alguns pensam de forma diferente. Ver, por exemplo, P. Stookes, A Practical Approach to Environmental Law (Oxford: Oxford University Press, 2005), p.27 (desenvolvimento sustentável “requer repensar o modo como vivemos nossas vidas , não necessariamente seguindo os padrões atuais de crescimento econômico, o consumo e as viagens”. Isso significa que devemos levar em conta a capacidade do planeta.” ) Ver também: Chris Green interviewing Dr Kate Rawles of the University of Cumbria, “Technology alone won’t solve climate change”, Independent, May 1, 2008, http://www.independent.co.uk/news/education/higher/against-thegrain-technology-alone-wont-solve-climate-change-818380.html [Acessado em 12 de fevereiro de 2009], citando o World Wildlife Fund’s Living Planet Report, afirmando que “ se todo mundo na Terra fosse desfrutar o estilo de vida da media da Europa Ocidental, precisaríamos de três planetas ” e que os acadêmicos devem “desempenhar um papel mais forte na luta contra a questão das alterações climáticas e na promoção do pensamento crítico sobre os valores que sustentam sociedades industrializadas ocidentais.” 122 PARTE III Biotecnologia, Diversidade Biológica e Propriedade Intelectual CAPÍTULO 5 O acesso aos recursos genéticos e o Protocolo de Nagoya Tarin Cristino Frota Mont’Alverne1 Sumário: 1 Introdução; 2 O acesso e repartição de benefícios no âmbito da CDB; 2.1 As regras de acesso aos recursos genéticos ; 2.2 A repartição de benefícios; 3 O acesso e repartição de benefícios no âmbito do Protocolo de Nagoya: quais avanços?; 3.1 A necessidade de um regime internacional sobre acesso e repartição de benefícios ; 3.2 A adoção do Protocolo de Nagoya; 3.3 A interface entre biodiversidade e propriedade intelectual; 4 Conclusão; 5 Referências Bibliográficas 1 INTRODUÇÃO A proteção da biodiversidade é um tema de extrema complexidade, pois engloba diferentes questões: meio ambiente, propriedade, comércio, relações internacionais, propriedade intelectual, conhecimentos tradicionais, conflito Norte-Sul... Estamos, com toda certeza, diante de uma problemática que não é apenas jurídica ou científica, mas é necessariamente envolvida por aspectos étnicos, econômicos, sociais e políticos2. A biodiversidade é sem dúvida uma das grandes questões do século XXI3. A biodiversidade é importante não apenas para a manutenção do equilíbrio ambiental, mas também pelo seu valor econômico que atualmente é evidenciado pela evolução da biotecnologia. Esta situação criou novas esperanças de fonte de renda para os países ricos em biodiversidade, uma vez que a biodiversidade representa um “capital verde” apreciável pela indústria da biotecnologia4. 1 2 3 4 Professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Mestrado em Direito Internacional Público pela Universidade Paris V. Doutorado em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade Paris V e Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela Universidade Federal do Ceará em Direito Internacional do Meio Ambiente. HUFTY,M. La gouvernance internationale de la biodiversité. Etudes Internationales. vol. 31, n°1,2001, p. 9. HUFTY, M. La biodiversité dans les relations Nord/Sud : coopération ou conflit ? Revue international et stratégique, n°60, hiver 2005-2006, p.150. de SADELEER, N. Droit international et communautaire de la biodiversité. Paris: Dalloz, 2004, 780 p. 125 O mais importante instrumento jurídico internacional que trata da proteção da biodiversidade é a Convenção da biodiversidade (CDB)5, resultante da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento em 1992. A CDB tem 42 artigos que definem um programa para conciliar o desenvolvimento econômico e a necessidade de preservar a diversidade biológica em todos os seus aspectos. Mas é o seu artigo 1º que estabelece expressamente os objetivos da CDB: “Os objetivos desta Convenção, a serem cumpridos de acordo com as disposições pertinentes, são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos [...]”. Desde a adoção da CDB, por se tratar de uma Convenção-Quadro, novas diretrizes normativas e operacionais têm sido adotadas sobretudo pelos governos de países em desenvolvimento a fim de tornar mais concretos os dispositivos da CDB. No entanto, esses objetivos são bastante complexos a serem implementados6, sobretudo diante do fracasso no cumprimento das metas fixadas pelo plano estratégico de 2002-2010. Por isso, a Conferência das Partes (COP) da CDB decidiu, em 2010, durante a sua décima reunião (COP 10), adotar um novo plano estratégico para a conservação da biodiversidade7, comprometendo as partes de implementar os três objetivos da CDB de forma mais efetiva. O acesso e a repartição justa e equitativa dos benefícios decorrentes da utilização dos recursos genéticos é o terceiro objetivo da CDB e é objeto de complexas controvérsias no âmbito da CDB, tendo sido objeto de intensas negociações desde 2002. Na verdade, as regras sobre o acesso á biodiversidade variam de um país para outro e as leis não são claras, quando são simplesmente insuficientes para negociar a repartição de benefícios e garantir a proteção efetiva da biodiversidade no âmbito dos Estados fornecedores e usuários. A falta de legislação específica sobre acesso à biodiversidade, deixa então descoberta a relação entre os países detentores de biodiver5 6 7 O brasileiro Bráulio Ferreira de Souza Dias, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Bráulio Ferreira de Souza Dias, assumirá a Secretaria Executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica das Nações Unidas (CDB). SADELEER, op. Cit., p.98. O novo Plano Estratégico para Biodiversidade passa a ser o mais importante instrumento para a proteção da biodiversidade na próxima década. 126 sidade e os detentores de biotecnologia por inexistirem obrigações legais de repartição dos benefícios derivados da exploração comercial dos produtos e processos desenvolvidos a partir dos componentes da diversidade biológica. Por conseguinte, os resultados da exploração de produtos e processos de origem biológica são, frequentemente, apropriados de forma unilateral pelas instituições melhor equipadas para executar tarefas de pesquisa, desenvolvimento e comercialização, excluindo os provedores dos recursos biológicos dos benefícios monetários e não monetários incorridos neste processo. Por isso, o terceiro objetivo da CDB suscitou intensas discussões durante a COP 10 que aconteceu em Nagoya em outubro de 2010, em razão das negociações do Protocolo sobre acesso e repartição de benefícios. Chegar a um acordo sobre um texto aceitável tanto para os governos dos países pobres em biodiversidade do mundo industrializado, como para os países em desenvolvimento, ricos em biodiversidade, tornou o processo longo, difícil e contencioso. O Protocolo tem 26 artigos e um anexo com uma lista indicativa dos benefícios monetários e não monetários. o Protocolo de Nagoya foi adotado com o intuito de: a) estabelecer um clima de confiança recíproca entre os utilizadores e os fornecedores da biodiversidade ; b) Fixar um instrumento jurídico mais preciso para garantir a efetividade do mecanismo de acesso e repartição de benefícios ; c) Garantir a segurança jurídica e o acesso à justiça ; d) Fomentar os fornecedores dos recursos genéticos à reinvestir os benefícios na conservação da biodiversidade. 2 O ACESSO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS NO AMBITO DA CDB O acesso e a repartição de benefícios oriundos da utilização da biodiversidade são conceitos bastante recentes e foram introduzidos na CDB principalmente por iniciativa dos países em desenvolvimento, reconhecendo o potencial econômico de seus recursos genéticos. Este terceiro objetivo é muito importante para os países em desenvolvimento que têm grande parte da biodiversidade mundial, pois poderiam receber benefícios oriundos da exploração de seus recursos de forma justa e equitativa. O artigo 15 da CDB é o principal artigo sobre os direitos e obrigações em matéria de acesso aos recursos genéticos e sua utilização posterior8. Nes8 BURHENNE-GUILLEMIN, F. L’accès aux ressources génétiques. Les suites de l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique . In : Les hommes et l’environnement, Mélanges à Alexandre Kiss. Paris : Frison-Roche, 1998, p.552. 127 te artigo, a CDB reconhece aos governos o poder de decidir sobre o acesso aos recursos genéticos no âmbito da legislação nacional e este poder é oriundo dos direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos naturais9. Cumpre destacar que a CDB estabelece um novo regime internacional de acesso aos recursos genéticos. Ela reconhece um princípio antigo de que os Estados têm direitos soberanos sobre seus recursos naturais e, como tal, pode determinar as modalidades de acesso aos recursos genéticos10. Ademais, a CDB exige a criação de condições para permitir o acesso11. A Convenção também determina que os benefícios da utilização desses recursos sejam repartidos de forma justa e equitativa12, o acesso, quando concedido, seja regido pelas condições acordadas por mútuo acordo13 e pelo consentimento prévio fundamentado14. 2.1 As regras de acesso aos recursos genéticos Conforme o art. 15 da CDB, existem duas modalidades relativas às regras de acesso aos recursos genéticos, quais sejam: consentimento prévio do país fornecedor dos recursos e as condições de transferência celebradas de comum acordo entre o país fornecedor e usuário dos recursos. O primeiro componente constitutivo das modalidades de acesso aos recursos genéticos apresentadas pela CDB é, pois, relativo ao consentimento prévio fundamento exigido pelo Estado fornecedor de recursos genéticos. Neste sentido, o artigo 15.5 da CDB assevera que: “O acesso aos recursos genéticos deve estar sujeito ao consentimento prévio fundamentado da Parte Contratante provedora desses recursos, a menos que de outra forma determinado por essa Parte”. Deve-se notar que esta exigência de consentimento prévio fundamentado é um procedimento importante para que os países fornecedores de recursos biológicos, principalmente os megadiversos15, possam estabelecer o poder de negociação para compensar a oferta de biodiversidade com a transferência de biotecnologia, por exemplo. 9 10 11 12 13 14 15 MONT’ALVERNE, T. C. F. Considerações acerca do artigo 15 da Convenção sobre a biodiversidade. In: WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (Org.). Propriedade e meio ambiente: em busca de sua convergência. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, p. 714. Art.15.1 da CDB. Art.15.2 da CDB. Art. 1° da CDB. Art. 15.4 da CDB. Art.15.5 da CDB. Denominação dada a qualquer uma das 17 nações mais ricas em biodiversidade do mundo. Além do Brasil, fazem parte dos Megadiversos, a África do Sul, Bolívia, China, Colômbia, Congo, Costa Rica, Equador, Filipinas, Índia, Indonésia, Madagascar, Malásia, México, Peru, Quênia e Venezuela. 128 A exigência do artigo 15.5 da CDB quanto ao consentimento prévio fundamentado é o principal mecanismo jurídico de apoio ao acesso das disposições da Convenção16. Na verdade, o acesso sem o consentimento prévio fundamentado deve ser considerado ilegal e resultar na rejeição de qualquer pedido de patente posterior. Contudo, esta posição requer a aplicação, pelos Estados, das leis ou políticas que contemplem o funcionamento deste sistema de consentimento prévio fundamentado. Por razões jurídicas e práticas, a ausência de tais leis ou políticas podem minar o valor real do processo de consentimento17. Além da exigência de consentimento prévio fundamentado, a CDB acrescenta a obrigação da condição de comum acordo, que constitui o segundo elemento das regras que regulam o acesso aos recursos genéticos. O termo “comum acordo” é utilizado no artigo 15.4 da CDB, que estabelece: “quando o acesso for concedido, deverá sê-lo de comum acordo e sujeito ao disposto no presente artigo”. As condições são estabelecidas por mútuo acordo se forem aceitas numa base de reciprocidade. O termo “comum acordo” implica a ideia de uma negociação entre a parte que fornece os recursos genéticos e o usuário em potencial. Todo contrato sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios deve fazer parte do regime previsto pela Convenção. A leitura do artigo de 15.4 da CDB permite concluir que o acesso e a repartição de benefícios dependem de acordos contratuais entre o Estado provedor de recursos genéticos e o solicitante sob a forma de condições mutuamente acordadas, podendo ser o acesso à tecnologia e à transferência de tecnologia; ou a gestão da biotecnologia e distribuição de benefícios; ou ainda os mecanismos de financiamento da Convenção nos termos dos artigos 20 e 21. 16 17 HENDRICKX,F. et al, op. cit., p.250. MONT`ALVERNE, op. cit., p. 717. 129 Figura 1. Mecanismo do acesso e repartição dos benefícios segundo a Convenção da Biodiversidade Esse quadro resume os dois mecanismos ora apresentados estabelecidos pela CDB para garantir o acesso e a ������������������������������� repartição��������������������� de benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos. 2.2 A repartição de benefícios A CDB define um princípio geral de repartição de benefícios oriunda dos recursos genéticos, exigindo dos Estados o estabelecimento de modalidades de repartição de benefícios. A inclusão do princípio sobre repartição de benefícios no artigo 15 da CDB indica que sua repartição pode ser considerada como uma condição sine qua non para o acesso aos recursos. De forma geral, a repartição de benefícios compreende muitas questões relacionadas aos recursos genéticos, transferência de tecnologia, participação em pesquisas biotecnológicas dos recursos genéticos, acesso aos resultados e benefícios da biotecnologia, propriedade intelectual e questões de financiamento18. Os acordos de repartição de benefícios são o resultado de um compromisso aceitável entre os fornecedores e usuários dos recursos, conforme as regras que regulam o acesso aos recursos genéticos. Tal repartição 18 MONT`ALVERNE, op. cit., p. 719. 130 justa e equitativa deve ser feita com o país de origem dos recursos. Pode ser uma forma de um pagamento imediato de uma quantia em dinheiro, ou, ainda, uma forma de um pagamento futuro, se a investigação do prospector conduzir a uma invenção patenteada e explorada comercialmente. Mas a Convenção estipula também que o país de origem pode solicitar o acesso à tecnologias desenvolvidas ou a própria transferência de tecnologia19. 3 O ACESSO E REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS NO AMBITO DO PROTOCOLO DE NAGOYA: QUAIS AVANÇOS? Conforme acima mencionado, a CDB estabelece os mecanismos para regulamentar o acesso e a repartição de benefícios, devendo ser adotados pelas legislações nacionais dos estados-partes. Neste sentido, a pergunta que se coloca é de saber: por que um protocolo sobre acesso e repartição de benefícios? 3.1 A necessidade de um regime internacional sobre acesso e repartição de benefícios Após quase vinte anos da adoção da CDB, existe ainda um forte debate sobre as dificuldades da não implementação efetiva dos dispositivos da CDB sobre acesso e repartição dos benefícios, uma vez que os países fornecedores (megadiversos) não recebem os benefícios econômicos advindos da exploração da biodiversidade nacional. Ocorre que a quase-totalidade dos países megadiversos vêm sendo, repetidas vezes, violados e alijados dos benefícios econômicos advindos da exploração da biodiversidade nacional, em decorrência do uso de mecanismos de exploração e de pesquisas ilegais. Por serem na sua quase totalidade países periféricos e subdesenvolvidos, a exploração é substancialmente agravada, por não disporem tais nações de elementos mínimos de salvaguarda de suas riquezas biológicas, ou seja: por não disporem de condições materiais e técnicas eficientes e capazes; por inexistirem ou serem insuficientes os mecanismos legais e de fiscalização; e, ainda, pelas dificuldades de controle inerentes à própria natureza das atividades bioprospectoras. A ausência de uma legislação clara, tanto a nível nacional como internacional, para as atividades de bioprospecção e o hábito de conduzilas de forma informal, contribuem para o acesso desordenado e, em alguns casos, ilegal da biodiversidade, atividade que deu origem ao termo “biopirataria”. 19 Art. 16 da CDB. 131 Os países usuários reclamam da inexistência de um quadro jurídico uniforme e transparente no âmbito dos países�������������������������� �������������������������������� fornecedores. As legislações, as poucas que existem, não são uniformes, e não garantem uma segurança jurídica aos países usuários. De acordo com fontes oficiais da CDB, poucos Estados iniciaram o processo de elaboração de medidas de acesso e repartição de benefícios ou adotaram tais medidas20. Por exemplo, não existe até a presente data qualquer país europeu que tenha uma legislação para garantir a efetividade do terceiro objetivo da CDB. Cumpre destacar que os Estados-Partes adotaram as Diretrizes de BONN21 no âmbito da CDB, uma espécie de “guia” para a criação de políticas internas e legislação de acesso e repartição de benefícios em cada país signatário. No entanto, a adoção desse instrumento internacional não foi������������������������������������������������������������������� suficiente para evitar a biopirataria em nível internacional e garantir, na prática, o cumprimento dos dispositivos da Convenção. 3.2 A adoção do Protocolo de Nagoya Face ao fracasso de Copenhagen e após duas semanas de difíceis negociações, poucos acreditavam que a décima Conferência das Partes CDB teria um consenso entre as partes. Após anos de negociações complexas e polarizadas, o Protocolo de Nagoya foi finalmente adotado durante a 10° COP da CDB em outubro de 2010, no Japão, para garantir a implementação do art. 15 da CDB. O art. 1º do Protocolo estabelece como principal objetivo a repartição justa e eqüitativa dos benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos, incluindo o acesso adequado aos recursos genéticos e transferência apropriada das tecnologias pertinentes, considerando-se todos os direitos sobre esses recursos e tecnologias, e mediante financiamento adequado, assim contribuindo à conservação da biodiversidade e uso sustentável de seus componentes. Já o artigo 3º, que delimita o escopo do Protocolo, afirma que o texto será aplicado aos recursos genético e aos benefícios oriundos da utilização desses recursos, bem como aos conhecimentos tradicionais e aos benefícios oriundos do uso desses conhecimentos. Por conseguinte, o Protocolo não se aplica ao patrimônio genético humano, recursos ge20 21 Cf. www.cbd.org Acesso em 20 julho 2011. As Diretrizes de Bonn foram aprovadas pela COP em sua sexta reunião, em Haia, na Holanda, em abril de 2002. As Diretrizes de Bonn tem como finalidade de ajudar as partes, os governos e outras partes interessadas a desenvolver estratégias de acesso e repartição de benefícios, bem como determinar as fases de acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios. 132 néticos contemplados por mecanismos ABS22 setoriais (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura - FAO) e recursos genéticos que se encontram fora da jurisdição nacional. Importante destacar que uma das conquistas dos países megadiversos foi justamente a inclusão dos conhecimentos tradicionais associados aos recursos genéticos no escopo do Protocolo. Até o ultimo minuto de negociação, esse item ainda estava entre colchetes, ou seja, não havia consenso entre as partes. Outro ponto que merece destaque é a relação do Protocolo com outros acordos internacionais. O Protocolo é muito claro quando diz que os dispositivos do Protocolo não afetam os direitos e obrigações das Partes decorrentes de qualquer acordo internacional existente, salvo se estes instrumentos internacionais prejudicarem a conservação da biodiversidade23. Conforme o seu artigo 4.3, o Protocolo deve ser implementado de forma complementar aos outros instrumentos internacionais, numa perspectiva de apoio mútuo. De fato, durante as negociações do Protocolo, os países desenvolvidos sustentaram a necessidade de que o Protocolo fosse elaborado em consonância com, por exemplo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Esta posição pretendia fazer com que as questões de propriedade intelectual, mesmo aquelas relacionadas à biodiversidade e conhecimentos tradicionais associados, fossem tratadas apenas por estes foros onde o poder de intervenção dos países desenvolvidos é bem maior. Na verdade, existem discussões na OMPI no âmbito do Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos, Conhecimentos Tradicionais e Folclore e das negociações do Tratado Substantivo em Matéria de Patentes, bem como na OMC quanto a reforma do Acordo TRIPS, na Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre patógenos humanos para fins de intervenção para saúde publica, na FAO quanto ao Tratado internacional sobre recursos fitogenéticos para a alimentação e agricultura e a Comissão de recursos genéticos para a alimentação e agricultura. O Protocolo reafirma os direitos soberanos dos Estados sobre seus recursos e vincula o acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos 22 23 Acesso e repartição de benefícios é conhecido também pelo termo ABS que quer dizer Access and benefiting shering. Art. 4.1 do Protocolo de Nagoya. 133 tradicionais ao mecanismo de consentimento prévio fundamentado. A afirmação é clara: as empresas ou outras instituições não podem acessar aos recursos genéticos de um determinado país sem o seu consentimento. Ademais, o Protocolo prevê critérios mínimos para a elaboração de medidas legislativas, administrativas e políticas, quando o Estado-Parte exigir o consentimento prévio fundamentado. Podemos citar como exemplo desses critérios a garantia da segurança jurídica; clareza e transparência; a previsão de regras e procedimentos justos e não arbitrários; a previsão de uma decisão escrita, clara e transparente de uma autoridade nacional; participação das comunidades tradicionais quando do acesso aos recursos genéticos24. O Protocolo estabelece ainda que os ������������������������������� benefícios��������������������� oriundos da utilização dos recursos genéticos, bem como de sua comercialização posterior dever�������������������������������������������������������������������� ã������������������������������������������������������������������� o ser repartidos de forma justa e equitativa com as partes fornecedoras desses recursos, incluindo as comunidades tradicionais. Tal repartição depende das condições de comum acordo25. As regras de acesso estabelecidas de comum acordo referem-se a uma relação contratual entre fornecedor e usuário de recursos genéticos em oposição à decisão unilateral do consentimento prévio fundamentado. As partes devem adotar medidas apropriadas, eficazes e proporcionais para garantir que os países utilizadores dos recursos genéticos respeitem as legislações dos países fornecedores, ou seja, os países usuários devem respeitar os dois mecanismos: consentimento prévio fundamentado e as condições de comum acordo tanto para o acesso aos recursos genéticos como para o acesso aos conhecimentos associados aos recursos genéticos. O protocolo enfatiza o cumprimento nas duas situações. Cada parte deve também adotar medidas legislativas, administrativas ou políticas para garantir a implementação do mecanismo de repartição de benefícios. Os benefícios não se limitam aos benefícios monetários e não monetários estabelecidos no Anexo do Protocolo. O diagrama do mecanismo ABS segundo o Protocolo trouxe algumas novidades, mas o ponto central ainda continua sendo o consentimento prévio informado e as condições de comum acordo. As inovações são os dispositivos relativos aos conhecimentos tradicionais, o Certificado de Conformidade e o mecanismo de facilitação de informação, momento 24 25 Art. 6.3 do Protocolo. Art. 5 do Protocolo. 134 em que as partes irão informar suas leis, autoridades competentes e a prova que os requisitos das leis foram cumpridos a partir do certificado de conformidade. O certificado de conformidade tem como finalidade provar o cumprimento dos requisitos de acesso no país fornecedor, quais sejam, o consentimento prévio informado e as condições celebradas de comum acordo sobre a repartição de benefícios26. O Protocolo estabelece pontos de verificação desses requisitos, mas não esclareceu o papel que as autoridades em matéria de propriedade intelectual poderiam por exemplo assumir. Na prática, não é mais possível utilizar um recurso genético de um país sem o consentimento prévio informado �������������������������� e sem oferecer uma contrapartida, seja financeira ou não, definida de comum acordo. O problema é que os resultados esperados desse mecanismo levarão um tempo para serem alcançados, pois a formulação de legislações nacionais pode levar anos, principalmente quando se trata de países megadiversos que são países com menos recurso e/ou sistemas legais e políticos menos estáveis no âmbito interno. Para entrar em vigor, o protocolo ainda terá que ser ratificado por ao menos 50 dos 193 países que participaram da COP-10. No momento, mais de 70 países assinaram ofícios de compromisso formal de que vão ratificar (como o Brasil), mas poucos já ratificaram. Algumas questões estão pendentes de negociação, ou seja, dependem das reuniões das partes, chamadas de MOP27, como é o caso do mecanismo multilateral. O art. 10 do Protocolo prevê que essas reuniões discutam a conveniência e o formato de um mecanismo multilateral que defina como se dará a repartição de benefícios em casos mais específicos, quando há incertezas sobre a origem do material, por exemplo. 26 27 Art. 17. 3 do Protocolo. Reunião das Partes do Protocolo. 135 Figura 2. Mecanismo do acesso e repartição dos benefícios segundo o Protocolo de Nagoya. 3.3 A interface entre biodiversidade e propriedade intelectual A interface entre biodiversidade e direitos de propriedade intelectual suscitou discussões muito complexas durante as negociações do Protocolo de Nagoya, demonstrando a polarização nas discussões entre os países ricos em biodiversidade e os países ricos em biotecnologia. Para alguns, a repartição de benefícios só é possível se existir um mecanismo que permita identificar qual é a origem daquele recurso ou conhecimento. Durante as negociações do Protocolo, um dos mecanismos discutidos para resolver esse problema foi a divulgação de origem (disclosure) do recurso genético ou conhecimento tradicional associado, como requisito ao registro de patentes pelo órgão competente. Neste sentido, surgiu a proposta de criação do certificado de origem/fonte/procedência legal, que seria uma espécie de documento que atesta, de uma só vez, a origem daquele recurso genético ou conhecimento tradicional associado, a existência de consentimento prévio fundamentado e a garantia de repartição de benefícios. Na verdade, seria uma espécie de “passaporte” que atestaria, em qualquer país do mundo, que aquele acesso foi feito de forma regular, 136 respeitando a soberania do país de origem do recurso genético e os direitos de detentores de conhecimentos tradicionais associados. No entanto, o texto final do Protocolo não trouxe a questão da divulgação de origem. As questões sobre direitos de propriedade poderiam ter tido impactos significativos sobre o Protocolo de Nagoya, o que não foi o caso. Os dispositivos não são claros e capazes de esclarecer o papel da propriedade intelectual na implementação do protocolo. Ocorre que enquanto for possível que uma empresa europeia, americana, japonesa ou mesmo brasileira colete um recurso genético em um país, leve-o para o exterior, identifique um princípio ativo, sintetize-o e obtenha uma patente sobre um produto ou processo resultante, sem a imposição de qualquer sanção ou penalidade pelo sistema internacional, muito pouca efetividade prática terá o Protocolo. 4 CONCLUSÃO Após vários anos de negociações sobre o regime internacional de ABS, a questão do acesso e repartição dos benefícios continua em debate. Uma arquitetura internacional complexa composta de instrumentos multilaterais voluntários, legislações nacionais e instrumentos bilaterais tem sido progressivamente colocada em prática para regular o acesso aos recursos genéticos. Demais disso, em 2010, ano internacional da biodiversidade, uma das discussões mais importantes para a CDB durante a COP-10 foi o acesso e a repartição de benefícios oriundos do uso da biodiversidade, mas ainda não sabemos se o Protocolo de Nagoya será uma realidade para garantir a efetividade do terceiro objetivo da CDB. A preocupação agora é definir como efetivamente cumprir as metas definidas pelo novo protocolo.������������������������������������ Por isso, ainda surgem várias questões: Como esse acordo internacional será realmente implementado, ou melhor, como os objetivos desse acordo serão aplicados pelos estados partes? Por que as partes irão implementá-lo se não aplicaram as disposições já existentes no âmbito da CDB? Como monitorar o uso dos recursos genéticos através do certificado de conformidade previsto no Protocolo? Quais países financiarão a execução das metas, uma vez que as regras de financiamentos não ficaram claras? Os benefícios de produtos ou processos oriundos da utilização da biodiversidade serão finalmente direcionados aos seus países de origem como prevê o Protocolo? Como garantir a efetividade de tal regime?... Como se observa, ainda existem muitas questões em aberto, que somente serão respondidas ao longo das próximas reuniões das partes. 137 A implementação do Protocolo pode levar vários anos, uma vez que depende da elaboração de normas nacionais por parte dos Estados. Na verdade, os países devem se comprometer a colocar em prática os princípios estabelecidos pelo Protocolo, não apenas os países de origem, mas todos os países na qualidade de fornecedores e usuários. Não existirá, pois, efetividade se todos os países não fizerem o “dever de casa”. Dentro deste contexto, deve-se encontrar um equilíbrio na implementação desse regime, evitando outros conflitos, bem como a falência desse novo regime internacional, como vem acontecendo com o Protocolo de Kyoto. 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUBERTIN, C. e BOISVERT, V. Les droits de la propriété intellectuelle au service de la biodiversité. Une mise un œuvre bien conflictuelle. Natures Sciences Sociétés, 1998, p. 1-16. AUBERTIN, C. e VIVIEN, F.-D. Les enjeux de la Biodiversité. Paris : Economica, 1998, 112p. BURHENNE-GUILLEMIN, F. L’accès aux ressources génétiques. Les suites de l’article 15 de la Convention sur la diversité biologique. In : Les hommes et l’environnement, Mélanges à Alexandre Kiss. Paris: Frison-Roche, 1998, p.549-558. DAIBERT, A. (org.). Direito Ambiental Comparado. Belo Horizonte : Editora Forum, 2008, 412p. DARRELL, A. P. e DUTFIELD, G. Le marché mondial de la propriété intellectuelle. Droits des communautés traditionnelles et indigènes. Paris: CRDI, 1997, 260p. DE SADELEER, N. De la protection à la sauvegarde de la biodiversité. Ecologie Politique. 1994, n°9, p. 25-48. DUTIFIELD G. Intellectual property rights, trade and biodiversity. London: EarthScan and IUCN, 2000, 238p. HERMITTE, M. A. e KAHN, P. (org.). Les ressources génétiques végétales et le droit dans les rapports Nord-Sud. Bruxelles: Bruylant, 2007, 325p. HUFTY, M. La biodiversité dans les relations Nord/Sud : coopération ou conflit ? . Revue international et stratégique. n°60, hiver 2005-2006, p.149-158. KATE, K. T. e LAIRD, S. A. The Commercial Use of Biodiversity: Access to Genetic Resources and Benefit- Sharing. Londres : Earthscan, 2000, 398p. MALJEAN-DUBOIS, S. Biodiversité, biotechnologies, biodiversité: le droit international désarticulé. Journal du Droit International. 2000, n°4, p.949-996. MONT’ALVERNE, T. C. F. Considerações acerca do artigo 15 da Convenção sobre a biodiversidade. In: Marcos Wachowicz; João Luis Nogueira Matias. (Org.). Propriedade e meio ambiente : em busca de sua convergência. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, v. , p. 712-723. NOIVILLE, C. Ressources Génétiques et droit. Essai sur les régimes juridiques des ressources génétiques marines. Paris: Pédone, 1997, 481p. PLATIAU, A. F. e VARELLA, M. D. (org.). Diversidade biológica e conhecimentos tradicionais. Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2004, 369p. 15. DE SADELEER, N. Droit international et communautaire de la biodiversité. Paris : Dalloz, 2004, 780 p. 138 CAPÍTULO 6 Efeitos e aplicabilidade da lei de propriedade intelectual no âmbito de proteção das patentes biotecnológicas: Brasil e União Europeia Charlene Maria C. de Ávila Plaza1 Sumário: 1 Introdução ; 2 A proteção das criações biotecnológicas na perspectiva da Diretiva 44/98; 2.1Análises dos precedentes - Cases Plant Bioscience/brócolis e Organização de pesquisa agrícola/tomates; 2.2 “Material biológico” versus “Produto” no âmbito da Diretiva Europeia 98/44 ; 2.3 Case Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH 1 INTRODUÇÃO “Que fim a fama tem, se não tomar porções incertas de papel incerto (...). Homens, pois, a escrever, falar, pregar, e heróis a matar. Bardos que queimam á noite o círio ainda desperto, para ganhar, ao ser o autor já pó, um busto, um quadro ruim ou um nome só”. Lorde Byron As questões relativas à regulamentação dos direitos de propriedade intelectual no Brasil não são recentes, haja vista a adesão do país as regras da Convenção da União de Paris2 de 1883, considerado o primeiro tratado multilateral relativo à matéria. 1 2 Mestre em Direito na área de Integração e Relações Empresariais pela Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP-SP. Professora de Direito empresarial na Uni-Anhanguera – Centro Universitário de Goiás - Goiânia. Pesquisadora da Rede Ibero Americana de Propriedade Intelectual e Gestão da Inovação – RIAPIGI-PUC-GO. Pesquisadora da Rede Estadual de pesquisa em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia-REPPITTEC-FAPEG-GO. E.mail: [email protected] De acordo com Denis Barbosa (2004), A Convenção da UPOV se distingue da Convenção de Paris fundamentalmente por impor, além dos princípios gerais de compatibilização das leis nacionais (tratamento nacional, prioridade, etc.), um conjunto significativo de normas substantivas. Tais normas são seguidas com certa latitude, incorporadas em suas leis nacionais pelos países que são membros da União. As condições substantivas para obter a proteção foram adaptadas ao seu objeto específico, ou seja, a variedade. Tais condições são a possibilidade de se distinguir a variedade de qualquer outra que seja de conhecimento geral, a homogeneidade e a estabilidade, a novidade comercial a denominação. “A Convenção não contém, portanto, a noção de atividade inventiva 139 No entanto, a importância institucional dos direitos de propriedade intelectual cresceu nas últimas décadas em decorrência da sua inclusão ao Acordo TRIPS desde 1994 no âmbito da OMC abarcando áreas dantes não privilegiáveis no Brasil pelos direitos de exclusiva, como fármacos, alimentos e químicos, o que implicou uma revisita institucional desse sistema para os países aderentes do tratado. Desde a ratificação do Acordo TRIPS o Brasil remodelou e procurou se adequar aos regramentos pertinentes a matéria através da internalização de seus princípios na legislação nacional. O aparato legal se faz presente através da Lei de propriedade industrial – lei 9.279/96 e a lei de proteção a cultivares – lei 9.456/97, além de outras legislações, como os direitos de autor e software desde a entrada em vigor do Acordo TRIPS em 1995, pois há disposições de caráter retroativo, por exemplo, o enunciado3 do artigo 229 do CPI/96. No âmbito internacional, destaca-se a existência da Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais, acordo multilateral adotado por diversos países4 que determina normas comuns para o reconhecimento e a proteção da propriedade das novas variedades dos melhoristas. Este acordo foi firmado no âmbito da União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais – UPOV e aplica-se às obtenções de novas variedades vegetais. A mencionada Convenção passou por três revisões, (1972, 1978 e 1991), todas com o objetivo de aproximar a proteção dada aos cultivares dos direitos conferidos pelas patentes de invenção5. O Brasil é signatário 3 4 5 (qualquer variedade é protegida, qualquer que seja o processo pelo qual foi obtida) nem o conceito de utilidade industrial (toda variedade presume-se útil a agricultura)” (Doc. UPOV (A)/XIII/3, p. 9). Art. 229. Aos pedidos em andamento serão aplicadas as disposições desta Lei, exceto quanto à patenteabilidade dos pedidos depositados até 31 de dezembro de 1994, cujo objeto de proteção sejam substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos ou substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação e cujos depositantes não tenham exercido a faculdade prevista nos arts. 230 e 231 desta Lei, os quais serão considerados indeferidos, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.(Redação dada pela Lei nº 10.196, de 2001) Members of the International Union for the protection of new varieties of plants. Status on October 22, 2009. Consultar: http://www.upov.int/export/sites/upov/en/about/members/pdf/pub423. pdf. Acesso em: 29/12/2009. A Convenção passou por três revisões (nos anos de 1972, 1978 e 1991). As sucessivas revisões da Upov procuraram aproximar, cada vez mais, a proteção assegurada a cultivares do sistema de patenteamento, fortalecendo, assim, os direitos dos melhoristas da indústria sementeira, A agrobiodiversidade com enfoque agroecológico : implicações conceituais e jurídicas / Altair Toledo Machado, Juliana Santilli, Rogério Magalhães. – Brasília, DF : Embrapa Informação Tecnológica, 2008. Disponivel em: http://www.embrapa.br/publicacoes/tecnico/folderTextoDiscussao/arquivos-pdf/ Texto-34_16-01-09.pdf. Acesso em 29/12/2009. 140 da versão de 1978 da UPOV, muito embora incorporada na legislação interna de forma peculiar, isto é, com mesclas das Atas de 1978 e a de 1991. A partir da década de 1950 com as necessidades prementes do setor agrícola e com a introdução de novas técnicas da engenharia genética no campo da biotecnologia, vários países europeus buscaram desenvolver modais de direitos de exclusiva que viessem a atender as demandas nestes setores para a proteção de novas variedades vegetais6. Desde então, a biotecnologia desafia a natureza, os regramentos e limites jurídicos de proteção, sobretudo em face da contínua evolução tecnológica7. Quando se analisa o mercado de sementes, a complementaridade entre as formas de proteção a superposição de mecanismos de proteção jurídica é incisiva. Em especial, a proteção para os organismos transgênicos assume formas distintas, vez que alguns países reconhecem patentes de produto para genes e seqüências de genes desde que satisfeito o requisito de utilidade8 (como nos EUA e a União Europeia), enquanto o Brasil protege por patentes de produto, como exceção, apenas os microorganismos geneticamente modificados, se atenderem aos requisitos de pantenteabilidade prescritos no artigo 8° da Lei 9.279/96. No entanto, o processo de intervenção humana na vida dos seres vivos demonstra-se controverso nas diversas doutrinas e legislações de propriedade intelectual, tanto pelas discussões sobre: (a) as questões de 6 7 8 Patent protection was not originally considered to be a particularly effective system for the protection of plant varieties. Prior to the development of modern biotechnology, the breeding of a new variety could not be said to involve an inventive step, and such innovations as were made could be considered to be obvious rather than inventive. However, with the extension of patent protection to recombinant DNA methods for producing transgenic plants and their resulting products, patents have been assuming increasing significance in PVP. The broader ambit of patent rights is one particular advantage of this form of IP protection, covering, as it does, plants, seeds, and enabling technologies. Plant variety rights are highly specific to the variety, and their scope is limited by reference to the physical (propagating) material itself, combined with the description of the variety given in the documentary grant of the rights, Blakeney M. Plant Variety Protection, International Agricultural Research, and Exchange of Germplasm: Legal Aspects of Sui Generis and Patent Regimes. In Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices (eds. A Krattiger, RT Mahoney, L Nelsen, et al.). MIHR: Oxford, U.K., and PIPRA: Davis, U.S.A., 2007, p. 07. Available online at: www.ipHandbook.org A moderna biotecnologia segundo Sherwood (1992) com capacidade e habilidade para isolar, recuperar, imitar e criar alguns elementos básicos da vida tem gerado para os sistemas legais problema no que concerne a definições entre patentear ou não as novas formas de vida. Sherwood, Robert. Propriedade Intelectual e Desenvolvimento econômico. São Paulo. Editora Universidade de São Paulo, 1992. Uma seqüência, gene ou qualquer outro elemento só pode ser patenteado enquanto for invenção, ou seja, adequado para resolver um problema técnico num contexto industrial. Enquanto mera descoberta, ou seja, conhecido, mas sem resolver algum problema além do simples conhecimento, não será patenteado. 141 fronteiras entre descoberta e o contributo mínimo da atividade inventiva; (b) as questões éticas, bioéticas e de biossegurança; (c) as questões relativas à abordagem interpretativa dos Tribunais em relação ao termo “processos essencialmente biológicos”; (d) a opção pela exclusão de patentes de plantas conferida pelo TRIPS aos países signatários; (e) os limites de abrangência dessa proteção; (f ) os critérios de eficácia do sistema sui generis para plantas; (g) a proibição da dupla proteção ao mesmo bem imaterial por força da UPOV de 1978; (h) as funções específicas de cada exclusiva, entre outras. No caso de plantas transgênicas a legislação prevê a proteção intelectual em dois níveis: o patenteamento tão somente para o organismo geneticamente modificado, não encontrado na natureza, vedando a proteção para gene ou seqüência de genes. As plantas não são matéria de proteção patentária no Brasil. Sua proteção se exerce através do sistema sui generis conferido pela Lei 9.456/97. A proteção pela Lei clássica de patentes se refere ao processo de inserção do gene. Essa proteção oferece garantias de que será vedado ao produtor rural reproduzir a semente transgênica sem autorização do seu titular, o que é permitido pela Lei de Proteção de Cultivares. Esta última protege a cultivar transformada em organismo geneticamente modificado. Assim, se conjuga os efeitos de proteção do processo de inserção do gene na planta através das patentes, e do produto, no caso o material propagativo da planta, a própria planta e suas partes, através do sistema de cultivares. Dessa perspectiva, analiso em um primeiro momento, as problemáticas relativas aos limites de incidência e aplicabilidade da sobreposição entre patentes de invenção e certificado de cultivares no material propagativo da variedade vegetal. Para tanto, creio pertinente questionar em que limite o sistema jurídico brasileiro acolhe a cumulação entre esses mecanismos protetivos sobre um mesmo objeto imaterial e, se em caso afirmativo, se há afronta da eficiência sistêmica dos princípios constitucionais pertinentes. Em um segundo momento, analiso a delimitação e a aplicabilidade no âmbito de proteção das patentes de invenção que incidem sobre processos e produtos biológicos sob a perspectiva da Diretiva 44/98, por entender que essa matéria constituí em uma hermenêutica árdua, mesmo nos ordenamentos jurídicos que consagram regime legal específico. Pois bem: No sistema legal das criações biotecnológicas, o ordenamento jurídico da União Europeia, ao contrário do TRIPS e o EPC, é o único que con142 ceitua “matéria biológica9” para efeitos de direito a concessão de patentes de invenção ao enunciar no artigo 2°/1, alínea “a” da Diretiva 44/98 como “qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-replicável num sistema biológico”. No nosso sistema jurídico temos duas situações limites contidas na lei n.° 9.279/96: 1-de natureza declaratória10 sujeita a uma condicionante prevista no enunciado do artigo 10, IX, por não reconhecer nesses tipos de criações uma atividade inventiva enquanto não representarem uma 9 10 Note-se que esta definição evita utilizar a palavra “vida” ou “organismo” ou, ainda “organismo vivo”. Esta opção parece justificar-se na necessidade de garantir que o conceito de matéria biológica não se circunscreva apenas às matérias que produzem energia, que crescem e se dividem, o que excluiria os vírus da lista dos “candidatos positivos” suscetíveis de integrar o setor das realidades subsumíveis a este conceito. Foi assim adotado um critério (um critério de “vida”) que privilegia a capacidade de replicação e de expressão da informação genética transmissível. Cfr., nestes termos, Remédio Marques, J. P., Biotecnologia(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, Direito de Autor. Direito de Patente e Modelos de Utilidade. Desenhos ou Modelos, Coimbra, Almedina, 2007, p. 228. As matérias biológicas são, nesta medida, “elementos unitários de uma linguagem contínua com história evolutiva individualizada” (Vasconcelos Costa, “Vírus”, in Ferreira, Wanda F. Canas/Sousa, João Carlos F. de (coord.), Microbiologia, vol. I, Lisboa, Lidel, 1998, p. 71 ss., p. 72., quais elos atuais identitários de uma linhagem contínua. Esta noção de matéria biológica para efeitos da aplicação do regime especial do âmbito de proteção das patentes biotecnológicas, é incompleta e insuficiente, (Vide: Remédios Marques, J. P). Esta noção abranje o DNA (e, neste, os transposões, quais segmentos móveis do DNA, que podem “saltar” de um ponto para outro do genoma bacteriano, levando consigo alguns genes de que resultam alterações na estrutura do DNA genômico; cfr. Spranger, Tade Matthias, “Stoffschutz für «springer Gene»? – Transposons im Patentrecht”, in GRUR, 2002, p. 399 ss., pp. 400-401, sobre o conceito de transposão e a sua importância no âmbito de proteção da patente), incluindo o DNA mitocondrial, as bactérias, os vírus, os plasmídeos (trata-se de elementos genéticos extra-cromossômicos dos organismos procariotas – constituídos por uma molécula de DNA de tamanho muito variável – transmissíveis de uma forma estável às novas gerações, sendo dotados de um sistema de replicação próprio e autónomo) e os demais vetores de expressão, bem como as células, as plantas e os animais. Todavia, ela exclui as entidades replicativas ou dotadas de informação genética, mas que não possuem história individualizada, como é o caso dos cromossomas e das mitocôndrias. As proteínas, uma vez que se não autoreplicam, nem se replicam num outro sistema biológico (à exceção dos priões, que conduzem à doença de Cruetzfeldt-Jacob e à encefalopatia espongiforme bovina), também não logram subsumirse à noção de matéria biológica, devendo ser tratadas, para este regime jurídico especial, como qualquer outra substância química. Os viróides (quais agentes patogénicos de plantas, constituídos apenas por uma molécula de RNA mensageiro desprovida de genes, não sendo encapsulada em partículas virais) também se acham excluídos desta noção. É duvidoso, igualmente, que a esta noção se possa subsumir o RNA (ácido ribonucleico), pois que, embora este ácido nucleico contenha informação genética, ele não é provido da capacidade de se autoreplicar, ou de se replicar num outro sistema biológico, exceto se for RNA genômico presente, por exemplo, num retrovírus — cfr. Remédio Marques, J. P., Biotecnologias(s) e Propriedade Intelectual, vol. I, 2007, cit., p. 229; Kamstra, Gerry/Döring, Marc/ Scott-Ram, Nimick/Sheard, Andrew/Wixon, Henry, Patents on Biotechnological Inventions: The E.C. Directive, London, Sweert & Maxwell, 2002, p. 29, nota 44. Como se vê, esta noção de “matéria biológica” — pensada em meados dos anos oitenta do século passado — está um pouco superada pelos devir dos conhecimentos científicos. Por exemplo, ela somente abarca as matérias (biológicas) suscetíveis de replicação ou autoreplicação num sistema biológico. Ora, é já desde o início da primeira década do século XXI replicar DNA fora de um sistema biológico stricto sensu, ou seja fora de um sistema biológico eucariótico (unicelular: p. ex., no interior de bactérias) ou procariótico (sistema pluricelular). É, hoje, possível, com efeito, replicar DNA fora das células e dos sistemas celulares dotados de membranas destinadas a isolar proteínas e ácidos nucleicos do meio exterior, qual replicação de DNA in vitro, em “tubo de ensaio”, vide: Remédios Marques J.P. op.cit. Artigo 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: (...)IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 143 solução técnica para um problema utilitário técnico, i.e, só serão consideradas inventos se forem representativas de uma solução técnica para um problema técnico; e 2- de natureza proibitiva11 prevista no artigo 18, III, por questões de política pública, ainda que essas criações sejam consideradas invenções, ainda que sejam novas e tenham atividade inventiva e possam ser suficientemente descritas, exceto microorganismos transgênicos que atendam os requisitos de pantenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, previstos no artigo 8° da mesma lei e que não sejam mera descobertas. Entretanto, a lei 9.279/96 em seu enunciado do artigo 42, I e II12 ao regular o sistema jurídico das patentes de invenção no que diz respeito à concessão da exclusiva para processos e produtos (e, aqui se encaixa perfeitamente o âmbito biológico de proteção se o objeto de uma patente for produto ou processo derivado de variedades vegetais), confere interpretação ou extensão além do estabelecido, (muito embora na teoria os poderes legais conferidos ao titular da patente não comportarem extensão ou interpretação além do que a lei confere). Desse modo, a proteção conferida a uma patente dessa natureza se estende, em determinadas condições, a certas matérias biológicas (como por exemplo, o material propagativo da variedade vegetal) obtidas por reprodução ou multiplicação (patentes de produto); ou é extensível às matérias biológicas obtidas a partir da matéria biológica obtida diretamente por via da execução do processo biotecnológico patenteado, (patente de processo). A concessão de patente sobre um processo biotecnológico para a criação de uma variedade vegetal confere ao titular os mesmos direitos de propriedade sobre essa variedade criada a partir do processo patenteado. Dessas afirmações, têm-se duas situações em que o material genético comporta proteção pelos mecanismos de patentes: 1- nos processos para obtenção de variedades vegetais, estendendo a proteção para o produto ás sucessivas gerações de acordo com a reivindicação no pedido 11 12 Artigo 18. Não são patenteáveis. (...)III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. De acordo com o artigo 42, I e II, a proteção por patentes confere ao seu titular os direitos exclusivos quando: 1. O objeto de uma patente for um produto, para evitar que terceiros sem o consentimento do titular: fabrique, use, coloque a venda ou importe para esses efeitos o produto. 2. O objeto de uma patente for um processo, para evitar que terceiros sem o consentimento do titular: use, oferte para a venda, venda ou importe o produto obtido diretamente do processo patenteado. 144 de exclusiva, entendendo aqui que: se algumas propriedades ou característica estiverem escondidas ou inativas, ou mesmo se não manifestarem a época do pedido reivindicado, as sucessivas gerações derivadas desse produto protegido não serão atingidos, restando livre, a utilização econômica dessas matérias; (Tem-se que nessas eventualidades “a proteção do titular da patente não poderá estender-se ás gerações sucessivas que, real e efetivamente, não expressem tais propriedades ou características e a respectiva função biológica13”, 2- na transferência de genes de microorganismos para o genoma das variedades. Atento a óbvia ausência de limites e exceções respeitante a matéria pela lei 9.279/96, Denis Barbosa propõe a inserção do § 3° no referido enunciado do artigo 42: Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. § 1º. Ao titular da patente e assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. § 2º. Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. § 3º - O disposto no inciso II do caput, no tocante aos produtos diretamente obtidos por processos patenteados, não será aplicável às cultivares suscetíveis de proteção segundo a legislação própria. O referido doutrinador esclarece que “o dispositivo acima, se perfaz a imunidade do campo reservado à proteção pelos cultivares aos efeitos das patentes de processo. No texto abaixo, no qual se emenda o disposto das limitações às patentes, prevê-se que uma vez que se faça chegar ao agricultor material de propagação (ou seja, o elemento que é protegível por 13 Remédio Marques, J. P, op.cit. 145 registro de cultivares) que porventura se tenha protegido por patentes, o agricultor terá, em relação a tal material, exatamente as mesmas faculdades que teria, se tal material fosse protegido por registro de cultivares. Embora a neutralização dos efeitos de uma patente de processo, tratada acima, deva equalizar o tratamento das tecnologias na maior parte das circunstâncias, outros tipos de patentes para as quais possa haver proteção de produto (por exemplo, os resultados sobre uma planta de uma tecnologia de microorganismos transgênicos) serão colhidos pelo dispositivo a seguir14”: Art. 43 (...) VIII - A venda ou outra forma de comercialização de material de propagação vegetal a um agricultor pelo titular da patente ou com seu consentimento para o uso agrícola implica a permissão de o agricultor utilizar o produto de sua colheita nas hipóteses previstas no art. 10 da lei n.º 9.456, de 25 de abril de 199715. Na sua versão atual, a Lei de Cultivares, ao mesmo tempo em que estabelece direitos de exclusiva sobre sementes e mudas, reconhece os direitos dos agricultores à utilização destas sementes, ao estabelecer, em 14 15 Barbosa, Denis Borges. Proposta para regular a intercessão entre patentes/cultivares, 2010. Art. 10º. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que: I - reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III - utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica. IV - sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. § 1º. Não se aplicam as disposições do caput especificamente para a cultura da cana-de-açúcar, hipótese em que serão observadas as seguintes disposições adicionais, relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar: I - para multiplicar material vegetativo, mesmo que para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autorização do titular do direito sobre a cultivar; II - quando, para a concessão de autorização, for exigido pagamento, não poderá este ferir o equilíbrio econômico-financeiro da lavoura desenvolvida pelo produtor; III - somente se aplica o disposto no Inciso I às lavouras conduzidas por produtores que detenham a posse ou o domínio de propriedades rurais com área equivalente a, no mínimo, quatro módulos fiscais, calculados de acordo com o estabelecido na Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, quando destinadas à produção para fins de processamento industrial; IV - as disposições deste parágrafo não se aplicam aos produtores que, comprovadamente, tenham iniciado, antes da data da promulgação desta Lei, processo de multiplicação, para uso próprio, de cultivar que venha a ser protegida. § 2º. Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a utilização repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda obrigado a obter a autorização do titular do direito de proteção da primeira; II – uma cultivar venha a ser caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida; § 3º Considera-se pequeno produtor rural, para fins do disposto no inciso IV do caput, aquele que, simultaneamente, atenda os seguintes requisitos: I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou parceiro; II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso eventual da ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária o exigir; III - Não detenha a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, quantificados segundo a legislação em vigor; IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda anual proveniente da exploração agropecuária ou extrativa; e V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. 146 seu Artigo 10 que “não fere o direito de propriedade aquele que: reproduzir e utilizar sementes para uso próprio; usar ou vender, como alimento ou matéria-prima, o produto obtido de seu plantio e, utilizar o cultivo como fonte de variação no melhoramento ou para fins de pesquisa científica”. No caso específico dos pequenos agricultores, a lei autoriza, inclusive, a multiplicação de sementes protegidas para doação ou troca para outros pequenos agricultores no âmbito de programas de financiamento. Sob esse prisma, o enunciado acima, aproximou-se do Farmer´s Right da Upov de 1978 com a finalidade de garantir a segurança alimentar do pequeno agricultor ao conferir-lhe o direito de preservar dentro de seu estabelecimento, parte de sua colheita para futura semeadura, sem necessidade de prévia autorização ou pagamento de royalties ao titular do material protegido. O artigo 5°. XXIX da Constituição Federal assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País. A sobreposição de proteção por patentes e cultivares para um único bem imaterial vai de encontro ao preceito constitucional do artigo 5°, XXIX, colide com o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico nacional, pois impede a difusão do conhecimento e restringe o desenvolvimento e a pesquisa de novas variedades. Em outras palavras, afronta à função sistêmica geral da propriedade por impedir o progresso técnico significativo em pesquisas e o interesse econômico do eventual produto. Entre as funções tópicas de cada sistema de exclusiva, verifica-se que a isenção do plantador, elencada pelo sistema Upov de 1978, (a qual a lei de cultivares brasileira segue, no pertinente, os moldes), permite o acesso às variedades protegidas para o replantio da mesma variedade no espaço de plantio do adquirente de um espécime do cultivar, em oposição ao sistema geral de patentes geral que o preveniria. A proteção sobre as variedades vegetais através dos certificados de proteção, não impede a sua utilização, além disso, para o desenvolvimento de novas variedades (importante: a isenção engloba quaisquer variedades como fonte de variação genética, ainda que sem autorização do primeiro melhorista que as desenvolveu). Esta segunda limitação, diversamente da primeira, encontra paralelo na Lei 9.279/96 16. 16 Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente;II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas;(...) V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação para obter outros pro- 147 O uso das variedades protegidas pelo melhorista é livre desde a fase de pesquisas e desenvolvimento de novas variedades, mas também para a comercialização da nova cultivar desenvolvida17. Haverá, portanto, incompatibilidade entre as funções tópicas de proteção por patentes com o sistema sui generis, porque pela lei clássica de PI a nova invenção que incorpore uma invenção patenteada por terceiros dependerá da autorização do primeiro titular. Já no plano internacional, o artigo 27.3.b de TRIPS deixa à faculdade dos Estados membros da OMC definirem suas leis de proteção a propriedade intelectual voltado à adequação das situações e suas necessidades particulares. Helfer, Laurence R, ao analisar o preceito comenta: Une fois qu’un Etat membre de l’OMC adopte les quatre conditions obligatoires de l’article 27.3(b), il est libre de concevoir ses lois relatives à la protection des variétés végétales et aux innovations dans le domaine végétal sur le modèle de l’Acte de 1991 de l’UPOV, de l’Acte de 1978 de l’UPOV, des dispositions sur les brevets de l’Accord sur les ADPIC ou une combinaison de ces approches. Chacune de ces approches «consacrées» atteint, de manière différente, le but politique principal du système de DPI: la création de mesures incitatives appropriées pour que les obtenteurs développent et commercialisent de nouvelles variétés végétales. L’adéquation de l’une ou l’autre de ces approches à la situation particulière d’un pays déterminé dépend des besoins de ses secteurs agro-industriel et agricole, de son souhait d’encourager les investissements étrangers dans l’amélioration des variétés végétales et dans les biotechnologies, et de ses objectifs em matière de commerce international18. Por extensão, o enunciado do artigo 7° do Acordo TRIPS apregoa como objetivos dos direitos de propriedade intelectual a promoção da 17 18 dutos; e VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa.(...) A autorização do obtentor não é necessária para a utilização da variedade vegetal como fonte de variação no melhoramento genético vegetal, com a finalidade de criar outras variedades, ou mesmo para comercializar novas variedades. É estabelecida uma distinção jurídica entre dois objetos que, na realidade, são um só: a variedade, enquanto invenção, protegida por um direito exclusivo do obtentor vegetal, e a variedade enquanto recurso/base para outra invenção, livre de quaisquer direitos, Hermitte, Marie-Angéle & Kahn, P. Le ressources genétiques vegetales et Le droit dans Le rapports Nor-Sud. Bruxelas: Bruylant, 2004, p.25. Halfer, Laurence R. Droits de propriété intellectual et variété vegetales. Regimes juridiques internationaux et options politiques nationals, 2005, p.84. 148 inovação tecnológica e a transferência e difusão de tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e obrigações. No entanto, o enunciado do artigo 42, I e II da lei 9.279/96, acima mencionado, protege o produto objeto de patente e o processo ou produto obtido diretamente pelo processo patenteado. Se uma patente é concedida, o titular do produto ou processo patenteado goza de ampla gama de direitos exclusivos conferindo ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar19. Dessa maneira, atendidos os pressupostos da patente, poderá um processo biotecnológico a partir da planta ou de suas partes prolongar os efeitos da proteção a seus produtos. E mais, poderá ocorrer à violação de direito da patente de processo quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente de acordo com o artigo 42, § 2° da Lei 9.279/96, aos moldes do artigo 34 do TRIPS20. Em tese, a propriedade exclusiva do detentor dos direitos de PI clássica de sementes geneticamente modificadas inclui o direito a proteção para as plantas descendentes e as próprias sementes. As patentes de processo abarcariam o produto resultante diretamente do processo, mesmo sendo esses produtos protegidos pela lei 9.456/97 através dos certificados de proteção. 19 20 A França e a Alemanha adotaram leis mais incisivas para resguardar a isenção do melhoristas e o avanço das pesquisas científicas, ao permitir expressamente que os melhoristas utilizem materiais genéticos que contenham componentes patenteados. Entretanto, se for desenvolvida uma nova variedade e ela contiver o componente genético patenteado, a autorização do obtentor será necessária para a comercialização da nova variedade. Se o componente genético patenteado for, entretanto, “retirado” do material, o titular da patente não terá nenhum direito sobre a nova variedade, Santilli, Juliana Ferraz da Rocha. Agrobiodiversidade e direito dos agricultores. Tese de doutorado, Curitiba, 2009, p.151. Art.34 1 - Para os fins de processos cíveis relativos à infração dos direitos do titular referidos no parágrafo 1.b do art.28, se o objeto da patente é um processo para a obtenção de produto, as autoridades judiciais terão o poder de determinar que o réu prove que o processo para obter um produto idêntico é diferente do processo patenteado. Conseqüentemente, os Membros disporão que qualquer produto idêntico, quando produzido sem o consentimento do titular, será considerado, na ausência de prova em contrário, como tendo sido obtido a partir do processo patenteado, pelo menos em uma das circunstâncias seguintes: a) se o produto obtido pelo processo patenteado for novo; b) se existir probabilidade significativa de o produto idêntico ter sido feito pelo processo e o titular da patente não tiver sido capaz, depois de empregar razoáveis esforços, de determinar o processo efetivamente utilizado. 2 - Qualquer Membro poderá estipular que o ônus da prova indicado no parágrafo 1 recairá sobre a pessoa a quem se imputa a infração apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo “a” ou apenas quando satisfeita a condição referida no subparágrafo “b”. 3 - Na adução da prova em contrário, os legítimos interesses dos réus na proteção de seus segredos de negócio e de fábrica serão levados em consideração. 149 Um dos grandes problemas verificados quanto à cumulação de proteções por exclusivas entre patentes e cultivares sob um mesmo objeto imaterial é que a legislação de propriedade intelectual clássica, diversamente da lei de cultivares, não fixa limitações ou exceções à proteção por patentes de processos de plantas ou animais. Entendo que, cada direito possui um modelo constitucional que lhe confirma os pressupostos de aquisição em relação aos efeitos da exclusiva moldados pelo princípio da especificidade de proteção – Lex specialis derogat generali. Cada uso feito e destinação dada a um bem imaterial funcionalizam esse bem de uma forma e a proteção dada para esse bem em determinada função será diferente da proteção dada ao bem quando este estiver exercendo função diversa. Isso porque se deve respeitar o modelo de proteção constitucionalmente criado para cada função exercida por um bem imaterial, não podendo ultrapassar os limites constitucionais estabelecidos para cada modelo de proteção21. Para os requisitos próprios conferidos pelo sistema de propriedade intelectual, um direito a ser protegido – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial para patentes de invenção, distintividade, homogeneidade, estabilidade e novidade comercial, para os cultivares. Sendo que o invento considerado com tal, somente receberá a proteção conferida através de patentes, se contiver a tecnicidade em seu objeto, em sua aplicação e em seu resultado. Protege-se, assim, uma solução técnica para problemas técnicos visando á satisfação de fins determinados, de necessidades de ordem prática. O princípio constitucional sistemático das patentes requer que, em todos os casos, só se defira a exclusiva na presença de uma descrição da nova solução técnica, que capacite qualquer técnico a conhecer o objeto, de forma a aperfeiçoá-lo, se quiser, e a usá-lo livremente ao fim da proteção ou no caso de licença compulsória. O aumento do conhecimento tecnológico da sociedade é um dos elementos básicos do equilíbrio constitucional de interesse quanto às patentes22. No caso das variedades vegetais, não há descrição possível (sendo a descrição da solução técnica de forma que possa induzir à livre cópia 21 22 Porto, Patricia C. R. Limites à sobreposição de direitos de propriedade intelectual. Trabalho de conclusão da disciplina de Direitos autorais. COPEPI – Coordenação de pesquisa e educação em propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento. Rio de Janeiro, 2009, p. 24. Barbosa, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. 5] § 2.1. Um exemplo: a novidade no caso de cultivares. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 312, No Prelo. 150 da solução patenteada um requisito essencial do sistema de patentes) e a novidade pertinente é apurada quando há a disponibilidade da variedade ao público23. O requisito novidade na legislação de cultivares diz respeito à novidade de mercado, novidade comercial concernente as variedades vegetais, e que por sua vez, atende ao principio da inderrogabilidade do domínio publico para esse tipo de criação tecnológica. Diversamente do sistema de cultivares, o requisito novidade aos moldes dos mecanismos de patentes é “cognoscitiva” e exige que a tecnologia ainda não tenha sido acessível ao publico, de forma que o técnico, dela tendo conhecimento possa reproduzi-la24. Denis Barbosa pondera que na proteção das variedades vegetais na proporção em que são excluídas da proteção as idéias, tecnologias, etc., a novidade cognoscitiva é irrelevante ao equilíbrio de interesses. Como a originalidade, a novidade é um dos requisitos substantivos da proteção, e cada qual se propõe realizar em suas especificidades, o mandato constitucional para a qual foi moldada. O requisito “novidade” para a lei de cultivar não representa como novidade absoluta como na lei de patentes, pois se refere à novidade mercadológica, sendo, portanto, mais branda em comparação com a lei 9.279/96 que exige o “conhecimento intelectual” e não somente o comercial. Assim sendo, o requisito novidade, como um dos elementos justificadores da concessão pelos mecanismos de patentes, possui conceito distinto entre os sistemas de patentes e cultivares. De qualquer modo, a proteção conferida pela lei de cultivares as variedades vegetais estará vinculada ao atendimento inerente aos critérios de distintividade, homogeneidade, estabilidade - critérios técnicos e o requisito novidade – critério jurídico, introduzido obrigatoriamente pela UPOV de 1991, bem como a utilidade – critério econômico, além de que seja provida de uma denominação própria. O que distingue o limite de proteção por propriedade intelectual entre patentes e cultivares é exatamente um dos requisitos mais importantes e exigíveis constitucionalmente ao se conceder proteção baseada em patente de invenção: é o contributo mínimo da atividade inventiva. 23 24 Barbosa, Denis Borges. Op. cit. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. De acordo com Denis Borges Barbosa em seu Tratado de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 . 151 A atividade inventiva, como um dos requisitos de mérito para a verificação da concessão de patentes se insere no artigo 13 da Lei 9.279/96 – “a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”. Como requisito limitador para se conferir a concessão de patentes, a atividade inventiva requer que o objeto seja novo e inexistente, no sentido de ser criado a partir do engenho humano, capaz de gerar algo novo, aplicável no aperfeiçoamento ou na criação industrial para qualquer tipo de indústria. Para se determinar a atividade inventiva é necessária a existência de um invento (artigo 10), que seja dotado de novidade (artigo 11), que seja qualificada a novidade pela atividade inventiva (artigo 13), suscetível de aplicação industrial (artigo 15), suficientemente descrita, de forma a permitir a reprodução do invento na indústria e como insumo de pesquisa (artigo 24) e a verificação de que não haja proibição legal de patenteamento, por motivos de política pública (artigo 18) 25. O sistema sui generis para as variedades vegetais recebe um tratamento específico devido às características dos objetos protegidos que lhes são próprios, não havendo nenhuma intercessão entre os direitos protetivos conferidos por patentes as cultivares. Assim, creio que a Lei de cultivares em sua abordagem legal, se verificado a interface entre duas proteções em um único bem imaterial, fica relegada a um papel marginal e secundário. Primeiro: porque a lei de cultivares nacional não admite os mecanismos de sobreposição de exclusivas em um só bem imaterial, por força da adesão da Upov de 1978; Segundo: a interpretação estensiva do artigo 42, I e II, que confere a proteção por patentes de processo e produto a esse mesmo bem imaterial, faz com que haja um desbalanceamento civil-constitucional quanto às funções tópicas de cada sistema e suas especificidades, e por fim, a proteção legal, resultantes das patentes de invenção, difere da proteção legal dos direitos de cultivares quanto às funções tópicas de cada instituto, ou seja, os componentes genéticos de uma planta, como produto da natureza, não cumprem a exigência dos requisitos concessivos de patentes de invenção, além de que, sua descrição, não poderá ser formalizada com a especificidade suficiente para abarcar a proteção por mecanismos patentários. É sempre bom lembrar que o invento para ser considerado como tal deverá atender os requisitos essenciais a proteção e conter em seu resultado um efeito útil, concreto e tangível. 25 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Seção 5, §4 – a metodologia para determinar a atividade inventiva. Rio e Janeiro: Lumen Juris, 2010. 152 2 A PROTEÇÃO DAS CRIAÇÕES BIOTECNOLOGICAS NA PERSPECTIVA DA DIRETIVA 44/98 A tentativa de interpretação do que seja processos “essencialmente biológicos” foi desenvolvida na decisão T 320/87 baseada na acepção do artigo 53(b) do EPC26 e, confirmada em decisões posteriores T 83/05, T 356/93, apregoando que: “6. ... whether or not a (non-microbiological) process is to beconsidered as “essentially biological” within the meaning of Article 53(b) EPC has to be judged on the basis of the essence of the invention taking into account the totality of human intervention and its impact on the result achieved. It is the opinion of the Board that the necessity for human intervention alone is not yet a sufficient criterion for its not being “essentially biological”. Human interference may only mean that the process is not a “purely biological” process, without contributing anything beyond a trivial level. It is further not a matter simply of whether such intervention is of a quantitative or qualitative character. 7… 8. In analysing the claimed processes, it appears that their essence lies in the particular manner of the combination of specific - 34 - G 0001/08 C4668.D steps ... The totality and the sequence of the specified operations do neither occur in nature nor correspond to the classical breeders’ processes... 9. The required fundamental alteration of the character of a known process for the production of plants may lie either in the features of the process, i.e. in its constituent parts, or in the special sequence of the process steps, if a multistep process is claimed. In some cases the effect of this can be seen in the result.” Alguns critérios foram relevantes a aludida decisão no sentido de determinar se um processo não é “essencialmente biológico”, assim, vejamos: 26 O artigo 53 – EPC - Exceções à patenteabilidade : As patentes europeias não será concedida em relação a: (a) invenções a exploração comercial de que seria contrária à ordem pública “ou moralidade; essa exploração não deve ser considerada como tal pelo simples fato de ser proibida por lei ou regulamento de alguns ou todos os Estados Contratantes, (b) planta ou animal variedades ou processos essencialmente biológicos para a produção de plantas ou animais; esta disposição não se aplica aos processos microbiológicos ou aos seus produtos; (c) métodos de tratamento do ser humano ou corpo do animal por cirurgia ou terapia e métodos de diagnóstico aplicados ao corpo humano ou animal; esta disposição não se aplica aos produtos, em especial às substâncias ou composições, para uso em qualquer um destes métodos. 153 • A totalidade da intervenção humana e seu respectivo impacto sobre o resultado devem ser determinados; • A avaliação deverá ter por base a essência da invenção; • O impacto deve ser decisivo no resultado final; • A contribuição para o estado de arte deve ir além de um nível trivial, necessário a presença de uma etapa técnica; • A totalidade e a sequência das operações ou etapas não deve ser semelhante aquela que ocorrem na natureza e nem corresponder aos processos convencionais para obtenção de plantas; • A alteração fundamental de um processo poderá estar tanto em suas etapas, como na sequência dessas etapas, se várias etapas são reivindicadas. Em alguns casos, o efeito pode ser visto no resultado. A decisão relatou que a intervenção humana por si só não é critério suficiente para caracterizar o processo reivindicado como “não essencialmente biológico”, portanto, em tese, não passível de proteção por patentes, porque a interferência trivial do homem no estado da arte apenas significa que o processo não é “puramente biológico”, i.e, sem existência de um plus no estado da arte. A intervenção humana somente retira os processos do caráter de ser “puramente biológicos”, entretanto, a simples interferência não confere por si só a atividade inventiva. Entenda-se aqui o advérbio “puramente biológico” como sendo “exclusivamente biológico” que deliberadamente foi substituído no âmbito do artigo 53(b) pelos legisladores a época da EPC de 1973, por entenderem que o termo “puramente biológico” seria muito restritivo. Basicamente qualquer interpretação de processo para produção de planta para ser considerado“essencialmente biológico”, não passível de proteção ou técnicos e, portanto, patenteáveis, depende de critérios que são determinados de acordo com o estado de arte, pois deverá combinar os requisitos que são relevantes e imprescindíveis para a concessão da exclusiva. Este ponto, nos alerta para o fato de que, os testes dos requisitos objetivos referentes à novidade e atividade inventiva de uma criação na lei de patentes cumpre a útil função econômica de evitar ganhos monopolísticos não merecidos. Este abuso potencial de direitos de exclusividade deve ser impedido pela aplicação rígida dos critérios de exame na lei de patentes “27. 27 Aktiebolaget Hassle versus Alphapharm Pty Ltd [2002] HCA 59 (12/12/2002). Disponível em <httpp://www.ipsofactoj.com/international/2003/Part03/int2003(3)-014.htm>. Acesso em 25/07/2010. “One possibility whereby an unnecessary dead-weight loss could arise is if patent protection is granted for a non-innovative product or process. In this case society might incur a monopolistic welfare cost without obtaining a new product or process in return. This point alerts us to 154 A premissa de que os processos que contiverem tecnicidade em seu desenvolvimento e praticidade em seu resultado, sendo suas etapas impossíveis de ser executadas sem a intervenção humana, “não podem se enquadrar no termo “processo essencialmente biológico” e, portanto, passíveis de proteção pela exclusiva da patente”, deve ser analisada sob duas vertentes: (a) o processo considerado “essencialmente biológico” confere ao Estado nacional a faculdade de excluí-lo da proteção patentária e, por sua vez, (b) se constatada a atividade inventiva, obrigará ao Estado Membro a conceder a patente uma vez verificada a sua novidade. O contributo mínimo da atividade inventiva vem a reforçar a concessão ou não de proteção via patentes como pós requisito da novidade e este, atesta que a invenção não foi antecipada de forma integral por um unico documento no estado da técnica. Dessa maneira, o requisito da atividade inventiva emerge quando já constatado a novidade do invento. Para se haver invento e, portanto, passível de proteção por patentes, é necessário existir uma solução técnica para um problema técnico. É primordial uma contribuição mínima para os estado da técnica, que não seja representativo de criações obvias. Por tratar-se de uma operação criativa como exercício do intelecto, a atividade criativa deverá transcender a normalidade das atividades desenvolvidas por um técnico no assunto examinado. Pontes de Miranda28 ao analisar a convergência dos conceitos de invenção e atividade inventiva afirma que: O que importa é que a atividade inventiva ultrapasse o que o técnico da especialidade podia, tal como estava à técnica no momento, achar. O que todos os técnicos da especialidade, no momento, podiam achar não é invenção; não inventa o que diz ter inventado o que qualquer técnico da especialidade acharia. Porque tal achado estaria dentro da técnica do momento, sem qualquer quid novum. Assim, o que define uma criação como suscetível de proteção através dos mecanismos de patentes é a sua classificação como invento29. 28 29 the fact that the tests of novelty and non-obviousness in the patent law fulfi l the useful economic function of preventing undeserved monopoly profits. This potential misuse of monopoly rights must be prevented by strict application of the screening criteria in the patent law”. MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 4, 1983, p. 274. BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade intelectual. Seção 5, § 4 – a metodologia para determinar a atividade inventiva. Rio e Janeiro: Lúmen Juris, 2010. 155 A Diretiva 98/44 no artigo 8(2) apregoa que a proteção conferida por uma patente relativa a um processo que permita produzir uma matéria biológica dotada em virtude da invenção de determinadas propriedades abrange a matéria biológica obtida por esse processo e qualquer outra matéria biológica obtida a partir da matéria biológica obtida diretamente, por reprodução ou multiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. Ao abrigo do presente enunciado, a Diretiva autoriza a concessão de patente a um processo de reprodução ou multiplicação de plantas ou animais, sendo que esta proteção abarcará o processo, bem como os produtos (plantas, sementes) relacionados e advindos deste processo. Desta declaração, os limites de concessão da proteção patentária se referem às variedades vegetais e animais considerados excluídos das patentes, entretanto, a proteção abarcará plantas e suas partes e animais. Conforme mencionado, a Diretiva 98/44 considera os processos de cruzamento ou seleção de plantas e animais, “essencialmente biológicos” e, neste sentido, abriu-se precedente com a recente decisão30 em início de dezembro de 2010, relativo a processos de melhoramento convencional de plantas que envolvam etapas consideradas tecnicamente inovadoras, como o cruzamento ou seleção em que intervêm marcadores genéticos. Neste contexto, os gráficos abaixo, demonstram o crescimento da concessão de patentes envolvendo métodos de melhoramento convencional e métodos de engenharia genética. 30 Cases T-83/05 e T-1242/06. Decision of the Enlarged Board of Appel of 09 de December 2010. 156 Gráfico 01 - Comparison of patents involving conventional breeding and partially also genetic engineering to those only involving only conventional breeding –number of patent applications in plant breeding, 1980‐2008 (source: Espace Access Vol. 2009/001 and EP‐B Vol. 2009/00) Fonte: The future of seeds and food: under the growing threat of patent an market concentration31. Gráfico 02 - Percentage of patent applications on conventional plant breeding compared to all applications in plants, 2000‐2008, at the European Patent Office - Fonte: The future of seeds and food: under the growing threat of patent an market concentration32. 2.1 Análises dos precedentes - Cases Plant Bioscience/brócolis e Organização de pesquisa agrícola/tomates Em 2002 a EPO concedeu patente à companhia britânica Plant Bioscience que protege o método desenvolvido pela empresa para obter uma variedade de brócolis com maior concentração da substância anticancerígena presente naturalmente na planta. Em 2003, a multinacional suíça Syngenta, juntamente com a cooperativa francesa de sementes Limagrain, recorreu ao EPO para contestar a patente sob a alegação de que o melhoramento era um “processo bioló31 32 Christoph Then & Ruth Tippe. Written for the international coalition of “no patents on seeds” – 2009. Disponível em: www.nopatents-on-seeds.org. Acesso em: 30 de março de 2011. Christoph Then & Ruth Tippe. Written for the international coalition of “no patents on seeds” – 2009. Disponível em: www.nopatents-on-seeds.org. Acesso em: 30 de março de 2011. 157 gico convencional” — portanto, não patenteável. A Plant Bioscience argumentou que o novo sistema de produção de brócolis por meio da seleção assistida por marcadores é uma inovação tecnológica. A seleção por marcador molecular é uma técnica de análise de DNA que permite localizar variações no genoma associadas a determinadas características — por exemplo, a resistência à seca ou a suscetibilidade a doenças. Com marcadores moleculares, é possível mapear no genoma de diferentes “exemplares” da mesma espécie vegetal — ou seja, — os genes responsáveis por uma característica desejada. O método de seleção da Plant Bioscience para aumentar a produção de glucosinolato nos brócolis, resumidamente, consiste em várias etapas de cruzamento e seleção entre variedades selvagens — Brassica villosa e Brassica drepanensis — com linhagens de brócolis chamadas de duplo haplóide. Essas linhagens são originadas por reprodução assexuada a partir de espécie que detenha as características desejadas, mas que se tornam inférteis no processo por possuir apenas metade do material genético da espécie. Para duplicar o material genético e permitir que essas espécies com características especiais sejam novamente férteis e possam ser cruzadas sexuadamente, são empregadas técnicas em laboratório através de marcadores moleculares. A alegação da Syngenta no case é que o uso de marcadores moleculares na etapa de seleção não é motivo suficiente para excluir o método da categoria de “processo essencialmente biológico”. Já a empresa britânica diz que o fato de haver “intervenção humana” em algumas das etapas — entre elas, a análise in vitro de tecidos da planta para a identificação dos marcadores moleculares — exclui o processo do conceito de “essencialmente biológico”. A patente do processo de melhoramento de tomates não envolveu marcadores moleculares nem qualquer técnica de engenharia genética. O método consistiu, basicamente, em promover cruzamentos de uma variedade de tomate que naturalmente produz pouca água com outra selvagem para obter a variedade que já nasce com teor hídrico ainda menor. O processo previu uma etapa final — a colheita só é feita depois do ponto de maturação “convencional”, de maneira a permitir a identificação dos tomates mais desidratados. Na apelação na EPO, a Unilever alegou que “diferentemente do processo reivindicado no caso T 83/05 - referente à patente do processo do brócolis da Plant Bioscience, que exige o uso de marcadores moleculares, o método no presente caso não exige qualquer intervenção humana a não ser cruzamento e seleção - todas as etapas mencionadas 158 no processo são claramente parte do cruzamento e seleção realizados por pessoa especializada em processo de melhoramento convencional”. Assim, as patentes EP 1069819 (G2/07) e EP 1211926 (G1/08) dizem respeito à concessão da exclusiva pela EPO a empresa Plant Bioscience que protege um método de cruzamento e seleção convencional desenvolvido em variedade de brócolis com maior concentração da substancia anticancerígena (presente naturalmente na planta) e a um método de cruzamento para produzir tomates com baixo teor de água desenvolvido pela Organização de Pesquisa Agrícola vinculado ao governo de Israel. Nos cases Plant Bioscience/brócolis e Organização de pesquisa agrícola/tomates os titulares alegaram que a finalidade da exclusão de patentes dos processos essencialmente biológicos para a produção de plantas foi apenas para dar pleno efeito a proibição da dupla proteção ao abrigo da Convenção Internacional para a proteção de variedades vegetais – UPOV, sendo que a exclusão foi limitada aos processos para a produção de variedades de plantas. Neste contexto, a Câmara de Apelação da EPO relatou em sua decisão que: • Um processo não microbiológico para produção de plantas que contem ou é constituído por etapas de cruzamento de genomas de plantas e de vegetais posteriormente selecionados, em principio são excluídos da patenteabilidade sendo considerados “essencialmente biológicos” conforme apregoado o artigo 53(b); • Tal processo não escapa da exclusão do artigo 53 (b) EPC simplesmente porque contém mais uma etapa, ou parte de quaisquer das etapas de cruzamento e seleção de natureza técnica que permita ou auxile no desempenho das etapas de cruzamento de genomas inteiros de plantas, ou de plantas, posteriormente selecionadas; • Se, no entanto, esse processo contiverem etapas de cruzamento e seleção uma etapa adicional de natureza técnica, que por si só apresentarem um traço no genoma ou modificarem uma característica na produção do genoma da planta de modo que a introdução ou modificação da característica não é o resultado da mistura dos genes das plantas selecionadas para cruzamento, então o processo não é excluído da patenteabilidade, nos termos do artigo 53 (b) EPC; • Neste contexto, para examinar se tal processo é excluído da patenteabilidade como sendo “essencialmente biológico”, na acepção do Artigo 53 (b) EPC, não é relevante se uma etapa de natureza 159 técnica é nova ou conhecida, se é trivial ou se constitui em uma alteração fundamental de um processo conhecido, se poderia ocorrer na natureza ou se a essência da invenção reside neste processo. Para se verificar a concessão de patentes “não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informações, resultantes da atividade humana. É preciso especificar qual o problema técnico a ser resolvido,33”. A simples cogitação subjetiva elaborada na instancia psicológica do indivíduo elimina a possibilidade da criação ser considerada invento, por não possuir caráter e aplicabilidade técnicos. A invenção deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; ser suscetível de repetição, estabelecendo o seu autor à relação de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na invenção.34 Portanto, ao analisar o objetivo sistêmico do enunciado do artigo 53(b) da EPC, no qual foi baseada a decisão acima, constata-se que: “mesmo que os processos “essencialmente biológicos” para a produção de plantas sejam considerados invenções, sejam satisfeitos os critérios condicionantes a proteção da exclusiva – novidade, atividade inventiva e aplicabilidade industrial, os processos não serão considerados passíveis de proteção pelos mecanismos de patentes, vez que a decisão��������� não considerou relevante: (a) se uma etapa de natureza técnica é nova ou conhecida, (b) se é trivial ou se constitui em uma alteração fundamental de um processo conhecido, (c) se poderia ocorrer na natureza ou (d) se a essência da invenção reside neste processo. 2.2 “Material biológico” versus “Produto” no âmbito da Diretiva Europeia 98/44 O conceito de material biológico vem expresso na Diretiva 98/44 do artigo 2(b) entendendo que seja qualquer matéria que contenha informações genéticas e seja auto-replicável ou replicável em um sistema biológico. O enunciado do artigo 8(1) apregoa que a proteção conferida por uma patente relativa a uma matéria biológica dotada, em virtude da invenção, de determinadas propriedades abrange qualquer matéria biológica obtida a partir da referida matéria biológica por reprodução e mul33 34 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de propriedade Intelectual – Patentes – Tomo II. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 1111. MENDONÇA, Jose Xavier de Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Campinas: Russell, 2003, p.153. 160 tiplicação, sob forma idêntica ou diferenciada, e dotada dessas mesmas propriedades. Por sua vez, o artigo 9° diz que a proteção conferida por uma patente a um produto que contenha uma informação genética ou que consista numa informação genética abrange qualquer matéria, sob reserva do disposto no n° 1 do artigo35 5, em que o produto esteja incorporado e na qual esteja contida e exerça sua função. O artigo 9° tem alcance distinto do artigo 8(1). A proteção por exclusiva no artigo 9° é mais abrangente do que o artigo 8(1), pois abarca qualquer matéria biológica i.e, o material biológico como outros materiais, não somente a matéria biológica em si, como reza o artigo 8(1). Muito embora o artigo 9° estender a proteção a um produto que não seja objeto de patente, ou seja, produto que não foi reivindicado para a proteção patentária, o artigo 8(1) estende a proteção do mesmo produto para as gerações futuras ou cópias obtida por reprodução ou multiplicação. Entretanto, além dos critérios concessivos para a proteção por patentes para o processo e o produto derivado do material biológico é imprescindível que este demonstre sua finalidade funcional. Os próprios termos do vigésimo terceiro “considerando” da diretiva apregoam que “uma mera seqüência de ADN sem indicação de uma função biológica não contém quaisquer ensinamentos de natureza técnica, pelo que não poderá constituir uma invenção patenteável”. Por outro lado, o vigésimo segundo e vigésimo quarto “considerandos”, bem como o artigo 5°(3), da diretiva36, implicam que uma seqüência de ADN não beneficia nenhuma proteção ao abrigo do direito de patentes quando a função exercida por essa seqüência não for especificada. Assim, uma vez que a diretiva condiciona a proteção patentária de uma seqüência de ADN à indicação da função que lhe assegura, se deve considerar que não atribui nenhuma proteção a uma seqüência de ADN que não possa exercer a função específica para a qual tenha sido descrita no pedido para a concessão da exclusiva. A exigência da presença de uma finalidade funcional específica como restrição ao uso da propriedade de uma seqüência ou de um processo que utiliza material biológico, pode ser considerado como limite de sua fruição na medida em que cumpre os objetivos de interesse público. Esta interpretação é corroborada pelo artigo 9° que vincula e condiciona 35 36 O corpo humano, nos vários estágios da sua constituição e de seu desenvolvimento, bem como a simples descoberta de um de seus elementos, incluindo a seqüência parcial de um gene, não pode constituir invenções patenteáveis. Artigo 5°(3) – A aplicação industrial de uma seqüência ou de uma seqüência parcial de um gene deve ser concretamente exposta no pedido de patente. 161 a proteção da exclusiva a qualquer matéria em que o produto esteja incorporado, desde que exerça sua função, assegurando assim, sua utilidade ou aplicabilidade industrial. O próprio TRIPS37 no enunciado do artigo 30, muito embora não tendo efeito direto na legislação europeia, apregoa que uma restrição de direitos exclusivos só é permitida quando justificada por um equilíbrio de interesses legítimos entre os detentores de patentes e terceiros. O artigo estabelece três questões cumulativas a restrições de direitos protetivos; (I) as exceções devem ser limitadas visando o equilíbrio de interesses; (II) não devem colidir de modo injustificável com a exploração normal da patente, e (III) não devem causar prejuízo injustificado aos legítimos interesses do titular a patente, tendo em conta os interesses legítimos de terceiros. 2.3 Case Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH Recente precedente foi julgado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia38, onde os juízes decidiram em desfavor de uma empresa norte americana39 detentora de patente de sequência de DNA registrada na Europa. A decisão relatou que: • O artigo 9° da Diretiva 98/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 06 de julho de 1998, relativa à proteção jurídica das in37 38 39 Artigo 30 do Trips. Os membros poderão conceder exceções limitadas aos direitos exclusivos conferidos pela patente, desde que elas não conflitem de forma não razoável com sua exploração normal e não prejudiquem de forma não razoável os interesses legítimos de seu titular, levando em conta os interesses legítimos de terceiros. Entre os anos 2005 e 2006, a disputa comercial ganhou impulso porque a Monsanto deteve na Holanda sementes de soja argentina para cobrar direitos e royalties. A Monsanto, no entanto, não havia registrado a sequencia de gene na Argentina, onde essa variedade é usada em grandes quantidades, (Informativo ABPI, julho de 2010). Processo C- 428/08 - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção). 6 de Julho de 2010 (*) «Propriedade industrial e comercial – Proteção jurídica das invenções biotecnológicas – Directiva 98/44/CE – Artigo 9. ° – Patente que protege um produto que contém uma informação genética ou que consiste numa informação genética – Matéria que incorpora o produto – Proteção – Requisitos» No processo C‑428/08,que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.° CE, apresentado pelo Rechtbank ’s‑Gravenhage (Países Baixos), por decisão de 24 de Setembro de 2008, entrado no Tribunal de Justiça em 29 de Setembro de 2008, no processo Monsanto Technology LLC contra Cefetra BV, Cefetra Feed Service BV, Cefetra Futures BV, Alfred C. Toepfer International GmbH,sendo interveniente:Estado argentino. Disponível em: http:// eurlex.europa. eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX: 62008J0428: PT: HTML Acesso: 10/07/2010. A Monsanto é titular da patente europeia EP 0 546 090, concedida em 19 de Junho de 1996. A patente descreve uma classe de enzimas EPSPS da classe II que não são sensíveis ao glifosato. As plantas que contêm essas enzimas sobrevivem à utilização do glifosato, ao passo que as ervas daninhas são destruídas. Os genes codificadores das enzimas da classe II foram isolados a partir de três bactérias. A Monsanto introduziu estes genes no ADN de uma planta de soja que denominou soja RR (Roundup Ready). Na sequência desta introdução, a planta de soja RR sintetiza uma enzima EPSPS da classe II denominada CP4‑EPSPS, que resiste ao glifosato, tornando‑se assim resistente ao herbicida Roundup. 162 venções biotecnológicas, deve ser interpretado no sentido de que não confere a proteção dos direitos de patente em circunstâncias como as do litígio no processo principal, em que o produto patenteado está contido na farinha de soja, na qual não exerce a função para a qual foi patenteado, mas tendo previamente exercido a função na planta de soja, da qual essa farinha é um produto derivado, ou em que poderia eventualmente vir a exercer novamente essa função, depois de ter sido extraído da farinha e introduzido numa célula de um organismo vivo. • O artigo 9° da Diretiva 98/44 procede a uma harmonização completa da proteção que confere, de modo que impede que uma legislação nacional conceda uma proteção absoluta do produto patenteado enquanto tal, independentemente de exercer ou não a sua função na matéria que o contém. • O artigo 9° da Diretiva 98/44 se opõe a que o titular de uma patente concedida antes da adoção desta diretiva invoque a proteção absoluta do produto patenteado que lhe foi atribuída pela legislação nacional então aplicável. • Os artigos 27° e 30° do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados com o Comércio, que constitui o anexo 1 C do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio (OMC), assinado em Marraquexe, em 15 de Abril de 1994, e aprovado pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativa à celebração, em nome da Comunidade Europeia e em relação às matérias da sua competência, dos acordos resultantes das negociações multilaterais do Uruguay Round (1986/1994), não são relevantes para efeitos da interpretação dada ao artigo 9.° da Diretiva 98/44. Os legisladores baseados na Diretiva 44/98 da Comunidade Europeia decidiram que “a informação genética que contenha o produto deverá exercer efetivamente sua função nessa mesma matéria”. Os magistrados justificaram em suas decisões que a seqüência de DNA patenteada estava em estado “residual” no farelo de soja e que a empresa titular da patente não pode impedir a venda na UE de um produto que contenha essa proporção mínima. De acordo com o Tribunal de Justiça Europeu, muito embora o farelo de soja tivesse resquícios do produto patenteado, trata-se de um produto final inerte que sofreu várias operações de transformação, assim, a infor163 mação genética já não exerce a função inicial em conformidade com a reivindicação da patente. Um resultado semelhante pode ser alcançado se as plantas transgênicas tolerantes a herbicidas ou uma seqüência de DNA são interpretados como produtos intermediários do farelo de soja: o âmbito de proteção por patente de produto em um produto intermediário não se estende a um produto final, se tiver sido transformado quimicamente em uma nova substancia cujas características físicas e a aplicabilidade técnica difere da do produto intermediário. Os juízes declararam que a normativa da UE sobre o amparo das invenções biotecnológicas condiciona à proteção a informação genética que contenha o produto e que esta, exerça efetivamente a sua função nessa mesma matéria40. Uma vez que a seqüência de DNA patenteada não executa nenhuma função no âmbito da proteção ao produto – farelo de soja, o artigo 9° não pode ser invocado. Neste sentido, a diferença semântica entre “material biológico” e “produto” dos artigos 8(1), 8(2) e 9° não tem nenhum impacto aparente: uma seqüência de DNA só pode ativamente executar sua função no material biológico vivo, mas não em matéria morta - farelo de soja. Em conseqüência, neste caso, não parece haver espaço para aplicar as disposições da Diretiva, vez que o assunto não é o material biológico, mas material não viável. Entretanto, os limites ou a exclusão de proteção em matéria de seqüência de DNA baseados em critérios quantitativos presentes em um produto derivado do processo obtido do material biológico, implica em uma avaliação e um limite que não se encontram positivados na Diretiva, e que podem, de acordo com a análise, gerar insegurança jurídica. Enfim, existem divergências no âmbito de proteção das invenções biotecnológicas entre as leis e práticas nas diferentes legislações nacionais. Tais disparidades são suscetíveis de criar entraves ao comércio e obstar desse modo o seu funcionamento, principalmente pela adoção de leis e práticas administrativas distintas ou interpretações jurisprudenciais nacionais divergentes. 40 Artigo 9º. A protecção conferida por uma patente a um produto que contenha uma informação genética ou que consista numa informação genética abrange qualquer matéria, sob reserva do disposto no nº 1 do artigo 5º, em que o produto esteja incorporado e na qual esteja contida e exerça a sua função. Diretiva 44/98CE. 164 Índice Alfabético A Acordos de Cancun 53 Acordo TRIPS 29, 35, 40, 49, 50, 59, 133, 140, 148 Agenda pelo Desenvolvimento 55 Alcoolduto 25 Aquecimento global 6, 14, 16, 18, 22, 45, 61, 62, 63, 72, 73, 90, 92-94, 98, 99, 101, 110, 113, 114, 120, 122 B Biocombustíveis 17, 23, 85, 86, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 116 Biodiesel 17 Biodiversidade 8, 125, 126, 127, 128, 131, 132, 133, 136, 137, 138 Bioprospecção 131 C Cana-de-açúcar 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 146 Certificado de Conformidade 134, 135, 137 Combustíveis líquidos 16, 17 Comitê Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Recursos Genéticos 133 Companhia Brasileira de Energia Renovável 24, 25 Concessão de patente 144, 156 Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 64 Consumo e a produção mundial de energia 13, 15 contratos de licença de patentes 57, 59 Convenção Climática 45, 46, 55, 59 Convenção da biodiversidade 126 Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 82 Convenção de Diversidade Biológica 8 Convenção de Mudanças Climáticas 45, 46 Convenção de Paris 30, 139 Convenção de Patentes Europeia 62, 94, 99, 104-108, 111-113, 117-120, 142, 153, 154, 159, 160 Convenção Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais 140 Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas 65, 82 Cooperação tecnológica 3, 7, 13 Crise do petróleo 14 165 D Declaração de Doha 50, 54 Desenvolvimento sustentável 6, 42, 61, 64-67, 74, 79, 91, 94, 97, 100, 116, 122 Direito de patentes 29-39, 42, 117, 161 E Efeito estufa 5, 7, 45, 47, 61, 62, 63, 65, 73, 82, 83, 86-89, 94, 95, 101 Emissions Trading Scheme 73, 85- 87, 89, 90, 93, 98, 100, 102, 117, 119, 121 Emissões de gases 7, 61, 62, 65, 82, 86, 89, 94 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 20-23, 140 Energia renovável 17, 92 Escritório de Patentes Europeu 34, 58, 95, 96, 104, 105, 108, 109, 118, 120, 157159 Ethanol 13, 14, 17-26 Ethanol diplomacy 19, 20, 22-26 I Inovação tecnológica 5, 149, 158 Inovações sustentáveis 29, 38, 39 Instituto Europeu de Patentes 95, 105 Invenção “eco-friendly” 102, 114 Invenções ecológicas 63, 109 Invenções poluentes 102, 103, 107, 111 Invenções sustentáveis 30, 39, 40, 41. ver também Inventos sustentáveis Invenções verdes 30, 42, 103, 109 Inventos sustentáveis 30, 40, 42 L Lei de propriedade intelectual 3, 8, 139. . ver também Licença de patentes Lei de Proteção de Cultivares 142 Licença de patentes 57, 59 Licenças compulsórias 102, 109 M Matriz energética 16 Medicamentos 5, 7, 45, 46, 54, 55, 111, 112, 140 Mudanças climáticas 5, 8, 47, 49, 52, 54, 55, 58, 61, 84, 115 N Neutralidade do direito de patentes 30, 33, 35, 37 Novas tecnologias 2, 5, 6, 18, 37, 46, 50, 54, 58, 97, 98, 99, 100, 122 166 O Organismos transgênicos 8, 141 Organização Mundial da Propriedade Intelectual 8, 46, 55, 133 Organização Mundial do Comércio 36, 40, 55, 95, 117, 133, 140, 148, 163 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 8, 15-17, 39, 46, 55, 133 P Patenteabilidade 32-38, 99, 105, 106, 108, 117, 120, 140, 144, 153, 159 Patentes biotecnológicas 3, 8, 139, 143 Patentes no setor biotecnológico 37 Plantas transgênicas 142, 164 Poder de negociação real (barganing Power) 56 Princípio da precaução 64, 67-72, 75, 78, 80, 81, 94, 95, 97, 100, 103-105, 114 Princípio da prevenção 64, 65, 71, 72, 94, 114, 115, 119 Princípio da retificação dos danos ambientais 61, 73 Programa de Ação Ambiental 76, 77, 84 Programa Europeu para as Alterações Climáticas 84 Propriedade intelectual 2, 8, 9 Proteção ambiental 64 Proteção de Obtenções Vegetais e biotecnologia 8 Protocolo de Nagoya 3, 8, 125, 127, 132, 133, 136, 137 Protocolo de Quioto 47, 83-86, 89, 103, 115, 119 R Recursos genéticos 3, 8, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132-134, 137 Requisitos de proteção ambiental 74, 75, 82 Reunião de Copenhague 51, 52 S Sistema Negativo 101, 102 T Tecnologias limpas 3, 7, 29, 30, 93 Tecnologias renováveis 8, 45, 46, 47, 52, 58 Transferência de Tecnologia 9, 45, 51, 56, 139 Tribunal Europeu de Justiça 66 U União Europeia 3, 8, 20, 26, 49, 62, 64-73, 77, 79, 84,, 85, 88, 90, 91, 93, 96, 98, 105, 111, 115, 120, 121, 139, 141, 142, 162, 167 União Internacional para a Proteção de Obtenções Vegetais 13-142, 148, 151, 159 167
Download