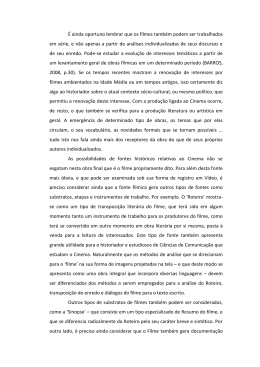q2 junho/2012 Luiz Carlos Lacerda, o Bigode “Outro absurdo é a Ancine, que era uma demanda dos cineastas, mas acabou virando um cabide de empregos com altos salários de funcionários ‘concursados’ e que trata o produtor brasileiro como bandido.” q Silveira de Souza no “Cine Imperial” q Ricardo Weschenfelder replica Pedro MC q Vinícius Honesko e as visões desesperadas de Pasolini Debate e resistência Fábio Costa Menezes | formado em cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc), atualmente é colaborador da ONG Vídeo nas Aldeias. fifo lima | jornalista. Trabalhou na editoria de cultura dos jornais O Estado, A Notícia e Diário Catarinense. É graduado em letras pela Ufsc. Trabalha com assessoria de imprensa para festivais e é jurado de editais de cinema. Chegamos ao segundo número da Lado C. Com ele, algumas questões são colocadas em pauta. A primeira é a vitória sobre o descontinuísmo das publicações especializadas em cultura e, num recorte, de publicações voltadas quase que exclusivamente ao audiovisual. A segunda, a de que as publicações impressas podem e devem resistir à ideia de que só existe possibilidade de inserção de debates no meio virtual. Para que gastar dinheiro, perguntam incautos detratores, com algo que poderia muito bem ser veiculado na internet? Socraticamente, pela mesma ótica, perguntamos: devemos fechar todas as editoras e não publicar mais livros? A Lado C, nesse espírito de resistência, publica a entrevista crítica com um dos cineastas mais importantes do país, Luiz Carlos Lacerda. No mesmo tom, dá espaço para Ricardo Weschenfelder fazer a réplica da crítica que Pedro MC fez, no primeiro número, do filme Memórias de passagem, de Marco Stroisch. Publicamos, ainda, o ensaio pulsante de Vinícius Honesko sobre as visões desesperadas de Pasolini, a crítica de Fifo Lima sobre o premiado curta-metragem de Cíntia Domit Bittar, Qual queijo você quer?, a crônica poética do escritor Silveira de Souza, sobre o impacto da primeira luz que viu no Cine Imperial e suas lembranças da filmagem de O Preço da Ilusão, no qual faz uma participação especial, e um excerto de um roteiro inédito de João F. Lucas. Além do cinema, a Lado C abre espaço para os desenhos da artista Julia Amaral, que ocupa os espaços de respiro do papel branco. Enfim, até o número 3, em breve. João Fernando Lucas | especialista em cinema, roteirista, diretor de criação da T12 Marketing e Comunicação e diretor de cena da Três Quadros Filmes. Rafael Favaretto Schlichting | diretor de cinema e de fotografia, associado da ABD Cinemateca Catarinense, graduado em Cinema e Vídeo, professor do curso de cinema digital intensivo e do curso de direção de fotografia para câmeras DSLR da Câmera Olho Filmes. Dirigiu diversos trabalhos entre curtas independentes, projetos vencedores de editais, institucionais etc. Foi vencedor do edital Armando Carreirão de realização de curta-metragem 2011 com o projeto Zulú Anárquico. Diretor de sete curtas e dois longas-metragens em fase de finalização. Renato Bolelli Rebouças | arquiteto, cenógrafo, diretor de arte e figurinista. Foi diretor de arte do Grupo XIX de Teatro e vencedor do Prêmio Shell de Melhor Cenografia pela peça Arrufos (2008). Trabalhou ainda com diversos diretores de teatro e cinema, como William Pereira, Renata Melo, Marcia Abujamra, Caetano Vilela, Christian Duurvoort, Marta Soares, Sérgio de Carvalho (Cia. do Latão), Frank Castorf (Volksbühne, Berlim), além das cias Tablado de Arruar, Espanca!, As Graças, Linhas Aéreas e Os Crespos. É mestre pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) sobre as relações entre teatro, espaço e memória, e professor do curso de pós-graduação em design de interiores na Faap. Ricardo Weschenfelder | mestre em literatura pela Ufsc e doutorando em comunicação pela Unisinos, publicou o livro A linguagem do vídeo (Ed. Garapuvu, 2009). Realizou os curtas de ficção Jesus (2005) e Se eu morresse amanhã (2009), e os documentários Miramar, um olhar para o mundo (2002) e Hassis — uma autobiografia inventada (2006). Vinícius Honesko | doutor em literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (Ufsc) e professor de filosofia e ciência política no curso de direito da Faculdade Estácio de Sá em Santa Catarina. A coberta do Lado C 02 q2 junho/2012 Diretoria (gestão 2011-2012) Reno Luiz Caramori Filho Presidente Natália Poli Diretora Financeira Flávia Person Diretora Administrativa Fausto Correa Júnior Diretor de Comunicação e Difusão Conselho (gestão 2011-2013) [email protected] www.cinematecacatarinense.org [email protected] http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/funcine/ Cláudia Cárdenas Presidente Sulanger Bavaresco Vice-Presidente Sandra Ouriques Secretária Fábio Brüggemann Edição Ayrton Cruz Planejamento gráfico Denize Gonzaga Revisão Flávia Person Coordenação Gráfica Natal Impressão 2.000 exemplares Tiragem Conselho editorial Patrocínio é uma publicação da Cinemateca Catarinense — ABD/SC e Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis (Funcine) Realização Em espanhol, a palavra usada para capa é cubierta. Em franca tradução, seria para nós, falantes da última flor do lácio, “coberta”. Para “cobrir” o segundo número de Lado C, convidamos o desenhista Diego Rayck, que nos cedeu alguns desenhos, dos quais elegemos a “nau”, já que navegar é bem mais preciso que viver. João Paulo Silveira de Souza | escritor, nasceu em Florianópolis, em 1933. De 1979 até o início dos anos de 1990, trabalhou na Fundação Catarinense de Cultura. Foi cronista de vários jornais e atuou no Grupo Sul. É autor, entre outros, dos livros O cavalo em chamas (1981), Contas de vidro (2002) e Ecos do porão (volume 1), coleção que reunirá sua antologia pessoal, publicado pela Editora da Ufsc. É membro da Academia Catarinense de Letras. Cláudia Cárdenas Fábio Brüggemann Flávia Person Iur Gomez Natália Poli Ricardo Weschenfelder Ao espectador, resta lidar com a existência de um filme de beleza irresoluta entre aquilo que consegue “salvar” e o que “perde” DOCUMENTÁRIO editorial q Mulheres xavante sem nome: da perda a uma estética da mediação A Fábio Menezes produção do Vídeo nas Aldeias, filmes realizados a partir de oficinas de vídeo ministradas em comunidades indígenas Brasil adentro, transcende o caráter imediato e militante de sua proposta (compartilhada com diversos outros projetos de mídia comunitária) para se interessar pelo singular da experiência dessas comunidades, de seus indivíduos, e pela emergência de um discurso sobre o contemporâneo indígena, suas contradições e conflitos. Há, antes de tudo, a desconstrução de um vício histórico: não ilesos, atravessamos os filmes que — por complexificar uma percepção rasteira e ingênua da condição desses indivíduos — nos deslocam da confortável posição na qual a História nos acomodou. Face a esse cinema indígena, descobrimos que o índio era uma ficção. Há, no entanto, uma “origem misteriosa” — mais particularmente na relação entre a autonomia do aluno indígena como realizador e a presença do formador branco que o instrui — que nos leva a indagar. Como surge a voz desse sujeito — o cineasta indígena — e como ela se articula com outras possíveis vozes no filme? Por um lado, não há qualquer pretensão de “pureza”, de um acesso não mediado a uma forma “genuinamente indígena” do olhar. O processo das oficinas pressupõe (ao menos um) direcionamento: o de um sentido compartilhado da gramática audiovisual, ou ainda, um acordo sobre a forma final do filme entre os que participam de sua feitura. Por outro, os meandros dessa negociação ainda estão, em alguma medida, velados ao espectador. Nesse sentido, um filme como Pi’õnhitsi — Mulheres xavante sem nome, dirigido por Divino Tserewahú, realizador xavante, e Tiago Campos Torres, realizador e instrutor do Vídeo nas aldeias, parece revelar, a partir de um hibridismo manifesto, caminhos para se entender uma estética. Mulheres xavante seria, a princípio, filme sobre um fracasso. Divino Tserewahú tenta, há mais de dez anos, registrar um ritual em vias de desaparecimento. Das mais de cem aldeias de seu povo, apenas a sua própria, Sangradouro, ainda faz a festa de nomeação às mulheres, o Pi’õnhitsi. No entanto, desde que os intentos para o filme começaram, a festa não acontece mais. E para Divino, não há filme se não há ritual. É face à obrigação institucional de terminar a empreitada que ele e Tiago Campos Torres fazem uma obra a partir dos fragmentos das tentativas frustradas de realização, extraindo o visível de uma grande cerimônia fantasma entrevista na imaginação dos anciãos, nas imagens silenciosas dos rolos de super-8 dos padres salesianos, nos registros em VHS. Do corpo, há apenas a silhueta. Sem a festa, o filme não se realizará como o intento preservacionista imaginado por Divino. Seu fracasso estaria na incapacidade da imagem frente ao desaparecimento de seu objeto. Ou ainda na falência de um certo estatuto da imagem que (acredita Divino) salvaria a memória e a experiência das coisas “registradas”. A partir do irrealizado de sua proposta, Mulheres xavante torna-se também um filme sobre a contemporaneidade xavante e a trajetória de Divino. O processo do filme (ou sua tentativa) se confunde com a formação de Divino como cineasta. Foi por ocasião do último ritual de nomeação, em 1995, que ele pegou pela primeira vez numa câmera. E por isso, diz, desejava gravá-lo outra vez, por ter “aprendido a trabalhar melhor” desde então. A partir de seus registros e de seus comentários na mesa de montagem, o filme constrói uma espécie de mosaico da memória do ritual, imbricando-o com a memória e a história do próprio Divino. Não por acaso, esse momento é conduzido por Tiago: está lá um olhar exterior ao do realizador xavante, que o incita a revirar e reordenar seu arquivo. Um contraponto que estimula Divino a marcar suas escolhas e revelar suas intenções. Uma segunda câmera que o seguirá em suas conversas com os anciãos e outros moradores da aldeia, detendo-se nessas interações, na medida em que elas revelam possíveis respostas para a não realização da festa. Quase como um filme dentro do filme, há um olhar sobre a busca de Divino como cineasta, seus questionamentos, seus limites, bem como as convicções e a subjetividade do homem, sua relação de pertencimento àquelas tradições. A relação entre os dois diretores, embora não diretamente tematizada, é imprescindível para que o filme seja o que é: “percebemos que esse seria um filme sobre uma festa que não acontecerá”, diz Divino. O verbo não está conjugado assim por acidente ou estilo de linguagem. Este é um filme feito na primeira pessoa do plural, com duas intenções que funcionam uma em relação com a outra. Mulheres xavante sem nome termina como documento de uma tradição e de seu fim. A festa, que culmina na relação sexual entre cunhados, é ameaçada pelo receio dos mais jovens, mais adeptos à moral cristã que as gerações anteriores. Divino, durante o processo de feitura do filme, descobre-se filho de um desses rituais. A presença de Tiago e de seu interesse por Divino nos faz compreender que a impossibilidade de registrar a festa não é apenas um golpe para o filme, mas também para a identidade de Tserewahú. Ao espectador, resta lidar com a existência de um filme de beleza irresoluta entre aquilo que consegue “salvar” e o que “perde”. Fotos de cena do documentário Mulheres xavante sem nome fotos divulgação Cinemateca Catarinense Travessa Ratclif, 56 Centro — Florianópolis/SC Telefone: (48) 3224-7239 Funcine (Fundo Municipal de Cinema) Rua Antônio Luz, 206 — Forte Santa Bárbara Centro — Florianópolis/SC Telefone: (48) 3224-6591 03 Luiz Carlos Lacerda o bigode Entrevista concedida a Fábio Brüggemann L uiz Carlos Lacerda, o Bigode (apelidado assim por Nelson Pereira dos Santos, de quem foi assistente de direção em vários filmes), nascido no Rio de Janeiro em 1945, é um dos mais importantes cineastas brasileiros. Filho do produtor João Tinoco de Freitas, Bigode conhece bem todas as áreas da produção de um filme, e já atuou como produtor, roteirista (escreveu praticamente todos os que ele dirigiu) e ator. Além disso, ensina cinema, tendo sido professor, além de outros, na Escola de Cuba. Fez curtas, longas, ficção, documentário, ganhou o Kikito de melhor filme, com For All, enfim, para conhecer um pouco mais sobre o que pensa Luiz Carlos Lacerda, e pela intensa amizade e parceria que ele tem com vários produtores e cineastas que atuam em Santa Catarina, a Lado C conversou com ele da última vez em que esteve na Ilha para captar imagens de seu próximo filme. foto Fábio Brüggemann 04 LADO C | Você foi assistente de direção de um dos mais importantes diretores brasileiros, o Nelson Pereira dos Santos. Queríamos saber se essa parceria, em tantas obras dele, influenciou na linguagem dos seus filmes, como diretor, e de que forma? Luiz Carlos Lacerda | Meu pai, João Tinoco de Freitas (1908-99), e o diretor de fotografia Ruy Santos trouxeram o Nelson para o Rio. Ele foi assistente de um filme que meu pai produziu nos seus estúdios, Balança, mas não cai (1953, de Paulo Wanderley e Alex Viany), onde ficou morando. No documentário que filmei, Tinoco, por ocasião de seus 90 anos, o Nelson conta que as primeiras ideias sobre Rio, 40 graus ele teve ali, subindo o morro do subúrbio carioca do Jacarezinho, onde ia jantar em casa dos eletricistas que trabalhavam nos estúdios. E ao Tinoco ele mostrou a primeira sinopse do filme. Ele acabou sendo um de seus produtores, claro. Quando eu tinha sete anos, conheci o Nelson e sua mulher Laurita, que frequentavam os almoços de domingo no apartamento de meus pais, em Copacabana. Também iam o Alex Viany, o Ruy Santos — era quase uma base do Partido Comunista — só que com direito à praia e a risotos de mexilhões inesquecíveis. Mas eu não imaginava que viria a me tornar seu assistente. Comecei aos 19 anos, logo após o golpe militar, no filme Onde a terra começa, do Ruy Santos. Gostei e fui procurar o Nelson. Ali se iniciava uma longa parceria. Trabalhei em seis filmes dele e ele me ajudou a produzir o meu primeiro longa, Mãos vazias (1970). Por tudo isso, ele é a minha referência mais forte. Os filmes dele, no cinema brasileiro, são os que mais me fazem a cabeça. Meus filmes têm uma clara influência, especialmente uma certa presença do neorrealismo nos filmes dele. Minha formação é marcada pelas chanchadas e pelo Cinema Novo. Não é à toa que um de meus primeiros curtas é sobre ele! LADO C | For All e Viva Sapato!, principalmente, são filmes com histórias muito bem contadas, sem experimentalismos ou vanguardismos típicos dos anos 1960 do cinema brasileiro. São filmes que têm uma simpatia do público muito grande. Ainda assim, não duram muito nas salas de exibição. Viva Sa- pato!, por exemplo, nem foi exibido aqui. Sei que é um assunto batido, mas eu queria saber o que você pensa sobre o espinhoso assunto da aceitação do público brasileiro pelos seus filmes e a falta de espaço para exibição. Luiz | O problema não é com os meus filmes. Nem é do público. E nem é do cinema brasileiro. O problema é a visibilidade que não temos nas salas de exibição. Isso é uma realidade sobre a qual eu ouvi falar nessas reuniões de cineastas na casa de meu pai nos anos 1950. É o velho beabá: as distribuidoras estrangeiras mandam no mercado e não querem deixar espaço para que se crie uma cultura de ver os nossos filmes nos cinemas. É necessário ter leis de obrigatoriedade, cotas; esse é o diagnóstico de dominação cultural norte-americana. Todas as vezes que houve vontade política do governo brasileiro, e se avançou nessa questão do número de dias para a produção nacional, o público respondeu. Nos anos 1970, chegamos a ter 182 dias, e os exibidores queriam os nossos filmes. Aí veio o Collor nos anos 1990 e, orientado pelo diretor da Motion Pictures no Brasil, mr. Harry Stone, e cineastas oportunistas e LADO C | Você deu aula na Escola de Cinema de Cuba e fez um filme cuja temática é Cuba (Viva Sapato!). Como você via Cuba quando lecionava na escola, a relação de Cuba com o filme, e o que você pensa do país hoje? Luiz | Viva Sapato! virou um sucesso em Cuba, por ser proibido até hoje. Isso me dá um grande orgulho. Quando era jovem, fui preso durante a Ditadura Militar por participar de atos de solidariedade à revolução cubana. Hoje, meu filme é proibido lá e se torna um libelo contra a opressão daquele regime horroroso. Leila Diniz foi sucesso de público. Cerca de 1,5 milhões (1988) de espectadores, numa época em que os filmes dos Trapalhões faziam 3 milhões. Fiquei feliz por ter atingido o meu objetivo: contar a história da minha grande amiga que ajudou as mulheres a se libertarem da escravidão, como escreveu Drummond no texto Leila para sempre Diniz. Ela foi a protagonista de Mãos vazias. Mas nunca me preocupei com esse “sucesso” que alguns cineastas perseguem a vida inteira, muitas vezes fazendo filmes sem sinceridade, com esse único objetivo. Claro que quero que meus filmes sejam vistos. Mas o que vale mais: o Julio Bressane, que há 40 anos tem um pequeno e fiel público de 50 mil pessoas (o mesmo do Woody Allen, antes dessa bobagem comercial que ele filmou em Paris) e que faz parte da história do cinema brasileiro ou um desses blockbusters que fizeram 5 milhões, mas, como a última novela, depois que passa ninguém se lembra mais? Meus últimos filmes passaram em diversos festivais (brasileiros e internacionais), receberam prêmios, foram exibidos em cineclubes e centros culturais. Isso também faz parte da agenda de luta dos cineastas. Então, que a Ancine (Agência Nacional de Cinema) também considere esse público no auferimento da performance dos filmes. Nas minhas infindáveis e inúmeras viagens pelo Brasil, sempre encontro jovens que gostam de meu trabalho, admiram as ideias que defendo, e — melhor ainda — há os que contam o quanto meus filmes ajudaram a mudar a vida deles. Isso não tem preço e é por isso que faço meus filmes. LADO C | Os filmes envelhecem? Você conseguiu dizer tudo o que sentia sobre todos os temas com os quais trabalhou, ou se você pudesse refazer faria algum filme de forma diferente? Luiz | Todo filme, depois de pronto, com a cópia definitiva, já se sabe, não nos pertence mais. E é bom, porque conseguimos vê-los com um distanciamento crítico. É como ver um filme, simplesmente. Não mais de nossa autoria. É como um poema depois de publicado. Claro que, algumas vezes, pensamos que poderíamos ter caprichado mais numa determinada cena, ou acrescentado um detalhe novo. Mas, em geral, é como nossos filhos: gostamos deles mesmo com seus possíveis defeitos. Não refaria nenhum de meus filmes. Cada um tem a cara daquilo que eu pensava naquele momento, e do tamanho das possibilidades de produção conquistadas, com muita luta, diga-se de passagem. LADO C | Você foi muito crítico do governo Collor. Lembro-me de ter te visto em uma passeata, ou protesto, numa reportagem de tevê, contra o Collor. Anos depois, vi você se manifestar contra as políticas para o audiovisual do governo Lula, por exemplo. O que você pensa sobre essas políticas? O que há de equivocado nelas? Há algum acerto? Como você crê que deveriam ser? Ou seja, qual o papel do estado para o audiovisual ou para a cultura de modo geral? Luiz | Nós, artistas de um modo geral, sempre lutamos, em todas as vezes que o Lula foi candidato, para eleger um governo de esquerda no Brasil. Depois de muitos anos, conseguimos. Jamais me esquecerei dele no palco do Canecão lotado prometendo resolver todas as questões que há 50 anos desejávamos realizar para implantar um cinema brasileiro independente, com recursos, representativo da pluralidade cultural que é o país. Como também jamais esquecerei o então já ministro Gilberto Gil no palco do Festival de Gramado, em 2004, reiterando todas essas medidas que foram solicitadas ao Nelson Pereira através do futuro secre- entrevista entrevista vendidos, e acabou com todo tipo de proteção. Com a chamada “retomada” (que eu acho uma nomenclatura equivocada, porque a história do cinema brasileiro resiste de retomada em retomada...), os filmes voltaram a ter visibilidade, e o público parece até ter perdido o preconceito contra nossos filmes. Meus filmes Mãos vazias e Viva Sapato! praticamente não foram lançados. Mas se transformaram em filmes cult. Mãos vazias é exibido bastante nas faculdades, nos cineclubes, e agora no Canal Brasil. For All, que foi lançado durante a Copa do Mundo de 1998, não passou de 600 mil ingressos. Mas fez quase 30 milhões de público na sua exibição na TV Globo, medidos pelo Ibope. E até hoje passa nas escolas e nos quartéis de Natal, no Rio Grande do Norte, por tratar do episódio da base norte-americana naquela cidade durante a Segunda Guerra. tário do Audiovisual. Entusiasmado, enfático, ele gritava cada uma das medidas sonhadas por tantos anos por todos nós. Minhas mãos ficaram vermelhas e inchadas de tanto aplaudi-lo. O que aconteceu depois? As majors, distribuidoras norte-americanas, continuaram decidindo quais os filmes deveriam ser filmados e exibidos, a mídia da TV se transformou em moeda de negociação com planos de mídia milionários e que ajudam a decidir junto com as majors a produção deste ou daquele filme. Tudo isso com dinheiro público (isenção de pagamento da remessa de lucros das distribuidoras norte-americanas). E ainda tem apoio governamental via Petrobras e BNDES! O cinema independente, que não tem espaço nas salas, para ser realizado, conta com apenas um edital do Ministério da Cultura — que não acontece todos os anos — e que contemplava cinco longas para todo o país! E as comissões de seleção ainda tendo que obedecer a “critérios” de regionalização, e desses cinco, dois filmes para estreantes e três para não estreantes! Agora aumentaram pra sete filmes no total. LADO C | E o que pode ser feito para mudar isso? Luiz | Nossa esperança é a nova lei sancionada pelo Congresso que regulamenta a exibição de conteúdo nacional independente, reservando 30 minutos diários nas grades das TVs abertas e a cabo. Só o Canal Brasil, da Globosat é que há dez anos dedica sua programação integralmente ao produto brasileiro. Até a estatal TV Brasil, do Sistema EBC, ou seja, do governo, exibe séries até da BBC de Londres, entre outros absurdos, e cria todo tipo de dificuldades para o cinema brasileiro de curta e de longa-metragem. LADO C | E a Ancine, você acha que cumpre o papel para o qual ela foi criada? Luiz | Outro absurdo é a Ancine, que era uma demanda dos cineastas, mas acabou virando um cabide de empregos com altos salários de funcionários “concursados” e que trata o foto Fábio Brüggemann “O problema não é com os meus filmes. Nem é do público. E nem é do cinema brasileiro. O problema é a visibilidade que não temos nas salas de exibição.” 05 LADO C | E os filmes novos, o que veremos em breve? Luiz | Agora mesmo estou fazendo um filme totalmente poético — A mulher de longe — sobre um filme homônimo que o romancista Lúcio Cardoso dirigiu em 1949, mas ficou inacabado. Consegui localizar o belo material P&B fotografado pelo Ruy Santos e produzido pelo LADO C | É lindo esse título, típico da verve do Lúcio Cardoso. Luiz | Também realizo, em parceria com o diretor e fotógrafo Alisson Prodlik, uma série sobre cidades brasileiras para o Canal Brasil/ Globosat. Cada programa tem entre cinco e seis minutos, só com imagens poéticas e uma bela trilha, especialmente feita pelos jovens compositores Daniel Mendes, Daniel Penido e Renato Navarro. LADO C | Seu documentário Casa 9, sobre a casa no Botafogo, que você dividia com Jards Macalé (que também não passou por aqui ainda) teve ótima aceitação no Cineport, em Recife, no fim do ano passado. O filme é revelador pelo fato de que você teve também uma ligação com o pessoal da música, porque passaram pela casa muitos músicos (o próprio Jards, Nana Vasconcelos, Gal Costa e, por último, Lenine. Houve alguma parceria artística entre você e os músicos nessa convivência? Luiz | Diretamente, não recebi nos meus filmes uma influência do convívio com esses músicos, mas contribui apresentando o Macalé Luiz | Sobre “descuido” técnico do filme, apontado pelo crítico Rodrigo Fonseca, que eu considero o melhor de todos, o mais preparado e culto dos críticos jovens que atuam na imprensa brasileira, ele diz que “apesar de uma pessoa do público se referir ao filme como tosco, mas emocionante”, o filme é carregado de afetividade e se trata de um importante testemunho da nossa vida cultural naqueles anos difíceis. Aliás, comentando a exibição no Cine-Pe de 2011, diz que “Olinda tem noite de afetividade”, e também publica outros comentários bastante elogiosos feitos pelo público. Aliás, em todas as sessões pelo Brasil (Festival do Rio, Ceará, Paraíba, São Paulo, Vitória etc.) tenho presenciado muita emoção e excelente receptividade. As pessoas aplaudem durante a sessão, cantam as canções, hoje clássicos, compostas na nossa casa. Os mais velhos choram no final e os jovens saem com um sorriso de felicidade na cara. É para eles todos que eu fiz esse filme. E não considero um comentário como algo que me incomode. No Cineport, o filme ganhou Melhor Longa-metragem do Júri Popular. Tem melhor resposta do que essa? fotos divulgação meu pai. De uma certa maneira, estou dando continuidade a um sonho que eles deixaram interrompido e que pretende ser a minha primeira homenagem ao escritor mineiro no ano de seu centenário. Algumas cenas eu realizei recentemente na praia do Campeche, aí na Ilha, como se fosse Itaipu/Niterói, onde foi filmado. O segundo é o longa de ficção Introdução à música do sangue — argumento original que ele me deixou, cujo roteiro escrevi ano passado e pretendo realizá-lo até 2013. “Todo filme, depois de pronto, com a cópia definitiva, já se sabe, não nos pertence mais.” 06 ao Nelson Pereira dos Santos, que resultou nos filmes Amuleto de Ogum e Tenda dos milagres, nos quais o Jards fez as trilhas e trabalhou como ator. Mas ali na Casa 9 escrevi os roteiros de O princípio do prazer (original meu com nuanças de Lúcio Cardoso) e O ovo (escrito a quatro mãos com minha amiga Clarice Lispector). A casa era frequentada por Nelson, Glauber, Cacá e até um cineasta da Factory, do Andy Wharol, o Robert Freinberg, que se hospedou comigo por três meses, fugindo da guerra do Vietnã. Era realmente um ponto de referência no Rio de Janeiro. O jornalista e crítico Rodrigo Fonseca escreveu no jornal O Globo que a Casa 9 era “um oásis nos anos de chumbo” — definindo muito apropriadamente seu significado. LADO C | Ainda sobre o Casa 9, li uma crítica, num jornal de Pernambuco, dizendo que o filme é importante do ponto de vista histórico, mas peca pela falta de zelo estético. Eu queria saber, na verdade, com isso, o que você pensa da crítica? Houve uma mudança no modo de fazer crítica nos últimos 40 anos? Ela existe ainda? LADO C | E a película, em relação ao digital? Luiz | Canso de ver gente com roteiro na gaveta esperando a hora “ideal” para transformá-lo em imagens. Está cheio de cineasta em potencial que aluga a gente querendo contar a história genial que tem guardada. O vital, para mim, é traduzi-las na concretude de um filme. Nisso, o evento digital foi fundamental: ficou mais prático fazer! Os jovens não reclamam, fazem! Eu tenho seguido essa lição deles. LADO C | Mudando de assunto, você começou escrevendo livros de poemas. Outro dia, vi na internet um vídeo antigo da Maria Bethânia recitando um poema seu. Desistiu da poesia, escreve ainda? Tem vontade de publicar? Luiz | Publicar poesia sempre foi difícil. Mais do que fazer um filme, por incrível que pareça. Publiquei quando era jovem em antologias organizadas pelo poeta Walmir Ayala, em revistas e suplementos literários. Mas claro que gostaria de publicar um livro de poemas; tenho um pronto, Sais da memória. No cinema, além de encontrar espaço para “tornar pública” a minha poesia, digamos literária, também ela está presente através das imagens. O diabo não é tão feio quanto se pinta ROTEIRO POR JOÃO F. LUCAS CENA 06 — BAR AZUL INT/DIA Do outro lado do bar, CLODO entra. A música muda para um estilo jovem guarda melancólico. Poucas pessoas estão no bar. Um velho sentado, duas pessoas jogando nas máquinas caça-níqueis e um casal que bebe cerveja. A garçonete e dona do bar, dona DORA, limpa a mesa e recolhe os copos. É uma senhora de 80 anos, de óculos fundo de garrafa, cabelos enrolados e camisa vermelha do “Old Cowboys”, time de futebol americano. CLODO chega até o balcão, senta e ergue o braço tentando chamar a atenção de DORA. CLODO: E ae, tia Dora? DORA: Tia? (...) De novo guri? Eu já te disse pra estudar, trabalhar, casar, qualquer merda dessas que se faz quando se tem a tua idade. 20 e poucos, né? (..) Quando tu acerta aquela conta? Eu to véia má num tô loca, viu? CLODO: Eu pago, fica fria Dorinha. É que minha vida tá uma bosta. Tô numas de (...) DORA: Ih, papinho mole? Duvido um que senta nesse balcão que não tenha o cotovelo esfolado. Um dia você aprende (...) DORA termina de lavar o último copo e o enche em seguida. DORA: (...) Não existe esse troço de metade da laranja. Esquece. DORA empurra o copo para perto de Clodo. DORA (rindo): A gente já nasce pronto pra ser servido. Música cresce. Um coro de vozes toma conta do som ambiente, é um estilo bluegrass americano. DORA limpa o balcão. Detalhe dos copos, dos reflexos dos copos, das pessoas bebendo. Garrafas de bebida. Vaso de planta no chão cercado de bitucas de cigarro. Velhos cartazes de propagandas antigas de bebidas. Dois caras jogam e conversam na máquina de caça-níqueis. Não se ouve os diálogos e os movimentos estão mais lentos. Somente a música. Duas meninas entram no bar sorrindo. Detalhe do jogo da máquina caça-níquel, roletas. Mão coloca uma nova ficha. Um HOMEM de 60 anos, todo de preto, barba bem aparada, uma pasta e fumando uma cigarrilha preta, senta no balcão ao lado de CLODO. O HOMEM suspira e joga a pasta em cima do balcão. Música cessa no momento em que a pasta cai bruscamente. HOMEM: Um Stainheguer e gelo! Por favor. CLODO observa DORA servir o HOMEM. O HOMEM coloca sua cigarrilha no cinzeiro, que produz muita fumaça. Mexe em sua pasta e volta-se para frente. CLODO: Meu pai adora Stainheguer. HOMEM: É mesmo? Eu odeio Stainheguer. CLODO: Ok. HOMEM: O que você quer garoto? CLODO: Como assim, o que eu quero? HOMEM: Fala logo, quer um conselho? Uma coisa do tipo? Eu sou um homem mais velho e você quer uma receita pra vida, não é? CLODO: Você é algum tipo de pastor? HOMEM: Se a gente começar esse papo, eu preciso saber o que você quer! CLODO (irônico): Bom, eu quero mulher, carro, grana. E aí? Qual o segredo? HOMEM: Isso é uma farsa, a gente nunca sabe! (...) Então garoto, dá pra entender? O que você quer? É grana? Pega uma moeda. Você tem? CLODO: Qual é? Vai dar uma de mágico de araque ou coisa assim? HOMEM: Pega logo essa moeda! Você não tem opção. Ou você pega essa moeda ou fica na dúvida o resto da porra dos seus vinte e poucos (...) CLODO tira com dificuldade uma moeda do fundo do seu bolso. CLODO: Tá bom, e agora? HOMEM: Agora, você vai até aquela máquina ali (aponta para a máquina caça-níquel) e aposta... Vai lá, vai lá. CLODO vai até a máquina. Aposta sua moeda. Aperta o botão e olha fixo para a tela. O HOMEM no balcão aponta pedindo mais uma dose. Os olhos de CLODO abrem-se mais do que o normal. Passa um tempo. Logo se fecham. A máquina mostra uma abóbora, um morango e um Frankenstein na linha do meio. CLODO: Velho de merda! CLODO volta ao balcão e acende um cigarro com um fósforo. Olha fixo para frente. CLODO: E agora? Qual é a moral dessa historinha? HOMEM: É isso, você perdeu. A moral é essa, na vida a gente perde e tal. CLODO: Há, há, há. Se eu tivesse ganhado você teria dado uma de Silvio Santos: “Olha, você ganhou”, e falaria algo do tipo: “Na vida a gente só ganha se aposta”. HOMEM: (...) E estaria certo. As duas alternativas são perfeitas pra você. Você só precisa saber o que você quer e pronto! CLODO: Você quer que eu diga o quê? Que eu quero isso, aquilo, não sei o quê? E se eu não tiver desejo nenhum. Se eu quiser apenas estar aí, na realidade? HOMEM: Você é um cara do tipo que se entedia fácil, né? (pausa). Eu acho (pausa e gole). CLODO: Pode ser. HOMEM: Entendi. CLODO: Entendeu o quê? HOMEM: Todo mundo quer ouvir que há uma receita pra tudo e tal. Que a melhor coisa a se fazer é isso, aquilo. E ninguém diz pra eles que isso não vale a pena, que é uma perda de tempo. Eu só quero te dizer que tudo isso é mentira! Sacou? DORA chega até o Balcão, interrompe a conversa, troca os copos. Enquanto limpa a mesa DORA alterna seu olhar entre o HOMEM e CLODO. DORA: Vão querer mais alguma coisa? HOMEM: Sim, mais um Stainheguer. CLODO: Uma cerveja... DORA enche os copos de cerveja e Stainheguer respectivamente. Os dois bebem, viram juntos os copos num gole só. Fade out. roteiro entrevista Da esquerda para a direita: Bigode nos anos de 1970; Ney Latorraca, no filme Vida vertiginosa, de Luiz Carlos Lacerda. Foto de Alisson Prodlik; João Tinoco de Freitas produtor brasileiro como bandido. Recentemente, o Luiz Carlos Barreto colocou na Internet um e-mail que vazou de um importante funcionário “orientando” como “tratar com os malandros” cineastas. O pior de tudo é também que esses organismos se digladiam entre si — MinC e Ancine, BNDES e Petrobras, porque estão todos aparelhados pelos partidos da “governabilidade” e pelo PCdoB — cuja ideologia (como na China) é o capitalismo de Estado, com resultados “mercadológicos”. Os órgãos da política cultural, federais, estaduais e municipais — para usar uma linguagem dos morros cariocas — “tá tudo dominado”! Como defender isso? Recentemente, Mestre Nelson declarou publicamente que a “Ancine é um monstro para o cinema brasileiro”. CENA 07 — PONTO DE ÔNIBUS EXT/DIA Carros passam de ambos os lados da rua. Ao fundo um ponto de ônibus. Muitas pessoas cruzam a calçada pela faixa. CLODO é o único que aguarda parado o ônibus chegar. Muitos caminhões e carros passam e só em poucos momentos é possível ver CLODO ao fundo, do outro lado da rua. CLODO (OFF): Minha vida nunca foi motivo para me queixar (...) Uma vez fiquei trancado no colégio e, acreditem ou não, a garota mais gostosa do de todo o segundo grau ficou trancada lá comigo (...) A gente tava organizando uma gincana dessas coisas de colégio e ficamos lá trancados. Rolou um beijo e tal. Foi um dia foda e depois a gente comeu pizza e depois ela sumiu (...) Achei aquele cara do bar maluco. Se bem que o tempo todo ele tinha certa razão que me deixava aliviado. Quem sabe essa coisa de louco que eu senti hoje de manhã quando acordei foi só uma coisa de louco mesmo que a gente tem quando acorda (...) Outro ônibus para no ponto, na frente de CLODO, que embarca. Quando o ônibus arranca já não é mais possível identificá-lo. Ao som ambiente é incorporado, aos poucos, um coro de vozes, com uma banda de bluegrass. O ônibus segue a rua, vira à direita e desaparece. Fade out. 07 fotos divulgação A direção de arte do longametragem filmado no município de Governador Celso Ramos O Renato Bolelli Rebouças longa-metragem Rendas no ar, projeto vencedor do Edital Catarinense de Cinema 2009, dirigido por Sandra Alves e realizado pela Vagaluzes Filmes, desenvolveu um percurso baseado na realização cinematográfica integrada aos princípios da sustentabilidade, oferecendo em seu processo criativo um olhar abrangente sobre os modos de produção e busca de soluções. Partindo do desafio de construir um imaginário calcado na memória brasileira com um orçamento limitado, todos os departamentos “Ana, privada do contato social por seu tutor e diagnosticada louca, vive a sanidade através da poesia e encontra no arquétipo feminino a expressão da liberdade na figura de Lilith, personagem etérea com quem dialoga.” 08 compartilharam escolhas que pudessem gerar economia de recursos sem, contudo, comprometer a criação; ao contrário, potencializá-la. No campo da direção de arte, foi necessário um recorte específico de ações que permitisse chegar até o resultado final desejado. Para tanto, a Usina da Alegria Planetária (UAP), cuja premissa é a reinserção de materiais, desenhou um caminho abrangente. O coletivo multidisciplinar de artistas assinou a direção de arte e produção associada do filme. O primeiro tema a trabalhar foi a espacialidade. Para apresentar a memória de um lugar instalado num passado “embaçado”, sem tempo definido (mas que margeia a transição entre os séculos XIX e XX), a fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim, em Governador Celso Ramos, foi escolhida como locação para todo o filme, abarcando espaços “públicos” e áreas de convívio entre os personagens, e espaços interiores, como o casarão da protagonista e sua clausura. Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombado em 1938, administrado pelo Projeto Fortalezas/UFSC, apoiador do filme, a ilha foi ocupada pela equipe durante sete semanas, em harmonia com os espaços de visitação (que atrai turistas o ano todo), a pequena comunidade que ali trabalha e do entorno e seu modo de vida. Um memorial foi desenvolvido a fim de efetuar o menor impacto possível numa área de preservação, solicitando conhecimento técnico de profissionais da arquitetura e da museologia, definindo contornos bem específicos para a cenografia. Assim, visitados e analisados os edifícios e áreas livres, o próprio roteiro e a direção de Rendas no ar buscaram explorar as disponibilidades do local, invertendo a lógica usualmente seguida de idealização-realização. O uso de materiais leves e de fácil transporte foi uma premissa, já que tudo seria transportado por barcos até a ilha. Tecidos de diversos tipos e os próprios materiais naturais existentes, como troncos de árvores e pedras, auxiliaram a criação de espaços sintéticos e integrados com a paisagem, compostos a partir da simplicidade e da organicidade. Em pararelo à compreensão da escala urbana e à logística de ocupação da ilha, outro elemento escolhido para a construção da visualidade foi o trabalho com a renda. Esse fazer, tão característico do litoral brasileiro e, em especial de Florianópolis, através de sua tradição açoriana, abriu possibilidades ao desdobrar-se além dos figurinos e abarcar a criação de um território entre cheios e vazios. As imagens, as arquiteturas, o dressing e as caracterizações das personagens seguiram, então, um processo similar ao de feitura das rendas, sendo pouco a pouco revelados, sobrepostos, refeitos, rasgados e até mesmo dilacerados pelo tempo, pelas relações e pela memória pulsante trancafiada em corpos e espaços. Somados lugares e imaginário, definiu-se uma palheta de cores bem específica, a fim de valorizar e distinguir os temas e emoções tratados na trama. Assim, a ilha e seus habitantes, gente camuflada à paisagem, que age em veladura, foi representada pelo verde em texturas mais rudes e populares. Como um camaleão, deveriam perder-se na vegetação, sorratear-se na paisagem. O território poético da protagonista Ana variou entre brancos, beges até o azul profundo, ganhando autenticidade, profundidade e dureza diante dos conflitos e desafios a que é submetida, aludindo ao mar. A dama de companhia da protagonista, seguiu através dos tons quentes como o vinho, transitando entre maturidade e repressão, conduta moral e sexualidade. Em negro, Lilith, imaginário fantástico que permanece aberto ao espectador, se realidade ou um desdobramento personificado de um impulso interno, opondo-se ao cromatismo e apresentando-se como movimento, energia, sem contornos precisos. Após a definição da proposta e as referências estéticas, a compreensão de como organizar cada espaço poético e a palheta de cores, a equipe deu início à realização. direção de arte direção de arte Rendas no ar A FILMAGEM COLABORAÇÃO E PARCERIAS A apropriação da ilha, além do ambiente e da arquitetura, uniu a intenção de não realizar uma reconstrução de um tempo histórico à utilização de materiais descartados e abandonados, coletados durante a pré-produção em Florianópolis, em São Paulo e em Cotia, onde fica a sede da UAP. A coleta e reinserção de materiais foi apontada como um caminho livre para a criação, permitindo limites incertos entre tempos e espaços e reforçando o imaginário entre as épocas. Nessa perspectiva, a história dos materiais e a memória inscrita nos objetos participam como discurso poético na composição das imagens, e seu emprego se dá tanto nas ambientações como na indumentária. Assim, iniciou-se a construção de uma rede em colaboração entre a equipe de direção de arte, a produção do filme, moradores das cidades citadas e outros participantes do processo, a fim de pesquisar, rastrear, coletar, transformar e realizar objetos, roupas e tantos outros elementos. A ideia de compor um “solo arqueológico”, território onde o transcorrer do tempo é evidenciado em formas, materiais e “coisas”, foi aos poucos sendo intensificada. Em Florianópolis foram pesquisadas e visitadas instituições, lojas, casas particulares e outros espaços a fim de encontrar mobiliário, objetos e peças têxteis que se aproximavam do repertório delimitado. O interesse deu-se por locais não oficiais, como museus, mas que conservassem tipos específicos de memórias e modos de viver, como escolas, igrejas, hospitais, bazares, lojas de móveis usados e casas “particulares”, como a de familiares e amigos. Essa forma de trabalho, ao manter-se aberta em parte de sua execução, pode gerar angústias por parte dos criadores por não manter em suas rédeas todos os detalhes, mas, ao mesmo tempo, permite que o inesperado possa acontecer. Um saudável exemplo foi a descoberta do Museu do Lixo durante a pesquisa, que possui um surpreendente acervo de peças descartadas encontradas no lixo, indo ao encontro ao repertório formal apontado. Lá foram coletados inúmeros elementos que em grande parte mantiveram suas características e também foram reinventados, recebendo novos revestimentos, cores ou algum tratamento especial para chegar às tonalidades ou texturas necessárias. Ainda foram criados instrumentos para ampliar essa ação, como uma campanha de coleta de materiais para o filme (empréstimos ou doações), assim como o workshop Tramas, compartilhando processos e atraindo para colaborar com a equipe de direção de arte artistas locais, colecionadores, rendeiras, interessados e estudantes das áreas de cinema e artes. A identificação da comunidade participante com a memória de suas “coisas” emprestadas e cedidas, outrora tão íntimas e aqui elevadas à categoria de “objetos artísticos”, aproxima de maneira intensa o cidadão da realização cinematográfica, oferecendo possibilidades de gerar conhecimento, repertório e inclusão da cidade com a arte. Para a realização dos figurinos e da indumentária, o mesmo princípio foi seguido. A partir da seleção de peças existentes no acervo da UAP, deu-se a busca por roupas que pudessem ser transformadas e que de alguma forma se aproximavam das intenções do figurinista, fosse pelo formato/corte, cor, tecido ou padrão de estamparia. Uma vez selecionado e categorizado, esse grande acervo foi dando vazão a um processo de criação a partir do que existia. Poucos croquis foram realizados, tendo a equipe liberdade para desenvolver cada peça a partir de processos artesanais como tingimentos, aplicações, remodelagens e acabamentos. Foram consultadas indústrias têxteis residentes no estado de Santa Catarina em busca de parcerias. Dessa empreitada, houve a doação de um lote de refugo de passamanarias, rendas e bordados industriais (tanto em tecidos como em apliques) por uma famosa empresa da região. Esse material foi empregado em inúmeras peças, com destaque a um conjunto de blusa e saia usado pela protagonista, todo com apliques formando desenhos e tingidos de um leve azul, um dos pontos altos do trabalho. Essa prática potencializa o envolvimento com as tradições locais, de modo que não apenas a troca com as pessoas ao redor, com seus objetos e histórias, cria camadas de significação e importância para cada elemento, como também o encontro diretamente com os fazeres artesanais arraigados da região, valorizando nossa origem e história. Foi assim com as rendas. Diversas rendeiras que participaram do workshop desenvolveram peças exclusivas para alguns figurinos. A tramoia (tipo de ponto), por exemplo, só é feita nesta região. O motivo Maria Morena (que nomeia uma das personagens), também é específico. Esses e outros foram empregados na caracterização da figura de Lilith, criando um emaranhado riquíssimo de tramas na cor preta, com volumes não usuais, reinventando assim o próprio fazer. Após a chegada de todos os elementos necessários até a ilha, a equipe se ampliara com a inclusão de assistentes provenientes da experiência do workshop, e parceiros que haviam cedido objetos importantes, parte material de suas histórias, para contar esta nova história. O modo de produção durante uma filmagem apresenta imprevistos a todo instante e, nesse caso, era necessário habitar uma ilha-casa de maneira a colaborar com suas próprias condições patrimoniais e limitações físicas ou construtivas, com relação aos seus edifícios. A experiência da natureza presente em diversos aspectos práticos, como o transporte marítimo, as marés, ventos e chuvas, por exemplo, deixava claro posturas que foram seguidas. Esse aprendizado se dá no tempo, nas correções que foram identificadas dia após dia, em busca de afinar os sentidos para uma prática sustentável durante as inúmeras demandas que integram esta etapa do processo. Dessa forma, muitos materiais foram utilizados mais de uma vez para compor ambientes diferentes, sendo modificados ou utilizados de novas maneiras. Essa grande composição, resultado da interação da equipe de arte com todas as outras equipes e, sobretudo, com o lugar, gerou cartografias pessoais e ao mesmo tempo flexíveis, pois amparadas em outros interesses que não a execução autoritária de um percurso previamente estipulado. Este mérito confere não só ao trabalho da direção de arte, mas ao filme como um todo, um processo inovador aberto à experiência em busca de ações condizentes com nossas possibilidades. Como artistas, não podemos nos desvincular deste momento crítico da humanidade, do fim dos recursos naturais e matéria-prima disponível. Não se trata de criar um discurso ecologicamente solidário, mas antes desenvolver ações que possam consumir fontes já existentes, tão disponíveis quanto as outras, que solicitam o reencontro com caminhos menos espetaculosos, mais abrangentes e, portanto, potencialmente criativos. Rendas no ar Direção de arte | Renato Bolelli Rebouças, Kabila Aruanda, Beto Guilger e Vivianne Kiritani / Usina da Alegria Planetária Foto/frames | Daraca Roteiro | André Meirelles Collazzi, Vera Longo e Sandra Alves 09 exposição exposição Oficina com Carlos Ebert em Jaraguá do Sul Topografia de um desnudo Olhar, ver, gravar: um olho na câmera, outro na cena O processo de gravação de imagens em movimento exige um olhar crítico e artístico, já que a câmera se diferencia do olho humano — apesar de se parecer muito com ele. Foi a partir desse princípio que o fotógrafo e diretor carioca Carlos Ebert instruiu e compartilhou experiências com os participantes da oficina “Olhar, ver, gravar: um olho na câmera, outro na cena”. Ao todo, foram três dias de teoria e prática que integraram conhecimentos sobre o olhar, a visão, a percepção, a cognição, a imaginação e, por fim, a gravação. O curso aconteceu na Sociedade Cultura Artística (SCAR), em Jaraguá do Sul, de 30/03 a 01/04/2012, e foi promovido pela produtora Escritório de Cinema, do diretor Gilmar Moretti. A Lado C, dando continuidade a série de exposições de fotografias relacionadas ao cinema, apresenta nesta edição uma parte do trabalho de Carlos Ebert. Déjà vu, videoclipe da cantora Pitty A ilha do terrível Rapaterra A ilha do terrível Rapaterra Haruo Ohara O povo brasileiro Circular Rivellino Varig destination, Machu Pichu Fimagens de Booker Pittman Um Norte para o Sul, com Roberto Gervitz Varig destination, voo pelo Caribe venezuelano Letícia Sabatella, em Circular 10 Booker Pittman Banco mundial Topografia de um desnudo Banco mundial 11 Ricardo Weschenfelder replica o texto “Intenção e movimento” de Pedro MC foto divulgação Tradição negativa e eterno recomeço T Ricardo Weschenfelder anto um filme como um texto, como bem colocou Pedro MC, “vai, mesmo O ator José sem querer, movimentar símbolos reFaleiro, protagonista lacionados a seu tempo”, cabendo à crítica de Memórias reativar e buscar o subtexto, o contexto e o de passagem discurso em torno da obra. Vou partir do ponto iniciado por Pedro MC — no seu texto publicado no primeiro número da revista Lado C (Intenção e movimento) — para propor continuidade e ruptura de pensamento sobre a nossa cinematografia. Espero, fortemente, que a revista Lado C firme-se como meio de referência para estimular o debate sobre fa- Réplica Lado C Réplica Lado C foto Marco Stroisch zer e pensar o cinema catarinense. Não podemos nos esquecer da bela lição que a revista Cahiers du Cinemà, principalmente nos anos 1950 até 1970, nos apontou o caminho da não separação entre filmar e criticar, fazer e pensar o cinema, tudo junto e misturado. Tal diálogo tornou-se tão potente que o texto do filme se confunde com a crítica e vice-versa. O que Bazin escrevia, Truffaut filmava, o que Godard filmava, Serge Daney escrevia. O texto de Pedro MC suscita desdobramentos reais sobre o impasse que um novo cineasta catarinense encontra ao buscar a tradição dentro da cinematografia local. Primeiramente, ruptura pressupõe corte na tradição. Não carregamos tradição alguma, de modo que, a continuidade cega e quase consciente, nos formaria enquanto artistas sem passado. Os novos cineastas encontram-se dentro desse paradoxo: não há bases constituídas na cinematografia local e, ao mesmo tempo, há um campo totalmente explorável de descoberta e invenção sobre nós mesmos. Não assisti ao filme de Marco Stroisch, Memórias de passagem (2011), objeto da crítica de Pedro MC, portanto vou me focar nos subtextos deixados pelo crítico, especificamente em dois pontos que julgo discutíveis: a tradição de filmes ruins e a anacrônica modernidade alcançada por meio da boa técnica. O termo cinemanovistas catarinenses, lançado pelo crítico, está totalmente deslocado para quem questiona a modernidade. Cinema Novo nos remete diretamente ao cinema moderno, eco tardio do modernismo da década de 1920. Junção, seletiva e dialógica, entre o rural e o urbano, entre o nacional e o estrangeiro. Glauber Rocha, levando a parafernália técnica do cinema ao sertão selvagem, representa bem esse canibalismo cultural. Aliás, o filme do Grupo Sul, O preço da ilusão, é insistentemente descrito, pela historiografia, como representante de duas correntes modernas: o modernismo brasileiro e o neorrealismo italiano, apesar do anacronismo implícito do projeto. O sumiço do filme do Grupo Sul é simbólico na nossa narrativa audiovisual. O que poderia, imaginariamente, desenhar uma tradição, não existe. O nosso cinema sempre foi anacrônico a seu tempo. De modo que a relatividade deve nos ser amiga estética. Saibamos então usá-la e reinventá-la em nosso favor. Retomando, o que constituiria, segundo o crítico, a nossa tradição, seria a tradição de filmes ruins. Concordo, em parte. Trago comigo imagens fortes de nossos filmes. Imagens como o sangue misturado com leite em Manhã, Héctor “brincando” com os túmulos na caverna em Roda dos expostos, a balsa sem rumo em Fronteira, a dança tropicalista das bruxas em Bruxas, a câmera incerta entre a cidade e a praia em Ritinha, a gilete ready-made de Novelo e o desenho louco na parede do manicômio no documentário Entre linhas me dizem que tateamos uma tradição despedaçada, difusa, duvidosa, mas nunca negativa, no sentido da recusa à experimentação e ao erro. [Optei em não citar os nomes dos autores dos filmes para não cair em personalismo e chamar a atenção estritamente para o poder dessas imagens]. Se citei somente imagens dispersas é porque também sinto falta de tradição enquanto participante desse processo. Preciso ligar os fios soltos e descontínuos. Na ausência de tradição, a dispersão nos formaria. O movimento realizado por Pedro MC em seu texto é interessante por buscar uma tradição mesmo que ainda negativa. A sensação de eterno recomeço a que estamos acostumados na produção cinematográfica local, como no mito de Sísifo, é suspensa pelo crítico, e a própria sugestão de que o filme de Marco Stroisch representaria um ponto de partida nos leva a pensar que está se apontando para uma continuidade. Os fios estão sendo tensionados. Outro ponto discutível no texto de Pedro MC é a redução, fácil, em determinar que avançamos com base na técnica. A tradição de filmes ruins resolve-se, simplesmente, com o apuro técnico. Acho esse ponto perigoso, pois reduz a forma pela forma. Seria o fantasma da ausência de O preço da ilusão que nos faria pensar e sentir que filme bom é filme pronto e bem acabado? A boa técnica é central na afirmação do cinema nacional de hoje, mas é bom lembrar que esse referencial de filme mal feito e bem feito é construído histórica e culturalmente, como podemos perceber no cinema moderno brasileiro das décadas de 1960 e 1970, como em parte do Cinema Novo, em todo o Cinema Marginal, nos filmes da Boca do Lixo, no Udigrude etc. Atualmente essa estética do erro, da falha está reduzida aos seguidores do filme trash. Se estamos construindo uma tradição, mesmo que dispersa, devemos investir em conteúdo, em debate, em interação. A forma é importante sim, mas não vai resolver, magicamente, a nossa crise de identidade e de história. No mundo da aparência, do espetáculo, do facebook, o cinema deve fazer o movimento de ruptura, mesmo que esse projeto pareça moderno demais. “Glauber Rocha, levando a parafernália técnica do cinema ao sertão selvagem representa bem esse canibalismo cultural” foto divulgação 12 13 fotoS divulgação novelo filmes c de crítica arquivo c Fotomontagem Ayrton Cruz O curta-metragem mais premiado da cinematografia catarinense Filmes (e livros) S 14 Silveira de Souza ão incontáveis os filmes a que assisti desde um domingo à tarde na Florianópolis de 1943, quando eu tinha 10 anos de idade, até a presente data. Seria loucura tentar enumerá-los, pois boa parte deles ficou perdida nos cafundós da memória. Mas tudo tem a sua primeira vez e a minha primeira experiência com filmes aconteceu de modo natural, e imprevisto. Foi depois de um almoço em minha casa, quando meu pai abusou um pouco da cerveja e da macarronada com arroz e galinha ensopada. Depois do almoço, para espairecer, levou-me a um passeio pelo centro da cidade. A certa altura, com aquele seu sorrisozinho sacana, disse que iria me mostrar uma coisa que eu nunca vira antes e daí se calou, e fomos seguindo pelo jardim da praça 15 na direção da rua João Pinto e acabamos por entrar numa casa com cartazes na porta. Por cima da porta havia os dizeres “Cine Imperial”. De repente, já acomodados em cadeiras especiais e uniformes, distribuídas em duas alas numa ampla sala lotada de gente barulhenta, as luzes se apagaram, fez-se silêncio e um mágico feixe luminoso projetou sobre uma tela branca, que ocupava quase inteiramente uma das extremidades da sala, uma sequência aliciante de imagens articuladas, que se constituíram no meu primeiro encontro com o cinema. Nunca esqueci isso. Não recordo mais dos dois ou três longas-metragens, da breve historieta de animação (chamávamos “desenho animado”) e do “curta” noticioso, que ocuparam quase todo o resto daquela tarde, mas também não esqueci até hoje do impacto causado pelo capítulo semanal do seriado Flash Gordon no Planeta Mongo. Ele trazia uma mensagem inteiramente nova para mim, mensagem envolta em contínua, frenética movimentação, tendo como cenário outro planeta, onde existiam naves espaciais aerodinâmicas e personagens que eram mistos de homem e leão, homem e pássaro, homem e peixe. A partir daí o cinema se tornou um acontecimento constante na minha vida, que sempre se misturou com o meu interesse pela literatura. Livros e filmes vêm me acompanhando todos esses anos, complementando-se em meu imaginário. Às vezes me detenho para indagar: qual dos dois, a meu ver, foi mais importante? Ou então: teria o melhor filme já realizado a mesma profundidade, a mesma dimensão intelectual intrínseca do melhor texto de ficção já escrito? Mas tais indagações são irrespondíveis por uma pazada de motivos, entre eles porque jamais aceitaríamos, de modo universal e incontroverso, que a Ilíada, ou o Hamlet, ou o Don Quixote, ou o Ulisses, ou O castelo, foi, cada um deles, o melhor texto de ficção já escrito; assim como, a despeito dos mil significados possíveis, todos ainda atuais, não aceitaríamos sem discussões que Cidadão Kane foi o filme até agora melhor realizado. Diante dele se levantariam produções daqueles diretores de cinema que (no dizer de um crítico) podem ser reconhecidos a cem metros de distância: Murnau, Eisenstein, Chaplin, Feline, Bergman, Tarkovski, Kurosawa, Godard, talvez Ophüls e mais alguns poucos. Além disso, teríamos de ter sempre presente o fato de que literatura e cinema são coisas diferentes, ainda que, desde o advento do cinema falado, o entrosamento entre eles tenha crescido sempre mais: o cinema, raras são as exceções, ficou eminentemente literário, às vezes até palavroso, em contraposição ao cinema mudo; e os escritores de contos e romances, no geral, de certo modo ainda mantêm um olho voltado para o papel e outro para a tela. Ligado, por circunstâncias do meio em que vivo, na sua maioria aos filmes do cinema americano, encharquei-me de todos os gêneros, comédias, dramas, musicais, westerns e, principalmente, do noir de muitos “suspenses” e policiais; mas pude por vezes conhecer também o noir francês, que tem joias como Crime em Paris, de Henri-Georges Clouzot, 1947 (melhor como cinema que As diabólicas, 1955, do mesmo diretor); Ascensor para o cadafalso, 1958, de Louis Malle e Cais das sombras, 1938, de Marcel Carné, para dar só três exemplos que permanecem até hoje “vivos” dentro de mim. E se é verdade que os meus exercícios de criação foram desde cedo dirigidos para a literatura, voltados em especial para o gênero conto, é igualmente verdade que tive a alegria e a honra de ver alguns desses contos transformados recentemente no expressivo e experimental curta-metragem Pequenos desencontros, de Fernando Boppré, assim como, em 1958, participei como ator, fazendo uma ponta, no primeiro longa-metragem realizado em Florianópolis, O preço da ilusão. É curioso. O preço da ilusão, ainda que um filme de amadores, teve no mínimo um bom roteiro escrito por Salim Miguel e Eglê Malheiros e uma bela fotografia (teria sido de Eliseu Fernandes?) que mostrava Florianópolis em imagens expressionistas. No entanto, foi um filme que se perdeu em algum lugar de São Paulo, restando apenas um fragmento de cerca de quinze minutos. Exatamente o fragmento no qual eu apareço, junto de outras três ou quatro pessoas, filmado no interior do Poema Bar, na praça 15 de Novembro. Se alguém, algum dia, puder ver esse fragmento, que certamente estará guardado em algum Museu da Imagem e do Som, sem dúvida não saberá ao certo se está vendo os quinze minutos de glória de um contista transmudado em ator... ou vice-versa. Cena de O preço da ilusão, rodada no lendário Poema Bar, centro de Florianópolis: o escritor João Paulo Silveira de Souza (E); Jorge Miguel (C); e o ator Adélcio da Costa (D), que atuou durante 40 anos no teatro catarinense Qual queijo você quer? M fifo lima e alinho aos que consideram Qual queijo você quer?, de Cíntia Domit Bittar, uma realização admirável. Os prêmios obtidos estão aí para comprovar o esplendor do filme. Mas não vou propriamente fazer a defesa do curta, e sim apontar aspectos que me parecem frágeis. Começo pela cena final, que expõe um desfecho de felicidade inconciliável com a construção dramática elaborada ao longo da narrativa. A gentileza mútua do casal protagonista na tomada definitiva provoca um deslocamento equivocado, diminuindo a potência de Qual queijo. O quadro é repleto de um humor ingênuo e confere unicamente um remate prosaico para o casal de setentões, que vive um embate sobre os sonhos não realizados. Na última cena, marido e mulher, depois de uma lavação de roupa suja, surgem em perfeita harmonia em torno da mesa da cozinha, bebendo café, comendo o queijo recém-comprado na venda e preparando-se para um jogo de cartas. É provável que a intenção não tenha sido compensar o espectador pela carga dramática anteriormente depositada sobre ele, mas fatalmente o efeito é esse. O the end conclusivo é traidor. Não propriamente porque estabelece um final feliz, mas porque elimina a possibilidade da dúvida. Ao colocar estas questões, talvez seja necessário retroceder à abertura de Qual queijo e ponderar sobre alguns pontos para reflexão. Fiel à narrativa clássica, os planos são elaborados com precisão rumo ao clímax. A composição é milimétrica. O curta abre com planos de detalhe de caixas de remédios, da foto do casamento, de uma bíblia aberta e de uma velha mala, que apresentam o ambiente do apartamento onde a história vai se desenrolar. Em seguida, surgem os primeiros planos do casal no sofá e fatalmente embarcamos na vida interior dos personagens. O bolero Alento de uma saudade, uma sintonia feliz com a proposta do roteiro, conduz a narrativa para um quadro de drama e comédia. Mais drama do que comédia, vivida por Afonso e Margarete. Ele lê um jornal. Ela faz palavras cruzadas. A tevê está ligada, mas com o volume baixo. O ventilador está numa velocidade lenta. A vida é lenta e calma ali. Mas logo a calma vai ser quebrada por um singelo pedido. Como a mulher vai até o mercadinho, o marido pergunta se ela pode trazer um queijo. A solicitação é o estopim detonador de uma cascata de lamentações e desabafos proferidos pela mulher. Quatro filhos, nove netos e dois bisnetos espalhados. Viveram só para procriar?, esbraveja Margarete com um ímpeto cruel. As viagens que não foram feitas, a casa espaçosa que não foi adquirida. Seria de se supor que esses são conflitos recorrentes em mais de 50 anos de vida em comum. Mas o confronto do casal é exibido com um caráter de ineditismo, que parece ser a primeira vez que a questão entra em pauta. No auge de sua exasperação, Margarete reclama de toda quinquilharia do apartamento, arranca da parede um relógio que não funciona há anos e o lança ao chão. Espatifado sobre o tapete e com o vidro protetor quebrado, os ponteiros do aparelho começam a funcionar. A volta do movimento da velha máquina é uma ação previsível, mas é também a mais bem humorada. É o clímax que chega em forma de metáfora. A metáfora óbvia. A metáfora de que a vida é inesgotável, de que a vida segue a despeito de tudo, alheia às lamentações, aos distúrbios cotidianos. A violenta quebra do relógio dilui a tensão e estabelece a virada final. Margarete se desarma, então, de toda sua raiva e decide ir ao mercado. Ela pega uma pequena bolsa com dinheiro e vai em direção à rua. Antes de fechar totalmente a porta, olha para o marido e pergunta qual queijo ele quer. Há um leve sorriso de cumplicidade nos olhos da mulher, quase um carinho, um semblante de arrependimen- to, talvez pela dureza das palavras proferidas. Afonso, que foi o ouvinte, quase paciente dos espasmos de Margarete, está inerte, com um olhar condescendente, com a complacência de que, afinal, é aquela a vida que eles têm para viver. É o momento mais denso e delicado do filme. As cenas poderiam compor o fechamento sutil do curta. Mas a escolha foi outra. premiação A diretora Cíntia Domit Bittar assina ainda roteiro, produção executiva e montagem. O filme é uma produção da jovem equipe da Novelo Filmes, de Florianópolis. Os atores Amélia Bittencourt e Henrique César, experientes em teatro e cinema, e Mateus Mira, autor do bolero Alento de uma saudade, foram premiados pela atuação e trilha em festivais. Produzido com um recurso de R$ 30 mil do Edital Armando Carreirão do Fundo Municipal de Cinema de Florianópolis (Funcine), Qual queijo você quer? foi selecionado para 20 festivais nacionais e três internacionais. Possui oito prêmios na bagagem, incluindo Melhor Curta no 13.o Festival do Rio, Prêmio Especial do Júri no 1.o FAÇA — Festival Audiovisual Catarinense, Prêmio Cineclubista Melhor Filme no Cine PE e Melhor Filme no Festival de Montes Claros. Os atores Amélia Bittencourt e Henrique César, em cena de Qual queijo você quer? 15 E Vinícius Nicastro Honesko m 1955, diante de um dos frequentadores da Basílica de San Francesco, em Arezzo, Pier Paolo Pasolini escreve a primeira parte de La ricchezza, poema de abertura de La religione del mio tempo. No ritmo de uma visão, Pasolini descreve a imagem de um operário que entra na igreja, observa os afrescos de Piero della Francesca (a quem o poeta-diretor faz inúmeras referências em poemas e filmes), volta-se para os outros visitantes que ali se encontram e sai para a praça. Toda a construção fílmica (quase um plano-sequência) do poema é perpassada por um jogo de luzes peculiar: ao correr os olhos pelos afrescos, o operário vislumbra a luz que entra pelos vitrais, mas também vê a luz “que se expande/ de um sol fechado onde foi divino/ o Homem” (a luz universal do Renascimento Florentino). E é nessa justaposição das luzes na parede da igreja, nesse interno que se cruza com o externo, que também Pasolini busca expressar-se. O poeta, cineasta e intelectual combativo, procura, como é exemplar na observação dos gestos do operário e das contraposições de espaços, por um ponto de fuga à cooptação da vida pelo novo tipo de poder que vê nascer na Itália. Seu agir — escrevendo ou filmando —, de modo “reflexo” à descrição do poema, é sempre oximoro, contraditório e paradoxal. O jogo de entrada e saída da igreja fica evidente no último trecho da primeira parte do poema denominada Nostalgia della vita. 16 Ah, fora, reaparece o tempo da pia tarde provinciana e, dentro, reabertas as feridas da nostalgia! São estes os lugares, perdidos no coração campestre da Itália, onde pesa ainda o mal e pesa o bem, enquanto espuma inocente o ardor dos rapazes e os jovens são viris na alma ofendida, não exaltada, da humilhante prova do sexo, da cotidiana maldade do mundo. E se cheios de uma honestidade velha como a alma, aqui os homens permanecem crentes em alguma fé — e o pobre fervor dos seus atos os possui ao ponto de perdê-los num murmúrio sem memória — mais poético e alto é este espumejar da vida. E mais cego o sensual pesar de não ser sentido pelos outros, sua embriaguez antiga. O tema da viagem do dentro para o fora é um princípio estético constante tanto nos poemas quanto nos filmes de Pasolini: no movimento há um princípio de “montagem” que rompe a aparente natureza dos corpos e da vida. No poema, a saída do espaço protegido da igreja (ekklesis, a reunião de vocações) para o espaço aberto e desprotegido do exterior (uma espécie de ekstasis impreterível), reflete a condição de Pasolini e do homem no contemporâneo: toda “comunidade” (e o cum munus dos latinos é, em certo sentido, paralelo à compreensão da já latinizada ecclesia) não é senão um mito de proteção. Pasolini, na primeira cena de O Evangelho segundo Matheus — outra “reconstrução” de Piero della Francesca —, utiliza também a contraposição dentro/fora. Maria aparece num enquadramento que evoca o painel central do Político da Misericórdia de Piero, entretanto, com uma diferença: enquanto na imagem deste, Maria, albergada sob as arcadas de uma igreja, dá, sob seu manto, abrigo para uma comitiva de santos, na de Pasolini ela guarda o próprio messias no seu ventre sem nenhuma proteção sobre si, num espaço aberto e ruinoso. As virgens da misericórdia são retratos de mães que albergam os filhos sob seus mantos Depois do desaparecimento dos vagalumes os “valores” nacionalizados e, portanto, falsificados do velho universo agrícola paleocapitalista não contam mais. Igreja, Pátria, Família, obediência, ordem, poupança, moralidade, não contam mais. Eles não servem nem mesmo enquanto falsos valores (...) Para substituí-los estão os “valores” de um novo tipo de civiliza- ção, totalmente “outra” em relação à vida rural e paleoindustrial. (...) Não estamos mais, como todos sabem, diante de “tempos novos”, mas de uma nova época da história humana: desta história humana cuja contagem se dá em milênios. Alguns meses depois, pouco antes de sua morte, Pasolini, em entrevista a Jean Duflot, fala que o que está em andamento na Itália (numa antevisão quase “profética” não só da Itália, mas do mundo do séc. XXI) é uma “mutação antropológica”: surge um homem que não se pertence mais e cuja razão de ser está na legitimação — vazia e consensual — de uma abstração de poder (um novo fascismo). Ele diz: “é um poder histérico, que tende a massificar os comportamentos, a normalizar os espíritos simplificando freneticamente todos os códigos, especialmente ‘tecnicizando’ a linguagem verbal. (...) O novo fascismo é propriamente uma poderosa abstração, um pragmatismo que canceriza toda a sociedade, um tumor central, majoritário...” A imagem do câncer é o equivalente ao espumejar das esferas. Nenhum tipo de instituição esférica imunizadora pode agora ser levada em conta. O poder se esvazia e faz ingressar a humanidade numa zona de exceção. Trata-se de uma nova era na qual não há mais como fundar uma política pautada em critérios derrisórios de consolidação de espaços determinados: o câncer faz metástase; a espuma não tem ordem. Como sentir-se diante de um panorama tão obscuro? Como agir na era de mutação antropológica? Pasolini diz, ainda na entrevista a Duflot, que “um intelectual tem o dever de exercer uma função crítica sobre práticas políticas globais, de ‘destotalizar’, senão, que intelectual seria ele?”. Porém, tal intervenção é sempre dolorosa, vem sempre com a angústia de saber que a vida neste “mundo com câncer” está nua diante de um poder (vazio) que a coopta (e esvazia) totalmente. Assim, Pasolini declara, agora em entrevista a Jean-André Fieschi, seu modo de agir poético e, também, ético: Na verdade, tudo o que disse sobre meus filmes foram coisas pretextuais. A realidade é esta: [os filmes] exprimem tanto a alegria quanto a dor contemporaneamente. Desde criança, desde minhas primeiras poesias em dialeto friulano até a última poesia em italiano utilizei uma expressão retirada da poesia provençal: ab joy. O rouxinol que canta ab joy, de alegria, por alegria. Mas joy no provençal daquele tempo tinha um significado particular de raptus poético, de exaltação, de inspiração poética. Essa palavra é talvez a expressão chave de toda minha produção. Eu escrevi praticamente ab joy. Isto é, além de toda a minha racionalização, determinações e explicações culturais. O signo que dominou toda minha produção é essa espécie de nostalgia da vida, esse sentido de exclusão que não retira o amor da vida, mas o faz crescer. Alegria e dor contemporâneas: ab joy. Pasolini assume em si essa contradição sem síntese (e podemos dizer isso se dá em Pasolini como uma espécie de melancolia, porém, enraivecida — e seu La Rabbia, de 1963, já é uma boa amostra). Ele enfrenta seu mundo com uma agonia que é também alegria, com uma vitalidade desesperada (título de uma das séries de Poesia in Forma di Rosa). O ab joy pasoliniano aparece, portanto, como um oximoro, a definição das coisas por oposição — e tal condição Pasolini assumia para si irrestritamente, potencializando em si o sentimento do infinito, do saber-se fora das esferas protetoras e lançado à pura contingência da vida. Porém, há um elemento relevante em toda essa visão desesperada de Pasolini. Trata-se da sua concepção de sacralidade, que tem a ver justamente com sua recusa do mundo da razão técnica instrumental (mundo este no qual o sentido da existência passa pela construção de um mitologema que, mesmo diante da explosão das instituições esféricas, falseia-se como uma criação ex nihil, num disfarce de seus mitos fundadores). E, no discurso de Quírion a Jasão, no início de Medeia, tal recusa aparece claramente: Tudo é santo! Tudo é santo! Não há nada de natural na natureza, meu rapaz. Quando a natureza te parecer natural, isso será o fim de tudo e começará outra coisa. (...) Em todo o ponto para o qual teus olhos olham está escondido um deus. E se por acaso não há, ele deixou ali vestígios de sua presença sagrada. (...) É sim, tudo é santo, mas a santidade é ao mesmo tempo uma maldição. Os deuses que amam ao mesmo tempo odeiam. Os vestígios deixados pelos deuses, suas assinaturas, são, para Pasolini, o que dão às coisas seu caráter sagrado. Quando, porém, Duflot lhe pergunta sobre sua laicidade e sua relação com o cristianismo, para afastar-se do caráter institucional do sagrado, Pasolini esclarece seu ponto de vista dizendo que não há, no mundo ocidental, como não ser cristianizado, o que não quer dizer ser crente. ensaio ensaio Construir um mundo: as visões desesperadas de Pier Paolo Pasolini como que a criar uma redoma, “um mundo”, na qual os homens encontram seu refúgio (basta lembrar ser mãe uma das metáforas da “Igreja”). Porém, essa proteção, essa “imunização”, é incapaz de subsistir perenemente. Não há ciclo eterno de proteção: é preciso “sair ao mundo”. Pasolini percebe esse paradoxo e faz da sua virgem não a protetora dos filhos sob o manto, mas a frágil concha que guarda (gesta, de modo finito) a pérola redentora do mundo. Esses mundos imunizadores dos modos de convivência humanos são sempre cunhados como esferas, sendo a primeira delas justamente a da relação mãe-filho: o útero. Nos mitos de formação das comunidades, as implicações da saída da bolha primitiva das primeiras relações parentais são equacionadas e absorvidas na criação de globos, de esferas maiores como os Estados Nacionais, que, como diz Peter Sloterdijk, são “corpos maternos fantásticos para massas de população infantilizadas”. À mãe que protege, portanto, corresponde a instituição (estado, igreja, povo, ou outro mitologema). Na imagem da virgem pasoliniana, no entanto, vemos que o ventre que “guarda” é o mesmo que “dá” a vida, que não protege ad eternum — como as imagens da tradição cristã — e que tem que entregar o protegido ao tempo histórico. O poeta — como o messias — vive a angústia de saber-se lançado no mundo, para além do paraíso perdido da comunhão com a mãe. É também Sloterdijk a lembrar que essa primeira câmara de vibrações de felicidades eternas nunca pode ser duradoura e em nenhum lugar pode existir já que “no tempo pós-paradisíaco — e não se conta o tempo sempre after paradise lost? — a sublime esfera dúplice-única está condenada a estourar”. No mundo contemporâneo não há inocência protegida e um espectro de melancolia parece assolar qualquer tentativa de construção de “um mundo” que não seja a replicação do mito paradisíaco. Abandonada a inocência, é preciso saber ver que o mundo de hoje não comporta a imagem do grande globo como metáfora de si. O mundo das borbulhas, que se uniam numa grande e única bolha, explode e se arranja amorfamente num manto de espuma. Pasolini percebe o caráter espumoso do contemporâneo no fracasso das instituições esféricas e vê um novo poder se formar: já não pautado num centro que o irradia (um panóptico), já não repressivo como o antigo fascismo, mas permissivo e que, a despeito disso, é ainda mais pernicioso. Como intelectual, sua desesperança com o mundo torna-se notória: “abjura” a Trilogia da Vida, escreve os textos sobre a “mutação antropológica” e inaugura suas polêmicas contra os jovens. E é no célebre artigo de 1975 sobre o desaparecimento dos vagalumes que expõe sua visão: E diante dessa ambiguidade do existente (signo do sagrado), a ação poética e ética (isto é, política) é definida por um olhar infantil desde uma posição adulta, isto é, saber-se fora das proteções maternais, mas ainda assim tentar encontrar, no mundo descoberto e ambíguo, uma possibilidade de vida. Para além do mito civilizacional da nova humanidade insurgente (que crê poder construir uma pura cultura, sem se dar conta de que não há como imunizar-se por completo), é saber, com Walter Benjamin, que não há documento de cultura que não seja documento de barbárie. Abgioia Pasolini sabe-se lançado no mundo e que deste não há saídas, nem retornos para o lost paradise. Para dizer com Giorgio Agamben — aliás, filósofo que é um dos apóstolos de Pasolini: interpretou Felipe no Evangelho Segundo Matheus —, Pasolini era um contemporâneo, um homem capaz de ver nas trevas do seu tempo uma possibilidade de vida para além dos mitologemas de proteção. A vida é, portanto, um desafio para quem vive num mundo onde toda inocência está condenada. E no curta de 1969, La sequenza del fiore di carta, Pasolini mostra como a alegria (gioia) de Ninetto Davoli, que desce a Via Nazionale de Roma cantarolando, é contaminada por cenas em preto e branco dos horrores da guerra sem que, no entanto, o tolo Ninetto se dê conta. Deus, uma voz em off, intenta um diálogo com Ninetto, que não o ouve. Queria falar sobre como expor-se politicamente diante das tiranias. No final, Deus se vê numa contradição e, antes de matar o jovem, diz: É verdade, tu és inocente e quem é inocente não sabe e quem não sabe não quer, mas eu, que sou teu Deus, ordeno-te saber e querer. É contraditório e, talvez, também insolúvel, porque se tu és um inocente não pode não sê-lo e se és inocente não pode ter consciência e vontade. (...) A inocência é uma culpa, a inocência é uma culpa, compreendes? E os inocentes serão condenados, porque não têm mais direito de sê-lo. Eu não posso perdoar quem passa com o olhar feliz do inocente entre as injustiças e as guerras, entre os horrores e o sangue. Pasolini sabe-se culpado no mundo. Também hoje sabemos que não há como insistir em mitologemas que redundam na expectativa de criação de paraísos impossíveis; tampouco é questão de desistir e abraçar a melancolia como derradeiro sentimento. É preciso resistir às tentações de retorno às bolhas ou aos globos, do mesmo modo como é necessária a alegria na resistência, ainda que tal alegria nunca seja plena, mas tão somente abgioia. Acima: cena do filme Evangelho Segundo Matheus (1964). Abaixo: Madonna della Misericordia (1462), obra do pintor italiano renacentista Piero della Francesca 17 foto divulgação 2.o CINERAMA.BC A 2.a edição do Cinerama.BC aconteceu no Cine Itália, do dia 4 a 8 de abril desse ano, em Balneário Camboriú. Contou com as mostras competitivas de longas e curtas internacionais, mostra catarina de curtas, filme de animação, filme infantil, debates, oficinas, palestras e muita troca de informações entre o público e os participantes. Foram cinco dias de programação intensa, e em grande parte inédita no cenário nacional. O longa-metragem francês Amor e dor (Love & Bruises), do diretor chinês Lou Ye, foi o vencedor do prêmio Coruja de Ouro 2012, segundo o júri. O filme conta a história de Hua, uma estudante chinesa que se mudou para Paris e conhece Matthew, um jovem trabalhador com quem vive uma relação contraditória de paixão e amor, agressividade e posse, diferenças e afinidades. A atriz Corinne Yam levou o prêmio de melhor atriz. Já o filme aclamado pelo público foi o sul africano de Sara Blecher, Otelo em chamas (Otelo Burning), sobre um garoto sul africano que descobre a paixão e o talento para o surfe aos 16 anos num cenário nada amistoso de revolta e violência que domina o país em 1989. O filme alterna cenas de surfe e liberdade com outras de preconceito e sofrimento. Também foram premiados Elliot Paquet, como melhor ator, e Héléna Klotz, como melhor diretora, ambos de A idade atômica, o longa Anna Pavolva vive em Berlim, de Theo Solnik na categoria Cinerama.BC Especial do Júri e o curta-metragem argentino Os telefericos, de Federico Actis. IV Festival do Júri Popular O Festival de Cinema mais popular do país aconteceu no Cineclube Dona Chica, entre os dias 1 e 4 de fevereiro desse ano, com programação nacional de curta-metragem. Em seu quarto ano, o festival teve como diferencial o voto do público, que ao chegar ao local recebeu uma cédula de votação com os filmes da noite. O festival acontece em mais de 22 cidades do Brasil. 1.o FAÇA premia curtas e estimula a produção LANÇAMENTOS BlackOuts, de Marco Stroisch, eleito melhor filme pelo Júri Popular, e O pescador de sonhos, de Igor Pitta Simões, melhor animação, Veludo & cacos-de-vidro, de Marco Martins, melhor ficção, e Fotossensível, de Kike Kreuger, melhor documentário, segundo o Júri Oficial, são os vencedores do 1.o Festival Audiovisual Catarinense, realizado nas cidades de Lages, Blumenau e Florianópolis durante o mês de abril, com um público de mais de dois mil espectadores. Cada um dos diretores recebeu um prêmio de R$ 5 mil. Além de eleger a melhor obra por categoria, os jurados decidiram conceder menção honrosa e prêmio especial do júri ao filme Manhã, de Zeca Pires e Norberto Depizzolatti, pela universalidade do tema proposto na adaptação literária e por ser uma referência para o curta-metragem brasileiro, e Betóva — o ano da cachorra, de Alan Langdon, pela originalidade na montagem e irreverência na proposta narrativa. O prêmio especial foi concedido a animação Cadê meu rango?, de George Damiani, à ficção Qual queijo você quer?, de Cíntia Domit Bittar e ao documentário Profetas da chuva e da esperança, de Marcia Paraiso. O prêmio Estímulo foi concedido a Vide verso, de Cristian de Ciancio, pela força narrativa e capacidade realizadora dos produtores. Destinado a fomentar a produção, o prêmio é de R$ 8 mil em produtos e serviços por meio de uma parceria do festival com a Cinesupport, Onda Sonora e Mediatools. Dois prêmios de licenciamento de R$ 500,00, em parceria com o www.filmesquevoam.com.br, foram entregues aos documentários Sentidos, de Samuel Moreira e Richard Maus, pela forma íntegra, afetuosa e atenta no tratamento de um tema amplo e delicado como o olhar, e Fotossensível, de Kike Kreuger, pela entusiasmo pela memória e a fotografia em família. O FAÇA foi realizado pela Exato Segundo com recursos do Funcultural. foto divulgação Mostra Cavalcanti De 23 a 27 de abril desse ano, aconteceu na Ufsc a Mostra Cavalcanti, com exibição de onze filmes de Alberto Cavalcanti, apresentação de trabalhos de pesquisa e debates. A mostra é a primeira do projeto Punctum: cinema e pensamento, do Curso de Cinema da UFSC, que visa reunir trabalhos em torno de temas relativos aos filmes e publicá-los, junto com os debates gravados, na Punctum, a revista do Curso (www.punctum.ufsc.br). Nascido no Rio de Janeiro em 1897, Cavalcanti esteve no centro de momentos cruciais, trabalhando como diretor (de 58 filmes), roteirista, cenógrafo, diretor de som, de arte, montador, desenhista de produção, figurinista, arquivista e ator. Foram exibidos os filmes Rien que les heures (1926), La P’tite Lili (1927), Capitain Fracasse (1928), Coal Face (1936), Night Mail (1936), We Live in Two Worlds (1937), Yellow Caesar (1941), Went the Day Well? (1942), Dead of Night (1945), O canto do mar (1952) e Herr Puntila und sein Knecht Matti (1960). 1.o Festival de Cinema de Blumenau O 1.o Festival de Cinema de Blumenau foi realizado entre os dias de 22 a 27 de abril de 2012, no Auditório Willy Sievert, no Teatro Carlos Gomes. O evento contou com incentivo do Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau e apoio da Sociedade Dramático Musical Carlos Gomes. Durante os seis dias de duração foi apresentada uma programação abrangente e gratuita, com seleções variadas, trabalhos inovadores e representativos da produção catarinense e nacional. Além de mobilizar a comunidade ao acesso de espaços e produções culturais, o festival valoriza a memória e história viva do cinema blumenauense. 18 Guto Lima, Kike Kreuger e Ana Paula Domingues FUNCINE LÁ DO CÊ LÁ DO CÊ FESTIVAIS E MOSTRAS Sala de cinema do CIC reabriu com o curta -metragem Qual queijo você quer? Realizado com recursos do Prêmio Funcine de Produção Audiovisual Armando Carreirão e detentor de vários troféus em festivais brasileiros de cinema, o curta Qual queijo você quer?, de Cíntia Domit Bittar, foi escolhido para reabrir a sala de cinema do Centro Integrado de Cultura, fechado há quase três anos. A reabertura ocorreu no dia 30 de dezembro de 2011, uma sexta-feira, às 20 horas. A sala existe desde a inauguração do Centro Integrado de Cultura, em 1982, e foi ocupada por quase 30 anos pelo Cineclube Nossa Senhora do Desterro, de Gilberto Gerlach. A Cinemateca Catarinense estende sua parceria com a sala de cinema, dirigida atualmente pelo Paradigma Cine Arte. A partir do dia 28 de janeiro, o associado da Cinemateca, mais um acompanhante, tem direito a 50% de desconto no valor do ingresso. Estreia do documentário Família no papel foto divulgação Ocorreu em Florianópolis, no dia 24 de abril de 2012, a estreia do documentário Família no papel, dirigido pelas jornalistas Fernanda Friedrich e Bruna Wagner. A estreia foi no espaço Sol da Terra. Família no papel mostra a vida de pares homoafetivos com seus filhos. O documentário expõe as batalhas que eles enfrentam para se tornarem no papel a família que já são na vida real. O vídeo traz à tona problemas reais vivenciados por eles, pessoas comuns, vítimas de preconceito e discriminação. Família no papel desmistifica os conceitos de normalidade erroneamente aplicados para classificar famílias de todo o Brasil. O filme foi gravado nos estados de Santa Catarina, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, com depoimentos de sete famílias homoafetivas. O documentário, vencedor do Prêmio Edital Cinemateca Catarinense 2009, foi produzido pela TAC Filmes. Filme Dicionário teve pré-estreia em Timbó e Blumenau no mês de abril foto divulgação O curta-metragem Dicionário teve sua pré-estreia no mês de abril nas duas cidades nas quais o filme teve suas imagens captadas: Timbó e Blumenau. O curta tem direção de Ricardo Weschenfelder e produção da Exato Segundo Produções Artísticas. A Orbital Filmes é parceira e assina como produtora associada. O curta-metragem foi premiado no edital do Ministério da Cultura 01/2009 — Concurso de Apoio à Produção de Obras Inéditas de Curta-Metragem, sendo o único projeto de Santa Catarina selecionado. O projeto teve também o patrocínio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), através do Funcultural. Dicionário fala sobre os sentidos que estão além da nossa compreensão. Sobre como nosso mundo pode, de uma hora para outra, perder a razão e adentrar o inexplicável e o que está oculto diante de nossos olhos. É uma adaptação do conto O guarda-noturno (1986), do escritor e poeta catarinense Lindolf Bell. O curta encontra-se em fase de finalização e foi filmado entre os dias 19 e 23 de setembro de 2011. Prêmio Armando Carreirão EM PRODUÇÃO Encerraram no dia 25 de maio as inscrições para o 7.o Prêmio Funcine de Produção Audiovisual Armando Carreirão. Esta edição teve um crescimento de 50%. Em 2011, era de R$ 170 mil e agora vai para R$ 250 mil. Além do aumento dos valores, havia somente um prêmio para a categoria estreante e neste ano são dois. Serão contemplados oito projetos de curtas-metragens digitais: dois na categoria 1, no valor de R$ 50 mil, quatro na categoria 2, no valor de R$ 30 mil, e dois na categoria 3 (diretores estreantes), no valor de R$ 15 mil. A Novelo Filmes começou a filmar o mais novo curta da produtora, em uma co-produção com a Z Filmes. Promessa em azul e branco, vencedor do Edital do MinC para curta-metragem, é um projeto de Zienhe Castro, diretora paraense, que conheceu a Novelo através do filme Qual queijo você quer?, exibido no Festival Amazônia-DOC, em novembro de 2011, em Belém/PA. Essa coprodução é um modelo inédito entre as duas cidades, situadas fora do eixo da produção cinematográfica brasileira, trazendo um objetivo para além da produção do filme em si, mostrando que, quase como uma promessa, que o eixo é deslocável. O roteiro é uma adaptação do conto homônimo da escritora Eneida de Morais, e se passa no Brasil entre 1968 e 1974. A protagonista recebeu o nome de Eneida em uma homenagem à escritora, e é uma esperta garotinha de oito anos que não aguenta mais usar somente roupas azuis e brancas para pagar uma promessa feita por sua avó. Promessa em azul e branco Edital Catarinense de Cinema 2012 O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e da Fundação Catarinense de Cultura, lançou oficialmente no dia 30 de dezembro de 2011, o Edital Catarinense de Cinema — edição 2012. O valor desta edição foi de R$ 3 milhões, representando um aumento de quase 60% em relação ao anterior, que foi de R$ 1,9 milhão. O período de inscrição das propostas foi de 2 de janeiro a 30 de abril de 2012. Curta no Intervalo Uma ação dos Correios, em parceria com a Cinemateca Catarinense, que abre um espaço para exibição de filmes dentro da empresa dos Correios. As exibições acontecem semanalmente durante o intervalo de trabalho dos funcionários. A programação, em sua maioria de curtas do cinema catarinense, conta com cachê para os realizadores. O projeto, que é o primeiro no Brasil dentro das empresas dos Correios, iniciou com o lançamento do filme Jantar a dois, de Luciano Alves, e continua até o fim do ano de ano de 2012. Para mais informações: contato@ cinematecacatarinense.org. Calendário dos eventos do cinema catarinense Foi lançado no dia 5 de fevereiro o calendário dos eventos do cinema catarinense, que foi organizado pela Cinemateca Catarinense e diretores de mostras e festivais de todo o estado e está disponível no site www.cinematecacatarinense.org. 19 caderno de direção Raízes subterrâneas Longa-metragem realizado pela Câmera Olho Filmes, dirigido por Rafael Schlichting e com roteiro de Cláudia Cárdenas. Inspirado em Mallone Est Meurt, de Samuel Beckett. fotos divulgação 20
Download