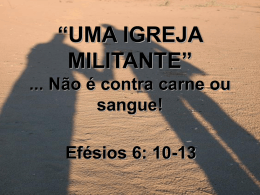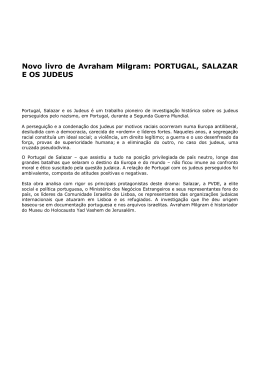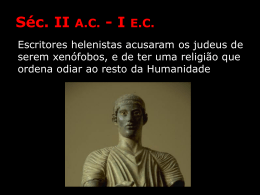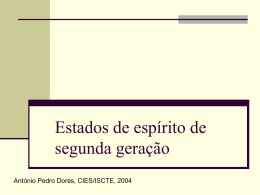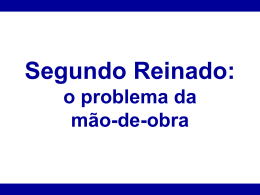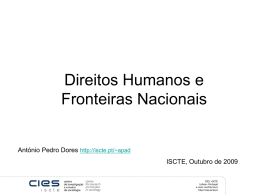O papel das redes de relacionamento na primeira geração de imigrantes judeus no Rio Grande do Sul1 Anita Brumer2 Monique Lucero da Silva3 Introdução A problemática de pesquisa que deu origem a este trabalho começou a ser elaborada quando a primeira autora deste trabalho revisou o texto do depoimento de um judeu nascido no Rio Grande do Sul, filho de imigrantes da Bessarábia que se instalaram na colônia Philippson no início do século XX. Seu relato é rico em informações sobre suas relações com familiares e vizinhos e sobre sua mobilidade espacial, econômica e social. Ao mesmo tempo, relatos de imigrantes do mesmo período revelam trajetórias em parte semelhantes e em parte distintas. Deste modo, começou a delinear-se a problemática de pesquisa, com um conjunto de questões: Quais os fatores que explicam a mobilidade individual dos imigrantes? Qual o papel desempenhado pelas relações de confiança neste processo? Que outros fatores podem explicar a mobilidade dos imigrantes, judeus e não judeus, que chegaram ao Rio Grande do Sul nas primeiras décadas do século XX? Um aspecto importante da pesquisa diz respeito à diferenciação social que se estabelece entre os imigrantes. Pesquisas sobre imigrantes alemães e italianos no Rio Grande do Sul mostraram que, desde o início da imigração, a atividade agrícola foi associada a atividades industriais (através da instalação de serrarias e olarias, oficinas de 1 Trabalho apresentado por Anita Brumer no V Encontro de Estudos Judaicos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, RJ 1-5 de dezembro de 2008. Agradecemos à FAPERGS, na forma de uma bolsa de iniciação científica, ao CNPq, através de uma bolsa de produtividade em pesquisa, à Eliana Aizim, que digitalizou a entrevista de Avraham Averbuch e ao ICJMC, que viabilizou o acesso ao acervo dos depoimentos do Arquivo de História Oral utilizados neste trabalho. 2 Professora Titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul aposentada, professora colaboradora junto ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFRGS. Bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq – nível 1A. Vice-Presidente do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall (ICJMC). 3 Graduanda em História pela FAPA e em Ciências Sociais pela UFRGS. Bolsista de Iniciação Científica da FAPERGS (agosto de 2008 a março de 2009). 1 ferragens rudimentares, vidraças, azulejos, cerâmicas para piso, indústrias têxteis, entre outras) e comerciais (Petrone, 1982: p.64-67). As atividades não agrícolas, de modo geral, requeriam mão de obra relativamente especializada ou iniciativa empresarial e algum capital inicial, favorecendo a diferenciação entre os imigrantes. De acordo com Correa (2001, p. 53), na região do Vale do Rio Pardo, no estado do Rio Grande do Sul, “o êxodo rural de famílias de agricultores contribuiu para o crescimento urbano em detrimento do rural. Para a cidade de Santa Cruz do Sul dirige-se uma significativa população atraída por melhores expectativas ligadas principalmente às condições de trabalho e aos sistemas de ensino e de saúde”. Registrou-se também “uma intensa mobilidade social inter-geracional (sobretudo em termos de escolarização e profissionalização)”. Podemos afirmar que este fenômeno não foi exclusivo desta região, ocorrendo também em maior ou menor grau em outras regiões. Num trabalho recente, Porter e Brown (2008, p. 278) procuram demonstrar que as redes de relacionamentos sociais (networks) estabelecidos pelos indivíduos são mais diversificadas entre aqueles que são membros de organizações não religiosas do que entre os que são membros de uma organização religiosa. Os autores referem os trabalhos de Lehrer, que defende o efeito da aderência à religião e da prática religiosa sobre vários comportamentos (Lehrer, 2004a; Lehrer, 2004b) e propõe que a influência religiosa é maior para aqueles que aderem mais fortemente aos ensinamentos de sua fé (Lehrer, 2004b, p.168 apud Porter e Brown, 2008, p.278). Num certo sentido, os imigrantes judeus que chegaram ao Rio Grande do Sul no início do século XX eram praticantes de sua religião e participavam de uma vida comunitária judaica 4, o que nos permite esperar que ocorram, entre eles, fortes vínculos familiares e pessoais com outros indivíduos de origem semelhante. É este tipo de vínculos que Putnam (1993) considerou como favoráveis para o estabelecimento de relações de confiança. A hipótese principal desta pesquisa diz respeito à variedade de trajetórias dos imigrantes judeus, que permitiu aos portadores de relações de confiança entre seus 4 Schweidson (1985, p. 6) manifestou que os judeus da Bessarábia, local de origem dos primeiros imigrantes que povoaram a colônia Philippson no início do século XX, era “gente de cultura modesta, longe, contudo, de serem ignorantes. Modestos em posses materiais. Possuidores, porém, de elevado padrão moral. Honestos até 2 familiares e vizinhos a mobilidade espacial (migração) e a acumulação de algum capital financeiro, o que não ocorreu com os que não estabeleceram este tipo de relações. Ao mesmo tempo, é possível esperar-se que os indivíduos são impulsionados à mudança com base nas experiências por eles vivenciadas, nos valores transmitidos por seus pais, familiares e amigos e pelas oportunidades que lhes surgem no decorrer de suas vidas. Neste trabalho, resgatamos alguns depoimentos de imigrantes judeus que vieram para o Rio Grande do Sul no início do século XX, disponíveis no acervo documental do Instituto Cultural Judaico Marc Chagall, e relatos de imigrantes ou de seus descendentes, publicados em livros (Alexandr, 1967; Schweidson, 1985, 1989; Wang, 2007). Compartilhamos com Ethel Kosminky a concepção de que “as histórias de vida, quer coletadas oralmente, quer na forma literária – autobiografias e literatura e cunho autobiográfico – oferecem um meio de avaliar o presente, re-avaliar o passado e antecipar o futuro” (Kosminky, 2003, p. 158). Nosso objetivo é examinar alguns aspectos vinculados à noção de identidade judaica e à sua mudança através do tempo, e à mobilidade espacial (migração rural-urbana) e sócio-econômica. Um dos aspectos a serem analisados é a configuração de relações familiares e pessoais que permitiram estabelecer vínculos de confiança, associações e a ajuda mútua entre os imigrantes. Outros aspectos dizem respeito à experiência anterior dos pais e dos próprios imigrantes no local de origem; a seu nível educacional e práticas culturais; ao papel da religião em suas vidas; às dificuldades vivenciadas na prática da agricultura; e às oportunidades existentes no meio rural e no meio urbano local, no período em exame. São utilizados depoimentos de imigrantes judeus, publicados ou não. Na busca por uma abordagem conceitual para essas questões, antes de qualquer coisa, privilegiamos os conceitos de grupo étnico e identidade judaica (Barth, 1976; Brumer, 1994; Brumer, 2001; Brumer, 2005) - que permitem destacar um determinado grupo social e acompanhar sua trajetória através do tempo - e, após, incursionamos por noções como capital social, habitus e estrutura de oportunidades. a ingenuidade. Atentos às rígidas normas da decência. Aferrados aos dogmas da religião e intransigentes na observância das tradições”. 3 A noção de grupo étnico está fundada em autores como Barth (1976: p.11) e Martin (1992), que salientam aspectos como a continuidade biológica, a partilha e manifestação de valores culturais básicos, a formação de associações sociais, culturais e políticas e espaços de interação e comunicação, e a auto-identificação de seus membros. A noção de identidade judaica, assim, compreende aspectos dinâmicos e estáticos, tendo em vista que ela constrói-se através de um processo de relações sociais e é formada essencialmente por meio de um processo simbólico, com “capacidade mobilizadora, de motivar praticas sociais e de granjear credibilidade, indo ao encontro daquilo que os indivíduos visam, sonham, esperam, temem" (Pesavento, 1993: p.112). A noção de identidade judaica, especificamente, incorpora elementos tais como a origem num povo comum, a religião, a cultura, a ligação afetiva com o estado de Israel, a vinculação comunitária e a autoidentificação, que os judeus incorporam de diferentes maneiras e que podem variar no decorre de suas vidas. No que diz respeito ao conceito de capital social, Putnam (1993/1996, p.177) considera as “características da organização social, como confiança, normas e sistemas que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas”. A noção de capital social leva em conta, por um lado, a idéia de que os indivíduos não agem sempre de maneira individualista e egoísta; e, por outro, a perspectiva de que, graças à ação conjunta dos indivíduos é possível atingir objetivos que de outra maneira não poderiam ser alcançados. Este conceito pode ser útil para considerar o impacto de diversos tipos de relações de troca e associações estabelecidas entre os imigrantes sobre sua mobilidade social e econômica. É preciso considerar, porém, que a cooperação tem por base alguma forma de controle social - pressões, constrangimentos ou sanções – que impelem os indivíduos a manter a palavra, ser honestos com seus associados e com pessoas com as quais mantêm relações pessoais, pagar suas dívidas, etc. É possível considerar também que as sociedades apresentam variações quanto às normas e às sanções existentes (por exemplo, sociedades ditas ‘tradicionais’ X sociedades consideradas ‘modernas’) e a importância das relações de confiança também pode ser distinta. Bourdieu (1979, p. 128) define capital social como um conjunto de recursos e de poderes efetivamente utilizáveis, cuja distribuição é desigual e dependente da capacidade 4 de apropriação de diferentes indivíduos ou grupos. Ao abordar as formas de mobilidade social, Bourdieu (2007, p. 122) considera que as oportunidades disponíveis aos indivíduos, famílias e agrupamentos sociais dependem, por um lado, do volume atual e potencial dos capitais econômico, cultural e social; e, por outro, das estruturas existentes naquela sociedade, dada pela relação estabelecida entre o patrimônio de diferentes grupos e os diferentes instrumentos de reprodução. De acordo com o autor, as estruturas de oportunidades serão maiores ou menores conforme a capacidade dos atores de reconverterem os capitais dos quais dispõem numa outra subespécie de capital, aquele que, num dado contexto e num dado momento histórico, apresenta melhores chances de permitir a mobilidade social. Giddens (1998), por outro lado, admite que os atores sociais possuem um conhecimento bastante complexo de sua realidade social, que serve de base para suas ações. Com base neste conhecimento, os atores são capazes de avaliar tanto os capitais de que dispõem como as estruturas de oportunidades que se lhes oferecem. No entanto, ele coloca em dúvida a capacidade dos atores de mobilizar e/ou reconverter os capitais dos quais dispõem com vistas à ampliação de suas estruturas de oportunidades. No que se refere às relações sociais, uma das características encontradas em muitos depoimentos de migrantes (judeus e não judeus) diz respeito ao forte apego familiar e às relações de vizinhança. Neste sentido, é possível chamar a atenção para a não excepcionalidade da importância da família e das relações de confiança que se estabelecem entre membros da mesma comunidade, com base no argumento de Delma Pessanha Neves (1999)5 para o caso dos assentamentos de reforma agrária no Brasil. Os imigrantes judeus e suas diferentes trajetórias 5 De acordo com Neves (1999, p.5-6), o fato do Assentamento, “enquanto unidade territorial, se constituir em espaço de reorganização dramática das relações e de constituição ou de reconversão de posições” possibilita “que fatores geralmente naturalizados na vida social venham à tona”, como é o caso “da ênfase no sistema de parentesco e nas relações familiares ou vicinais, como se tais relações pudessem ser compreendidas pela excepcionalidade”. 5 Frida Alexandr, filha de imigrantes judeus originários da Rússia que se destinaram à Colônia Philippson, no estado do Rio Grande do Sul em 1904, contou, em seu livro de memórias, a vida desses imigrantes em seu novo lugar de residência: Imaginem o desconforto desses infelizes no início de sua vida na nova terra. Quase todas as famílias se compunham de mais de cinco membros, entre adultos e crianças. Provinham das mais diversas camadas sociais e dos mais variados misteres e eram completamente estranhas entre si. Conheceram-se durante a longa travessia do mar. Do convívio a bordo nasceram amizades e grupos à parte (Alexandr, 1967, p. 15-16). De acordo com este relato, as redes de relacionamento entre a primeira geração de imigrantes que se dirigiu às colônias agrícolas estabelecidas no extremo sul do Brasil começaram durante a travessia marítima entre a Europa e o Brasil, provavelmente devido ao compartilhamento de uma situação de vida momentânea, da necessidade de solidariedade mútua e da expectativa do estabelecimento de relações de vizinhança na sociedade de destino. Ao chegarem ao país de destino, muitos imigrantes judeus relatam, por um lado, a carta-convite recebida por conhecidos que os haviam antecedido6, condição necessária para a obtenção do visto consular de ingresso neste país; e, por outro lado, o apoio recebido por conterrâneos, parentes ou imigrantes que os antecederam. O relato a seguir refere-se a este segundo aspecto: En esos años los sobrevivientes seguían llegando y lo hacían generalmente sin recursos. En los cafés o en los bancos del Rosedal se organizaban las “vaquitas” para darle al recién llegado lo primordial para que pudiera arreglarse hasta que consiguiera trabajo. Cuando se casaba una pareja siempre se trataba de personas que no temían nada, entonces los ayudaban a alquilar un lugar y a habitarlo con lo que pudieran necesitar: cama, colchón, mesa, sillas, heladera que eran los objetos indispensables. Cada sobreviviente era de todos, cada sobreviviente era recibido y ayudado porque todos se veían reflejados en él, veían su propio desamparo y desolación. (Wang, 2007, p.84) 6 É o caso, por exemplo, do depoimento de Herbert Caro, disponível no Arquivo de História Oral do ICJMC. 6 Boris Russowsky7 informa algo semelhante: por um lado, as péssimas condições da vida dos judeus na Rússia8, que constituíam o principal motivo para a emigração e, por outro, a existência de um familiar que os antecedeu na migração: Minha mãe viajou grávida. Ela veio com duas filhas. Meus avós maternos até então não tinham deixado eles saírem, mas (...) vendo a situação na Rússia se agravar, eles ficavam cada vez mais ansiosos e então; e o meu avô [paterno], chamando pelo filho, que viesse para cá, que aqui havia liberdade, que eles poderiam não ter fortuna e conforto, mas havia liberdade, uma vez que, teoricamente, teriam todos os direitos. Lá, nem teoricamente. Então, meu pai resolveu vir para cá. Ele veio pela ICA, recebeu uma colônia para trabalhar e lá trabalharam ele, minha mãe, minhas irmãs, inclusive com o arado. Bernardo Waldemar Wladimirsky, nascido em 1903, contou que seu pai (Boris Wladimirsky)9, originário da Rússia e colono da ICA na Colônia Agrícola Philippson, por ser judeu, fora impedido de trabalhar como médico naquele País, o que pode fazer em Philippson. O administrador da Colônia, com recursos da ICA, construiu uma farmácia, que viabilizava o acesso dos colonos a remédios. De acordo com o relato de seu filho, como único médico da Colônia, às vezes ele receitava remédios sem ver o paciente. “Ele perguntava o que a pessoa sentia e o que ia lá dizia: ‘ele se queixa disso e mais isso”, então ele dava um remédio e dizia: “se por acaso com este remédio não melhorar, você vem aqui me contar imediatamente; se ele puder vir aqui, tu traz ele, se não, eu terei que ir lá examiná-lo”. Ele costumava cobrar apenas dos que podiam pagar. Bernardo informou que “ele não cobrava a consulta e nem cobrava os remédios de quem não podia pagar”, informação corroborada por Jaques Schweidson. E ele procedia assim tanto para os colonos judeus como para com pessoas de qualquer outra ‘nacionalidade’. Acontece que, “depois de curada, gente correta, de consciência, dava alguma coisa. Um mandava umas vacas, outro mandava cavalos. Até galinha chegaram a mandar”. 7 Disponível no Arquivo de História Oral do ICJMC 8 O entrevistado provavelmente se refere ao anti-semitismo e às perseguições aos judeus (progroms). Schweidson (1989, p. 41) relata que “O ‘Doutor Russo’, como passou a ser designado, tornou-se um autêntico benfeitor de uma (...) vasta região. Sua atuação profissional e humanitária implantou, merecidamente, sua imagem no coração dos judeus, católicos e protestantes. Esperançosos, a ele recorriam os habitantes dos mais diversos povoados. A todos atendia com igual desvelo e desinteresse.”. 9 7 De acordo com Bernardo Waldemar Wladimirsky, quando chegavam à Colônia Agrícola Philippson, os colonos recebiam da ICA, além da terra, “uma junta de bois, uma vaca com cria, um cavalo, um arado e alguma ferramenta pra trabalhar na terra”. Mas, de acordo com o entrevistado, “o nosso patrício não é de trabalhar a terra. Ele é de trabalhar na cidade em prestação, vender a gravatinha no braço”. Ele relata que alguns colonos não plantaram nem um pé de laranja e, no caso de sua família, o pai, como médico, não dependia da colônia, e a mãe cuidava apenas da casa. Para prover alguns alimentos para o consumo, ele mandava plantar alguns produtos em sua terra e comprava de vizinhos quando necessário. Consideramos importante destacar que o tamanho dos lotes era insuficiente para acomodar todos os filhos, em geral numerosos, os quais, na medida em que se tornavam jovens, tinham necessidade de buscar algum meio de vida. Neste sentido, a trajetória de mobilidade inter-geracional ocorrida entre os colonos judeus não é completamente diferente da dos colonos alemães, italianos ou de outras origens (ver, por exemplo, o livro de Jean Roche A colonização alemã e o Rio Grande do Sul), com a diferença que as trajetórias dos filhos de imigrantes alemães e italianos (sobre os quais há maior número de estudos) incluíam o seminário ou o convento (no caso dos católicos) e a busca de novas terras para se estabelecerem como agricultores. Mas também não era incomum a implantação de bares (bodegas) e locais de venda, pelos imigrantes ou seus descendentes, nas localidades rurais, assim como trajetórias de inserção no comércio e na indústria semelhantes às dos colonos judeus. Jacques Schweidson informa que: Com o tempo (...), mais e mais moços foram abandonando a colônia. Bastava atingir a idade de 13 anos para que a cidade passasse a faze sentir os seus fascínios. Tanto mais poderoso se fazia sentir esse fascínio quanto mais fortes se tornavam as desilusões pela falta de fartas colheitas. Continuava perdurando o amargor dos fracassos no campo. Havia, ainda, pragas de gafanhotos, secas pestes e, acima de tudo, o travo das humilhações impostas pelos homens da YCA (Schweidson, 1985, p.45)10. 10 Apesar deste relato, é provável que alguns colonos judeus tenham obtido sucesso com suas lavouras. O próprio Schweidson (1985, p.45) relatou seu reconhecimento da ótima produção de fumo dos colonos Moishe Leib Averbuck e Leib Zelmanovitz. Em seu segundo livro, Schweidson (1989) informou que, por ocasião de seu retorno ao Rio Grande do Sul (sem informação do período), Jerônimo Zelmanovitz, casado com a irmã de Maurício Steimbruch, era proprietário de uma vasta extensão de terras da colônia Philippson, incluídas as terras e os matagais que pertenceram a seus pais (Schweidson, 1989, p. 295). 8 No início da década de 1910, além das colônias de Philippson e Quatro Irmãos, muitos dos imigrantes judeus tiveram como destino a cidade de Porto Alegre. De acordo com alguns relatos, mesmo dentro de um espaço com alguma infra-estrutura, como a Capital, os judeus enfrentaram muitas dificuldades, mas foram recebidos por outros judeus – e também por não judeus - com atos de solidariedade. Para salientar nossa afirmação destacamos o relato de Abrão Finkelstein 11, no qual conta as dificuldades enfrentadas pelo pai e por sua família na chegada a Porto Alegre: Quando chegaram em Porto Alegre, [meus pais] foram recebidos pela comunidade de Chlem, de judeus poloneses. Eles não tinham dinheiro e meu pai não queria viver de caridade, ele queria sair para trabalhar. Aí o pessoal se reuniu, juntaram uns trocados, deram uma cesta de vime pra ele, botaram rendas, aquelas coisas de venda, e meu pai começou a vida vivendo [da venda] dessas rendas. Ele saiu com a cesta, um balaio cheio, disseram-lhe como era o dinheiro e no primeiro dia em chegou já saiu para a rua sem conhecer a cidade, sem nada, tal a ânsia dos imigrantes de chegar aqui e fazer a vida deles, não depender dos outros.[...]. Diz ele que neste dia em que ele saiu para trabalhar [...] era um sábado de aleluia e que aqui tinha uma tradição meio braba e as pessoas jogaram barro na cesta dele. Meu pai não entendeu [...], mas chegou um camarada que estava tocando umas cabeças de gado [...] em seu socorro e enxotou todo mundo, levou ele para casa, deu-lhe água, acalmou-o e se tornou seu primeiro freguês. E ficaram amigos a vida inteira [...]. Meu pai voltou muito traumatizado para casa [...]. O velho saiu para trabalhar também no outro dia, e trabalhou tanto, andou por tudo que é rua [...], desorientado; ele caminhou tanto que chegou a bater na sua própria casa para vender renda. Eu sei que [dentro de] dois ou três meses depois, meu pai já ganhava o suficiente para pagar o aluguel, para pagar o armazém e eles começaram a regularizar a vida deles. Avraham Averbuch conta que, em Resina, na Bessarábia, onde seu pai plantava fumo e era experimentador de vinho, a comunidade judaica vivia num ambiente de amizades, de amigos. “Do lado do papai, eram nove irmãos e viviam sempre numa comunidade, numa amizade muito grande, porque o velho, meu avô, era muito respeitado pelos filhos. Era um homem culto, homem maravilhoso e todos diziam que falar com ele era uma honra”. 11 Disponível no Arquivo de História Oral do ICJMC. 9 Eles migraram para a Colônia Agrícola Philippson em 1904, onde seu pai recebeu um lote de terras, um cavalo, um boi, um arado e uma importância em dinheiro, que era curtíssimo. Eles passaram fome. Eles plantavam numa área de cerca de quarenta, cinqüenta hectares ou mais, milho, feijão, amendoim, deu muito. Sua vida melhorou quando Avraham tinha quatorze ou quinze anos e foi nomeado gerente da cooperativa12. “Eu comecei ganhar e então nós vivemos com o meu ordenado. Enquanto isto, o gado se reproduzia [..]”. Logo a seguir, Rothstein, o administrador da Colônia, ofereceu-lhe a oportunidade de estudar Medicina em Paris, o que não agradou a sua mãe. “Nesse caso, [disse o Rothstein], o Abraham não fica, [e] vocês [também] não ficam. Vendem o gado, porque o gado não serve de nada.”13 Parece-nos muito interessante o relato de Avraham Averbuch sobre suas relações familiares, de amizade e de negócios com o cunhado Isaac Russowsky (casado com a irmã Olga) e com seu irmão Idel, que havia perdido a mãe quando tinha cinco anos e os dois se criaram juntos. Quando a família Averbuch decidiu sair de Philippson, Isaac e Idel Russowsky tinham uma casa comercial em Cruz Alta, o que os motivou a ir para aquela cidade. Avraham foi trabalhar como empregado dos dois sócios e mandava dinheiro para os pais, que depois de seis meses em Cruz alta resolveram voltar para Philippson14. Com o falecimento do pai, a mãe foi viver com a filha Olga, que havia se mudado para Porto Alegre, mas como não se entendia bem com ela, mudou-se para a casa da filha Manoela. Aparentemente, a sociedade entre os irmãos Russowsky se desfez, de acordo com o seguimento do depoimento, e foram feitos outros arranjos societários: Isaac Russowsky tornou-se sócio de Miguel Schweidson, irmão de Jacques; e Idel Russowsky era sócio de Julio Schweidson, num negócio em Santa Maria. Então, Isaac foi convidado por Abraão Knijnik a montar uma fábrica de roupas em Santa Maria e Miguel convidou Avraham a 12 Jacques Schweidson (1989, p.45) informou que houve uma tentativa de “organizar uma cooperativa. Não vingou, embora estivessem à sua frente figuras altamente estimadas e íntegras, como Israel Sherman e Abraham Averbuck”. 13 Aos poucos, a maioria dos filhos saiu de Philippson: a filha Olga morava em Cruz Alta e Luisa, casada com Israel Nissenson, vivia em Pelotas. 14 Os pais estranharam a vida em Cruz Alta, onde não havia alimentos kasher e decidiram retornar a Philippson (era o ano de 1918 ou 1919), onde havia ficado uma filha, casada com Leibe Steimbruch; o casal tinha cerca de 10 filhos. 10 associar-se a ele e a Idel. Avraham tinha um capital de oito contos, mas entrou na sociedade como se ele valesse dez contos; Miguel contava com 10 contos e Idel tinha 100, montando uma loja de roupas chamada de Casa Verde. Miguel era um grande comerciante, simpático, vivo, e dirigia a firma. Idel e Avraham de vez em quando viajavam: Idel representava a firma em Cachoeira, Porto Alegre e Uruguaiana e Avraham distribuía a mercadoria em Santo Ângelo, Ijuí, Santo Ângelo, indo até a Argentina. Aos poucos, a sociedade expandiu-se, principalmente quando passaram a investir em terrenos, que loteavam e vendiam em parcelas, por iniciativa de Avraham. A sociedade durou praticamente 10 anos, entre 1920 e 1930. Quando a sociedade se desfez, Avraham começou a trabalhar com Benjamim no loteamento em Pelotas, e depois começaram a trabalhar também com jóias e o Benjamin fez questão de abrir uma casa em Porto Alegre. Aí um amigo deles, Aron Milititsky, que saiu de uma firma com capital, quis se associar a eles. Avraham foi então a Porto Alegre, alugou uma loja e os sócios foram lá, para cuidar da loja; Avraham ficou em Pelotas, cuidando do loteamento e também trabalhando com jóias. Quando surgiu uma oportunidade para Avraham fazer um loteamento no Rio de Janeiro, ele mudou-se para lá. A importância dos laços familiares para o impulso para a mobilidade socioeconômica e espacial é clara no depoimento de Jacques Schweidson, em seu livro Saga judaica na Ilha do Desterro (1989), no qual relatou que, quando tinha 16 anos ou 17 anos (por volta do ano 1920), migrou de Porto Alegre para Florianópolis (ou Ilha do Desterro, como era conhecida naquela época). Ele seguiu os passos de sua irmã de criação Golde e do cunhado Leão Waissman, que ali haviam se instalado anteriormente. Logo que chegou, Jacques trabalhou na loja do cunhado, mas, logo a seguir, começou a trabalhar como vendedor ambulante, pois queria estabelecer-se de forma independente. Inicialmente, revendia mercadorias levadas a crédito do cunhado, depois seus fornecedores passaram a ser outros comerciantes, e mais adiante passou a comprá-las diretamente de representantes. Depois de aproximadamente um ano estabeleceu-se com uma loja própria, com muito sucesso, e depois abriu outros negócios. Incentivados pelo seu sucesso, seu irmão Luis e a cunhada Rosinha também se transferiram de Porto Alegre para o Desterro, no que foram seguidos, algum tempo depois, 11 pelo o irmão Jacó Schweidson. Por outro lado, a irmã Frida, quando veio visitá-los, conheceu Boris Alexandr, com quem casou, mudando-se com ele para o Rio de Janeiro. Mais adiante, os irmãos trouxeram os pais e a irmã menor para viver no Desterro, os quais foram seguidos posteriormente pela irmã Adélia e o marido. Outras famílias seguiram um percurso semelhante, a partir do relacionamento familiar ou de amizade com esses primeiros imigrantes: Manuel, Francisco e Carlos Zveibil, este último casado com a irmã da esposa de Luis Schweidson; Goldstein, cunhado dos Zveibils; Isaac e Roberto Waissman, irmãos de Leão Waissman. Em seu livro publicado em 1985, Judeus de bombachas e chimarrão, Jacques Schweidson detalhou suas lembranças de infância e de parte de sua juventude, passadas na colônia agrícola Philippson. Isto significa que quando residiu em Porto Alegre, por pouco tempo, estava em trânsito, pois não havia encontrado nesta cidade o seu lugar. Sua residência em Florianópolis foi mais demorada, durou aproximadamente cinco décadas. Mas esta cidade também não era seu destino final, uma vez que se mudou para o Rio de Janeiro na década de 197015, onde participou da comunidade judaica local (Schweidson, 1989). Naquela cidade, como indicado antes, residiam sua irmã Frida e seu cunhado Boris. Outro imigrante cuja família estabeleceu-se na colônia agrícola Philippson foi Avraham Averbuck16, nascido em 20 de setembro de 1890 na Bessarábia (que na época fazia parte da Rússia e atualmente da Moldávia). Em seu depoimento 17, realizado na cidade do Rio de Janeiro, em 1980, ele relatou que, em Philippson, “todos (...) viveram numa comunidade muito unida, todos eram irmãos. Quando faziam um casamento, convidavam todos, porque eram setenta famílias mais ou menos”. Seu pai cantava e animava as festas fazendo imitações. Quando ele começava a cantar, levantavam vinte, trinta pessoas e dançavam.. 15 De acordo com o relato de sua filha, com quem conversamos em dezembro de 2008, no Rio de Janeiro, a mudança deveu-se ao desejo de sua mãe de exercer a medicina. 16 Avraham Averbuck era contemporâneo e amido de Jacques Schweidson. Este relata ainda sua amizade com Maurício Steimbruck, Bernardo Wladimirsky e Jerônimo Zelmanovitz (Schweidson, 1989, p. 287). 17 Disponível no Arquivo de História Oral do ICJMC. 12 Outro depoimento que relata a união entre os imigrantes na colônia Philippson é de Clara Axelrud18. Através de suas memórias, Clara lembrou como vivia a comunidade judaica neste local, onde todos compartilhavam das mesmas dificuldades e conseguiam viver bem. Na colônia eles viviam dentro do padrão deles; eles viviam bem, porque, como não tinha nada, não havia diversões, não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha nada, então entre os vizinhos, entre os parentes, havia amizade, e quando chegava o sábado procuravam se visitar, porque não tinham outros meios [...]. Anteriormente eles viviam com maior dificuldade ainda. [...] E quando havia uma festa, um casamento de alguém, então iam todos, e conviviam mais, tinham mais amizade, mais convivência familiar [...]. É preciso destacar que as redes de solidariedade estabelecidas entre imigrantes chegados em períodos distintos provavelmente se tornam mais raras, e talvez até mesmo desapareçam, na medida em que a precariedade e os valores comunitários não são elementos que os unem. Diana Wang, filha de sobreviventes da Shoá que imigraram para a Argentina concluiu que, após uma primeira fase, em que os recém-chegados recebiam auxílio para começar uma nova vida no País, os sobreviventes e suas famílias, sem poder contar com o apoio de pais, avós, irmãos, tios e primos, formavam uma espécie de associação familiar solidária. No entanto, numa segunda fase, as coisas mudaram: Con el paso de los años, estas redes solidarias, este clima de comunalidad espontánea se fue desarmado. Lo que tenían en común, el horror pasado y el desamparo presente, fue dando paso a las diferencias. Una vez que nos fuimos estableciendo, surgieran las particularidades culturales, económicas, sociales. Y claro, no éramos familia y ahí se hizo evidente. Porque con la familia, aun cuando haya disparidades de estilos de vida, el lazo de sangre, el pasado biológico compartido, confiere un piso que hace posible la continuidad de la relación, no la pone en duda. No es así con las “familias” que fueran nuestras familias al principio. Igualmente, mantengo una férrea fidelidad al pasado y me siento un poco sola cuando me encuentro con alguno de aquellos que yo llamaba “tíos” o “primos” y se dirigen a mí como hacia un simple conocido, a alguien, del pasado con quien no se tiene mucho de qué hablar. Siempre me sorprende y duele esta actitud distante, porque debo refrenar mis ganas de correr y tocarlos, abrazarlos, besarlos, recuperar el contacto corporal que probamente hayan tenido conmigo cuando era chica y que añoro tanto. (Wang, 2007, p.84). 18 Disponível no Arquivo de História Oral do ICJMC. 13 Considerações finais Na leitura dos depoimentos de imigrantes judeus que se estabeleceram nas colônias agrícolas do Rio Grande do Sul, no início do século XX, foi possível perceber a importância do apoio dos demais imigrantes judeus, aos recém chegados, que se tratavam, muitas vezes, de parentes ou de pessoas originárias da mesma cidade. Esses imigrantes eram unidos pela precariedade e pela situação comum de serem judeus e terem vivenciado, nos locais de origem, experiências comuns de perseguição e de sofrimento. Ao longo do tempo, no entanto, à medida que eles iam se estabelecendo, melhorando financeiramente e se integrando às comunidades locais, o sentimento de solidariedade diluía-se, ficando em muitos casos restrito ao âmbito familiar. A noção de confiança, que na fase inicial da imigração não era relevante, pois predominava a solidariedade mútua e o assistencialismo, torna-se fundamental para o estabelecimento de relações comerciais, das quais os sócios participavam às vezes com capitais desiguais, mas complementares, como é o caso das associações em que se uniam o espírito empresarial de um com o capital de outro. E as relações familiares são importantes tanto como base para as relações de confiança como para os deslocamentos no espaço, uma vez em que após a migração de um dos membros da família para uma cidade, sua melhoria em termos econômicos possibilita a migração consecutiva de outros familiares. A estrutura de oportunidades tem um papel chave no processo migratório, afetando tanto o ‘negócio’ a ser desenvolvido como o local de destino. Mas ela não é a mesma para todos os indivíduos, pois vai depender, entre outros aspectos, do ponto de partida de cada um (experiências anteriores, habilidades específicas e recursos financeiros) e das relações sociais estabelecidas. De acordo com alguns dos relatos apresentados no texto, após uma experiência bem sucedida de um indivíduo em alguma atividade, ele passa a ser visto como ‘confiável’ e ‘capaz’ por outros, que se dispõem a convidá-lo para uma parceria comercial, e esta experiência pode ter um valor equivalente ao capital financeiro, por seu potencial de permitir maiores ganhos aos donos do dinheiro. 14 O que não aparece nos relatos é o papel coercitivo das associações familiares ou de pessoas com origens comuns na base dos relacionamentos econômicos naquela época, pois os imigrantes, ainda parcos de relações com não judeus e na ausência de canais impessoais de mobilidade, necessitavam das relações familiares e comunitárias para sua sobrevivência. Nos dias atuais, nem a família nem a comunidade tem potencial coercitivo, pois os indivíduos encontram canais de mobilidade através da educação, de concursos públicos e de outros meios, e graças a eles têm menor dependência do apoio de familiares e de pessoas conhecidas para conseguirem um emprego ou manterem uma atividade empresarial. A mobilidade espacial e social dos imigrantes, ao mesmo tempo em que lhes permitiu melhorar de vida, proporcionou aos poucos a transformação de valores trazidos do seu lugar de origem, fazendo com que muitos de seus descendentes julguem desnecessária a vinculação a uma comunidade judaica e possam escolher entre ser ou não ser judeus. Referências ALEXANDR, Frida Schweidson. Filipson: memórias da primeira colônia judaica no Rio Grande do Sul. São Paulo: Fulgor, 1967. BARTH, Fredrik. Introducción. In: BARTH, Fredrik (org.) Los grupos etnicos y sus fronteras. Mexico, Fondo de Cultura Economica, 1976. p.9-49. (publicado originalmente em inglês, em 1965). Republicado em POUTIGNAT, Philippe; STREIFF FENART, Jocelyne. Teorias da etnicidade. Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth. Tradução de Elcio Fernandes. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. BOURDIEU, Pierre. A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo: EDUSP; Porto Alegre, RS: Zouk, 2007. BRUMER, Anita. “A identidade judaica em questão”, in Slavutzky, Abrão (dir.), A paixão de ser: depoimentos e ensaios sobre a identidade judaica. Porto Alegre: Artes e Oficios, 1998, p.175-191. BRUMER, Anita. “O dilema da educação judaica formal em uma comunidade judaica da diáspora”, in Lewin, Helena (dir.), Identidade e cidadania: como se expressa o judaísmo brasileiro. Rio de Janeiro, Programa de Estudos Judaicos, 2005, p. 338-357. BRUMER, Anita. Identidade em mudança: pesquisa sociológica sobre os judeus do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Federação Israelita do Rio Grande do Sul, 1994. 143p. CORREA, Sílvio Marcus de Souza. Mobilidade e desenvolvimento regional: o caso da comunidade afro-brasileira de Santa Cruz do Sul. Redes: Revista do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz do Sul, v. 06, n. 1, p. 53-81, 2001. 15 GIDDENS, Antony. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1989. KOSMINSKY, Ethel. A literatura judaica feminina de imigração nos Estados Unidos e no Brasil. Cadernos de Lingua e Literatura Hebraica, São Paulo, v.3, p.157-182, 2003. Disponível em: http://sitemason.vanderbilt.edu/files/kOrnR6/Kosminsky%20Ethel.pdf. Acessado em 30/11/08. LEHRER, E.L. “Religion as a Determinant of Economic and Demographic Behavior in the United States.” Population and Development Review 30:4:707-26, 2004a. LEHRER, E.L. “The Role of Religion in Union Formation: An Economic Perspective.” Population Research and Policy Review 23:161-85, . 2004b. MARTIN, Denis-Constant. « Le choix d’identité », in Revue Française de Science Politique, 42 (4): 582-593. Août 1992. Disponível em http://www.persee.fr. NEVES, Delma Pessanha. Assentamento rural : confluência de formas de inserção social. Estudos Sociedade e Agricultura, 13, outubro 1999, p. 5-28. PESAVENTO, Sandra Jatahy. Imagens da violência: o discurso criminalista na Porto Alegre do fim do século. Humanas, IFCH/UFRGS, Porto Alegre, v.16. n.2, 1993. PETRONE, Maria Thereza Schorer. O imigrante e a pequena propriedade. São Paulo: Brasiliense, 1982. Coleção Tudo é História. PUTNAM, R. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993. Versão em português: Comunidade e democracia; a experiência da Itália moderna. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1996. PORTER, Jeremy; BROWN, Susannah M. On the diversity of friendship and network ties: a comparison of religious versus nonreligious group membership in rural american south. Southern Rural Sociology,23(1), 2008, pp. 277-297. SCHWEIDSON, Jacques. Judeus de bombachas e chimarrão. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985. SCHWEIDSON, Jacques. Saga judaica na Ilha do Desterro. Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. WANG, Diana. Los hijos de la Guerra: la segunda generación de sobrevivientes de la Shoá. 1ª ed.., Buenos Aires: Marea, 2007. 16
Download