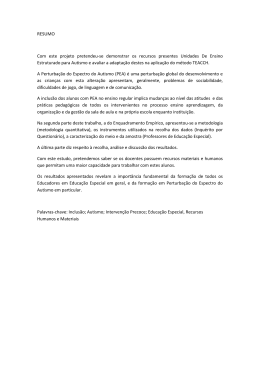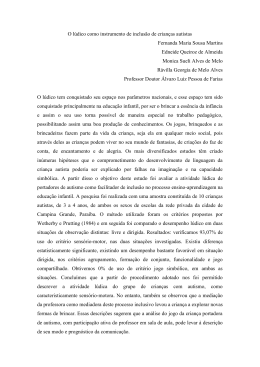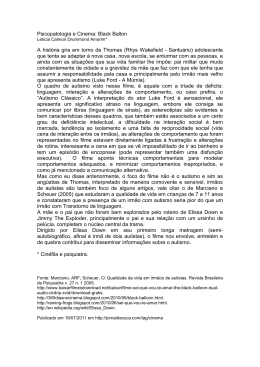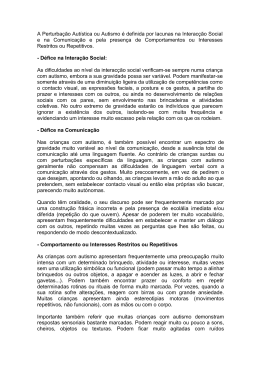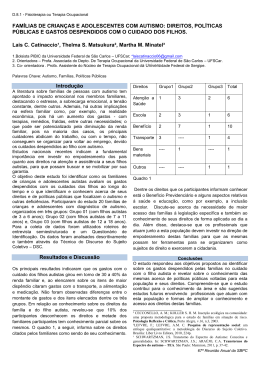Crianças autistas e seus familiares: peculiaridades relacionais e afetivas a partir do atendimento em serviço de saúde paulistano Primeiro autor Rosa Maria Monteiro López Antropóloga, Bacharel em Ciências Sociais (USP), Mestre em Antropologia Social (USP), Doutoranda em Saúde Coletiva (Universidade Federal de São Paulo) e bolsista FAPESP. Segundo autor Cynthia Sarti Antropóloga, Professora Titular na Universidade Federal de São Paulo. Sumário Entre as abordagens que informam a assistência a crianças autistas na cidade de São Paulo, apresentam-se possivelmente de forma minoritária as que têm referências psicanalíticas como embasamento teórico e prático para sua atuação. Acompanhando o trabalho em instituição desse tipo, observa-se que a participação dos familiares – a mãe, em especial – em atividades terapêuticas é tida como imprescindível. Isso é coerente com a consideração implícita de que a relação entre criança e sua família está de alguma forma ligada ao quadro psicopatológico apresentado pelo filho. A expectativa institucional é intervir nas relações e afetos daqueles núcleos familiares, fazendo emergir formas de interação mais “favoráveis ao desenvolvimento da criança”. Refletir sobre como se define o que seria "mais favorável" no âmbito dessa assistência e sobre as possibilidades de compreensão e correspondência por parte dos pais em relação às expectativas profissionais, lançando um olhar antropológico sobre a questão, é o objetivo desta comunicação. Crianças autistas e seus familiares: peculiaridades relacionais e afetivas a partir do atendimento em serviço de saúde paulistano Rosa Maria Monteiro López – UNIFESP/SP Cynthia Sarti – UNIFESP/SP Para os que concebem o autismo ou as psicoses na infância como fenômenos cuja etiologia não se restringe a questões orgânicas (considerando, inclusive, que tal “base biológica” por vezes nem pode ser constatada, ou parece longe de ser preponderante) é praticamente consenso que as estratégias terapêuticas para lidar com as crianças que apresentam tais quadros sejam de cunho relacional e que envolvam a participação dos familiares no tratamento. Porém, tal abordagem – que poder-se-ia chamar de Psicopatológica, por estar ligada a hipóteses etiológicas de predominância psicogenética (MARCELLI, 1998, p. 214) – vem perdendo espaço, desde os anos 1970, para uma abordagem chamada de Genética, por estar relacionada a hipóteses de predominância orgânica para explicar as psicoses da infância. Diversos autores apontaram a predominância das explicações psicanalíticas do autismo na teoria e na clínica psiquiátrica entre os anos 1940 e 1960 (ORTEGA, 2009; MARCELLI, 1998; WING, 1996). Desde os anos 1970, porém, verifica-se a volta triunfal à cena da psiquiatria biológica, que substitui a psicanálise como paradigma dominante. Tais alternâncias inserem-se num contexto muito mais amplo de mudança de paradigmas e embate pela hegemonia no campo psiquiátrico, sendo o deslocamento das concepções predominantes em relação ao autismo na direção do biológico parte de um tendência “biologizante” mais ampla, que leva a uma compreensão fisicalista do ser humano e está difundida em boa parte do mundo ocidental (RUSSO e VENÂNCIO, 2006). É no momento dessa “virada fisicalista” que começam a surgir as associações de pais de autistas em diversos países. Estas entidades posicionamse, desde a sua constituição, como altamente críticas às teorias psicanalíticas, sob o argumento de que nessa abordagem os pais são constantemente culpabilizados pelo autismo dos filhos. Psiquiatras alinhados às hipóteses etiológicas genéticas também costumam apontar a “culpabilização dos pais” que dizem caracterizar a abordagem psicanalítica do autismo como um indício de acientificidade e de teorização e tratamento equivocados do “transtorno”. Em artigo disponível em CDRom distribuído gratuitamente pela AMA (Associação de Amigos do Autista)1, Estevão Vadasz2 informa que, embora o autismo tenha sido descrito pela literatura leiga e científica há centenas de anos, foi reconhecido como síndrome completa há apenas 60 anos, 30 dos quais fortemente influenciados pela psicanálise. Para os psicanalistas da época o autismo era produto da seguinte equação simplista: ‘mães frias, distantes e intelectualizadas = filhos autistas’. Como conseqüência, os pacientes sofriam com a privação de uma assistência adequada e a ciência desqualificava qualquer proposta alternativa para explicação das causas do autismo. (VADASZ, 2004?) Do ponto de vista dos profissionais e serviços que prosseguem tendo referências psicanalíticas como base para sua atuação, embora haja consideráveis divergências internas ao campo, podese inferir que as afirmações acima representem, no mínimo, uma visão simplificadora e distorcida da abordagem. Nas palavras de Kupfer (2000): ... Contrariamente a aquilo que se divulgou, e em que as mães das AMAs acreditam, um psicanalista não culpa mãe alguma. Mas a responsabiliza. Responsabilizar uma mãe significa fazêla perguntarse a respeito da parte que lhe cabe na criação de seus filhos. E isto serve, digase de passagem, para todas as mães. [...] Responsabilizar uma mãe significa engajála neste movimento de resgate do que não pôde acontecer quando seu filho era ainda um bebê, seja 1 CD Rom intitulado “Autismo: Você sabe o que é?”, com animações e textos informativos, produzido com o apoio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos do Governo Federal 2 Médico psiquiatra que coordena o Projeto Autismo do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas/USP e colaborador da AMA porque ele não facilitou as coisas por ser, por exemplo, cego, surdo, ou hipotônico, seja porque ela vivia um momento em que se encontrava "apagada" para o exercício da função materna. No exercício cotidiano da assistência a crianças com características autísticas e seus familiares, a instituição paulistana de orientação psicanalítica que é um dos focos de minha pesquisa etnográfica oferece demonstrações da dificuldade da tarefa a que se propõe. Sem deixar de valorizar as conquistas e benefícios alcançados, indico alguns possíveis “problemas de comunicação” que constituem o encontro entre profissionais atuantes nesse serviço e os familiares que buscam assistência para os seus filhos. Um dos motivos mais abrangentes e importantes que parece influenciar a qualidade comunicativa desse contato passa pela não compreensão, por parte das famílias atendidas, da base conceitual que informa o trabalho em saúde mental a que recorrem. Não se trata aqui de apontar a necessidade de conhecimento teórico na área, mas de algo bem anterior, da consideração da premissa de que existe uma dimensão psíquica em cada um de nós, que “funciona” de modos que parecem às vezes “autônomos”, algo sobre nós mesmos e nossos pensamentos que não “controlamos” e que demanda um grande esforço e muitas vezes auxílio especializado para ser desvendado, entendido e transformado. Existe uma boa parte da população brasileira, especialmente das camadas menos favorecidas economicamente, para quem categorias como “inconsciente” não fazem sentido. Não é uma questão de “atraso”, “ignorância”, apenas as explicações e sentidos atribuídos aos fenômenos que classificaríamos como parte do “mundo mental”, “plano psíquico”, são compreendidos de outra forma, a partir de outras categorias. Esse é um assunto complexo, que diversos estudos antropológicos sobre grupos brasileiros de classes populares têm apontado3 e que foge ao escopo deste artigo aprofundar. Além da dificuldade que os familiares de crianças psicóticas atendidas possam ter para entender as premissas e os métodos que estruturam o trabalho da instituição, parece haver uma parte da explicação que informa todo o trabalho e que nunca é explicitada aos familiares, talvez a resposta que eles mais busquem e que não chega a eles de forma direta. Trata-se do que é tido para a equipe como um dos “disparadores” fundamentais do quadro psicótico que as crianças apresentam, relacionado à insuficiência da troca pessoal/afetiva entre mãe ou principal cuidador e o bebê que aquela criança foi, e tudo o que se segue a isso em termos de não estruturação de subjetividade, etc. Em conversa com os pais a respeito do quadro que os filhos apresentam, os profissionais da instituição podem até dizer que é um transtorno global do desenvolvimento, que ele tem dificuldades em se relacionar, lidar com suas emoções, seus sentimentos, que o tratamento inclui também os pais... Mas a tal “causa”, tantas vezes buscada, nunca é dita, apesar de ficar pairando o tempo todo durante a atenção terapêutica a esse núcleo familiar. Desse “porquê” não explicitado, mas implícito na cabeça dos técnicos, vem uma involuntária culpabilização da mãe, especialmente, e uma tendência a uma orientação normativa de sua prática enquanto responsável por aquele filho. Apenas para citar um exemplo do quanto é um exercício difícil abstrair das noções que se têm sobre como “bons” pais devem educar seus filhos, sobre os valores que devem nortear sua relação com esses, destaco um comentário de um profissional da equipe sobre o que ouviu falar dos atendimentos realizados por um outro profissional com certa mãe e filho psicótico juntos: “Parece que tem sido muito ‘pedagógico’ para a mãe, pois ela percebeu como o terapeuta lidava com o filho e ‘por imitação’, parece que começou a perceber que dar limite funciona”. Ainda falando a respeito dessa mãe, com 3 Ver especialmente Duarte (1986), Sarti (1996) e Fonseca (1989 e 1995) para uma introdução à temática a partir de aspectos que de alguma forma se aproximam aos universos abordados neste artigo. quem tem pouco contato, o profissional afirma: “Fico impressionado ao ver que coisas tão simples demoram tanto para ser feitas (pela mãe), que até um olhar minimamente amoroso precisou ser estimulado, pois a mãe é muito rude...” Referências Bibliográficas DUARTE, Luiz Fernando Dias (1986). Da Vida Nervosa nas Classes Trabalhadoras Urbanas, Rio de Janeiro, Zahar. FONSECA, Claudia. (1989) Pais e filhos na família popular In D’INCAO, M.A. (org.) Amor e Família no Brasil, São Paulo, Contexto, pp. 95128. FONSECA, Claudia. (1995) Caminhos da Adoção, São Paulo, Cortez. KUPFER, M. Cristina M.. Notas sobre o diagnóstico diferencial da psicose e do autismo na infância. Psicol. USP, São Paulo, v. 11, n. 1, 2000 . Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010365642000000100006&lng=en&nrm=iso>. access on 26 Aug. 2010. doi: 10.1590/S0103-65642000000100006. MARCELLI, D. (1998) Manual de Psicopatologia da Infância de Ajuriaguerra, Porto Alegre, Artes Médicas. ORTEGA, Francisco (2009) Deficiência, autismo e neurodiversidade. Ciência e Saúde Coletiva, 14 (1), pp. 67-77 RUSSO, Jane e VENÂNCIO, Ana Teresa A. (2006) “Classificando as pessoas e suas perturbações: a ‘revolução terminológica’ do DSM III”. Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, Vol. IX, n.3, pp.460-483. SARTI, Cynthia.A. (1996) A família como espelho: Um estudo sobre a moral dos pobres, Campinas, Autores Associados. VADASZ, Estevão. (2004?) “Autismo, mitos e verdades” in Autismo, você sabe o que é? (CD Rom informativo), São Paulo, Associação de Amigos do Autista. WING, Lorna (1996). Anais do 5º. Congresso Autismo-Europa, Barcelona (Tradução de Marialice de Castro Vatavuk).
Download