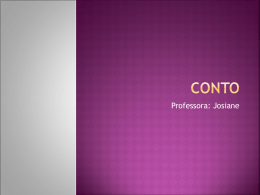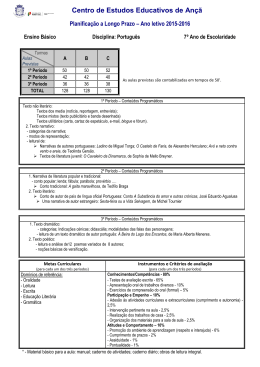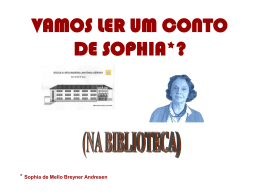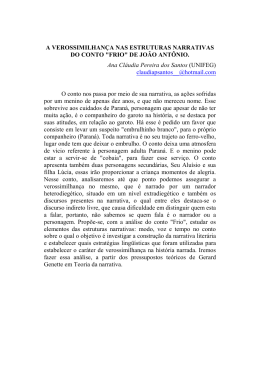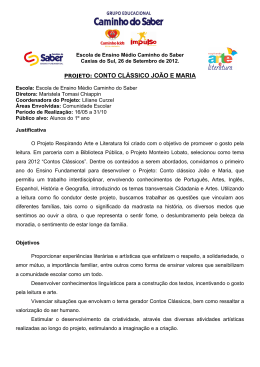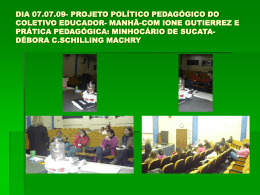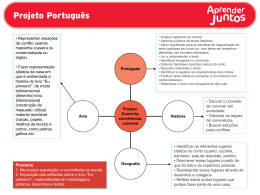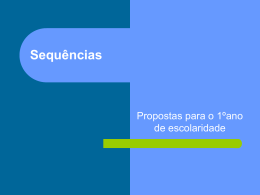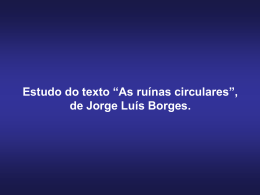Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro Marcelo Pacheco Soares O flâneur no labirinto: percursos urbanos fantásticos em contos portugueses do século XX Rio de Janeiro 2012 1 Marcelo Pacheco Soares O flâneur no labirinto: percursos urbanos fantásticos em contos portugueses do século XX Tese de Doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas (Literatura Portuguesa) da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras. Orientadora: Prof.a Dr.a Teresa Cristina Cerdeira da Silva Rio de Janeiro 2012 2 SOARES, Marcelo Pacheco. O flâneur no labirinto: percursos urbanos fantásticos em contos portugueses do século XX / Marcelo Pacheco Soares. Rio de Janeiro, 2012. 258 fls. Tese (Doutorado em Literatura Portuguesa) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, 2012. Orientadora: Teresa Cristina Cerdeira da Silva 1. Literatura Portuguesa do século XX. Fantástico. 2. Contos. 3. Cidades. 4. 3 Marcelo Pacheco Soares O flâneur no labirinto: percursos urbanos fantásticos em contos portugueses século XX _____________________________________________________ TERESA CRISTINA CERDEIRA DA SILVA Doutora em Literatura Portuguesa - UFRJ (orientadora) _____________________________________________________ MONICA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO Doutora em Literatura Portuguesa - UFRJ (avaliadora) _____________________________________________________ MARIA THERESA ABELHA ALVES Doutora em Literatura Portuguesa - UEFS (avaliadora) _____________________________________________________ ARY PIMENTEL Doutor em Literatura Comparada - UFRJ (avaliador) _____________________________________________________ ANGELA MARIA DA COSTA E SILVA COUTINHO Doutora em Literatura Comparada - IFRJ (avaliadora) _____________________________________________________ MONICA GENELHU FAGUNDES Doutora em Literatura Portuguesa - UFRJ (suplente interna) _____________________________________________________ EDSON ROSA DA SILVA Doutor em Literatura Francesa - UFRJ (suplente externo) Data da defesa da tese: 15 de junho de 2012. 4 SINOPSE: O gênero fantástico como mecanismo de problematização do real. O flâneur, figura oitocentista que desempenha a função de leitor da cidade moderna, e o seu desaparecimento no século XX: representação da crise de significação da urbe. A absorção do homem contemporâneo pela multidão. A narrativa fantástica e o seu poder de sedução para resgatar no leitor sua capacidade de flânerie. A obra kafkiana como marco inaugural do fantástico novecentista. A contística portuguesa fantástica do século XX: análises de narrativas de Branquinho da Fonseca, Mário Saa, Isabel Cristina Pires, João de Melo, Jorge de Sena, Urbano Tavares Rodrigues, Ruben A., José Saramago, Agustina Bessa-Luís. 5 Em tributo àquele que (a exemplo do meu primeiro filho, Eduardo, em relação ao Mestrado) surgiu no decorrer do caminho deste Doutorado e me abasteceu do fôlego necessário para completar o percurso: meu segundo filho, Rafael. E à minha sempre amiga e orientadora Teresa Cerdeira, anjo condutor... minha gratidão pelo carinho maternal, preocupação e atenção de sempre. E, evidentemente, a mim mesmo, flâneur-herói desta deambulação acadêmico-literária. 6 SUMÁRIO ENTRADA ou O MARCO ZERO DO LABIRINTO ..................................................................... p. 10 I. A MANIFESTAÇÃO DO REAL EM CIDADES IRREAIS .......................................................... p. 21 1.1 O fantástico como problematização do mundo real ......................... p. 23 1.2 O flâneur e o homem das multidões .................................................... p. 33 1.3 A cidade não lida ................................................................................. p. 39 II. O HOMEM NA MULTIDÃO VS. ... ...................................................................................... p. 51 2.1 O homem sozinho no meio da multidão ............................................. p. 58 2.2 A integração pela máscara .................................................................. p. 66 III. ... VS. O HOMEM DA MULTIDÃO..................................................................................... p. 79 3.1 A multidão manipulada ....................................................................... p. 82 3.2 O esvaziamento semântico da sociedade ............................................ p. 89 7 IV. O HOMEM SEM A MULTIDÃO ......................................................................................... p. 119 4.1 A cidade mutável .................................................................................. p. 122 4.2 A cidade duplicada............................................................................... p. 134 4.3 A reflexão interdita .............................................................................. p. 139 V. O FUTURO NO PRESENTE ................................................................................................ p. 149 5.1 A esperança desencantada .................................................................. p. 153 5.2 O homem reificado ............................................................................... p. 167 VI. KAFKIANAS .................................................................................................................... p. 183 6.1 Metamorfose ......................................................................................... p. 191 6.2 Castelo ................................................................................................... p. 200 6.3 Processo ................................................................................................. p. 224 REENTRADA ou O PERCURSO CIRCULAR PELO LABIRINTO ............................................... p. 230 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... p. 235 8 “Não há mentiras nem verdades aqui Só há música urbana” Música urbana 2 (Renato Russo) 9 ENTRADA ou O MARCO ZERO DO LABIRINTO 0.1 A sedução do labirinto Realizar uma leitura de obras literárias que incursionam pelo gênero fantástico e seus subgêneros é arriscar-se a entrar em labirintos cujo centro (ou sentido definitivo, ou qualquer coisa que se presuma interpretação final da sua escritura) se revela inalcançável — como aliás é sempre inalcançável qualquer pretensão de absoluto nos limites não só da literatura fantástica mas da própria Literatura. E é preciso confessar que o que ocupa o posto de verdadeiro catalisador desta pesquisa — que versa sobre contos irrealistas da literatura portuguesa do século XX nos quais se evidenciem representações do espaço urbano moderno e de seus habitantes — é o fascínio exercido pelo desafio que tais leituras enigmáticas representam, não apenas para o crítico empenhado em cumprir um projeto acadêmico (que é o lugar que ocupamos neste momento) mas desde sempre para o leitor casual que sempre somos: trata-se de uma sedução de cariz lúdico que emana do espaço deste labirinto da escritura ficcional. É certo que mesmo uma prosa de teor realista, mais isomórfica da plausibilidade a qual tentamos ainda ver na nossa experiência diária, nos faria lidar com um caminho similar de perdição, porque toda obra de arte, na dimensão sempre infinita de leituras que pode propor, é também passível de ser representada por uma arquitetura labiríntica; mas, nesses casos, teríamos ao menos paredes gradativamente mais transparentes, a depender do coeficiente de mimetismo que a narrativa propusesse, a exporem ilusoriamente um centro, o qual, sempre inatingível, se apresenta todavia sob a quimera de ser atingível. A literatura fantástica, ao contrário da produzida sob uma relação de especularidade com a realidade empírica, não fornece ao leitor comum e ao ensaísta literário, de antemão, nenhuma ilusão de vitória, já que seu centro (e eis aí um traço distintivo fulcral) não apenas é inatingível, como todos são, mas também se propõe, se confessa inatingível. A tarefa de leitura seria talvez um projeto que se funda justamente 10 na ratificação do seu fracasso em reordenar o caos, uma significativa e particular demonstração da iminente e apregoada falência da crítica. Não se constatam como raras, por isso mesmo, apologias à análise puramente estrutural de textos representantes do gênero. Jaime Alazraki, crítico argentino que cunha a expressão neofantástico a fim de efetuar a sua leitura das obras de Júlio Cortázar e Jorge Luís Borges, defende que, si no podemos, y no debemos, tratarlas como adivinanzas puesto que carecen de una solución unívoca, si una crítica de la traducción es del todo inaplicable puesto que cada lector dispone de la suya con igual derecho y validez, y porque tal traducción reestablece un orden que el texto busca transcender, la reconstrucción y definición de su código es tal vez la única alternativa de estudios y una posible vía de acceso a su sentido1 — opinião que poderia ser considerada ao menos polêmica. Embora fundada em pressupostos de leitura absolutamente válidos (tais como a assunção de uma transcendência da ordem que esses textos assumem como ponto de partida; o colapso da recomposição dessa ordem por parte da crítica; a consciência de que não se chega nunca ao sentido, apenas se ensaia o acesso às significações) não cremos que estes seriam avatares exclusivamente atribuíveis aos textos fantásticos. Ainda que diante de uma prosa de traços mais radicalmente miméticos, teremos sempre, como em qualquer manifestação da arte literária, narrativas que não admitem solução unívoca, que não possuem a pretensão de uma crítica que alojasse em lúcidas categorias todos os seus deslizamentos de sentido, todos os seus suplementos de significação. A Literatura não aceita nunca este tipo de leitura porque, sobre ela, qualquer que seja a natureza, cada leitor disporá do direito de sugerir uma tradução, que postulará evidentemente seu direito e sua validade na medida em que seja dotada de habilidade para negociar com o xadrez dos significantes fornecidos pela própria obra. Ora, tanto quanto a literatura realista, a literatura fantástica é portanto credora de leituras, não de seu Sentido, mas de suas significações sempre mutáveis, e de soluções interpretativas que ultrapassem a sua estrutura sintática, o modo de sua composição, para alcançar a sua dimensão semântica, encontrando aí uma possível via de acesso a 1 ALAZRAKI, J. (1994), p. 74. 11 seu(s) sentido(s). O texto, entendido como arte da escritura, como trama de fios de que a superfície dos significantes é a matéria concreta, apresenta significados sempre inesgotáveis, menos previsíveis que prováveis. A tarefa crítica — talvez falida mas frutuosa em seus princípios — residirá assim em não se furtar a perseguir os caminhos que levem ao inatingível centro do labirinto edificado pelas estruturas narrativas sobre as quais se funda o fantástico, ainda que cônscios (e seria o caso de o leitor de obras irrealistas possuir esta consciência de modo certamente mais radical do que o de textos ditos realistas) de que jamais percorreremos nenhum deles em sua integridade. E de tal modo é que a falência da crítica é paradoxalmente a sua condição de sobrevivência. 0.2 O fantástico Assim sendo, a opção pela leitura de obras fantásticas equivalerá sempre a um desafio; encará-las é como estar diante da esfinge sob a certeza da devoração. E, não bastassem as dificuldades inerentes à resistência que textos dessa natureza oferecem à análise, os obstáculos que se apresentam a essa pesquisa tenderiam a se potencializar, por uma razão de ordem quantitativa: em se tratando da produção em literatura portuguesa, tradicionalmente entendida, em especial a partir de meados do século XIX, como marcada prioritariamente por uma vocação mais realista, imaginar-se-ia que uma investigação das manifestações do fantástico em Portugal resultasse no levantamento de um corpus muito restrito e pouco significante. Jacinto do Prado Coelho será restritivo quanto a isso: “Com a adesão ao real que a observação e a acção implicam será lícito relacionar a quase completa ausência de fantástico na nossa literatura; excetuando-se algumas obras de autores modernos (Sá-Carneiro, José Régio, Ruben A., David Mourão-Ferreira), as restantes incursões no fantástico soam a falso.”2 A experiência, porém, poderia evidenciar algo, se não oposto, ao menos distinto. Quase setecentas páginas, por exemplo, abrigam as narrativas oitocentistas e novecentistas que integram a famosa Antologia do conto fantástico português, selecionada por E. M. de Melo e Castro e tornada pública pela primeira vez em 1965. E é digno de nota que diversos prosadores portugueses, bem mais do que os que o indiscutivelmente renomado crítico que é Jacinto do Prado Coelho legitima, alguns com mais efetiva assiduidade, outros em momentos excepcionais de suas carreiras literárias (não raras vezes consagradas mais 2 COELHO, J. do P. (1992), p. 60. 12 evidentemente por obras de natureza oposta a esta), deixaram a pena passear livremente pelo fantástico ou por outros subgêneros oriundos desse gênero, permitindo-nos citar, entre os mais ilustres, Alexandre Herculano, Eça de Queirós, Álvaro do Carvalhal, Raul Brandão, Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros, Mário Saa, Branquinho da Fonseca, Mário Cesariny, José Régio, Agustina Bessa-Luís, Urbano Tavares Rodrigues, Jorge de Sena, David Mourão-Ferreira, José Saramago, Lídia Jorge, Natália Correia, Teolinda Gersão, Mário de Carvalho, Hélia Correia, João de Melo e, mais próximo de nós, Maria de Menezes, Ana Teresa Pereira, Maria João Cantinho e José Riço Direitinho, entre tantos — nomes elencados mais ou menos ao acaso a título de exemplificação, e sem nenhuma pretensão de esgotamento da listagem ou do registro de um inventário completo. Cumpre esclarecer que a quantidade de material surgida durante uma pesquisa como a que empreendemos apresenta, na verdade, um volume relativo se comparado às que se debruçam sobre outras literaturas. Em corpora literários de grande proporção, oriundos de culturas tradicionalmente afeitas à narrativa fantástica, como, por exemplo, as africanas e as latino-americanas, a destrincha dos gêneros e dos subgêneros do fantástico seria por isso mesmo uma opção quase forçosa, um imperioso recorte para o vasto número de obras que se oferecem a uma leitura investigativa.3 No âmbito português, contudo, um projeto de compartimentar os subgêneros do fantástico não nos pareceu a escolha mais feliz, e, desde já, apontamos que não será essa a nossa aposta. Nas centenas de páginas que compõem a mencionada Antologia de Melo e Castro, a heterogeneidade das narrativas que a integram é, na verdade, bem evidente; se assim não o fosse, o estudioso certamente não obteria o volume que coligiu. Essa amplitude conceitual para o que seria o fantástico gerou em nós quase a certeza de que uma compartimentação genológica resultaria contraproducente e nos encaminharia para uma alternativa de recorte textual que estilhaçasse mais do que agregasse o conceito. Optamos pois por não levar em conta o fato de as obras se aproximarem mais desta ou 3 Nesse caso — e fazemos aqui uma aposta que não será ao menos por ora desenvolvida, mas que lucraria em ser polemizada — talvez coubesse verificar se a atribuição da nomenclatura do fantástico para algumas dessas produções não seria por fim uma denominação ideologicamente abalizada por um olhar a elas estrangeiro, marcadamente realista e de pensamento cartesiano, que confunde nelas o que lhes é específica e originalmente mágico, em outras palavras, de cunho não menos intrinsicamente fundado na experiência, com transgressões fantásticas operadas sobre um referencial realista. Mas esta é, como já dissemos, uma aventura que transcende as expectativas deste ensaio e não vamos nos adentrar nesses meandros. 13 daquela variação do gênero fantástico (como o realismo mágico ou o surrealismo ou mesmo a ficção científica, por exemplo, bem como o seu substrato mais tradicional, a que talvez aludisse Jacinto do Prado Coelho, segundo faz supor as suas citadas palavras). Nossa linha de corte passa antes precisamente pela constatação da presença de traços irrealistas próprios do fantástico e suas derivações, sem que, a princípio, ganhe demasiado peso a dimensão maior ou menor que terá o referido afastamento das expectativas de validação referencial. Em resumo: não cederemos ao critério de classificação mais estrita, de descrição de gênero mais rigorosa, optando antes pela noção de desvio do que pela maior ou menor intensidade do desvio, bem como da natureza de sua operação. Nessa mesma linha de proposta, uma vez que reconhecidamente objetivamos produzir uma investigação com bases fincadas claramente na análise corpo a corpo com o texto, concluímos que, afinal, os meandros teóricos de uma opção mais descritiva ou categorial do fantástico resultaria secundária para a leitura das obras elencadas. Assim, não interessará refazer resumidamente, à guisa de apresentação, uma história da crítica sobre o gênero, papel largamente desempenhado por um sem-fim de teses e dissertações a respeito da literatura fantástica produzidas nas últimas décadas, além, é claro, das pesquisas já realizadas fora do âmbito das pós-graduações universitárias, e que constituíram o solo do nosso processo investigativo. Partimos, portanto, do princípio de que as concepções defendidas em trabalhos de autores clássicos como Sigmund Freud ou Tzvetan Todorov, passando ainda por Roger Caillois, Pierre-George Castex e Irène Besssière, entre outros, já foram largamente difundidas e são um a priori conceitual para esta tese. Deter-nos-emos um pouco mais nos textos de Jean-Paul Sartre, Ana Maria Barrenechea e Jaime Alazraki, em razão da dedicação desses autores à análise de obras fantásticas do século XX, que é, afinal, o objeto desta pesquisa, e, mesmo assim, tenderemos a fazê-lo apenas na dimensão do benefício que elas possam trazer mais concretamente às nossas reflexões, tornando mais clara a internegociação teórica de suas teses. Não se trata absolutamente de uma atitude pretensiosa de fazer tabula rasa dos conhecimentos tradicionalmente aceitos; apenas desconfiamos do valor de uma resenha introdutória, que seria sempre, de qualquer modo, incompleta. Cremos constituir um projeto mais pertinente firmarmos o compromisso de examinar o lugar que ocupam tais obras fantásticas na literatura portuguesa novecentista, em virtude 14 justamente da reduzida atenção que os estudos acadêmicos lhes têm votado, silêncio causado provavelmente por aquele seu já referido caráter de exceção nessas letras de inclinação mais realista, o que, em certa medida, gerou uma lacuna nesta área de pesquisa. 0.3 O conto Para além da categoria do fantástico, escolhemos, como segundo recorte do corpus desta tese, as narrativas breves. Ora, o gênero conto apresenta-se como um formato razoavelmente experimentado em terras portuguesas, de maneira particular a partir do início do Romantismo, como confirma João de Melo: “Tal como o concebemos hoje, o conto chegou à literatura portuguesa só no século XIX, e pela mão dos escritores românticos.”4 Certamente, Melo faz aqui referência ao “conto contemporâneo, digamos o que nasce com Edgar Allan Poe, e que se propõe como uma máquina infalível destinada a cumprir sua missão narrativa com a máxima economia de meios”5, como o define o ensaísta e exímio contista Julio Cortázar, o que, evidentemente, excluiria do inventário da crítica nomes como o de Gonçalo Fernandes Trancoso (autor do século XVI, comumente considerado o primeiro contista de Portugal6). A verdade é que, não obstante ser cultivado com alguma frequência, o conto em Portugal é um gênero muitas vezes produzido por autores que se intitulam (ou são intitulados), acima de qualquer outra coisa, poetas ou romancistas (os desvios à regra são parcos e, se citássemos nomes como Branquinho da Fonseca ou Maria Judith Carvalho, talvez não houvesse muitos outros a arrolar). Assim, mesmo que Eça de Queirós tenha redigido o que são por vezes considerados os melhores contos portugueses, o fato é que ele se notabilizou como escritor de romances, semelhantemente a outros romancistas que também produziram bons exemplos de 4 MELO, J. de (2002), p. 11. CORTÁZAR, J. (2008), p. 228. 6 Cleonice Berardinelli enfatiza a natureza menos moderna dos contos de Trancoso, observando sua latente oralidade: “[...] nosso autor, como bom contador de estórias, não se refere a leitores, mas a ouvintes. E tem razão: seu estilo de narrar está mais próximo do estilo oral, simples e desataviado, às vezes prolixo de mais, sobrecarregado de reiterações e enumerações que o tornam mais lento, mas também mais impressivo. A matéria de seus contos, foi buscá-las aos novelistas italianos ou ao folclore nacional. Na Península teve um bom modelo em Timoneda, cujas Patrañas foram publicadas em Espanha em 1566. Em Portugal, porém, cabe-lhe a prioridade no gênero.” [BERARDINELLI, C. (1985), p. 78.] 5 15 narrativas curtas: é o caso de José Saramago e o de Agustina Bessa-Luís (dois importantes escopos de nossas análises), sobretudo no início de suas carreiras, o que poderia sugerir que tomavam o conto como um ensaio para a produção de obras de maior fôlego e prestígio nos meios editoriais. O mesmo problema ocorre com poetas do calibre de Mário de Sá-Carneiro, David Mourão-Ferreira e Jorge de Sena, cujas produções contísticas — conquanto muitas vezes brilhantes — não chegam a compensar o peso da envergadura poética que possuem. A crítica elegerá, preferencialmente, o estudo dos romances e dos poemas em suas incursões acadêmicas, fato contudo não condizente com a qualidade dessas obras. A eleição dos contos como objeto desta tese implica, portanto, a tentativa de resgatar de uma ensaística mais ou menos periférica peças literárias merecedoras de mais leituras especializadas do que aquelas de que têm sido alvo. 0.4 O século XX e as cidades Seguindo a mesma tendência de privilegiar contextos menos explorados pela crítica, esta pesquisa sobre ficções irrealistas pretende concentrar seus esforços nas produções literárias do século XX. Reconhecidamente, a literatura fantástica — ou aquilo que a tradição aprendeu a identificar como fantástico, na qualidade mesma de um gênero — possui raízes no fim do século XVIII e pleno desenvolvimento e ápice nos oitocentos. De Introdução à literatura fantástica (clássico trabalho de Todorov) e de outros estudos que o precederam e o sucederam às recentes reflexões do italiano Remo Ceserani em O fantástico, quase todos os discursos críticos sobre o assunto voltam-se, ao menos prioritariamente, para o século XIX, período considerado mais abastado e frutífero na produção desse gênero. Tal escolha nos levará a ponderar as distinções entre o fantástico do século XIX e o do século XX, mantendo o claro intuito de priorizar a leitura crítica de uma produção moderna cujos limites temporais se situam numa vertente pós-kafkiana — já que ao menos dois autores (Todorov e Sartre) reconhecerão Franz Kafka como um marco fronteiriço entre estas duas variações do gênero. Ora, essa última consideração nos encaminha para uma delimitação final. Vale ressaltar que, desde a sua origem como gênero, o fantástico se manifesta em narrativas fundamentalmente urbanas. Horácio Costa bem observa a cidade como “uma das 16 maiores, mais pervasivas personagens da literatura moderna”7. Especificamente, todavia, com o fantástico, é fácil perceber como, ao contrário, por exemplo, dos textos eivados do maravilhoso, com sua ambientação em espaços distantes de tempos indefinidos, a literatura fantástica exibe com frequência tentativas de representação da urbe hodierna, onde o seu leitor, aliás, cotidianamente se encontra. Sendo assim, sua poética oferecerá, entre outros caminhos, uma oportunidade de analisar esse espaço urbano de modo crítico. Se a sociedade moderna sobre a qual o fantástico debruça o seu olhar indagador possui como palco principal das suas ações o espaço da cidade, onde afinal cada vez mais nos concentramos todos, a opção por analisar os contos fantásticos urbanos do século XX se apresenta como o recorte derradeiro que o material de leitura desta pesquisa reivindica como objeto de análise. Reiterando pois os critérios de seleção do corpus, podemos dizer que este será composto por narrativas curtas portuguesas, de enredo fantástico, que apresentem a cidade como ambientação, e que tenham sido produzidas no século XX, ou, em resumo, contos irrealistas urbanos novecentistas. 0.5 O corpus Para operacionalizar esta proposta, pensamos em trazer, em um primeiro momento, um texto literário tomado como síntese e que fosse capaz de abrir espaços para os apresentar a todos, um conto que nos servisse de guião, e de que ousássemos nos servir sem pejo, sem temer sequer o veio de cariz didático que tal estratégia poderia conter. Escolhido conscientemente fora do corpus selecionado, trata-se evidentemente de um conto do século XX que, sem se inserir no contexto mais estritamente português, faz parte da literatura lusófona. A opção por um escritor brasileiro, Murilo Rubião, e pelo conto intitulado “A lua”, publicado originalmente na década de 1950 (estrategicamente no meio de século em estudo), em detrimento de qualquer conto português que lhe fosse contemporâneo e reunisse características semelhantes, reside no fato de não desejarmos antecipar neste espaço inicial — de pretensões teóricas surgidas sempre a partir de uma leitura crítica — as apreciações que se realizarão posteriormente. O conto de Murilo Rubião será, nesse caso, um instrumento para teorizar em solo firme, sem que isso desabone, por sua instrumentalidade, a seriedade da leitura que dele se 7 COSTA, H. (1999), p. 128. 17 fará. Afinal, também será preciso notar que apenas no quesito “português” esse conto fica fora do recorte anteriormente indicado, o que nos pareceu conveniente para não sermos obrigados a eleger uma parte do corpus que se destacasse sobre as demais e que lhe pudesse conferir arbitrariamente uma espécie de protagonismo. Ademais, a relação intertextual que o conto muriliano pode estabelecer com a narrativa de Edgar Allan Poe “O homem das multidões” constituirá excelente pretexto para as discussões concernentes às diferenças entre os fantásticos oitocentista e novecentista a que nos propomos, o que também torna producente que adiemos a leitura de textos portugueses para as análises que se desenvolverão a partir do segundo capítulo desta tese. Somente a partir de então começarão a se manifestar os principais integrantes do corpo do nosso trabalho, já que, deste ponto em diante, versaremos efetivamente sobre contos produzidos por autores de Portugal. No capítulo intitulado “O homem na multidão vs. ...”, demonstraremos, através das narrativas “O Anjo” (1938) de Branquinho da Fonseca e “O José Rotativo (fragmento do meio)” (1929) de Mário Saa, formas de isolamento do homem urbano moderno e suas estratégias (ou a falta de tais estratégias) para lidar com tal condição — e referimo-nos especialmente àquele homem que, ainda resistente, não rende tributo às formas de organização social novecentistas. Ilustraremos, no capítulo “... vs. O homem da multidão”, por intermédio de “O jardim voador” (1991) de Isabel Cristina Pires, além de “O Solar dos Mágicos” (1987) de João de Melo e “A comemoração” (1960) de Jorge de Sena, exemplos de resultados do processo de manipulação que de um modo geral sofre a sociedade do século XX — e fazemos agora menção àqueles sujeitos que se entregaram aos modelos sociopolíticos impostos ao homem na contemporaneidade. Em seguida, no capítulo “O homem sem a multidão”, apresentaremos uma leitura para o conto “Trânsito” (1966), da obra de Urbano Tavares Rodrigues, com o intuito de examinar a falta de entendimento a respeito do meio citadino moderno, verificável nesse cidadão cujas opiniões foram / são condicionadas pelo meio, por estímulos que lhes surgem externamente. “Verde” (1960) de Ruben A. é um texto que flerta intimamente com a science fiction e que objetiva vislumbrar o futuro dessas sociedades nas quais os homens passaram a ser facilmente manipulados, desenho de um porvir em que se presume um Estado marcado por vigilância e controle e o apagamento das emoções humanas dos cidadãos, e que constituirá o veio central do capítulo “O futuro no presente”. Por fim, em “Kafkianas”, 18 uma narrativa curta de Saramago, “Embargo” (1978), ao evidenciar esse último aspecto — a desumanização dos homens — fabulando a metamorfose dos cidadãos em objetos, num processo de reificação, revelar-se-á uma das possíveis manifestações da influência da estética promovida pelo fazer poético do escritor tcheco Franz Kafka sobre o pensamento literário ocidental e, consequentemente, sobre a literatura portuguesa; do mesmo modo, “A Pousada” (1954)8 de Agustina Bessa-Luís, enquanto denuncia o aprisionamento do homem à burocracia e a sua falta de acesso às esferas de poder que lhe controlam, comprovará esse peso exercido pela narrativa kafkiana em seus sucessores. Desse modo, compomos uma pesquisa que promove, em sua execução, a interpretação de nove contos portugueses de autores distintos (além de outros que citaremos mais brevemente, alguns mesmo mais en passant), em que todas as peças formadoras do corpus de análise foram, muito a propósito, pouco (ou mesmo nada) privilegiadas pela crítica até o momento, o que ratifica o irrevogável compromisso deste ensaio com os terrenos não suficientemente explorados da literatura portuguesa novecentista. Seja pela tendência da crítica a tomar com rigor a questão da citada compartimentação genológica, o que impede que se identifique um corpus mais volumoso de narrativas fantásticas na realística produção literária de Portugal que justificasse o trabalho de pesquisa, seja pelo possivelmente maior estatuto artístico que romances ou poesias sustentam sobre o conto, o fato é que se relegou a uma espécie de quase esquecimento esse relativamente pouco material contístico de estética fantástica, apesar de sua indiscutível qualidade que no entanto soçobrou diante de obras de maior vulto. Em função da difícil acessibilidade identificável em boa parte desta quase dezena de narrativas, reproduzimo-las todas na íntegra nos capítulos em que são analisadas, com o intuito de fornecer ao leitor o espólio artístico do último século necessário ao acompanhamento de nossas apreciações. A partir da interpretação de tais textos, que chegaram ao cenário literário português entre as décadas de 1920 e 1990, esperamos realizar uma trajetória que, por amostragem, possa trazer à luz obras que 8 Os anos indicados entre parênteses referem-se ao de publicação do livro em que as narrativas surgem e não necessariamente à sua data de produção, como por vezes é perceptível em função de alguma publicação isolada anterior ou indicação presente no fim do próprio texto, conforme costume de alguns autores. Tais questões esclarecem-se quando necessárias nas próprias análises a serem realizadas. 19 representem o espaço urbano novecentista por meio de recursos discursivos irrealistas, ligados ao gênero fantástico ou aos seus subgêneros possíveis, experiência que se tornou realmente possível apenas em razão de um contexto político e cultural emergido de modo ativo a partir do amanhecer do século XX. Não obstante, será necessário que se releve neste elenco aqui recortado, de nove peças literárias, a ausência de um vastíssimo material dispensado (e efetivamente encontrado, cabe ressaltar) em prol de uma opção de leitura menos ilustrativa e mais textual a ser concretamente implementada, tomando por base a busca pelas representações das cidades promovidas pelos contos irrealistas eleitos. Será este o nosso modo de insinuar que outros caminhos, possivelmente de outro modo produtivos, poderiam vir a ser trilhados neste espaço do tratamento do fantástico na literatura portuguesa e de demonstrar que ele não é tão estreito quanto se imagina, dependendo dos critérios que a crítica preferir usar para contemplá-lo. Mas não pareceu despiciendo ir apontando para a direção que a economia desta tese se propunha, até por ser esta uma pesquisa que não pretende fugir da estrutura que a academia impõe: probidade na eleição teórica e clareza do objeto de estudo. E é, por agora, dentro deste arcabouço fundamentalmente acadêmico que este trabalho se insere. 20 I. A MANIFESTAÇÃO DO REAL EM CIDADES IRREAIS A lua “Seja aquela uma noite solitária, e não digna de louvor.” (Jó, III, 7) Nem luz, nem luar. O céu e as ruas permaneciam escuros, prejudicando, de certo modo, os meus desígnios. Sólida, porém, era a minha paciência e eu nada fazia senão vigiar os passos de Cris. Todas as noites, após o jantar, esperava-o encostado ao muro da sua residência, despreocupado em esconder-me ou tomar qualquer precaução para fugir aos seus olhos, pois nunca se inquietava com o que poderia estar se passando em torno dele. A profunda escuridão que nos cercava e a rapidez com que, ao sair da casa, ganhava o passeio jamais me permitiram ver-lhe a fisionomia. Resoluto, avançava pela calçada, como se tivesse um lugar certo para ir. Pouco a pouco, os seus movimentos tornavam-se lentos e indecisos, desmentindo-lhe a determinação anterior. Acompanhava-o com dificuldade. Sombras maliciosas e traiçoeiras vinham a meu encontro, forçando-me a enervantes recuos. O invisível andava pelas minhas mãos, enquanto Cris, sereno e desembaraçado, locomovia-se facilmente. Não parasse ele repetidas vezes, impossível seria a minha tarefa. Quando vislumbrava seu vulto, depois de tê-lo perdido por momentos, encontravao agachado, enchendo os bolsos internos com coisas impossíveis de serem distinguidas de longe. Bem monótono era segui-lo sempre pelos mesmos caminhos. Principalmente por não o ver entrar em algum edifício, conversar com amigos ou mulheres. Nem ao menos cumprimentava um conhecido. Na volta, de madrugada, Cris ia retirando de dentro do paletó os objetos que colhera na ida e, um a um, jogava-os fora. Tinha a impressão de que os examinava com ternura antes de livrar-se deles. *** Alguns meses decorridos, os seus passeios obedeciam ainda a uma regularidade constante. Sim, invariável era o trajeto seguido por Cris, não obstante a aparente falta de rumo com que caminhava. Partindo da sua casa, descia dez quarteirões em frente, virando na segunda avenida do percurso. Dali andava pequeno trecho, enveredando imediatamente por uma rua tortuosa e estreita. Quinze minutos depois atingia a zona suburbana da cidade, onde os prédios eram raros e sujos. Somente estacava ao deparar uma casa de armarinho, em cuja vitrina, forrada de papel crepom, encontrava-se permanentemente exposta uma pobre boneca. Tinha os olhos azuis, um sorriso de massa. *** Uma noite — já me acostumara ao negro da noite — constatei, ligeiramente surpreendido, que os seus passos não nos conduziriam pelo itinerário da véspera. (Havia algo que ainda não amadurecera o suficiente para sofrer tão súbita ruptura.) Nesse dia, o andar firme, seguiu em linha reta, evitando as ruas transversais, pelas quais passava sem se deter. Atravessou o centro urbano, deixou para trás a avenida em que se localizava o comércio atacadista. Apenas se demorou uma vez — assim mesmo momentaneamente — defronte a um cinema, no qual meninos de outros tempos assistiam filmes em série. Fez menção de comprar entrada, o que deveras me alarmou. Contudo, sua indecisão foi breve e prosseguiu a caminhada. Enfiou-se pela rua do meretrício, parando a espaços, diante dos portões, espiando pelas janelas, quase todas muito próximas do solo. 21 Em frente a uma casa baixa, a única da cidade que aparecia iluminada, estacionou hesitante. Tive a intuição de que aquele seria o instante preciso, pois se Cris retrocedesse, não lograria outra oportunidade. Corri para seu lado e, sacando do punhal, mergulhei-o nas suas costas. Sem um gemido e o mais leve estertor, caiu no chão. Do seu corpo magro saiu a lua. Uma meretriz que passava, talvez movida por impensado gesto, agarrou-a nas mãos, enquanto uma garoa de prata cobria as roupas do morto. A mulher, vendo o que sustinha entre os dedos, se desfez num pranto convulsivo. Abandonando a lua, que foi varando o espaço, ela escondeu a face no meu ombro. Afastei-a de mim, e, abaixando-me, contemplei o rosto de Cris. Um rosto infantil, os 9 olhos azuis. O sorriso de massa. O conto “A lua”, do escritor mineiro Murilo Rubião, é exposto aqui em sua última versão10. Nele encontramos uma tentativa de representação literária do espaço urbano, ambiente onde se desenvolve o enredo do conto. É fácil notar que os traços gerais do cenário estabelecem certo vínculo com os da maioria das grandes cidades ocidentais contemporâneas, cujas origens remontam aos processos migratórios e centralizadores de população advindos das Revoluções Industriais (que provocaram a evasão de mão-de-obra do campo para uma convivência concentrada na nova realidade das cidades) e cujos habitantes seriam as crias bastardas de uma Revolução Francesa que teria fracassado na consolidação de seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, os quais sucumbiram sob a prática de um capitalismo que no decorrer dos séculos ganharia o status de “selvagem”. No texto de Rubião, as largas diferenças sociais existentes na urbe moderna, uma das consequências da incapacidade do sistema liberal (nem sempre diagnosticada pela massa) para equacionar os problemas destas sociedades citadinas, marcam (ou estão marcadas por) sua própria arquitetura: calçadas, edifícios, prédios sujos; redes de ruas estreitas de áreas menos urbanizadas em cruzamentos com avenidas; zonas suburbanas com pequenas casas de armarinhos em contraste com centros urbanos e suas lojas de comércio atacadista; empreendimentos de lazer diversificados, como cinema e meretrício. Davi Arrigucci Jr. assinala, nesse sentido, que “a cidade muriliana é o palco cinzento, decaído e arruinado que sobrou das ilusões romanescas”11. Essa cidade do século XX surge, por conseguinte, como um cenário de crise, colapso de uma utopia cuja dimensão carece de ser problematizada. 9 RUBIÃO, M. (1999), p. 133-5. É sabido que Murilo Rubião reescrevia incansavelmente seus contos, mesmo após publicados, o que gerou várias versões conhecidas para muitas criações suas. “A lua” mereceu três variações: inédito em 1953, foi reeditada em 1965 e em 1978. 11 ARRIGUCCI JR., D. (1999), p. 310. 10 22 O que importa notar, desde já, é que esse locus urbano ficcional apenas simularia afinidade mimética com uma cidade concreta, tão somente parecendo representar fidedignamente uma realidade sensível. Nele, vemos surgir dados insólitos, o que lega ao conto a sua pertença a este gênero literário marcado especialmente pela intromissão do irreal no âmbito do que vulgarmente alcunharíamos de mundo real: em outras palavras, o fantástico — nomenclatura usual, mas cercada de controvérsias. A opção por esse modo narrativo para conceber artisticamente o meio urbano moderno configura objeto fulcral de nossas ponderações. 1.1 O fantástico como problematização do mundo real ...O medo e o horror são consequências incontornáveis do fantástico, de acordo com a concepção levantada para o gênero por Louis Vax, em 1960... ...A aparição sobrenatural resulta em um elemento essencial para o estabelecimento do fantástico, conforme defendeu Roger Caillois, em 1965... ...O fantástico revela ser um gênero sustentado a partir da hesitação indissolúvel entre explicações naturais ou extraordinárias para fatos insólitos, segundo cunhou, em 1970, Tzvetan Todorov... ...Os textos fantásticos podem e mesmo devem ser interpretados em função de sua dimensão alegórica, como admitiu Ana María Barrenechea, em 1972, contradizendo assim Todorov... ...No mesmo ano, Irène Bessière afirma que o fantástico seria um modo e não um gênero literário, igualmente contestando, em outro viés, o autor de Introdução à literatura fantástica... A leitura dos diversos discursos científicos que já versaram sobre o fantástico mostra o quanto as ideias sobre ele se multiplicam, se revisitam, se reconstroem, até mesmo se contestam. Um predicado comum, no entanto, resiste: é sempre e indubitavelmente prerrogativa do gênero a instalação do irreal em um cenário que se identifica com um espaço mimético, estabelecendo, desta forma, uma invasão desse cenário, uma fratura nesse espaço, um rompimento com essa realidade mimética. Poderíamos, a título de exemplificação, levantar, por amostragem, definições de estudiosos distintos que demonstrassem exatamente este ponto de interseção — o que, entretanto, pareceu-nos despiciendo, já que o próprio Todorov o fizera, quando esclarece: 23 [...] as definições do fantástico aparecidas em recentes trabalhos de autores franceses não são idênticas à nossa, tampouco a contradizem. [...] Em Le conte fantastique en France, Castex afirma que “o fantástico [...] se caracteriza [...] por uma intrusão brutal do mistério no marco da vida real”. Louis Vax, em Arte e a literatura fantástica, diz que “o relato fantástico [...] nos apresenta em geral a homens que, como nós, habitam o mundo real mas que de repente encontram-se ante o inexplicável”. Roger Caillois, em Au couer du fantastique, afirma que “todo o fantástico é uma ruptura da ordem reconhecida, uma irrupção do inadmissível no seio da inalterável legalidade cotidiana”. Como vemos, estas três definições são, intencionalmente ou não, paráfrases recíprocas: em todas aparece o “mistério”, o “inexplicável” o “inadmissível”, que se introduz na “vida real”, ou no “mundo real”, ou na “inalterável legalidade cotidiana”.12 A fim de evidenciar o quanto uma explanação para demonstrar tais interseções críticas seria uma inútil exaustão, citemos ainda que também Filipe Furtado, crítico português que se debruçou sobre o tema e publicou pesquisa a seu respeito em 1980, realiza constatação muito semelhante à de Todorov: Apesar das diferenças existentes entre quase todas as abordagens antes referidas [quanto ao fantástico] e da diversidade das respectivas conclusões, verifica-se que elas concordam por completo num ponto, pelo menos: qualquer narrativa fantástica encena invariavelmente fenómenos ou seres inexplicáveis e, na aparência, sobrenaturais. Por outro lado, tais manifestações não irrompem de forma arbitrária num mundo já de si completamente transfigurado. Ao contrário, surgem a dado momento no contexto de uma acção e de um enquadramento espacial até então supostamente normais.13 Essa agressão efetuada pelo irreal no mundo instituído como verdadeiro configura-se assim lugar-comum dentre as definições propostas pela crítica como traço distintivo do gênero. Notemos, porém, que Castex, Vax, Caillois e mesmo Furtado, assim como outros representantes do ensaísmo sobre o tema do fantástico, concentram suas análises em obras do século XIX, e o próprio Todorov consideraria que o fantástico genuíno “teve uma vida relativamente breve. Ele apareceu de maneira sistemática com o Cazotte, para fins do século XVIII; um século depois, os contos de Maupassant 12 13 TODOROV, T. (2004), p. 32. FURTADO, F. (1980), p. 19. 24 representam os últimos exemplos esteticamente satisfatórios do gênero.”14 Mas o que mais seriam os textos irrealistas produzidos nos últimos cem anos senão o desenvolvimento dessa estética de obras fantásticas que amplamente circularam nos oitocentos? Uma resposta possível para essa questão não contaria com o auxílio da mesma multiplicidade de vozes a partir das quais se discute a produção fantástica do século XIX, tanto que o volume de escritos que compõem a bibliografia teórica a respeito de um fantástico especificamente novecentista se mostrará bem mais modesto. Deles, elegeremos aqueles que atenderão mais diretamente aos nossos fins. Dentre estes autores, destaquemos inicialmente as reflexões de Jean-Paul Sartre. Na década de 1940, em artigo sobre o romance Aminadab de Maurice Blanchot, Sartre percebe no que chama de fantástico contemporâneo uma narrativa onde, diante do insólito ou do irreal ou do ilógico, personagem algum “jamais se espanta: [...] como se a sucessão dos acontecimentos aos quais assiste lhe parecesse perfeitamente natural”15. O mecanismo descrito, aliás, contraria previamente a condição que, anos mais tarde, Todorov estabeleceria para a existência do fantástico oitocentista: justamente o assombro, a incredulidade e, por fim, a hesitação. Para o estudioso francês, no século XX, o fantástico ou “não existe ou se estende a todo o universo” 16, sem espaço para moderação entre tais condições. Ao contrário, no entanto, do que ocorre nas narrativas maravilhosas, esse universo fantástico é ao mesmo tempo o próprio universo real. Ora, tratar-se-ia então da manifestação de algo que irrompe num mundo já de si transfigurado por uma ocorrência fantástica cujo teor, por isso mesmo, estará normalmente presente desde as primeiras linhas do relato, ao contrário do modelo clássico da poética fantástica, que isola o episódio insólito como um evento concentrado (espacialmente e/ou temporalmente) de modo a evidenciar o seu contraste em relação a uma ambientação empírica, de traços e funcionamento realistas. Cremos que tais diferenças conceituais entre as descrições de Sartre e as de Todorov residem, sobretudo, no fato de o corpus de análise de cada um dos teóricos centrar-se no século XX ou no XIX, respectivamente: não será casual que ambos elegerão a obra de Franz Kafka como espécie de fronteira na linha do tempo em que se marcam os eventos da história da literatura fantástica. 14 TODOROV, T. (2004), p. 174-5. SARTRE, J. P. (2005), 144. 16 SARTRE, J. P. (2005), 136. 15 25 Se Sartre, nesse sentido, vê em Kafka, uma figura de precursor e Todorov percebe no mesmo autor o limite de suas análises — “A narrativa kafkiana abandona aquilo que tínhamos designado como a segunda condição do fantástico: a hesitação representada no interior do texto, e que caracteriza especialmente os exemplos do século XIX.”17 — o escritor tcheco das duas primeiras décadas do século XX exerce assim a nítida função de divisor de águas na história deste gênero literário. Sartre mesmo reconhecerá: “Kafka era inimitável: permanecia no horizonte como uma eterna tentação.”18 Faz-nos crer então que a literatura fantástica produzida após Kafka exibirá um sem número de títulos que, de alguma maneira, serão devedores de uma estética kafkiana ou mesmo de seus temas, seja por tomar a sua obra como modelo (eterna tentação a que não se escapa, apesar da sua apregoada inimitabilidade), seja pela tentativa de superá-la, seja até por simplesmente ter sofrido as mesmas influências que o autor tcheco de modo a chegar a resultados semelhantes aos seus. Reconhecemos que poderia haver certa fragilidade nessa defesa, já que o que se classifica hoje como kafkiano é reconhecível mesmo em obras anteriores às do próprio escritor tcheco, como em Gogol, por exemplo (citado, aliás, por Todorov). No entanto, a universalização deste conceito a partir dos escritos de Kafka atinge um peso cultural inegável que o credencia como influência nas décadas que se lhe seguiram, o que indubitavelmente não será um espólio de seus antecessores. Por haver essa tentação kafkiana que a muitos seduz, não deve ser acidental que igualmente discorde de algumas concepções de Todorov outra autora que reivindica o seu lugar na crítica teórica sobre as narrativas fantásticas novecentistas. A argentina Ana María Barrenechea, que em 1972 rediscute as propostas todorovianas em razão mesmo da exclusão do fantástico contemporâneo do corpus de análise de Introdução à literatura fantástica, recusa a dúvida como traço fundamental à construção de textos desta natureza precisamente por descobrir em muitas narrativas do século XX (a exemplo de Sartre) a falta de surpresa diante do sobrenatural, ausência que, a fim de não descaracterizar tais narrativas como fantásticas, conforme quereria Todorov, se vê substituída por um conceito de problematização. Barrenechea vislumbra nessa opção um modelo capaz de ampliar o registro de obras passíveis de classificação no gênero fantástico: 17 18 TODOROV, T. (2004), p. 181. SARTRE, J. P. (2005), 149. 26 Asi la literatura fantástica quedaría definida como la que presenta en forma de problema hechos a-normales, a-naturales o irreales. Pertenecen a ella las obras que ponen el centro de interés en la violación del orden terreno, natural o lógico, y por lo tanto en la confrontación de uno y outro orden dentro del texto, en forma explícita o implícita.19 A ensaísta defende o conceito de que o fantástico possuiria a função de problematizar o real, formulação que será por nós largamente explorada mais adiante, em razão de ser muito cara para a formação de nossa proposta teórico-argumentativa e das futuras leituras textuais que empreenderemos. Barrenechea acrescenta ainda que, em certas obras, notadamente as da literatura latino-americana do século XX, é possível reconhecer a constituição da realidade daquilo que se crê irreal e a denúncia da irrealidade daquilo que acreditamos real — o que, de certa maneira, dialoga com a concepção de Sartre, evidenciando, nesse fantástico dos novecentos, não uma simples ruptura, mas uma contaminação do real pelo irreal, apontando para um amálgama entre estes dois mundos. O também argentino Jaime Alazraki desenvolve conceitos ainda mais similares aos da visão sartriana ao cunhar, por sua vez, a nomenclatura neofantástico para analisar as obras literárias de Jorge Luís Borges e Julio Cortázar, dando igualmente conta de um mundo que, já tomado pelo fantástico, naturaliza o irreal: En contraste con la narración fantástica del siglo XIX en que el texto se mueve de lo familiar y natural hacia lo no familiar y sobrenatural, como un viaje a través de un territorio conocido que gradualmente conduce a un territorio desconocido y espantoso, el escritor de lo neofantástico otorga igual validez y verosimilitud a los dos órdenes, y sin ninguna dificultad se mueve con igual libertad y sosiego en ambos.20 Para Alazraki, as narrativas neofantásticas possuem diferenças em relação às suas predecessoras, originadas no século anterior, notadamente no que diz respeito a três características: (1) visão (“si lo fantástico asume la solidez del mundo real — aunque para ‘poder mejor devastarlo’, como decía Callois —, lo neofantástico asume el mundo 19 20 BARRENECHEA, A. M. (1972), p. 393. ALAZRAKI, J. (1994), p. 69. 27 real como una máscara, como un tapujo que oculta una segunda realidad que es el verdadero destinatario de la narración fantástica”21), (2) intenção (“el empeño del relato fantástico dirigido a provocar un miedo en el lector, un terror durante el cual trastabillan sus supuestos lógicos, no se da en el cuento neofantástico”22) e (3) modus operandi (“Desde las primeras frases del relato, el cuento neofantástico nos introduce, a boca de jarro, al elemento fantástico: sin progresión gradual, sin utilería, sin pathos.”23). Trataremos, primeiramente, das questões relativas à “intenção” e ao “modus operandi” dos textos fantásticos do século XX, antes de retomar mais detidamente a “visão” que Alazraki identificou na produção do gênero — característica que, na verdade, nos parece a mais producente para nossas pretensões analíticas futuras, como a que destacamos anteriormente de Barrenechea, também estrategicamente adiada. Para tanto, retornamos agora à leitura da narrativa de Murilo Rubião que nos servirá, como já referido, de tubo de ensaio para reflexões sobre os contos portugueses do século XX, objeto central desta pesquisa. Ora, o conto “A lua” não provoca medo no leitor como no fantástico da tradição. Ademais, não obstante o fato de o texto se desenvolver através de um discurso marcado pela objetividade — com referências precisas aos passos do personagem, aos detalhes de suas ações, aos espaços urbanos que atravessa, ao tempo em que suas caminhadas se realizam — verifica-se ali um potencial rompimento com uma estrutura narrativa realística, mas não necessariamente aquela cisão com o real constatável nas obras fantásticas do século XIX. Sem dúvida, não sói à narrativa introduzir o elemento insólito isoladamente em um mundo marcado por suas relações miméticas com as percepções presumíveis da realidade24. Na verdade, desde o princípio da leitura, instala-se o estranhamento naquilo que seria o universo da realidade, causado pelos meses consecutivos de noites sem iluminação natural ou artificial na cidade deserta, quando então o céu e as ruas permaneciam escuros — com uma forma verbal no 21 ALAZRAKI, J. (2001), p. 276. ALAZRAKI, J. (2001), p. 277. 23 ALAZRAKI, J. (2001), p. 279. 24 É preciso ressaltar que não consideramos esse um traço diferencial principal, já que ainda se manifestará em textos fantásticos do século XX que, todavia, rompem com outras propostas da poética oitocentista que se mostram mais relevantes, já que possuem maior potencial de valor distintivo. Dos contos que analisaremos mais tarde, é nítido que “A comemoração”, “O Solar dos Mágicos” e “Embargo”, por exemplo, descrevem fenômenos fantásticos que irrompem isoladamente, a despeito de uma narrativa, em seu restante, realista; no entanto, além de não causarem medo, apresentam, com rigor, a visão proposta por Alazkari, de que trataremos logo à frente. 22 28 pretérito imperfeito do indicativo que acrescenta a marca de continuidade ao valor semântico do verbo eleito: “permanecer”, sugerindo que a situação é anterior ao momento em que se abre a elocução do conto. Além disso, já havia o vão itinerário que Cris repetia inexplicavelmente, mas de fato não espantosamente para o narrador que o persegue, todas as noites; já havia a dúvida diária do personagem ao decidir o caminho a seguir, embora as suas deliberações não variassem nunca; já havia os objetos que ele sem aparente propósito recolhia para absurdamente lançá-los fora ao fim de cada passeio — ou seja, já haviam sido impostos ao leitor suficientes obstáculos que o impediriam de tocar com maior conforto a lógica dos acontecimentos narrados, de avistar o centro do labirinto da narrativa, metáfora fundadora, que representa aquele elemento inexplicável que sonega o sentido final da obra. Apesar de o genuíno impacto do conto situar-se ao fim, com a lua emergindo do corpo morto de Cris, a representar esse centro inalcançável, é incontestável que o choque que tal evento produz fica atenuado por uma ambientação que, já completamente tomada pelo insólito, predispõe o leitor a aceitá-lo, na plausibilidade do implausível. Fosse essa uma obra oitocentista — ousaremos aqui trabalhar no nível de um hipotético texto — e certamente ela se desenvolveria de maneira outra. Haveria, em primeira instância, a expectativa de provocar o medo a que se referiram Caillois e Vax. Talvez, nesse caso, Cris viesse a ter um aspecto assustador, como o do Quasimodo parisiense, por exemplo; quiçá viesse o leitor a se identificar mais fortemente com o personagem que o acossa e este evidenciasse o seu pânico; a figura monstruosa e o seu comportamento neurótico problematizariam então questões que possivelmente não encontrassem outro viés de discussão antes do advento dos estudos freudianos: é Todorov mesmo quem defende a ideia (deveras contestável em sua aposta de adjetivação radical) de que, no século XX, “a Psicanálise substituiu (e por isso mesmo tornou inútil) a literatura fantástica”25. Ademais, o espaço onde ocorre o principal fato insólito do texto, ao invés de antecipadamente estar contaminado pela marca do estranhamento conforme podemos observar em “A lua”, seria possivelmente descrito pela narrativa como o de uma cidade cuja rotina transcorresse normalmente, onde existisse possibilidade de iluminação e algum trânsito de veículos e pessoas, que se moveriam segundo a lógica cartesiana que baliza o pensamento moderno do mundo 25 TODOROV, T. (2004), p. 169. 29 ocidental — em suma, um espaço urbano que compusesse uma mais evidente relação mimética com o chamado mundo real, de modo a intensificar o contraste estabelecido com o evento insólito que, por sua vez, surgiria isoladamente, em um momento mais avançado do conto. Mas não será essa a opção narrativa da criação do escritor mineiro. E, apesar desse aspecto estranho, insólito ou irreal que distingue a totalidade do espaço citadino de “A lua” (ou, antes, mesmo por isso), não há, em meio a essa atmosfera do conto, a todoroviana hesitação de ordem ontológica por parte dos personagens; também não há espanto, lacuna análoga à que Sartre observara ocorrer nas obras fantásticas do século XX a que dedicara o seu artigo, ou à que outro existencialista, Albert Camus, percebera em leitura de Kafka, afirmando que “nunca se espantará bastante com essa ausência de espanto”26, em reprodução do que já dissera Günter Anders: “nada é mais espantoso do que a fleuma e a inocência com que Kafka entra nas estórias mais incríveis”27; há, por fim, um efeito que, em Murilo Rubião, Davi Arrigucci Jr. chamou de “o sequestro da surpresa”28. Por conseguinte, esse fantástico do século XX, de que “A lua” é somente um exemplo que nos vem a propósito por motivos antes evidenciados, comporta-se distintamente ao fantástico do século XIX. E, do mesmo modo, suas funções e as razões que fomentam a sua produção são também diferentes, como bem observou Alazraki. Retomemos então a visão peculiar para o fantástico novecentista que o crítico argentino encontrou, aquela que assume o mundo real como uma máscara que oculta uma segunda realidade. Ora, é nesse sentido que a ideia de Barrenechea nos é igualmente valiosa: referimo-nos à percepção de que, no século XX, o fantástico apresenta a função de problematizar o real, para então, como reconhece Alazraki, mais bem revelá-lo, desmascarando-o por fim. Pode-se acrescentar que, nessa mesma esteira argumentativa, Italo Calvino, em 1970, teceu as seguintes considerações ao jornal francês Le Monde, em resposta à pesquisa quanto à recepção crítica da mencionada obra teórica de Todorov sobre o assunto: 26 CAMUS, A. (19--?), p. 120. ANDERS, G. (1993), p. 19. 28 ARRIGUCCI JR., D. (1999), p. 304. 27 30 Le fantastique du XIXe siècle, produit raffiné de l’esprit romantique, est entre tout de suite dans la littérature populaire (Poe écrivait pour les journaux). Au XXe siècle, c’est un emploi intellectual (et non plus émotionnel) du fantastique qui s’impose. Le fantastique y apparaît comme jeu, ironie, clin d’œil, mais aussi comme méditation sur les cauchemars ou les désirs cachés de l’homme contemporain.29 Pois Sartre, percebendo na contemporaneidade precisamente a existência de um fantástico humano, já afirmara: “Para o homem contemporâneo, o fantástico tornou-se apenas uma maneira entre cem de fazer refletir sua própria imagem.”30 Mais enfaticamente, diríamos que esse fantástico reflete a respeito da própria imagem do homem, como, é preciso admitir, fazia desde a sua gênese; questões relativas a aspectos psicanalíticos, todavia, uma vez que teriam encontrado, segundo Todorov, caminhos de resolução em um mundo pós-Freud, abrem lugar para tópicos que configuram uma nova camada de desconhecimento para e sobre o ser humano, o que leva Sartre a entender que já não há senão um único objeto fantástico: o homem: “Não o homem das religiões e do espiritualismo, engajado no mundo apenas pela metade, mas o homem-dado, o homem-natureza, o homem-sociedade.”31 — ele assevera. Sobre tudo isso, parece valer a pena destacar as palavras reproduzidas por Modesto Carone, famoso tradutor de Kafka no Brasil, sobre as apreciações do escritor tcheco a respeito da arte de Picasso, diante da afirmação de que o pintor espanhol distorcia deliberadamente os seres e as coisas: Kafka respondeu que Picasso não pensava desse modo: “Ele apenas registra as deformidades que ainda não penetraram em nossa consciência.” Com uma pontaria de mestre, acrescentou que “a arte é um espelho que adianta, como um relógio”, sugerindo que Picasso refletia algo que um dia se tornaria lugar-comum da percepção — “não as formas, mas as nossas deformidades”.32 29 CALVINO, I (1993), p. 56. [“O fantástico do século XIX, produto refinado do espírito romântico, entrou imediatamente na literatura popular (Poe escrevia para os jornais). No século XX, trata-se antes de uma utilização intelectual (e não mais emocional) do fantástico que se impõe. O fantástico aparece então como jogo, ironia, piscadela de olho, mas também como meditação sobre os pesadelos e sobre os desejos secretos do homem contemporâneo.” (Tradução nossa)] 30 SARTRE, J. P. (2005), p. 139. 31 SARTRE, J. P. (2005), p. 138. 32 CARONE, M. (2009), p. 37. 31 Ora, a verdade é que poética kafkiana era semelhante a esse conceito com o qual o autor de O processo demonstra se identificar ao defender a arte de Picasso tão veementemente. Anders observa que “Kafka deslouca a aparência aparentemente normal do nosso mundo louco, para tornar visível sua loucura”33, o que dialoga profundamente com o que estamos a discutir até aqui — visibilizar a loucura do mundo é desmascarar a sua segunda realidade. E completa ainda o ensaísta alemão de meados do século XX: Confundir [...] graus de realidade é um dos efeitos didáticos intencionais de Kafka. Uma vez que, como crítico de seu tempo, considera puramente ideológicos numerosos fenômenos reputados como evidentemente reais, mas julga extremamente reais outros cuja realidade é encoberta ou borrada, procura abalar a firme armação do que vale como real ou irreal. Tal ‘revisão’ exige uma espécie de revisio, isto é, um método novo de ver, o qual aperfeiçoa em sua técnica de representação potenciada.34 Ouro kafkiano, Erich Heller, ainda completará mais tarde que a mente do autor, ciente de que literatura e realidade parecem coisas incompatíveis, “permanece irremediavelmente insegura sobre se a verdade está na literatura [...] ou se está no ‘real’”35. E, por fim, Luiz Costa Lima, ao ler o romance O processo como uma narrativa que põe em xeque a existência e o funcionamento do Estado de direito, afirma: “Eis pois uma obra ficcional que, sem se tomar por verdade, pois não afirma nenhuma, questiona as ‘verdades’ como ficções.”36 Análises mais alentadas sobre a poética de Kafka reservaremos para o capítulo VI deste ensaio. As considerações que aqui por agora inevitavelmente eclodiram possuem a pura intenção de ratificar o fantástico novecentista (seja o que Kafka sem dúvida inaugura, seja o que se manifesta na arte pictórica de Picasso ou mesmo na dos surrealistas, que aliás reivindicavam o escritor tcheco com um dos seus, seja o que mais tarde Alazkari identificará nas obras de Borges e Cortázar como neofantástico) representa uma larga porta de entrada à discussão da condição de existência do homem 33 ANDERS, G. (1993), p. 16. ANDERS, G. (1993), p. 23. 35 HELLER, E. (1976), p. 65. 36 LIMA, L. C. (1993), p. 163. 34 32 moderno, burocratizado, maquinizado, cotidiano, fútil e tributável, como o via Fernando Pessoa, o homem funcionário público com livro de ponto expediente protocolo e manifestações de apreço ao sr. diretor, como na imagem construída por Manuel Bandeira para a poesia brasileira obediente a princípios importados da tradição europeia. E, mais do que isso, o fantástico configura, no século XX, uma pertinente opção para discutir ainda o ambiente construído para abrigar esse reificado homem moderno: precisamente a cidade grande, a metrópole. A sedução pelo enigma que o texto insólito empreende será uma forma de atrair o leitor a voltar o seu olhar para questões que o seu cotidiano absorveu, bloqueando a atenção sobre elas, as quais talvez nem sempre encontrem no texto realístico um instrumento capaz de provocar com intensidade a meditação sobre si. A literatura fantástica do último século será, então, um pré-texto; e o fundamental a seu respeito estará, via de regra, em sua segunda leitura — aquela que problematiza o real, aquela que desmascara uma segunda realidade, em suma, aquela que denuncia a realidade do que se crê irreal e a irrealidade do que acreditamos real. Camões, poeta fora do tempo e para além do tempo, já previra, aliás, em versos: Cousas há i que passam sem ser cridas e cousas cridas há sem ser passadas. No conto “A lua”, uma das discussões levantadas em uma segunda possível leitura relaciona-se, justamente, com as mudanças de paradigmas ocorridas na passagem de um século para o outro, as quais fomentam esse novo fantástico estudado por Sartre, Barrenechea e Alazraki. Vislumbramos no texto de Rubião uma discussão a respeito da crise do homem moderno, da sua inaptidão de socializar-se, do seu não lugar e da sua impossibilidade de compreensão do espaço urbano hodierno. 1.2 O flâneur e o homem das multidões Em virtude da comparação que inicialmente estabelecemos entre as formas de produção dos fantásticos oitocentista e novecentista, parece vir a propósito a alternativa de leitura do conto de Murilo Rubião em função de uma aproximação com uma narrativa do século XIX que com ele estabeleça semelhanças de enredo: mais precisamente, referimo-nos ao conto “O homem das multidões”, do americano Edgar Allan Poe, um dos grandes representantes da literatura fantástica. Vale ressaltar que essa narrativa não se traduz em um evidente representante do fantástico, tocando-o quiçá pelas bordas, o que não impede que esta sua leitura seja aqui providencial, já que 33 o elegemos por motivos outros, de ordem mais semântica do que sintática. Queremos, com isso, dizer que a escolha se concretizou fundamentalmente em razão da relação intertextual que pode ser levantada entre essas duas obras: a de Poe e a de Rubião. Assim, vejamos: no texto de Poe, um narrador-personagem (a exemplo do de Rubião), convalescente em Londres, ao assistir da janela à multidão em uma das principais ruas da capital inglesa em um fim de tarde, detém seu olhar em um velho decrépito, que por elas perambula em meio às pessoas. A assustadora expressão da figura caminhante (“Retszch, se a houvesse contemplado, tê-la-ia preferido, especialmente, para suas encarnações pictóricas do diabo”37) absorve a atenção do narrador e ele passa a perseguir o velho por toda aquela noite pelas ruas da cidade, do seu centro até “o mais asqueroso quarteirão de Londres, onde todas as coisas apresentavam as piores marcas da mais deplorável miséria e do mais desenfreado crime”38 (um percurso semelhante ao momento final de “A lua”). Nos dois contos, encalçam-se personagens enigmáticos pela noite. Mas o homem das multidões de Poe opõe-se a outra figura oitocentista: o flâneur — da qual Cris mais bem se aproximaria caso, segundo veremos, lhe fosse transmitido esse direito, caso lhe fosse dado esse espaço, caso lhe fossem fornecidas condições que lhe permitissem desempenhar tal função. O flâneur é um personagem nascido na primeira metade do século XIX a partir do advento das grandes cidades e, ao contrário do burguês recém-elevado na hierarquia social que se ocupa dos negócios que sustentam a nova máquina que rege a lógica urbana pós-Revoluções, descompromissa-se dos vetores do progresso capitalista. É ele a figura eleita para estudo por Walter Benjamin, que se debruçou sobre o tema com lucidez ímpar, a fazer menção “à amável indolência do flâneur”39, que se dedica, em um ritmo distinto ao imposto pela nova sociedade, à observação analítica da cidade e de seus transeuntes. Trata-se de um “ocioso, geralmente um rapaz, que vagueia pelas ruas sem pressa, olhando, vendo, refletindo”40, como refere o crítico inglês James Wood. Charles Baudelaire, que em sua poesia tão notoriamente cantara essa anônima personalidade que lhe era contemporânea, afirma que “para o perfeito flâneur, para o 37 POE, E. A. (1986), p. 395. POE, E. A. (1986), p. 399. 39 BENJAMIN, W. (2000), p. 39. 40 WOOD, J. (2011), p. 55. 38 34 observador apaixonado, é um imenso júbilo [...] estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo”41. Ou seja: se o flâneur existe apenas em função da multidão (e longe dela, é preciso ressaltar, entedia-se), na verdade também não se confunde jamais com ela: “O flâneur é uma testemunha, não um participante; ele está dentro, mas não é do espaço onde flana”42, como afirma o sociólogo Zygmunt Bauman. E Lucrécia D’Aléssio Ferrara, que possui estudos tanto na área de literatura quanto na de urbanismo, também assevera: Como um homem na multidão, o flâneur desenvolve, metodologicamente, em torno de si um escudo que, por paradoxo, o situa na massa urbana sem permitir que nela se envolva, seu contato urbano é aquele do olhar, é a imagem da cidade sob a égide do olhar.43 Ora, é desta maneira que o homem das multidões poeano não será precisamente um flâneur, o homem na multidão, como disse Ferrara. E é isso que reconhece Benjamin em sua análise do conto de escritor americano: Baudelaire achou certo equiparar o homem das multidões, em cujas pegadas o narrador do conto de Poe percorre a Londres noturna em todos os sentidos, com o tipo do flâneur. Nisto não podemos concordar: o homem das multidões não é nenhum flâneur. Nele o comportamento tranquilo cedeu lugar ao maníaco. Deste comportamento pode-se, antes, inferir o que sucederia ao flâneur, quando lhe fosse tomado o ambiente ao qual pertence. Se algum dia esse ambiente lhe foi mostrado por Londres, certamente não foi pela Londres descrita por Poe. Em comparação, a Paris de Baudelaire guarda ainda alguns traços dos velhos bons tempos. [...] Ainda se apreciavam as galerias, onde o flâneur se subtraía da vista dos veículos, que não admitem o pedestre como concorrente. Havia o transeunte, que se enfia na multidão, mas havia também o flâneur, que precisa de espaço livre e não quer perder a sua privacidade.44 O homem perseguido no conto do escritor americano não exerce a função de flâneur, absorvido que fica por essa grande multidão, a qual ocupa sobremaneira o 41 BAUDELAIRE, C. (1988), p. 170. BAUMAN, Z. (1999), p. 197. 43 FERRARA, L. D. (1993), p. 216. 44 BENJAMIN, W. (2000), p. 121-2. 42 35 ambiente que seria imperativo à sua existência, espaço em que, em tempos anteriores, em anos mais próximos ao início daquele século testemunha de resultados de revoluções, este personagem tipicamente urbano ainda encontrava alguma necessária privacidade. Do mesmo modo, a própria multidão que invade tal espaço, a provocar os acotovelamentos que tantas vezes são descritos na narrativa, estaria certamente composta, a essa altura, mesmo por antigos adeptos da flânerie, aos quais a dialética da subsistência capitalista negou direito ao ócio — como se viu, prerrogativa para o seu exercício45 — em nome do negócio, aquilo que justamente nega o ócio46. Isso coíbe, por consequência, a existência dessa figura que se oferecia, porque parecia sempre estar disponível para tal, para refletir sobre a sociedade com a liberdade de visão de quem não foi absorvido por uma lógica que aprisiona o homem em um ciclo de trabalho e consumo. O flâneur é, portanto, o oposto ao homem da multidão e este seria, referido em outros termos, o que José Ortega y Gasset definiu como o homem-massa, “um homem feito de pressa, montado simplesmente sobre poucas e pobres abstrações e que, por isso, é idêntico de um extremo a outro da Europa”47 ou “homem previamente esvaziado de sua própria história, sem entranhas de passado e, por isso mesmo, dócil a todas as disciplinas chamadas ‘internacionais’”48, o que leva esse filósofo espanhol da primeira metade do século XX a concluir: “Massa é ‘o homem médio’.”49 Nesse contexto, o velho perseguido em “O homem das multidões”, que se confunde com a massa, já abandonou a possibilidade de manter a sua condição de flâneur, sendo definitivamente reconhecido apenas como um vagabundo, nomenclatura pejorativa que a sociedade capitalista deixa de despojo precisamente àqueles que se 45 Sobre essas informações, Benjamin esclarece enfim que o flâneur, “ocioso, caminha como uma personalidade, protestando assim contra a divisão do trabalho que transforma as pessoas em especialistas. Protesta igualmente contra a sua industriosidade. Por algum tempo, em torno de 1840, foi de bom-tom levar tartarugas a passear pelas galerias. De bom grado, o flâneur deixava que elas lhes prescrevessem o ritmo de caminhar. Se o tivessem seguido, o progresso deveria ter aprendido esse passo. Não foi ele, contudo, a dar a última palavra, mas sim Taylor, ao transformar em lema o ‘Abaixo a flânerie!’. A tempo, alguns procuraram imaginar o que estava por vir. ‘O flâneur — escreve Rattier em 1857, em sua utopia Paris não existe — que encontrávamos nas calçadas e em frente das vitrines, esse tipo fútil, insignificante, extremamente curioso, sempre em busca de emoções baratas e que de nada entendia a não ser de pedras, fiacres e lampiões a gás, tornou-se agora o agricultor, vinhateiro, fabricante de linho, refinador de açúcar, industrial do aço.’” [BENJAMIN, W. (2000), p. 50-1] 46 Willi Bolle ratifica: “Pela sua própria essência, o mundo burguês do nec-otium é diametralmente oposto ao ócio do flâneur. Figura contrária ao espírito do seu tempo, o flâneur se torna, na sociedade burguesa, uma espécie ameaçada de extinção.” [BOLLE, W. (2000), p. 375.] 47 ORTEGA Y GASSET, J. (2002), p. 14. 48 ORTEGA Y GASSET, J. (2002), p. 14. 49 ORTEGA Y GASSET, J. (2002), p. 44. 36 posicionam fora do círculo do próprio capitalismo e que são por isso condenados à marginalidade, figura rota e mal-encarada que anda pela noite armado de um punhal, conforme o narrador entrevê a certa altura: ficará assim resumido ao “gênio do crime”50, veredicto final do conto. “Só decifrando essa figura é que o texto da cidade se tornaria ‘legível’”51, como avisa Willi Bolle — a permanência da ocultação de sua identidade então, ao mesmo tempo em que potencializa a sua postura de criminoso porque lhe permite cometer um crime sem ser descoberto, simboliza a cidade ilegível — que já assim se apresenta em meados do século XIX. Assim, o personagem alcunhado como o homem das multidões — que desperta no narrador “as ideias de vasto poder mental, de cautela, de sordidez, de avareza, de frieza, de malícia, de sede de sangue, de triunfo, de alegria, de excessivo terror, de intenso e supremo desespero”52 — caminha na contramão da imagem de Cris em “A lua”, personagem cuja brandura lírica é evidente, especialmente em função da sua identificação com o rosto inocente e sem expressão da boneca na vitrine, objeto merecedor da ternura do narrador, que a descreve como uma pobre boneca forrada de papel crepom. Mas essa não é a única diferença sensível entre os personagens perseguidos nos contos de Poe e Murilo Rubião. Admitamos que Cris não consegue levar a cabo a sua tentativa de exercício da flânerie, apesar de possuir nítida vocação para tal. Figura aparentemente assinalada pela mesma inação considerada capital para essa arte (a narrativa de Rubião não alude a nenhuma ocupação que o retirasse de casa durante o dia e seus passeios noturnos não possuem finalidade sensível), Cris deambula em uma cadência que é peculiar à do flâneur — caracterizado por movimentos lentos53, ao contrário da figura que é perseguida pelo narrador no conto de Poe, a qual, sucessivamente, aperta o passo, apressa-se, mergulha num labirinto de atalhos ou mesmo corre pelas ruas. Mais um sinal da flânerie identificável em Cris é a sua solidão, evidenciada pelo fato de o seu perseguidor não o ver conversar com amigos ou mulheres ou ao menos 50 POE, E. A. (1986), p. 400. BOLLE, W. (2000), p. 370. 52 POE, E. A. (1986), p. 395. 53 Apesar da breve rapidez com que, ao sair da casa, ganhava o passeio, esse comportamento de Cris, em verdade, sugere o intuito, ainda que não necessariamente consciente (já que ele não parece perceber que é seguido), de o personagem manter incógnita a sua identidade (sua privacidade portanto, outra citada marca distintiva da figura do flâneur), no que, aliás, o protagonista de “A lua” obtém sucesso até pouco antes do fim do conto. 51 37 cumprimentar um conhecido. Estabelece as ruas como seu habitat natural, onde, tanto por isso, sereno e desembaraçado, locomovia-se facilmente, de maneira que jamais entrava em algum edifício e, muito justificadamente, deveras alarmou o narrador ao fazer menção à compra de entradas para o cinema, o que (e, é claro) não se concretizou em ato. Por fim, parece comprazê-lo caminhar em meio às lojas de armarinho, sendo digna de observação a sua cotidiana relação com a vitrine (elemento que sempre muito fascinou o flâneur clássico, mas não parece arrebatar o homem das multidões de Poe, já que este, em seu percurso de certo modo impaciente pelo mercado, entrava em “loja após loja, sem nada apreçar, não dizendo uma palavra, olhando para todos os objetos com um olhar estranho e vazio”54). Assim sendo, apesar de reunir as características concernentes à flânerie, é preciso reiterar que Cris não a desempenha, e não o faz por questões que estão em diametral oposição à do homem das multidões, que se encontra impedido de assumir essa função pelo sufocante excesso de pessoas que lhe ocupa os espaços55. Essa impossibilidade de Cris ocupar o lugar pleno do flâneur nasce, como já havíamos referido, em razão da ausência completa da multidão, verificável no esvaziamento da cidade na qual noturnamente circula, tornando ilegítima a própria cidade que não poderia haver senão por conta do seu povoamento, visto que “o tema urbano por excelência são ‘as massas’”56, conforme nos lembra novamente Willi Bolle. Cris é o flâneur falido da modernidade. O assassinato de Cris, a sua eliminação, simula, assim, a própria impossibilidade de tal personagem existir em um mundo inabitado e de desempenhar a flânerie, para a qual possuiria tardia aptidão, situação muito adversa da do personagem de Poe, porque esse gênio do crime se permitiu, por um absoluto instinto de sobrevivência, pertencer à multidão, o que lhe permite escapar da morte (ou ao menos dessa morte que persegue o flâneur). É o mesmo Bolle quem será, afinal, determinante: “Efetivamente, o flâneur desapareceu; e os poucos espécimes que sobraram sentiram a hostilidade do seu ambiente.” Ou seja, ao contrário do que dissera Eliane Zagury, leitora de Rubião, ao descrever a morte do personagem como uma 54 POE, E. A. (1986), p. 398. Ainda sobre o conto de Poe, define Benjamin: “Quando a multidão se congestiona, não é porque o trânsito de veículos a detenha — em parte alguma se menciona o trânsito —, mas sim porque é bloqueada por outras multidões. Numa massa dessa natureza, a flânerie não podia florescer.” [BENJAMIN (2000), p. 50.] 56 BOLLE, W. (2000), p. 78. 55 38 “situação de um assassinato premeditado e sem causas”57, chegamos aqui a uma justificativa para esse aparentemente desmotivado homicídio que vitimara Cris. Seu homicídio metaforiza o desaparecimento a que o flâneur está condenado. Se a cidade em que Cris se locomove não desperta a sua atenção, e de fato o personagem nunca se inquietava com o que poderia estar se passando em torno dele, é porque esta não é mais a ambientação urbana que permitiria sua anacrônica existência: por isso lhe interessará a boneca démodé, com a qual se identifica, a evidenciar o seu próprio anacronismo; igualmente por isso ele recolherá objetos ao chão, denotando a princípio uma atitude de arqueólogo ou mesmo do colecionador benjaminiano, para contudo deles se desfazer ao fim do percurso; por isso também ele fará menção de comprar entrada para o cinema onde meninos de outros tempos assistiam filmes em série — voltar o seu olhar para o passado representa tentativas de recuperar uma antiga cidade, a qual o flâneur, enquanto existia, esteve disposto a ler. O flâneur, retoma ainda Bolle, é o “colecionador de sensações da grande cidade”58, “medium, através do qual o historiógrafo lê o ‘texto da cidade’”59. E a desertificação e a escuridão que marcam o meio urbano muriliano são, simbolicamente, frutos de um vazio semântico que advém da ausência de alguém que lhe atribua os seus significados. Esses sentidos a cidade efetiva e indubitavelmente possui, mas a sua leitura não desperta o interesse de homens, que deixam de estar na multidão para apenas ser da multidão, que abrem mão da flânerie e de olhares críticos, absorvidos que estão por uma intensa rotina, por um cotidiano tal que aí se instaura com a finalidade de que as engrenagens do mundo contemporâneo continuem girando, ainda que a despeito dos próprios homens que o habitam. 1.3 A cidade não lida A imagem da cidade como um texto, que se constrói sob ações simultâneas de leitura e escrita dos que agenciam o seu processo de produção, surge como preleção comum às várias áreas em que se demonstra interesse pelo tema. Lucrécia Ferrara, por exemplo, afirma: “A cidade é mensagem à procura de significado que se atualiza em 57 ZAGURY, E. (1971), p. 29. BOLLE, W. (2000), p. 71. 59 BOLLE, W. (2000), p. 78. 58 39 uso.”60 Angela Prysthon, que desenvolveu pesquisas sobre cultura cosmopolita, acrescenta: “A cidade é um grande cenário de imagens e de linguagens, uma esfera intercambiante de fronteiras de sentidos. A cidade é um sistema de interação comunicativa entre os atores sociais, responsáveis pela produção de uma cultura e simbologias urbanas.”61 E, na linha da literatura e dos estudos culturais, Renato Cordeiro Gomes defende, de modo ainda mais explícito: “Ler a cidade é escrevê-la, não reproduzi-la, mas construí-la, fazendo circular o jogo das significações.”62 Alcancemos, todavia, outra faceta desse processo de leitura da urbe: na medida em que se desenvolvera e se tornara mais complexa e, por conseguinte, ampliara incomensuravelmente as suas necessidades (e as de seus habitantes), a compreensão da cidade, a interpretação do meio urbano aparentemente se torna cada vez menos frequente, porque os atores do seu ato de escritura atuam de modo visivelmente irrefletido, gradativamente menos afeitos, já que estão a produzir a sua leitura ao mesmo tempo em que desempenham essa escrita de que não parecem nem mesmo ter consciência. Em outras palavras, agem tão somente como homens da multidão que na verdade são, abdicando de alguma prática de flânerie. É assim que, para o historiador francês Michel De Certeau, os habitantes das metrópoles, que deveriam ser leitores-escritores desse lugar, “acompanham resolutamente um ‘texto’ urbano, que escrevem sem serem capazes de lê-lo”63. Trata-se da “cidade moderna em seus excessos inesgotáveis, o que a faz muitas vezes ser destituída de sentido”64, segundo reiterou o ex-ministro da cultura Luiz Roberto do Nascimento e Silva. Do mesmo modo, a fim de alcançar o ambiente português em que floresceu o movimento orphista, La Salette Loureiro, ao traçar o percurso das transformações citadinas — oriundas das Revoluções, do vasto e rápido crescimento, da explosão demográfica, do tráfego pedestre e motorizado, da definitiva instalação da burocracia e da segregação social — assim conclui: “A cidade estilhaçou-se. O caos voltou.”65. E mais: “Nossas cidades apresentam ambiguidades, confusões e 60 FERRARA, L. D. (1988), p. 40. PRYSTHON, A. (2006), p. 7. 62 GOMES, R. C. (2008), p. 61. 63 DE CERTEAU, M. (1994), p. 21. 64 SILVA, L. R. do N. e (1994), p. 7. 65 LOUREIRO, L. S. (1996), p. 27. 61 40 descontinuidades. A linguagem da cidade é tão difícil de compreender como uma notícia de jornal.”66 — completa a autora, resumindo um pensamento de Kevin Lynch. Em suma: a cidade contemporânea reverte-se em um enigma, um significante tão repleto de significados que a delimitação dos seus sentidos principais torna-se uma impossibilidade. Muitos desses significados excessivos são, contudo, irrelevantes e sua existência atende a uma consolidação da alienação do homem moderno, que se perde nesses excessos, reconhecendo muitas vezes seus elementos sem todavia se valer de competência para estabelecer suas sintaxes67 (como se verá especialmente no capítulo III desta tese) o que gera essa “realidade múltipla da cidade moderna que se fragmenta, dificultando a leitura, e faz dela um discurso intricado, de significados fluidos”68. Se se afirma “que é indiscutível que a cidade se faz representar e se dá a conhecer concretamente pelas suas imagens”69, segundo enfatiza Lucrécia Ferrara, a crise da flânerie, o desaparecimento desse personagem que observava o espaço urbano e a multidão em detalhes, surge como metáfora da crise da compreensão da urbe moderna. O fato é que essa mesma cidade, já desde os oitocentos mas sobretudo a partir do século seguinte, parece ilegível, mas a metáfora de Cordeiro Gomes — “a cidade como um livro que não se deixa ler”70 — poderia ser vista sob outro prisma porque diríamos que ela omite uma vertente mais perversa. Esse “livro” que representa o espaço urbano mantém-se fechado, garantindo a sua ilegibilidade, principalmente por não se descobrir com facilidade quem se disponibilize a abri-lo, enquanto ele não se evidencia, escondendo-se em meio a um conjunto esquizofrênico de signos mais ou menos irrelevantes, cortina de fumaça que o cidadão moderno não consegue ultrapassar. Em suma: o homem contemporâneo não sofre de uma espécie de analfabetismo; a cidade é que ainda assim não é lida porque ele não entra em contato com o texto que a descreve. Os primeiros sintomas desse fenômeno de incompreensão do meio urbano moderno se manifestam ainda no século XIX, quando a cidade passa a ser representada por metáforas que enaltecem sua vertente inexplicável, como elucida Cordeiro Gomes: 66 LOUREIRO, L. S. (1996), p. 41. Por isso: “No ápice da modernidade, [...] o homem conhece mais, está seguro da sua real capacidade de conhecer, mas está cada vez mais incerto.” [FERRARA, L. D. (2000), p. 173.] 68 GOMES, R. C. (2008), p. 30. 69 FERRARA, L. D. (2000), p. 115. 70 GOMES, R. C. (2008), p. 79. 67 41 A imagem do labirinto é uma recorrência na representação da metrópole, a partir do século XIX, não só em poetas e romancistas, mas também em outros pensadores que se debruçaram sobre as questões do fenômeno urbano na modernidade. [...] Nos anos de 1840, o jovem Engels em A situação da classe trabalhadora empreendeu a difícil tarefa de “ler o ilegível” da cidade do século XIX, revelando-a em sua forma aparentemente assistemática e possivelmente incoerente, produto da revolução industrial, responsável pela atomização da sociedade.71 Dentre as revelações desse processo, o ensaísta inventaria ainda a incerteza sobre a significação de muitos fragmentos simultâneos; a perda por parte de seus habitantes da habilidade em interpretar a si próprios e o entorno; a coexistência de linguagens e das variadas mídias. E ainda: a comunicação de grupos heterogêneos através do espaço; o desenvolvimento de uma cultura da individualidade e das formas de violência. Estes são alguns dos sintomas que indicam a ilegibilidade das megalópoles contemporâneas, que intensificam o caos e sancionam uma espécie de distopia72 [...].73 Associando igualmente o fenômeno da ilegibilidade da cidade às revoluções industriais, Paul-Henry Chombart de Lauwe demonstra que mesmo aquelas ciências que estudam de forma específica as sociedades urbanas, tendo tal pesquisa como objeto principal e não como instrumento para outras investigações, poderão constatar a dificuldade de compreender a urbe moderna: Os grandes estudos de Sociologia Urbana do século XIX e do início do Século XX ressaltam certos aspectos permanentes da evolução no quadro das sociedades industriais [...]. Quando se trata do estudo de países em vias de industrialização, os fenômenos evoluem com tal rapidez que novos métodos de observação devem ser empregados. As transformações, que antes podiam ser acompanhadas durante um período de cinquenta anos, manifestam-se aos nossos olhos em alguns anos, quiçá em alguns meses. 71 GOMES, R. C. (2008), p. 74-5. Consequências em produções artísticas desse sentimento distópico serão demonstradas no capítulo V do nosso ensaio. 73 GOMES, R. C. (2008), p. 85. 72 42 [...] Uma pesquisa aprofundada, alcançando todos os grupos sociais de uma grande aglomeração, ou mesmo de uma pequena cidade, seria praticamente impossível no atual estado das coisas. Seu número e sua variante são por demais grandes, seu entrecruzamento por demais complexo, para que uma análise exaustiva cientificamente válida possa ser feita.74 Essa angústia perceptível nas palavras do sociólogo francês não é prerrogativa sua. Estará, na verdade, associada a um fenômeno mais abrangente, ligado a crise do Iluminismo, de modo a atingir vastamente a sociedade moderna. Ainda que não seja essa a temática de nossa investigação, que se pretende essencialmente literária, é impossível que nos furtemos de buscar aí o que seja estritamente relevante para o nosso racioncínio, ou seja, aquilo que no processo de colapso do racionalismo moderno será, de certa forma, responsável pela incompreensão da sociedade contemporânea, causa de suas representações por meio de imagens pautadas no irreal e, por fim, ensejo possível para o surgimento da literatura fantástica, notadamente a do século XX. Ora, o movimento iluminista surgira em contexto histórico-filosófico em que se observava emergir um esforço racionalista que visava ao combate do ceticismo, aquela disposição de duvidar considerada lesiva à manutenção da ordem social. Zygmunt Bauman, ao explorar a gênese de um fenômeno inerente a períodos mais recentes que ele optou por classificar como de ambivalência, descreve o pensamento dos séculos XVI e XVII, demonstrando que os filósofos do começo do mundo moderno viram (ou tiveram que ver) seus papéis e seus deveres de forma diferente. Precisaram participar do grande projeto moderno de construção da ordem num mundo que sofria entre as ruínas do Antigo Regime. Essa nova ordem deveria ser o trabalho da razão, a única arma digna de confiança de seus construtores humanos, e a tradução do “isto é” da razão para o “você deve” da ação humana foi a vocação dos filósofos. Os filósofos modernos foram assombrados desde o início pela ânsia de construir as pontes para a vida mundana, não de queimá-las. Os pressentimentos céticos foram, portanto, perniciosos, os argumentos céticos, um incômodo, a falta de clareza do mundo, uma irritação, a hesitação, um sinal de ignorância clamando para ser substituído pela certeza baseada no conhecimento.75 74 75 LAUWE, P. H. C. de (1967), p. 123-4. BAUMAN, Z. (2008), p. 81-2. 43 Assim, “governada pela lei da não-contradição, a razão tornou-se a inimiga jurada, e esperançosamente invencível, da ambivalência e da indecisão”76, como completa o sociólogo polonês. Mas a razão estava fadada a fracassar nessa guerra ideológica e a sua derrota aconteceria em espaço de tempo relativamente curto. Quando, em meados do século XIX, Nietzsche defende que “a crença em ‘certezas imediatas’ é uma ingenuidade”77 ou que “toda evidência de verdade vem apenas dos sentidos”78 ou, de modo ainda mais radical, que “acerca do que é a ‘veracidade’ ninguém parece ter sido veraz o bastante”79, o filósofo demonstra conceitos anti-iluministas cujo desenvolvimento desaguará no século seguinte, instituindo o pensamento filosófico deste tempo futuro — e é preciso reconhecer que o pensador alemão é feliz ao escolher para a obra de onde extraímos esses excertos (Além do bem e do mal) o subtítulo de Prelúdio a uma filosofia do futuro, já que realmente coadunarão com o seu pensamento sobre a subjetividade da realidade, enraizando o movimento contrailuminista pós-moderno, pensadores do século XX como Heidegger, Derrida e Foucault, todos, a partir das particularidades de suas práticas filosóficas, a efetuarem de maneiras distintas uma crítica à razão. Esse conceito de uma razão em crise abrirá espaço no campo das artes precisamente para novas representações do mundo sensível que não serão necessariamente miméticas. Ao tratar do romance moderno (discursando em paralelo sobre movimentos pictóricos como o Expressionismo, o Cubismo e o Surrealismo), Anatol Rosenfeld conclui que a arte “é expressão de um sentimento de vida ou de uma atitude espiritual que renegam ou pelo menos põem em dúvida a ‘visão’ do mundo que se desenvolveu a partir do Renascimento”80. Fazendo eco a esse discurso enquanto referenda os estudos de Irène Bessière sobre o tema, Ronaldo Lima Lins tratará, por fim, a literatura fantástica como, muito a propósito, uma “resposta literária ao mito da Razão”81: 76 BAUMAN, Z. (2008), p. 82. NIETZSCHE, F. (2003), p. 41. 78 NIETZSCHE, F. (2003), p. 77. 79 NIETZSCHE, F. (2003), p. 83. 80 ROSENFELD, A. (1996), p. 79. 81 LINS, R. L. (1982), p. 44. 77 44 Constitui um dado interessante da história literária que o fantástico, enquanto gênero, represente, sobretudo, uma consequência pós-iluminista. Ao longo do tempo, através de manifestações diversas, que passam pelo Absurdo, pelo Surrealismo e pelo Realismo Mágico, entre elas, a literatura insistiu em trabalhar com um tipo de investigação que deve buscar nas profundezas do oculto — na alma, na mente, na morte, etc. — o seu contato com a verdade. Praticamente, tornou-se dominante o conceito segundo o qual a verdade nunca se acha de fato à mostra.82 Rosenfeld, todavia, nesse sentido, salienta: “Trata-se, antes de tudo, de um processo de desmascaramento do mundo epidérmico do senso comum.” 83 — o que representa o desvelar “de uma realidade mais profunda, mais real, do que a do senso comum”84. É preciso, porém, reiterar os fatores que teriam causado esse colapso da razão, os quais, se não têm a sua gênese no século XIX, encontram neste tempo seu desenvolvimento. O surgimento das sociedades pós-revolucionárias e das cidades construídas para abrigá-las — em sua constante, incansável, interminável e, mais tarde, frenética e convulsiva readaptação — seriam as presumíveis causas responsáveis por essa mudança de paradigma na leitura que se faz do mundo. Parece ser difícil escapar da produção de um olhar marcado pela inconsistência na medida em que não se pode lançar sobre esse mundo outra visão, de cunho mais racional, pelo fato de não haver disposição para tal, já que seus leitores estão aprisionados em um convulsivo, incessante e mesmo ignoto processo de escrita ditado pela busca interminável de prazer e consumo que alimenta a máquina capitalista. Pois essa falência do racionalismo cartesiano, uma vez fomentada pela impossibilidade de o homem encontrar excitação em si mesmo para empreender a leitura do mundo que o cerca, é o que estará intimamente ligado à crise da flânerie que aqui descrevemos, prática cujo exercício se torna impossível. Vejamos, por isso mesmo, como Bauman complementa as suas ideias a respeito do que ele chamara de ambivalência: 82 LINS, R. L. (1982), p. 43. ROSENFELD, A. (1996), p. 81. 84 ROSENFELD, A. (1996), p. 81. 83 45 A estratégia moderna de combater a ambivalência fracassou principalmente por causa do seu impacto conservador e restritivo, que colidiu com outros aspectos inerentemente dinâmicos da modernidade — os contínuos “novos começos” e “destruições criativas” como modo de vida. O “Estado firma”, o “Estado ponderado”, o “Estado de equilíbrio”, o Estado da completa satisfação da (em teoria invariável) soma total das necessidades humanas, este Estado, estabelecido pelos primeiros economistas modernos como a condição final da humanidade, para o qual a “mão invisível” do mercado estava nos guiando, mostrou-se um horizonte que recua constantemente, empurrado pelo poder incansável das necessidades que surgem com maior rapidez do que a capacidade de satisfazê-las. A estratégia moderna de combater a ambivalência só poderia ser aplicada com alguma chance de sucesso se as necessidades / carências / desejos tivessem papel secundário na “possibilidade objetiva” de satisfazê-las.85 Bauman reafirma conceitualmente nossa discussão a respeito das causas da derrocada da flânerie, aqui tomada como símbolo da disponibilidade que os homens outrora ofereceram para ler a sociedade que eles mesmos constituem e o espaço urbano que a abriga. É o ímpeto inalcançável por satisfazer as necessidades / carências / desejos que cria o homem das multidões, que, ao abdicar de uma postura crítica a respeito dessa sua própria ação, aprisiona-se em uma busca eterna por algo muitas vezes abstrato ou indefinido, disfarçado de algo concreto86, o que, por sua vez, alimenta a lógica capitalista que rege o mundo contemporâneo com seus “rituais de adoração do fetiche Mercadoria [...] ditados pela Moda, secundada pela Publicidade, enquanto arte de expor as mercadorias”87, como reconhece Willi Bolle. Lucrécia Ferrara afirma que, no extremo oposto, o flâneur “não está condicionado pelo hábito que automatiza a percepção e impede a apropriação da cidade pelo cidadão, essa doença que, perplexos, assistimos corroer a imagem da metrópole 85 BAUMAN, Z. (2008), p. 91. Sobre isso, valeria a pena citar o filme de Marcelo Masagão 1,99 - um supermercado de palavras (2003), cuja narrativa nonsense se passa no cenário de um supermercado todo branco que vende, para clientes que não expressam emoções em seus rostos, caixas e potes diversos não com produtos, mas com palavras como inteligência, agilidade, amor, confiança ou resistência, além de slogans diversos (a maioria retirada de campanhas publicitárias reais), em uma denúncia sobre o fetichismo que impulsiona o consumo para além do que poderia impetrar apenas uma necessidade real, concretamente dimensionada. 87 BOLLE, W. (2000), p. 66. 86 46 moderna”88. Sendo assim, se o flâneur se torna “detentor de todas as significações urbanas, do saber integral da cidade”89, como quer deixar claro em seus estudos de antropologia Sergio Paulo Rouanet; se ele é Geômetra da Metrópole, já que a “figura que ‘mede’ com seus passos o espaço da Cidade é o flâneur, num ritual de registrá-la com o seu corpo”90, figura esta, aliás, “através da qual é possível obter um conhecimento mais aprofundado do fenômeno da metrópole moderna”91, como completa Bolle; a gradativa e inevitável ilegibilidade em que parecem mergulhar os meios urbanos pelos quais ele cada vez menos circula será consequência desse fenecimento: a cidade moderna carece de seu leitor. “O homem das multidões” de Poe retrata justamente um espaço onde a flânerie já não parecia possível, o que faz já deste conto do século XIX “um dos textos basilares que tematiza o problema da legibilidade da cidade moderna, através da complexa vida urbana em sua constante mobilidade, cenarizada nos labirintos das ruas e da multidão”92, segundo define Renato Cordeiro Gomes. E a ideia de que a cidade descrita por Poe já se encontra sob o signo da ilegibilidade fica, ademais, evidente logo nos períodos iniciais da narrativa: Já se disse, judiciosamente, de certo livro alemão que er lässt sich nicht lesen — não se deixa ler. Há alguns segredos que não consentem em ser ditos. Homens morrem, à noite, em suas camas, torcendo as mãos de confessores espectrais e fitando-lhes lastimosamente os olhos; morrem com desespero no coração e convulsões na garganta por causa da hediondez de mistérios que não toleram ser revelados.93 Retomando a nossa imagem fundadora, poderíamos afirmar que a lua, que emerge de Cris no conto de Murilo Rubião, seria, nessa linha de leitura, metáfora do conhecimento eminentemente urbano que o flâneur acumulara (conforme se referira Rouanet) e que não mais se sustenta no mundo contemporâneo, porque o cotidiano impede o homem de adquiri-lo e desenvolvê-lo, não lhe permitindo possuí-lo e dele fazer uso. Daí que Cris o guardasse somente para si. E daí que, ao perdê-lo ao fim do 88 FERRARA, L. D. (1990), p. 7. ROUANET, S. P. (1992), p. 50. 90 BOLLE, W. (2000), p. 363. 91 BOLLE, W. (2000), p. 366. 92 GOMES, R. C. (2008), p. 73. 93 POE, E. A. (1986), p. 392. 89 47 conto, não haja quem dele tome posse — a prostituta, quiçá instintivamente mas não racionalmente (visto que talvez movida por impensado gesto, segundo comenta o narrador), procura reter a lua, mas logo desiste, fracassando em sua tentativa. Trata-se do conhecimento que se esvai sem que ninguém o possa absorver nesse mundo moderno, composto quase exclusivamente por homens-massa, composto quase exclusivamente por homens da multidão. *** Na medida em que se reconhece na literatura fantástica do século XX a função de problematizar o real, segundo deduzimos da argumentação de Ana María Barrenechea, processo que se concretiza a partir da revelação do que há na realidade mimética de insólito — ou, antes, do desmascaramento de uma segunda realidade, conforme definiu Jaime Alazraki, do desloucamento da aparência aparentemente normal do nosso mundo louco para tornar visível sua loucura, como Anders observou em Kafka, loucura identificável com aquela realidade mais profunda, mais real, do que a do senso comum, descrita por Anatol Rosenfeld, onde reside a verdade, que nunca se acha de fato à mostra, como nos lembra Ronaldo Lima Lins — podemos dizer que este gênero, em sua manifestação novecentista, motiva o olhar do leitor a voltar-se para elementos do cotidiano que, exatamente por serem habituais, são, com muita frequência, ignorados. Provocar uma mudança de paradigma na vivência do homem-leitor moderno significa então, em termos práticos, convidá-lo a abandonar a sua condição de homem da multidão — modo de ser que a modernidade lhe legou e a que a sociedade capitalista o condenou em função de sua absorção indiscriminada por um cotidiano que não permite a produção de questionamentos que o ponham em causa. Se a literatura fantástica do século XX não traz o flâneur como um personagem frequente (porque essa figura entrara em franco processo de extinção, tornando-se de fato muito rara — e ressaltemos que, para Willi Bolle, efetivamente, o flâneur desapareceu), sua diegese constrói, por outro lado, como uma nova proposta ética e estética, uma determinada espécie particular de flâneur. Nestes termos, queremos apostar como hipótese de nossa tese — e essa é sem dúvida a principal conclusão a nortear os caminhos pelos quais deambularemos entre os capítulos II e VI deste ensaio 48 — que, para o fantástico do século XX, o flâneur será, no fim das contas, o próprio leitor. Ou seja: essa literatura, que nos suspende da tangibilidade do real, faz do leitor um flâneur convidado — ou, antes, convocado — a ler o contexto de estranhamento apresentado, seduzido que se torna pelo insólito que transforma o seu mundo mimético, tal qual ele o conhece, com um intuito muito evidente de obrigá-lo a olhar, no percurso da leitura empreendida, para si próprio e para o seu redor, resgatado que é desta forma de uma passiva cegueira que o impede de compreender-se na cidade contemporânea enquanto nela vive aprisionado pelo seu ritmo que é, ao mesmo tempo, frenético e burocrata, cíclico e entediante — por fim, alienante. Nesse mundo moderno e aparentemente ininteligível, torna-se eficiente uma narrativa que produz estranhamento, como reconheceram os formalistas russos baseados na teoria do automatismo da percepção: “a taxa de informação de uma mensagem tende a zero quanto maior o nível de familiaridade do público com a mensagem enunciada”94, ou seja, o rotineiro e o habitual (e, por extensão, o mimético) apresentam potencial para diminuir a duração da percepção da obra de arte, e seria talvez esta intuição o que impulsionara certas criações literárias a lançarem mão, como uma estratégia dentre outras, de tais procedimentos irrealistas. Precisamente em defesa dessa ideia, Barrenechea encerra o seu artigo: Por otra parte, los preocupados por problemas sociales, tan acuciantes en nuestra epoca, acusan de escapista a esta literatura y anuncian su desaparición por obsoleta, por no reflejar los problemas humanos más urgentes, por ser un arte burgués. A ellos habria que recordarles que los teóricos del marxismo no rechazaron por ese motivo a lo fantastico. [...] Esta posición o la de un Julio Cortazar que cifra la función revolucionaria del artista en revolucionar el ambito de las formas o la de un Umberto Eco que asigna ese poder revolucionario a la destrucción y creación de nuevos lenguajes, abren tambien al genero otras posibilidades bajo el signo de lo social, siempre que lo fantastico sea una puesta en cuestión de un orden viejo que debe cambiar urgentemente.95 O desafio de descodificar a narrativa fantástica intriga o leitor e o alicia a descodificar também o mundo mimético — a velha ordem — que essa narrativa 94 95 FERRARA, L. D. (1978), p. 74. BARRENECHEA, A. M. (1972), p. 402-3. 49 estrategicamente transforma para, de certa maneira muito particular, imbuir-se de poder revolucionário para uma discussão capaz de questioná-lo e representá-lo tal qual ele é ou pode ser, no seu câmbio tão urgentemente desejado. São pois manifestações destes temas sociourbanos, instituídos sob construções textuais de natureza fantástica, o que, na sequência do nosso ensaio, perscrutaremos em contos produzidos na literatura portuguesa do século XX. 50 II. O HOMEM NA MULTIDÃO VS. ... O Anjo 1 Dum salto ergueu-se na cama, balbuciando: — Meu Deus!... — E com o olhar esgazeado fitou a porta onde batiam outra vez três pancadas, levemente. As mãos começaram a tremer-lhe e sentiu a cabeça esvair-se, o olhar enevoar-se: — Senhor!... Eram quatro horas da manhã. Havia no quarto uma claridade vaga, que subia da rua silenciosa e entrava pela janela toda aberta. Como um sonâmbulo, desceu da cama e caminhou para a porta... Era verdade afinal: — “A vida é como estar morto até chegar o Anjo, que baterá três vezes...” Isto vinha de longe. Já nesse tempo ele dizia: — Não respiro bem... Não sei porquê, comecei um dia a ter a sensação de que me faltava a liberdade. Não sei por que foi, nem quando foi. Parece-me que não houve nada... mas que foi assim, à tarde, quase ao anoitecer, tudo baço... Não sei... E ficava com o olhar vago, parado, e a boca entreaberta, como se estivesse cansado. — Para que sou eu? Para alguma coisa hei-de ser; para fazer alguma coisa... Um dia hei-de saber... Há-de ser à passagem do rio, como Jacob, que o Anjo aparecerá, e lutaremos toda a noite... até vir o Sol... Eu também sou coxo desta perna, como Jacob... Mas é de nascença... Não sejam superficiais: não julguem que sou doido. A vida é uma coisa séria, não se brinca com ela... Ou será possível haver alguém que não pense nisto, que não pergunte qual é a sua razão de viver?... Eu sei... toda a gente diz: “O Amorim, coitado, está pior. Deviam metê-lo num manicômio, talvez ainda tivesse cura...” Não, meus amigos, a minha doença é lucidez... Estejam descansados que passa... isto passa... Basta um pouco de vinho a mais, já fico bem, já sou outro... Amorim sabia que cada homem nasce para fazer uma coisa, de aparência grande ou pequena. Mas é apenas aparência, porque só Deus pode medir, só Ele sabe para que mandou... E Amorim esperava há muito tempo, desde que começara a sentir aquela falta de liberdade. A consciência começou-lhe então. Não tinha liberdade, andava mandado... A princípio, era apenas uma inquietação indefinida, as ideias desfaziam-se-lhe diante dos olhos como nuvens umas contra as outras. Mas, a pouco e pouco, começou a ver claramente, e o espírito perdia-se-lhe no infinito. Porém, já numa direcção definida, como dizia por fim. — Muita gente julga que faz o que quer, que pensa o que quer, que vai para onde quer... Coitados! A vida é andar aos tombos, até que um dia chega o Anjo com a hora em que iremos fazer o que é preciso. A minha vida não tem sido nada... Mas tem de vir a ser. Se nasci, foi para alguma coisa. Até agora só tenho tido uma sensação de vazio e de espera. Falta preencher o vão da minha vida... Pode ser uma coisa simples: pisar uma formiga. Mas isso já ocupará o espaço todo da vida e então hei-de vê-la perfeitamente, para trás e para adiante, irremediável e completa. Falava num tom de voz muito calmo, e brilhava-lhe no olhar uma luz serena e doce. 2 Até que enfim, depois de tantos anos, de tantas vazias noites de febre e de sobressaltos, até que enfim, naquela noite, o Anjo veio e bateu três vezes, levemente... Amorim desceu da cama e, como um sonâmbulo, caminhou para a porta. Ao aproximar-se ouviu uma voz suave que vinha do lado de fora e lhe dizia baixinho: — Sou eu... 51 Deu a volta à chave e a fechadura soltou um gemido que lhe atravessou o corpo como uma lâmina fria. E a porta abriu-se... No escuro do corredor viu um vulto todo branco que se aproximava, crescia, que estava sobre ele, duma presença envolvente e deslumbrante, exalando um aroma embriagador... Os seus olhos abriam-se-lhe espantosamente e não compreendia o que era aquela claridade que estava já dentro de si e ao mesmo tempo diante dos seus olhos, com uma voz tão doce a dizer-lhe: — Boa noite... A mão que segurava a porta caiu-lhe ao longo do corpo e, sem poder falar, recuou suspenso, como em transe. Porém, a mesma voz foi outra vez suavíssima: — Sou eu... Não tenhas medo... E só então viu uma cabeça de rapariga, de cabelos loiros, uns grandes olhos claros e serenos que o olhavam, e uma boca em flor vermelha, que exalava um sorriso de religiosa suavidade... E ao entrar, um clarão inundou o quarto; acendera-se a electricidade. E a porta estava outra vez fechada e dera outra vez o mesmo gemido doloroso. Viu-a caminhar num passo natural, arrastando a cauda do vestido branco, atravessar o quarto e sentar-se sobre a cama. E ouviu a voz suave: — Já aqui tenho vindo... Nunca estás... quando venho. Hoje tinhas de estar... (E olhando-o com um sorriso piedoso ou irónico): Não contavas comigo... Mas parece que nunca me viste!... Que tens? Amorim, em pé, no meio do quarto, estava hirto e, cerrando os olhos, balbuciava: — Meu Deus!... Meu Deus!... Ela insistia com uma voz doce e triste: — Senta-te aqui ao pé de mim... Mas ele continuava petrificado... Então olhou-o com surpresa: — Estás doente?... E uma voz interior respondeu, apagada: — Não... Meu Deus!... — Sou o teu Deus? Ou tu o meu anjo da guarda?... murmurou ela, com um fino sorriso de ironia. E ficaram calados um momento. Mas o silêncio que encheu o quarto de repente, foi enorme e frio. Estalaram as tábuas do soalho. Ela olhou em volta e relampejou-lhe o olhar. De súbito meteu a mão no decote e tirou do seio um pequeno embrulho envolvido num lenço de seda cor-de-rosa, levantou-se da cama, caminhou para o fundo do quarto e ajoelhou-se a um canto. Tirou um nó da madeira do sobrado, levantou uma tábua e meteu lá dentro o lenço corde-rosa. Amorim, sentindo as pernas a dobrarem-se e a vista a fugir-lhe, agarrou a cara com ambas as mãos. Então ela ergueu-se do chão, avançou serenamente, e segurando-o pelos pulsos afastou-lhe as mãos dos olhos e deu-lhe um beijo demorado na face... Depois, olhou-o fixamente, e disse numa voz pausada e segura: — Se alguém te perguntar, bem sabes a lei: não estive aqui... não viste nada... E caminhou para a janela, subiu a uma cadeira, saltou ao parapeito e, saindo para o telhado, ergueu os braços num gesto de dizer adeus ou de abrir as asas para voar. E desapareceu. Sobre a massa escura dos telhados, o céu abria-se como se o sol já viesse a nascer. Os móveis do quarto baloiçaram. E sobre o seu olhar turvado e baço desceu uma nuvem cinzenta em que todo o seu corpo era leve e pairava, ou caía no chão, enquanto a voz longínqua, mas como um eco dentro da cabeça, voltava e dizia e repetia as tão doces palavras: — Sou eu... 3 Quando abriu os olhos, viu o sol que entrava pela janela do quarto e olhou ao longe as casas brancas e os telhados mais perto. Ouviu um bater com força na porta. Maquinalmente ergueu-se do sobrado e foi abrir. Eram dois homens. Um, magrinho, de expressão dura, cara escavada, olhar penetrante, que lhe apontou uma pistola; e outro, gordo, balofo, de sobrancelha carregada, com cara de pobre diabo, mas também com uma pistola na mão. Por detrás deles estava a dona da casa, a espreitar: uma velha pequena, mirrada, com pêlos no queixo, que ao ver que já não havia perigo, pois Amorim ficara imóvel, estendeu o braço por entre os dois homens e apontou-o com o dedo como um punhal, gritando numa voz aguda: — Cá está! A mim nunca me enganou! Amorim, ainda com o olhar lento e entorpecido, olhou para um, depois para o outro, depois para todos e, sem compreender, com um ar alheio, perguntou numa voz baça: — Que é?... O magrinho respondeu, firme e com a ironia própria: — Que é?... Novidades! 52 E aproximando-se disfarçadamente, num gesto repentino apalpou-lhe os bolsos do pijama. Em seguida fez um sinal ao outro e começou a revistar o fato que estava na barra da cama. Amorim, já desentorpecido perguntou: — Mas o que é que isto quer dizer? O pequenino respondeu-lhe, olhando-o agressivamente: — Quer dizer que te enganaste nas contas. — Que contas? — perguntou Amorim, com o seu habitual sorriso de resignação. Ele respondeu-lhe com um berro: — Cale-se! E o gordo, crescendo para ele, repetiu-lhe, com a boca sobre a cara, numa voz cavernosa que tremia teatralmente: — Caaale-se! — Pois sim... E o pequeno e magro, com os olhos flamejantes de vingança, atirou-lhe o fato: — Vista-se. Começou a vestir-se lentamente. A velha fugiu. O gordo continuava de sentinela diante dele, enquanto o outro percorria o quarto, com olhares, com passos e com mãos subtis. Em todos os cantos espreitou, em todos os esconderijos sondou de modo calmo e infalível. Nada! Por fim, caminhando para junto de Amorim, que acabava de vestir-se, disse com um esgar cínico: — Então achaste que era melhor não te passares, como os outros? — Mas há um engano... Diga-me... — Lá te digo. Vamos embora. 4 Na esquadra, o senhor comissário, com severidade e argúcia, fez-lhe um interrogatório apertado. Mas Amorim não sabia nada. Não sabia nada e tinha de dizer tudo! Ter de dizer tudo sem saber nada!... Nem sequer podia imaginar de que se tratava, mas o senhor comissário bem sabia que ele era um dos principais, portanto era escusado explicações (isso seria pôr em dúvida a sua certeza) e, assim, fazia-lhe todas as perguntas partindo dum ponto em que deixava para trás o que ambos bem sabiam. — Bom... Então vocês entraram pela janela, e tu, quando viste o velho, deste fogo. O teu chefe continuou a abrir o cofre... Por que é que te chamam de o “Brasileiro”? — Brasileiro? — repetiu Amorim maquinalmente — É engano. — Bom... é engano... Mas vocês eram mais dois ou três?... Eram só dois?... — Não compreendo o que V. Ex.a quer saber... — Estás muito esquecido, coitado. Foi do susto... Não é pressa. Velhinho, já cá sabemos de tudo, como vês... Amorim sentia a cabeça pesada, e uma angústia, a boca tão seca que o obrigava a dar uns estalidos ridículos. E passando a mão pela testa, que começava a arrefecer, balbuciou involuntariamente: — Meu Deus! O comissário olhou para o subchefe com um olhar baixo, que dizia: — “que tal te parece este gajo?” Mas continuou calmo: — Ela é que traz sempre a mala? — Desculpe, mas não compreendo o que V. Ex.a quer saber... — Bem, bem... Então vai até lá baixo refrescar e amanhã continuaremos... 5 Levaram-no para um calabouço subterrâneo, de chão de laje, onde o ar parecia duma frescura agradável a quem vinha do calor lá de fora. Depois a humidade começava a repassar os ossos e cheirava mal. Entrava apenas uma réstia de luz por uma pequena fresta, junto ao tecto, que era em abóbada e pingava. Amorim atirou-se para cima da enxerga que ali estava sobre umas tábuas e fechou os olhos. Quando, daí a pouco, os reabriu, já não viu a fresta: Tinha anoitecido. No silêncio de túmulo, ouvia só o pingo de água que caía do tecto, compassado, vagaroso, a estalar nas lajes. Então ergueu-se, sentindo uma opressão no peito, que lhe tirava o ar, e começou a andar com aflição, para um lado e para outro. Mas a cela media só dois passos. Um, dois — voltava — um, dois — voltava, — um, dois... Até que começou a andar de roda, rente às paredes, fazendo um 53 círculo. De repente cambaleou e caiu para o lado. Ficou estendido no chão. Não podia levantar a cabeça. Mas, por fim, abriu os olhos, no escuro. Estendeu a mão e encontrou a enxerga. E lembrou-se nitidamente de tudo. Ergueu-se a custo e estendeu-se em cima do colchão podre, que as tábuas desconjuntadas mal sustinham. Estava de olhos fechados, sentindo-se voltar a si, quando ouviu um ruído de chaves. Abriram a porta e entrou um jorro de luz. Mas de repente taparam o vão: era um homem que se atravessava entre os umbrais e parecia um gigante de cabeça enorme e ombros desproporcionados: — Anda... Amorim, com o ar sonâmbulo que às vezes lhe dava, ergueu-se do colchão podre, saiu, começou a caminhar ao lado do guarda: subia escadas negras de pedra e, quando passava nos sítios onde havia lâmpadas e se via bem, reparava nos degraus gastos e partidos, nos pequenos montes de pó que se tinham juntado aos cantos; olhava estas coisas com viva atenção, como se fossem importantes para ele. E mentalmente exclamava: — Mais outro partido! Extraordinário!... Selvageria... Mas como?! Outro... em dois sítios. É à martelada. Depois caminhou por uns corredores escuros, como num pesadelo. E, sentindo o sobrado velho a ranger debaixo dos pés, meditava: — Está tudo estragado... O guarda caminhava pesada e lentamente. Duas vezes, porém, lhe ouviu a voz cavernosa: — Andas, ou quê?... Amorim esquecia-se e ficava para trás... Até que o guarda parou. Mas então, sem ter reparado, continuou a caminhar e o outro cravou-lhe, no braço, a mão como uma garra de ferro. Voltou-se de repente e pela primeira vez lhe viu a cara e reparou no olhar frio, que o varava, enquanto sentia que uns dedos se lhe espetavam na carne. Ia para soltar um gemido de dor, mas dominouse, dizendo mentalmente: “Senhor! És a minha força”. E recomeçou a caminhar num passo mais firme e sereno. Só os olhos, muito abertos, pareciam deslumbrados. “Eu sou o Bem. Pelo Teu nome pisaremos os que levantarem contra nós”... E era um turbilhão que lhe passava pela cabeça e pelos olhos. — Sente-se. Balbuciou ainda quaisquer palavras incompreensíveis, sem ver nem ouvir quem estava diante dele. — Anh??... — interrogou o comissário. Então, Amorim estremeceu, como se acordasse, e viu na sua frente um homem de óculos, sentado por detrás duma mesa. Estava, outra vez, no gabinete luxuoso do senhor comissário que, numa voz seca e agressiva, lhe disse: — Aviso-o de que não estou aqui para troças! — E duvidarão de ti... — sibilou ainda por entre dentes. O comissário, então, mudou subitamente de táctica, falando num tom quase afável: — Fale em voz alta. Mas Amorim respondeu-lhe com sincera humildade: — Senhor comissário, eu falava só para mim... e para Deus... O comissário acendeu um cigarro, fingindo procurar qualquer coisa sobre a mesa. Seguiu-se uma longa pausa. Nunca se deparara um cínico como este. Fumava, atirando grandes baforadas de fumo, enquanto remexia na papelada que tinha ao alcance das mãos. E logo este era um caso tão importante... Por fim, como se tivesse posto em ordem aqueles papéis que, neste momento, lhe não interessavam nada, olhou fixamente para o pobre Amorim, que continuava em pé, diante da mesa, com a cabeça dobrada sobre o peito, esperando, a olhar para o chão. Num tom de voz seco, o comissário recomeçou pausadamente: — Responda ao que lhe pergunto. Onde esteve esta noite? — No meu quarto. — Desde que horas lá estava? — Há dois dias que não saía. — Porquê? — Porque tanto faz... — Tanto faz o quê?! — Deus está em toda parte. “Ic est sic in...” — Bom... Então que é que estavas a fazer no quarto, há dois dias? — Meditava... e esperava. — Bom. Então... esperavas... — repetiu o comissário, como quem avançou um passo. — Esperava... — tornou a dizer Amorim, a meia voz, como se meditasse. 54 — Que mais é que lá foi, além daquela mulher? — Mulher?!... Não foi nenhuma mulher. — A “Russa”! — grrriiitou o comissário, erguendo-se na cadeira. Mas eram explosões que passavam no mesmo instante. Regressava à sua dignidade facilmente. Apesar de haver tipos como aquele que lhe faziam perder a cabeça. Amorim, àquele grito, a “Russa”! repetiu com muita calma: — Não foi nenhuma mulher. O comissário ficou um momento calado, a fumar e a revirar nas mãos uma fotografia. Por fim continuou, com uma voz muito calma: — Há quanto tempo a conheces? — Quem? — Esta. — E mostrou-lhe a fotografia. — Não sei quem é. O comissário puxou uma fumaça. Seguiu-se um longo silêncio. Por fim, disse: — Bom... Ainda não sabes nada. Então vai ver se te lembras. E quanto mais tarde te lembrares, pior para ti... Fazer de parvo nunca deu resultado. E com um sinal de cabeça mandou-o embora. O guarda, que ficara ao pé da porta, teve de dar uns passos e vir tocar-lhe no ombro, pois Amorim não tinha percebido a ordem. Regressou pelos mesmos corredores escuros, de paredes viscosas, desceu as velhas escadas de pedra e ao lado dele caminhava o carcereiro soturno, levando na mão um molho de chaves que tilintavam como guizos. Ora num daqueles corredores havia portas gradeadas onde assomavam homens, alguns dos quais pareciam operários, outros pedintes esfarrapados, que diziam palavras incompreensíveis. E duma dessas grades um homem ainda novo meteu a cabeça pelas grades, gritando com desespero: — Água! Tenho sede! O guarda parou, fitou-o, e com violência deu-lhe com o molho de chaves na cara. Amorim agarrou-se-lhe ao outro braço, sufocado de indignação: — Então o senhor!... O carcereiro, olhando-o com calma, só disse: — Também queres? E atirou-lhe com o molho de chaves à cabeça. Amorim desviou-se e só apanhou de raspão no ombro. Mas no mesmo instante, num salto epiléptico, com um esgar de loucura, lançou-se ao pescoço do carcereiro, que tropeçou e caiu com a cabeça ao pé das grades donde lhe tinham pedido água. Então o homem lá de dentro atirou-lhe um pontapé, que o atingiu no canto da testa. Ficou estendido. Corria-lhe sangue do nariz e da ferida da cabeça. Amorim, perplexo, cerrou os olhos como se tivesse uma dor profunda. Tudo isto se passara num relâmpago. Ali perto não estavam guardas. Só os presos que espreitavam às grades, tinham visto. Estava morto. O outro pôs o dedo no nariz: — Schiiiuu!... Desce por ali! Ouve!... Se aparecer alguém diz... diz que és o electricista. Vai com descanso. Fizeste um bem à Humanidade... Cava!... Amorim desceu as escadas que ele indicara e foi dar a uma porta das traseiras do edifício, onde estava uma sentinela que o olhou com desconfiança e perguntou: — Donde é que você vem? — Sou o electricista... E saiu. Desceu a rua e na primeira esquina desapareceu. Andou como embriagado, perdido pelas ruas, no meio da multidão. Até que foi dar à margem do rio. Sentou-se num banco, ao lado duma prostituta, que lhe disse: — Vens triste, amorzinho?... Queres que te console?... — Desculpe. E levantou-se e continuou a caminhar. Estava um vento frio e começava a cair a noite. Acendiam-se as luzes nas ruas e nas janelas das casas. Caminhava lentamente pela avenida, ao longo do cais. Vinham-lhe à boca um sorriso doloroso e calmo. “Fizeste um bem à Humanidade”. E sentia uma grande satisfação interior. “Foi a tua Hora!... Foi a tua Hora!...” Evocava a aparição daquela noite. O Anjo que o chamava... que entrou no quarto... que lhe falou... e saiu pela janela, e desapareceu na escuridão... Queria recordar-se bem das palavras que Ele tinha dito, mas já não conseguia... Só se lembrava destas: “Sou eu!”... Sim, mas tinha tido tanta coisa!... (“Sou eu!”...) Tinha falado 55 toda a noite. Lutámos toda a noite... Tinha de ser. Porque “o Mal é violento e será combatido pela violência”. Foi: pisar a formiga. “Os que lançarem mão da espada à espada morrerão...” E caminhava, já tinha deixado para trás as últimas casas da cidade, caminhava ao longo da margem, olhando vagamente a paisagem esbatida nas sombras do anoitecer. Agora toda a sua vida lhe passava diante como uma visão; e era nítida: estava terminada e completa. Do olhar e da face iluminados irradiava-lhe uma expressão de distância e de serenidade — chegava ao fim duma viagem difícil e ia descansar, dormir... O Anjo tinha vindo. Nasce para fazer bem ou para fazer mal. (“Isso é com Deus, não é comigo.”) E ele nascera para o Bem, para pisar a formiga. “Fizeste um bem à Humanidade!” Afinal, tudo que é necessário é Bem. (“E o Mal? É necessário?” — Defendei-me, Senhor!) A Lua saiu de trás dos montes, dando uma aparência humana a todas as coisas, desde as árvores, com seus braços e murmúrios da folhagem, até as águas, com um rolar de multidão. E Amorim caminhava, agora apressando o passo. Numa grande lucidez, via tudo, revia toda a sua vida desde pequeno, desde o solar dos pais, grandes senhores muito ricos, que viviam na província, até àquele humilde quarto na cidade, que o escondera do mundo. “Quem preservar até ao fim será salvo...”. Mas sentiu-se cansado. Brilhavam ao longe, amontoadas, as luzes da cidade. Então sentou-se sobre uma pedra e ficou ali esquecido, a olhar as águas do rio, que deslizavam a 96 seus pés, silenciosas e mais brancas do luar. O conto “O Anjo”, de Branquinho da Fonseca, foi publicado no volume intitulado Caminhos magnéticos, em 1938. Nele, o personagem principal, Amorim, que fora injustamente detido na prisão, efetua, após a sua fuga, um caminho de egressão da cidade. No trecho final da narrativa, delimitam-se dois espaços bem definidos: enquanto um apresenta a urbe como cenário, o outro se revela um local mais apartado, ocupado pela natureza e aparentemente sem características citadinas, embora em instante algum a cidade saia do ângulo de visão do protagonista. Na passagem do primeiro para o segundo, Amorim adquire uma capacidade de entender: de fato, somente ao fim do percurso é que o herói, antes perdido pelas ruas nas quais andou como embriagado, na cidade em que tudo é baço, vê-se — após caminhar com passo apressado (e, como então se poderia supor, já com certa desenvoltura, embora fosse coxo de uma perna) — tomado por uma grande lucidez, alcançando assim a competência para ver tudo. O pronome, a despeito de sua referência genérica e indefinida, poderia ganhar aqui uma atribuição de significado mais precisa: o tudo que Amorim realmente vê seriam as luzes da cidade que brilhavam ao longe, amontoadas, conforme logo se descreve, as quais funcionam como metonímia do próprio espaço urbano e seus significados. Tudo, desse modo, aludiria a toda a cidade, vista por inteiro e não em fragmentos. Seu apartamento da urbe será, portanto, apenas ilusório, uma falsa evidência fornecida pela leitura mais imediatista de suas letras. 96 FONSECA, B. da (1967), p. 9-27. 56 Se, aliás, por um lado, logo depois da escapar do cárcere, o personagem se encontra no meio da multidão, dela ainda parecendo fazer parte, é verdade que, ao termo da jornada, esta mesma multidão não terá efetivamente se apagado, já que segue simulada por elementos da natureza: há uma aparência humana em todas as coisas, desde as árvores, com seus braços e murmúrios da folhagem, até as águas, que se distinguem, muito a propósito, por exibirem um rolar de multidão. No entanto, há agora uma distinção importante: o protagonista e essa multidão pertencem a espécimes diferentes, ou seja, não se misturam — Amorim definitivamente não é mais um homem da multidão a que ele sempre resistiu, prisioneiro em casa, evadido de uma família rica, escondido à espera de um sentido para a vida, mas sim não mais que um homem na multidão (ou, bem aproveitando a metáfora do rio, alguém que está à margem dessa multidão). E, nessa linha de raciocínio, é presumível que as águas deslizem silenciosas em razão de ignorarem o personagem e, por isso, não intuírem engendrar com ele nenhuma comunicação (ao contrário, vale ressaltar, do que ocorre na cidade, aquando da tentativa de estabelecimento de diálogo empreendido pela prostituta, o qual, por reação exclusiva de Amorim, não se consuma). Por fim: se tais águas assim deslizam aos seus pés, é possível daí apreender uma posição de superioridade do herói da narrativa que somente se justifica em função deste conhecimento que ele adquirira e que não sendo alcançado pelos demais habitantes da urbe, impenetráveis ao que foge ao tangível, lhe adjudica tal posição excepcional. Houve, então, uma condição para que Amorim adquirisse competência para elaborar essa visão que presumimos como privilegiada e singular sobre a cidade (a despeito de a sociedade poder classificá-la sintoma de loucura ou de fanatismo religioso, hipóteses potencialmente pertinentes mas que poderiam estar vinculadas à própria estreiteza das leituras de mundo dessa grande massa): apenas ao definitivamente abandonar qualquer possibilidade de ser um homem da multidão, um homem-massa, o personagem se torna, em função mesmo do divórcio em relação à sociedade (e às suas concepções pautadas pelo lugar-comum), um homem na multidão. Adotando um ângulo que lhe permite olhar de fora o espaço urbano, Amorim é capaz de unir as suas luzes que foram gradativamente acendendo em seu caminho, a fim de desfazer o seu aparente amontoado e transformá-las em um coletivo de pequenos focos luminosos a que será atribuído esta designação de grande lucidez. 57 “O Anjo”, por conseguinte, revela-se uma eleição apropriada para ilustrar a posição que o flâneur necessitaria ocupar para elaborar a contento a sua particular interpretação da cidade: um aparente afastamento da massa, o suficiente para lhe permitir desvencilhar-se da urbe com o intuito de, postulando-se o direito de ser neste mesmo meio urbano um personagem ex-cêntrico, de outra casta, ter dele uma percepção, uma concepção que não será a mesma daqueles que estão subordinados aos seus códigos de funcionamento. 2.1 O homem sozinho no meio da multidão Quiçá não por acaso seja este o conto de Branquinho da Fonseca em que encontramos a mais veemente manifestação do fantástico, que defendemos como pertinente para que as reflexões advindas de certo processo de flânerie ainda possam ser operadas no século XX (foi esta narrativa, aliás, a eleita dentre as tantas do autor para figurar na Antologia de Melo e Castro). Nota-se que a obra de Branquinho é marcada pelo cultivo de uma prosa que, por vezes, leva o leitor, conforme observou Nelly Novaes Coelho, “para a descoberta do oculto sob as realidades aparentes (para a sondagem do mistério, do sobrenatural, do subconsciente ou do onírico) no afã de atingir o trans-real, onde a aventura humana encontraria sua justificação e/ou verdade essencial”97. Talvez esteja aí a estratégia que faria da sua poética um exemplo dos conceitos estudados anteriormente a respeito da literatura fantástica do século XX, uma vez que tentemos correlacionar aqui o termo trans-real com o desmascaramento de uma segunda realidade, a que se referiu Alazraki. Famoso especialmente pela novela O Barão, obra de 1942 que sustenta fortuna crítica com as mais variadas vertentes (realista, mítica, filosófica, sociológica, estética, surrealista), Branquinho da Fonseca publica contos, gênero narrativo a que mais se dedicou, entre as décadas de 1930 e 1950, destacando-se por ser — ao lado de José Régio, João Gaspar Simões e Miguel Torga — um dos grandes expoentes do grupo literário surgido por ocasião da criação da Revista Presença, em 1927, da qual foi um dos fundadores. Quanto ao caráter fantástico desse conto, vejamos: Amorim vive isolado em seu quarto de aluguel à espera da chegada de um anjo, que um dia, segundo a sua crença, o visitaria para lhe imputar a missão que daria sentido à sua existência: A vida é estar 97 COELHO, N. N. (1973), p. 99. 58 como morto até chegar o Anjo, que baterá três vezes, conforme ele pensava. Finalmente, em uma noite, recebe o que ele julga ser a aguardada aparição; a narrativa, por outro lado, sugere a hipótese de o anjo com rosto feminino que lhe invade a casa (após bater na porta justamente três vezes, como anunciado) ser uma foragida da polícia conhecida como a Russa, por ele confundida com o Anjo esperado. Aos elementos que justificariam esta segunda versão mais realista dos acontecimentos (como a mulher esconder alguma coisa no assoalho do quarto antes de partir aparentando estar fugindo e necessitando se livrar de algo comprometedor), unem-se outros que, diferentemente, ratificariam a visão de Amorim, tais como o fato de a figura ter respondido sou eu após bater à porta e emendado a frase (legada aos anjos por uma tradição do discurso bíblico) não tenhas medo, assim como o de ela exibir um aspecto místico, caracterizada que está como um vulto todo branco que se aproximava, crescia, que estava sobre ele, duma presença envolvente e deslumbrante, exalando um aroma embriagador. Mas, ainda que construído sob um discurso em terceira pessoa (o que normalmente não permite que se duvide da descrição dos episódios que se sucedem), o conto apresenta um narrador que em significativa parte do texto se compromete com o seu herói, de modo que as impressões de Amorim poluem as suas exposições, pondo em xeque a sua credibilidade e intensificando o caráter dúbio da narrativa. Ser envolvente, deslumbrante ou exalar um aroma embriagador, por sua vez, são competências que a ordem do feminino pode facilmente obter e não garantiriam prioritariamente a alocação da personagem no campo semântico divinal. Além disso, vale ressaltar que a menção ao sorriso da mulher (simultaneamente carnal e espiritual, como demonstra a menção à sua boca em flor vermelha, que, apesar desse caráter sensual, exalava um sorriso de religiosa suavidade) admite uma aposta de paralelismo com a mais ambígua das expressões femininas de que provavelmente se tem notícia, a da Mona Lisa pintada por Leonardo Da Vinci: e a referência a um sorriso piedoso ou irónico parece mesmo remeter à mensagem dúbia emitida pelos lábios da Gioconda. Dois trechos do conto serão explicitamente oscilantes entre as suas duas alternativas de compreensão: (1) a declaração da visitante Sou o teu Deus? Ou tu o meu anjo da guarda?, a indicar que, ao invés de haver ali uma possível relação entre um homem e um ser angélico, poderia ser que apenas se tratasse de um favor profano que Amorim involuntariamente faria ao esconder o misterioso lenço cor-de-rosa que ela trouxera entre os seios; e (2) a sua 59 partida pela janela, quando se descreve que ela saltou ao parapeito e, saindo para o telhado, ergueu os braços num gesto de dizer adeus ou de abrir as asas para voar. No fim das contas, os motivos que levaram Amorim à prisão não ficaram evidentes, nem para ele, nem mesmo para a polícia, que o detém em função de mera suspeita. Fosse lá o que estivesse escondido sob o assoalho e pudesse comprometê-lo e explicar a sua detenção, o objeto não foi encontrado e seu sentido permanece na penumbra. José Linhares Filho, por isso, vê em “O Anjo” “uma crítica à falibilidade das instituições humanas, do mundo oficial (Amorim não era culpado como julgava a polícia), e uma valorização do inexplicável (qualidade essa de todo fantástico), a desafiar o homem, sempre subjugado pelo Mistério”98 — e podemos potencializar tal crítica destacando a diferença entre as condições depauperadas de alojamento dos presos da carceragem onde o protagonista é detido e o gabinete luxuoso do senhor comissário. Crê, aliás, o ensaísta que o conto atende aos preceitos todorovianos para o estabelecimento do gênero fantástico. Cumpre todavia aqui contestar essa última ideia; acreditamos que, nesse caso, as duas versões para a história não são propriamente excludentes (como se faria necessário para que a teoria de Todorov aqui se impusesse com absoluto rigor), uma vez que, ainda que a pressuposição realista dos acontecimentos fosse a que elegêssemos como leitura99 e a visitante que o interpelara não passasse de uma fugitiva, é verdade que ela, mesmo que aleatória e involuntariamente o tenha feito, desempenhou o esperado papel do anjo que Amorim aguardava, pois, de certo modo, forneceu ao personagem circunstâncias que o conduziriam ao sentido que procurava para a sua vida. Isto porque, na prisão em que está detido para averiguações por causa dessa insólita visita, Amorim ataca um carcereiro e isto deriva na morte do funcionário, não ficando claro, todavia, se o que provocara tal resultado fora a queda que ele lhe impôs ou o chute na testa que outro preso lhe desferira. Este mesmo preso, que o aconselha a aproveitar o ensejo para fugir, afirma: Vai com descanso. Fizeste um bem à Humanidade... A frase surtirá nele um amplo efeito, de caráter epifânico, fazendo-o entender, então, o que seria a justificava 98 99 LINHARES FILHO, J (1978), 95. É curioso pensar que outro conto fonsequiano nos trará, duas décadas após “O Anjo”, circunstância semelhante: em “Os anjos” (do livro Bandeira preta, de 1958), a narrativa se encaminha exatamente para uma explicação racional daquilo que o menino crê serem vultos de figuras celestiais, fato por ele testemunhado na floresta: tratava-se, conforme ele mesmo verificaria mais tarde, de crianças fantasiadas para uma procissão — o que, segundo os preceitos todorovianos, resultaria na classificação do conto como pertencente ao gênero denominado estranho. 60 para sua existência: ter ajudado a matar aquele homem (pisar a formiga, como ele se refere) que representava um mal à sociedade, num contexto onde o absurdo e a violência se combinam para a instauração do poder (não obliteremos aqui a data de publicação: final dos anos de 1930, importante não só no contexto português mas também no europeu). Sobre a transformação de Amorim no desenvolver do conto, é válido resgatar a referência ao defeito na sua perna (sua condição de coxo), que, uma vez relacionado a Jacob pela própria narrativa, identifica esse herói com outro, de origem bíblica, o qual, semelhantemente ao protagonista fonsequiano, passa por uma trajetória de crescimento e transformação pessoal. O personagem do livro do Gênesis, que deixara a casa dos pais após sérios desentendimentos com o irmão gêmeo Esaú e sete anos de pastor servira Labão (como cantou Camões) para construir sua família e seu patrimônio, também se encontra, em certa ocasião e noturnamente, com um ser identificado como um anjo, com quem luta à beira de um rio. Mas as Sagradas Escrituras, embora sugiram, na economia do seu discurso fabuloso, que ele tenha combatido o próprio Deus (ou um anjo seu), não eliminam a possibilidade de que leituras isentas de dogmatismo e fundamentalismo interpretem esse seu oponente não reconhecido no escuro como uma figura profana, ou, em outras palavras, o seu irmão (ao menos é o que sugeriria o fato de Esaú estar ali representado pelo seu próprio anjo da guarda). Tal relação conflituosa, cabe esclarecer, origina-se quando Jacob monopoliza do pai Isaac a benção que o outro filho reivindicava para si; por isso mesmo, Jacob é um personagem em processo, já que sua imagem, no decorrer dos capítulos bíblicos, transmuda-se da do usurpador para a do patriarca fundador de Israel. Israel, a propósito, é o nome que ele mesmo passa a adotar, em substituição ao original, conforme o anjo derrotado na batalha determina ao lhe dar a benção exigida pelo homem: de certa maneira, morrera então Jacob para o nascimento de Israel. É importante anotar, aliás, que a vida de Amorim chega a seu termo (como se indica textualmente ao se afirmar que ela está terminada e completa) à beira do rio. Conforme ocorrera com a de Jacob após o seu duelo, esta luta com um anjo que Amorim provavelmente também enfrentara, nos interstícios a que sua memória não remonta, basta para entender de uma maneira não necessariamente literal o verbo batalhar, que aqui poderia ter diversos outros sentidos, funcionando inclusive como 61 metáfora sexual, tensão indubitavelmente estabelecida pelo conto. Possivelmente, seria essa a leitura que destinaríamos para o fim de vida de Amorim a que o conto alude — a sua transformação em outra pessoa, com outra identidade: o que levantamos por motivos vários, desde os mais imediatos (agora ele era um foragido da polícia e talvez carecesse mudar de cidade e de nome) até a constatação de que se está diante da culminância de uma metamorfose pessoal / espiritual — Amorim, filho de grandes senhores muito ricos, abdicara da vida burguesa gradativamente e, após viver anos na humilde pensão em que se hospedava, desligou-se em definitivo dos círculos sociais (como, semelhantemente, seria fundamental que acontecesse ao flâneur que almejasse se manter em atividade), não podendo mais ser reconhecido pela alcunha que antes empunhava. Não por acaso, somente após a fuga da prisão é que Amorim terá flanado enfim, deambulando pela cidade, conforme se observou. Durante esse caminho, lembremos, é tomado por uma compreensão final (definitiva, diríamos) que completa um processo já há muito iniciado e cuja conclusão estará intimamente ligada ao percurso concretizado. Tal entendimento elevado não é dado ao leitor, restringindo-se ao protagonista, que, desde o início do conto, eventualmente intui não ser verdadeiramente livre, conclusão a que chega a cada momento em que é tomado por alguma manifestação do que ele mesmo classifica como lucidez. Amorim entende enfim toda a cidade e as pessoas que nela vivem, mas por afinal estar deliberadamente fora dela, afastado das suas relações, que, aliás, o texto sugere como marcadas pela dissimulação, a exemplo da prostituta, única pessoa com quem ele estabelece algum contato nas ruas e que ganha, por esse motivo e por amostragem, o estatuto de representante de toda a sociedade, evidenciando, com a sua atitude, a denúncia da artificialidade das relações humanas, já que o suposto interesse da profissional pela tristeza do personagem possuiria evidentes motivações de mérito financeiro. Assim, apartando-se dessas relações sociais forjadas, é que afinal Amorim conhece, como já dissemos, as luzes urbanas (que brilhavam ao longe, amontoadas — e portanto confusas, mas agora legíveis para ele) e também a luz das multidões (representada nas águas do rio que, tranquilas ou submissas, também brilhavam, brancas do luar). Cabe ressaltar, ainda, considerando certo conjunto de semas, que é, na verdade, o próprio Amorim quem joga esta luz sobre a cidade. Inicialmente, o quarto do herói 62 surge marcado por signos que indicam abertura receptiva e iluminação (fosse durante a noite — Havia no quarto uma claridade vaga, que subia da rua silenciosa e entrava pela janela toda aberta. — fosse pela manhã — Quando abriu os olhos, viu o sol que entrava pela janela do quarto e olhou ao longe as casas brancas e os telhados mais perto.), em oposição ao do seu posterior cárcere, espaço oficial de ordem pública, metáfora do Estado, caracterizado por emblemas avessos: um calabouço subterrâneo, de chão de laje, onde entrava apenas uma réstea de luz por uma pequena fresta, junto ao tecto, que era em abóboda, e pingava. É certo que, evidentemente sob a justificativa narrativa do cair da noite, somente após iniciar o seu percurso pelo espaço urbano as luzes da cidade começaram a se acender. Tal como é certo que é por estar duplamente foragido — em função da acusação que desconhece e o levara à prisão e, agora, também em razão da morte do carcereiro — que Amorim deixa a cidade, não obstante daí alcançar paradoxalmente o seu mais alto grau de liberdade, antes tão almejado. Assim, na verdade, a motivação desse afastamento está, em uma instância mais profunda, ligada ao fato de o personagem ter apreendido em demasia os significados do meio urbano e de seus habitantes, ter compreendido em excesso a sociedade para ainda dela fazer parte. “Ser lúcido é ver de mais, sentir de mais; ver e sentir em desacordo com a normalidade quotidiana.”100, já afirmara António Manuel Ferreira em sua análise deste conto. Quiçá, (e levantamos esta hipótese tão somente para evidenciar a relação possível entre esse personagem e o do conto que lemos de Rubião) fosse Amorim perseguido pela polícia e apunhalado nas costas, não se configurasse surpresa que dele saísse precisamente a lua. Cumpre-se, aqui em suas últimas consequências, o isolamento a que estão condenados os que sofrem o apartamento do contato social em meio à cidade — e que, por isso, identificam-se em parte com o flâneur. Vem por esse motivo a propósito verificar que, na contística de Branquinho da Fonseca, com frequência se encontrem espaços de isolamento semelhantes àquele a que Amorim se submetera — na pensão (por opção), na delegacia (por imposição), fora da cidade (por radicalização da opção original). Ao contrário, porém, da simplicidade do quarto em que vivia o herói de “O Anjo”, esses outros ambientes criados pelo autor serão, normalmente, erigidos a partir de espaços caracterizados pelo gótico. O Solar do Olmo, de “D. Vampiro” (outro conto de Caminhos magnéticos), com o portão dos leões 100 FERREIRA, A. M. (2004), p. 231. 63 e a velha sineta florentina101, revela-se significativo exemplo, assim como o palácio descrito em “O involuntário”102, de Rio turvo (de 1945), em que o viajante Filipe, em razão de uma tempestade, é recebido pelo recém-conhecido Pessanha no local em que o anfitrião cria lobos e convive com corujas nos fundos da construção, e no qual mantém a filha isolada de tudo. Ambas as edificações assemelham-se, aliás, à arquitetura do casarão onde vive o Barão103, personagem-título da sua mais famosa novela, construção sobre a qual divaga o protagonista-narrador, que, analogamente, conhecera o seu dono em circunstâncias muito semelhantes àquelas em que os personagens de “O involuntário” — Filipe e Pessanha — se encontraram pela primeira vez. Em suma: trata-se de obsessões imagéticas e metafóricas: Estes velhos palácios, quase abandonados, olho-os sempre, de longe, como um sonho de conforto, de intimidade e de bem-estar: de estabilidade na vida. Independência e sossego, possibilidade de fazer a vida como seja a nosso gosto! São os meus ideais impossíveis. Um velho solar de paredes que tenham vivido muito mais do que eu, dessas paredes que têm fantasmas, e em volta um grande parque de velhas árvores, com recantos onde nunca vai ninguém. Viver o tumulto das grandes cidades e depois o silêncio, a solidão desses paraísos abandonados há muitos anos, onde entramos com não sei que inquietação, como quem desembarca numa ilha desconhecida...104 Não seria preciso grande esforço para comentar o isolamento de caráter gótico dos elementos marcados em itálico na citação anterior. Todavia, e por paradoxal que 101 “[...] o velho palácio que aparecia entre o arvoredo, ao fundo duma alameda sombria. O grande portão de bronze e ferro batido era solene, mas acolhedor. De cada lado, os bancos dos leões.” [FONSECA, B. da (1967), p. 119.] 102 “[...] uma casa rodeada por um muro. Em volta, a planície de terra amarela e pedras brancas. Era um velho palácio como há tantos, misto de grande solar e de convento. Dentro daquele muro enorme que o rodeava, parecia metido numa caixa. Passava-se um portão rasgado na muralha e lá dentro era um largo calcetado, cheio de erva entre as pedras, com um ar de abandono que dava uma amarga sensação de paz e de desgraça. Pela frente da casa subia a escadaria de pedra, coberta por grossa camada de pó da estrada, misturado com bocados de telhas. Parecia tudo abandonado e deserto. As janelas da casa estavam fechadas, tinham muitos vidros quebrados e madeira podre, a cair.” [FONSECA, B. da (1945), p. 136.] 103 “[...] velho solar, de certa imponência. Uma fachada de janelas perdia-se na escuridão da noite. No alto da escada saía das sombras um alpendre assente em grossas colunas.” [FONSECA, B. da (1973), p. 23.] 104 FONSECA, B. da (1973), p. 23-4. (Grifos nossos) 64 possa parecer, o tumulto das grandes cidades e a solidão desses paraísos abandonados são, ambos, espaços que, embora fisicamente distintos e diferentemente habitados, se mostram dotados de algumas características semelhantes. Afinal, será no primeiro, justamente em meio à multidão, que se fomentará e se originará esse isolamento do homem moderno. O segundo, nessa linha de pensamento, funcionaria, ainda que por oposição, como concretização procedente deste já consubstanciado insulamento, representação metonímica de uma dialética de relações sociais pré-existentes que busca, muitas vezes em vão para estes personagens fonsequianos, dissimular o seu estado enfermo. Repare-se ainda que o fracasso da tentativa de contato que a prostituta procura travar com Amorim, por exemplo, se configura numa manifestação da postura antissocial do personagem que encontra par nos longos tempos que ele escolhera passar isolado no seu quarto de pensão. O suposto anjo por quem ele esperava estaria, afinal, nos antípodas da prostituta, já que surge tão inesperadamente quanto parte, deixando-lhe um segredo, enquanto a prostituta o alicia e deseja efetivar imediatamente o encontro de afetos em simulacro. Assim, a prosa de Branquinho da Fonseca nos insere no meio urbano que, apesar de impor uma coexistência de pessoas em espaços públicos comuns, naturaliza de tal maneira o fato de que não é necessário que os cidadãos se conheçam e estabeleçam relações que só faz acentuar a incomunicabilidade entre os seres. A esse respeito, é altamente significativa uma afirmação, tornada ainda mais paradoxal pela inesperada relação explicativa que a sustenta, de que “nas cidades cada um vive como se estivesse sozinho, porque anda no meio da multidão”105, do narrador-personagem de “A única estrela”, de Caminhos magnéticos. Nela, o semanticamente inesperado porque demonstra que o sentimento de isolamento trazido pelos grandes solares não poderia ser atenuado pelo frio convívio social que caracteriza as ruas das grandes cidades, sendo, de certa forma, seu próprio saldo. E, para ampliar a manifestação dessa lógica em outros contos do autor, poderíamos lembrar que é também uma caminhada com essas características (solitária, apesar das pessoas com quem estabelecerá contato) a que empreende o personagem principal de “A tragédia de D. Ramon” (do mesmo volume de narrativas), o qual, após casar a filha favorita por interesse financeiro, erra tristemente pela cidade — aliás, noturnamente como o flâneur mais tradicional — espreitando a 105 FONSECA, B. da (1967), p. 220-1. (Grifo nosso) 65 área do porto e contemplando uma remota e desejosa possibilidade de regressar à sua Argentina natal. Ora, a consciência da impossibilidade de evitar a solidão é o que catalisa a cobiça pelo franco insulamento que move Amorim em “O Anjo”, levando-o, no entanto, a um estado final que talvez nenhum outro personagem fonsequiano tenha conseguido desenvolver. A escolha de Amorim — o seu destacamento da massa citadina — ocorre não só pelo afastamento físico mas pela identificação com a dimensão utópica de um ser (o Anjo) que está fora da multidão e que seria, tal como muitos anjos bíblicos, anunciador de um caminho a seguir. Encontramos nesse conto uma franca reiteração dessa opção pela não comunhão, já por si aparentemente inevitável no espaço urbano moderno que viemos descrevendo, feito de solidão e isolamento. Como, no entanto, esse caminho alternativo, se traz liberdade, não gera necessariamente conforto, não será ele, em sua radicalização, facilmente assumido pelos membros da sociedade moderna; outros cidadãos, ainda que tomados por conscientizações semelhantes e mesmo por clarividências epifânicas como a de Amorim, adotarão por vezes outras estratégias de ação. 2.2 A integração pela máscara O José Rotativo (fragmento do meio) ...o barulho com cinemas nos vidros, e a achar-se bonita no espelho do W. C. Aquele barulho, e cada um a contemplar o silêncio dos outros, a pensar os pensamentos dos outros. Mulheres suadas com calor nos olhos dos homens iguais à vontade dos homens nas olheiras das mulheres e filhas magras coladas às mães gordas cheias da nossa vontade na grossura das mães no compartimento a arder com a velocidade dum raio por dentro e por fora! A velocidade excitação-igualdade a digerir com os olhos toneladas de carvão na 3.a classe, e por toda a parte a paisagem monótona das estações no amarelo sulfúreo das paredes — Senhoras — Homens, Senhoras — Homens, Senhoras — Homens... As conversas do Castelo de Sintra — a Sintra em esmalte de souvenir-lembrança. E a Batalha, nunca foste à Batalha?! Ah, isso é um crime! Que a vida na Província é tão vagarosa que andam todos mais gordos que na véspera, mais gordos e mais mal calçados. Que grande vida aquela das cidades com cinemas nos vidros e a achar-se bonita no espelho do W. C.! A mulher da frente era um cabelinho nervoso que rolaria na ponta dos meus dedos, a contorcer-se em ébano cintilante como um cabelinho obsceno! Ó que doce vitória de vencido, era um capricho de estação de inverno!... O poeta da frente roía as unhas, estremecia-lhe ao lado, vorazmente estendido na fome dela rebentando para lá dos vidros corridos os olhos injectados de fogo encarnado! A carruagem corria. Esta é a terra da pêra carapinheira, uva bastardinha e figos lampos, vocábulos nacionais que sabem a sorva! O poeta da frente chupava os dedos. O cão ia preso por uma correia: com pêlo era do tamanho do regalo duma senhora, e sem pêlo cabia dentro do buraco do dito regalo. O sujeito de idade queria que se lhe pudesse o nome de Gaio, mas o Jorge que era aluno do 3.o ano dos liceus queria antes que se chamasse Diogo Cão. Vai aqui de propósito o nome de Jorge, que eu bem sei que se usa 66 muito nas novelas, e infalível, então, nas pornográficas... mesmo mais ainda que o de Alberto! O comboio entretanto chegava ao cais. Duzentas vezes hotel e Correio da Noite. Cá estamos outra vez, mais do que nunca. Acendiam-se as luzes nas casernas. É a hora em que os rápidos de todos os lados do mundo vêm chegando às grandes capitais da vida do sonho, um desaguar de barulho noutro barulho de tempestades eléctricas. As mulheres enroladas ao dos homens põem em liberdade o brilho dos olhos que vi cravar-se nas caras dos homens distantes: os que se encontram ao seu lado são veículos da vontade por os outros distantes. No claro-escuro dos candeeiros da rua aquele vulto gordo ao lado dum magro desdobrava-se precisamente em duas porções, de modo que ao todo eram três vultos magros. Das vielas do fado vem um cheiro pronunciado a cravo da Índia, rosmaninho queimado do século XVIII. Ora os bordéis não tinham portas. Como a própria noção de mulher adúltera se seguiu à descoberta das portas das casas! Revolteavam-se lá dentro os souteneurs parasitando ao redor das folhas de parra. Cruéis por dentro e elegantes à superfície da pele, os souteneurs são uma delícia a cativar o imprevisto à doce vida. São como ainda os marinheiros dos mares que quando abordam aos cais das cidades estrangeiras é como se abordassem a cais de luxúria, e de noite andam a fazer distúrbios nas ruas, distúrbios de luxúria, de vinho e de espuma! Ora os bordéis não tinham portas. Lá dentro o coração romântico tornou-se-me em folgosa narina tal qual como dantes no tempo do feno; e as mãos remexiam, e o gosto supurava-me na boca tal qual como dantes no tempo da febre. Do brilho das estrelas desci ao brilho dos olhos a ponto que as estrelas me pareciam olhos e os olhos me pareciam estrelas. E ora por fim eu já não entendia senão de coxas, conchas alongadas e sedosas que terminavam justamente onde deviam terminar. Eu jurava-me cavalo e a vida toda se me jurava égua! Da cavalaria veio à luz um potro que era o nosso gosto e o nosso potro — um potro de abóbada que se concentrava todo e explodia depois em ansiedade concentrada até de novo encher a grossa abóbada... e até tombar como um balão apagado! E a lavar, a lavar as mãos, ficava vago e perdido a olhar o espelho para cá do vidro... Ia quase a adormecer com pesadíssimo sono mas faltou-me o quase, que é do tamanho da completa ausência do sono. Pus-me então a refluir em círculos concêntricos, e de cada vez recolhia mais ao centro a ponto de não saber se recolhia pois que comigo tinham também recolhido todas as coisas. Agora eram fantasmas de mim mesmo, todos os olhos, todos os narizes — as pessoas agudas e as que eram redondas do tamanho duma esfera indiferente. Só então é que o meu mar de calamidades se esfumou em doce e passou a envolver-me como a um peixe que aí soubesse nadar melhor que nenhum — como a um peixe que fosse todo o aquário em que nadasse! Tinha alcançado o delírio da [transcendência] — a posse externa pela posse interna! Com um grãozinho de loucura e esta belíssima coisa — a embriaguez — toda a existência é um rolar de patins. Tudo está no interior. A realidade é essa mesma intensidade de recolhimento ao centro. E tanto me tinha eu recolhido ao centro que do mundo de fora apenas me ouvia o barulho das próprias artérias: soavam assim como injecções de pesadelos! Soava o silêncio! Atordoado, ou não sei quê, eu estava assim como uma pequena esfera isolada no Espaço, de modo que as pancadas soavam-me não sei donde — se de cima, se de baixo; mas era sobretudo do centro que elas sovam! Abriu-se de repente a porta: era o hipercivilizado, era um fantasma, escuro como a noite que o trouxe, e os olhos encarnados de fogo longínquo. Trazia nas mãos gestos longínquos, e em todos os seus gestos um ar de gastar! Já não vinha lembrado da vida real à custa do forrado por dentro e por fora. Queixava-se sobretudo da vida do estômago, e fugia do sol curvado dentro dum envólucro enorme. A força do passado aquém do sol ardia agora como um sol de noite. Tudo tinha recolhido. Passava-se tudo lá dentro; era a hora em que já a realidade é o pensamento! Tinham alcançado o reino da transcendência, o delírio dos fantasmas: que eram tudo fantasmas de si próprios, e vice-versa — os fantasmas de si próprio eram tudo! E que para conduzir a tão grande posse interna tanto podem servir as veredas das selvas como as ruas das cidades ultra-excitadas: o Estado Metafísico alcança-se por esses dois caminhos. Há apenas três estados: Estado Metafísico, que é a negação da Humanidade, negação do conjunto, para ser apenas a delirante afirmação do único (a impressão de ser único — o único que existe!); Estado Selvagem, que de qualquer modo é já afirmação de Humanidade, impressão de que há mais individualidades além do próprio, espécie de repouso no encosto do Múltiplo até mesmo à projecção do próprio em figura de deuses. Esta é a verdade: o Homem selvagem acredita na individualidade do cada um, não vê que o cada um é ilusão de si mesmo, criou a multidão de todos, e não contente com isso criou até as multidões dos deuses. Vem por último o Estado Civilizado, tentativa da redução do número, redução do Múltiplo começando 67 pela redução dos deuses a um só Deus, e a acabar na redução dos homens a um só Homem com a sensação de que os outros homens são múltiplos aspectos de si próprio, fantasmas projectados de si próprio! É a delirante sensação do único! É o hipercivilizado, o monge-Tudo que alcança esse delírio da Sensação. À custa do recolhimento à sombra chega a brilhar como um sol de noite! E outra vez, da embriaguez da Existência Transcendente descende-se em espiral à vida real, à vida selvagem. Civiliza-se a caverna pouco a pouco, e ascende-se em espiral à vida do Sonho, outra vez ao Exis-Transcendente!... O meu nome é José Rotativo, o que sobe para descer por o outro lado!... E o hipercivilizado, o monge-Tudo, negro como a noite que o trouxe, psalmodiava a ventura de só no Estado Transcendente, no de lá do real, haver coisa possível: a Possibilidade! E revirava os olhos com os próprios dedos como se os seus dedos fossem torqueses e os seus olhos bolas de virar; e aguçava os dedos com os próprios dedos. Caía-lhe a língua no prato quando comia. A língua caía e desfazia-se imediatamente em língua de fogo, lavramente a fugir-lhe. E eu, solitário, naquela noite mais comprida que o escuro do interior das coisas, abraçava-o ao pescoço, encarquilhado de frenética sensação! Aquele pescoço era um tubo de cautchu, e eu horrorizado, encarquilhado de frenética sensação, arrastava-o entre os braços, de recuas, até limiar da porta em que o larguei!... E aquela cabeça recolheu ao ponto de partida e... por largo tempo baloiçou! Aquela carcaça ria, ria, igual à seriedade pavorosa que tomam para nós as risadas distantes dos que morrem!... Todo a rir-se gargalhadas de cinema assentava a mão sobre o fogão; e aquela mão derreter-se-lhe toda até ao pulso. Foi-se encostando todo a pouco e pouco, e derretendo todo a pouco e pouco até lhe ficarem unicamente os tornozelos líquidos dentro dos sapatos! Pedaços de fumo baloiçavam ainda no ar a retomar indefinidas posições. O pavoroso da noite asfixiava o cinturão do silêncio! Ouvi assobios! Aqui, e ali, e por toda a parte, flutuavam flocos de fantasmas, e ora fugiam trovões de trovoadas distantes! E cães a ladrar nos corredores das casas, com pessoas invisíveis a tossir. Desaba, entretanto, um armário de louça na cozinha tal qual como nos episódios dos livros espíritas!... À custa de suspenso por dentro e por fora, eu próprio me tinha transformado em cortiça. E derretia-me agora a quatro e quatro, todo movente, os lábios a verterem-se-me de dentro cachos de lágrimas! Passavam caixões transportados por mãos que não tinham corpos, e passavam corpos sem cabeças e cabeças sem corpos; e eu próprio me havia contemplado em duplicado — tal como sou, e virado do avesso. Aquele que era eu virado do avesso era justamente aquele peixe que nadasse no aquário que ele fosse todo! Tinha alcançado o reino do onanismo que é entre o meu chapéu e o meu calçado! Ah, em verdade, à custa de me civilizar, à custa da sombra, ardia agora como um sol de noite!... E ora, agora, eu fazia o elogio da vida da noite, da luxúria do escangalhar universal. Quando vier o escangalhar universal eu e a minha morte estamos de acordo: vida e morte é a lata expressão da totalidade; nada pode existir ao de lá de Lá! Ai o gosto de rebolar-me em dias de nuvens, embrulhado em café, e encharcado por dentro de electricidade! Como o escangalhar-se é saboroso!... Lambo com prazer as próprias chagas. A luxúria do escangalhado-mor é mais para dentro que a conjunção dos sexos. Se há diferença no caminhar dos homens, e gostosamente diferenças, é na direção do escangalhar!... E adormeci com pesadíssimo sono... A cidade tinha agora de manhã o aspecto de limpeza das casas de jogo com serradura no chão e as cadeiras em pilha. E mais o sono pesado das repartições do Estado com um pingo de água a cair no W. C.; e o escarrador de areia do contínuo. E tudo isto à volta da minha cabeça azoada, à procura dum quarto dos que vêm nos jornais para cavalheiro só, e a dona da casa absolutamente só a dizer-me com os olhos por dentro dos beiços que não havia de ser para cavalheiro só... e o pescoço a cair-lhe por cima das tetas, as tetas por cima da barriga, a barriga por cima das coxas, as coxas por cima dos joelhos, e tudo isto por cima do meu desejo enjoado a mudar de opinião com muito juízo, pôr um ponto final num fim de escândalo, desgosto-povo, com mulheres pague-cá, no Governo Civil!... E a cabeça a desmanchar-se-me em lençol de abandono. E agora na rua andavam todos tão devagar que até estavam mais gordos que na véspera — mais gordos e mais mal calçados! Engraxei o calçado, e engraxei os nervos com café! Que sabor antipático a conversas de estudantes pobres com muitas vírgulas nos “mas”... a dar tempo nos olhos de lhes olharmos os pés! Ai daquele que é reparável do pescoço para baixo. Ora eu tinha reparado em demasia no nó da gravata do primo do amigo do Luciano precisamente porque no primo do amigo do Luciano nada havia a reparar do pescoço para cima. Mas não há possibilidade de me lembrar do feitio das pernas ou das botas dum indivíduo inteligente; que todo aquele que derrame espírito some em penumbras as formas do seu corpo. Realmente só há fatos e botas 68 dentro das cabeças que são já de si mesmo fatos e botas; porque não há corpos, nem fatos, nem botas, há apenas cabeças. O espírito amolda as casacas e os chapéus à sua imagem e semelhanças. Fiz uma vez psicologia diante dum cabide de chapéus, e vi coisas espantosas: um chapéu antipático classifiquei-o imediatamente de mau carácter. Dos mais inocentes havia um que coleccionava estampilhas; isto é, dedicava-se também a bugigangas eléctricas, e umas vezes por outras à descoberta do motu continuo, e às marcas de motores da aviação. Havia um chapéu que parecia um artista — um grande artista, um pintor ou um músico — mas que afinal era um aluno das Belas-Artes, dos que derramam a poeira na [caspa] de veludo preto. Havia outro que me parecia um homem de letras, mas era um aluno do Curso Superior de Letras. Havia também chapéus vadios dos que tomam café à nossa custa, chapéus velhos, e até havia um chapéu à alentejana! E mais um coco... como se o coco, pelas rígidas formas inolvidáveis, pudesse escamotear-se ao observador. Mas quando outra coisa se não visse no coco via-se o dissimulado, o escamoteador de si próprio. Falo, é claro, da predilecção fundamental por o coco, que não da eventual que já revela outro espírito. O coco é perfeitamente igual à sotaina dos padres com a sua poderosa influência de asseio impossível e aos óculos de aro de ouro dos jesuítas, nas caras espapaçadas, gordurosas, rapadas, frias e onanísticas do clero. O coco foi sempre para mim um grave desgosto social porque eu sempre tive um grande pesar de chegar a ocupar um dia uma invejável posição social. Quando houver menos coco e for maior a bebedeira do amarelo lúcido de fogo, hão-de apagar-se as quinas da matéria, e retinintes e dormentes não mais nos saberemos do lado de fora! Mas agora por toda a parte só via cocos. Fora dos cocos estava um dia bonito e quase pardo todo a azumbir borbulhas de padeiro. Era domingo. A Cacilhas não por causa dos bêbados. Não há dúvida pró jardim zoológico. O carro não vem. Veja lá se percebe o letreiro daquele: respondeu-me que não sabia línguas. Que tinha vinte e cinco ou vinte e seis anos e que se não tinha mais é porque não queria. Perguntei-lhe o que queria: — que queria ser homem, mas que lá bigode isso é que não! E era assim mesmo; o que uma mulher quer ter dum homem é aquilo que tanto pode ser dum homem como duma mulher: pretende ser mulher de cada vez mais à custa do existir do próprio homem: quase que se é aquilo de que se gosta para ser de cada vez mais aquilo que se é. Portanto os pederastas devem ser de todos os homens aqueles que mais gostam de mulheres. Não é paradoxo; gostam tanto de mulheres que até se contentam com os homens. E, na verdade, nada há de mais semelhante a uma mulher que um homem. Aquele vício é o de tomar a imagem pelo objecto à custa do excessivo amor objecto — ficando-lhes, depois, é claro, o vício da imagem. Tudo é onanismo, tudo é o vício do pelo-menos! Até o gosto por uma vez incompleta é ainda o mesmo vício do pelo-menos, como me dizia um comilão de mamilos. Até o grande Amor é ainda onanismo... e, na mais remota causa... narcisismo! A vida mental, as aberrações sexuais e aquele gosto amoroso por maltrapilhos e até por mulheres com meias de seda (e muito mais por as meias que por as mulheres) é onanismo, é possuir a barriga dentro do crânio, é tomar a parte pelo todo, o objecto pela sua imagem! Nesta altura da conversa um sujeito que passava puxava um escarro a valer; mas como entre o puxá-lo e o cuspi-lo usa felizmente um intervalo que é do tamanho do escarro que se puxa, o meu Leandro, amigo do tenro, o comilão de mamilos, pôde precaver-se com a mão na boca. Mas isto é ainda uma conversa anterior àquela do Terreiro do Paço à espera do eléctrico, e admirar os pombos de São Marcos. Já lá estava no Jardim Zoológico, junto à jaula dos orangotangos, disposto a gozar a tarde de domingo ao lado da minha querida orangotango. Envergonhava a luxúria dos macacos e por sua parte disfarçava o melhor que podia. Mas isto não vai só de disfarçar! Aí, eterna, saborosa porcaria, a tessitura da carne é toda a mesma, quer pelada ou peluda! E senti-me enormemente desarreigado, a tremerem-me as pernas e os pulmões, a derreter-se-me o interior da caixa torácica — e por fim já oco e todo líquido na base, para aí descia o centro de gravidade como aqueles bonecos sempre em pé — de modo que se por acaso quisesse deitar-me era sempre à vertical que tornava!... E vorazmente estendido na fome dela atirava-a para lá daquele tapume. Cada perna é um gosto, cada costela um entrecosto. Carne de alho a baixo a arder como um nervo nas mãos, segurá-la ali, quente, vibrátil, escapulinte*, esguichadamente de cima a baixo, a consumar-se no meio, a puxar-se para cada centro de homem como um gosto de olfacto, tacto, paladar e vista, todo em redondo, por o lado de dentro em bola: língua-bola, olhos-bola a rebolar uma bola de vidro vermelho, encarnado-e-verde, transparente-luzerna a rebolar nas órbitas — mãos-bola, coxas-bola, sexo-bola, cebolada-bola, tudo bolas por dentro e por fora lubrificadas! O próprio infinito em pequeno e em grande é também uma bola em pequeno e em grande a rebolar-se em gosto doloroso de bola! Abençoado o rebolar da loucura que é por dentro e por fora o delírio duma bola!.......................................................................................................... 69 ...Mas sucedia imediatamente ficar chateado, mais vago e sozinho que um jogador da bola, mais falsete que o barulho falseado das carambolas no gosto corcovado dos espectadores do Bilhar!... e a lavar... a lavar as mãos, ficava vago e perdido, a olhar o espelho para cá do vidro!... E sempre no outro dia tinha a cidade um aspecto de pernas para o ar com o escarrador de areia contínuo. E deu positivo! E a cabeça já sem força nos pés a cair desabada em todo o redondo, a desmanchar-se em lençol de abandono na lagoa dos sifilíticos que andam pelados, amarelos e gastados, como marmelos pelados, a saborearem o farelo pesado da vida com borbulhas no coirão e no gosto, um ar de [couté]-consultório n.o 914, dor-de-cabeça andar. E a turbamulta a divertir-se chateada de noite com automóveis e outras vezes a cavalo com algodão nos urinóis de viva a República. E mais os pós d’arnica detrás das orelhas, com a barriga a desafiar as leprosas para a sombra e a ver os sexos das crianças pequenas. E tive saudade dos caminhos velhos com 106 sua velha crista de erva ao meio. E fui. Se o personagem Amorim, assim como outros da galeria fonsequiana, opta, desde o início da narrativa que protagoniza, por um isolamento social, a fim de escapar de um meio cuja artificialidade perturba, tiraniza e torna a convivência insuportável e no qual o diálogo humano é apenas superficial e forjado, não é exatamente o que ocorre na mais expressiva narrativa da produção em prosa do também presencista Mário Saa (mais conhecido todavia por sua trajetória de poeta). Será em 1929, no número 20 da Revista Presença, que se publicará o conto “O José Rotativo”, “um dos mais significativos da nossa novelística de vanguarda”107 segundo a avaliação do crítico português João Rui de Sousa. O texto é identificado pelo subtítulo (fragmento do meio), a sugerir que fosse parte de um todo que, no entanto, jamais chegaria a público — e talvez (ou, antes, muito provavelmente) o hipotético restante da narrativa nunca tenha aspirado à existência e não passasse de um fingimento poético que justificasse esta espécie de fração que o conto exibe do repetitivo cotidiano em que seus personagens circulam, notadamente o protagonista, que afinal poderia, em certa medida (e ainda que forjadamente, conforme veremos), representar a todos eles (daí ser batizado pelo comuníssimo nome de José). A narrativa, aliás, se inicia precisamente com reticências, mas não se encerra, como seria de se conjecturar, com o mesmo sinal gráfico que reforçaria a sua condição de fragmento do meio. Mesmo assim, o período final — E fui. — sugere o retorno a um espaço sub-urbano e configura um convite à continuidade de cariz circular do texto, que principiara na terceira classe de um comboio a levar passageiros à cidade grande. Tal percurso cíclico está indicado no próprio epíteto que o personagem-título e narrador do conto assume como sobrenome: O meu nome é José Rotativo, o que sobe para descer 106 107 SAA, M. (2006), p. 258-65. SOUSA, J. R. de (2006), p. 15. 70 por o outro lado! Essa afirmativa permitiria diversas leituras, dentre as quais a que se elabora agora e dá conta de um movimento pendular que José e outros personagens anônimos semelhantes a ele, duplos seus, empreendem entre os ambientes de pequenas povoações periféricas e provincianas e o da grande metrópole do litoral, espaços que se diferenciam especialmente por revelações opostas de um mesmo signo: o da velocidade. Atentemos para o fato de que a gradativa aceleração do comboio (esta velocidade excitação-igualdade) é responsável pela produção da sucessão de imagens incansavelmente repetidas à janela da carruagem, como as tabuletas dos banheiros das estações que, tal qual o personagem, especularmente se multiplicam (paisagem monótona das estações no amarelo sulfúreo das paredes — Senhoras — Homens, Senhoras — Homens, Senhoras — Homens...) ou os diversos letreiros de redes hoteleiras ou de jornais impressos locais (duzentas vezes hotel e Correio da Noite) a denotar o mesmo conceito de que as pequenas cidades no caminho são todas semelhantes, ou, em termos práticos, a mesma cidade. Tal rapidez, além disso, é o que permite abandonar a vida na Província, que é tão vagarosa, para alcançar a área metropolitana (provavelmente a capital Lisboa, como sugere a menção a Sintra nas recorrentes conversas dos passageiros). O conto é composto por três blocos: o primeiro transcorre entre o dia e o crepúsculo e descreve a chegada à cidade grande dos passageiros dos comboios, dentre os quais o que traz José. Contrariamente a Amorim, esse personagem, assim como os seus duplos, viajantes outros, logo se dirige aos bordéis, numa inserção voluntária na artificialidade das relações humanas do meio urbano. Nesse conto, aliás, a hipocrisia que caracteriza as relações em sociedade é potencializada ainda, em meio a outros traços, pela descrição dos cafetões: Cruéis por dentro e elegantes à superfície da pele, os souteneurs são uma delícia a cativar o imprevisto à doce vida. O segundo bloco mostra já a madrugada do protagonista, após a saciedade em seus excessos fálicos: se concentrava todo e explodia depois em ansiedade concentrada até de novo encher a grossa abóbada... e até tombar como um balão apagado! A terceira parte se passa nas horas diurnas do dia seguinte, momento de reencontro com a sociedade, quando José procura ignorar os acontecimentos das duas primeiras partes, intenção que fica manifesta no discurso do personagem-narrador quando se refere, por exemplo, ao desejo 71 enjoado a mudar de opinião com muito juízo, pôr um ponto final num fim de escândalo, desgosto-povo, com mulheres pague cá, no Governo Civil. Fernando Guimarães define “O José Rotativo” como um “encontro de uma sabedoria aforística com um delírio que se solta do sonho e nos visita cheio de inesperada fantasia”108, em razão das elucubrações do narrador, cujas bases se fundam na descrição da epifânica noite quase insone de José. Ficam aí expostos determinados conceitos que se mostrarão valiosos (mesmo fundamentais) para a leitura do conto em sua inteireza — e talvez assim nós leitores é que estejamos, nesta etapa, a testemunhar uma epifania crítico-literária, a enxergar repentinamente o viés de compreensão de todo o texto. Por conta disso, é mesmo bastante razoável pensar que o subtítulo da narrativa — fragmento do meio — mereça um olhar mais atento, já que apontaria dessa maneira a parte do texto que deveria assumir papel de força teórico-motriz do conto. Embora o aspecto insólito de “O José Rotativo” seja de imediato promovido por um discurso de sintaxe algo aleatória, recurso que desfavorece a comodidade da leitura ao estabelecer relações de coesão textual intricadas em períodos normalmente extensos (o que, a propósito, identifica o seu autor com a escola surrealista que claramente o influencia109), o trecho que exibe a noite do herói proporciona a constituição de imagens efetivamente fantásticas, com a aparição da figura de um ser espectral — um fantasma. Não será permitido ao leitor, porém, crer que os acontecimentos narrados decorram em um ambiente onírico, até porque o discurso se encarrega de apresentar textualmente determinados índices de textualidade. A cena se desenvolve entre uma primeira frase que se mostra ambígua em seus propósitos (Ia quase a adormecer com pesadíssimo sono mas faltou-me o quase, que é do tamanho da completa ausência do sono.) e uma derradeira com desígnios semelhantes (E adormeci com pesadíssimo sono...), que se situam opostamente como marcos extremos a evidenciarem o estado de efetiva vigília do personagem durante o segundo bloco da narrativa.110 A chegada do ser espectral se assemelha à do corvo que procura também de madrugada o poeta Edgar Allan Poe em seus mais celebrados versos, uma vez que 108 GUIMARÃES, F. (1971), p. 42. Em sua pesquisa a respeito do Surrealismo em Portugal, Maria de Fátima Marinho aloca o nome de Mário Saa dentre os que ela chama de autores de “um Surrealismo sem escola”, ao lado de figuras como Vitorino Nemésio e Jorge de Sena. [MARINHO, M. de F. (1987), p. 157-86.] 110 Trata-se de um expediente usado mais de uma vez por Franz Kafka, conforme se verá no capítulo VI desta tese, notadamente em A metamorfose e O processo, suas duas obras de maior impacto. 109 72 precede de pancadas que soavam não se sabe de onde111. Destituído, porém, das características que tal visita noturna exibiria na literatura fantástica do século XIX, de que Poe é expoente, o fantasma de Mário Saa de modo algum suscita medo, mesmo em cenas escatológicas com aquela em que a sua língua se desprende da boca e cai no prato em que comia ou outra na qual a mão derrete sobre o fogão ou mesmo quando revira os olhos como bolas com os próprios dedos — e provavelmente o excesso caricatural das cenas colabore para essa ausência de pavor em seu resultado, quiçá em um processo semelhante aos causados pelos exageros estéticos dos filmes de Quentin Tarantino (como o sangue que jorra feito chafariz de corpos decapitados em Kill Bill, para citar exemplo mais radical, cujo intuito é evidenciar a sua função de caricatura de películas de artes marciais sem com elas se confundir, evidenciando a sua condição de exercício explícito de um gênero de referência irônica, ironia aqui registrada como linguagem que refere outra linguagem). Desse modo, o fantasma do conto de Saa, que já não assusta aos leitores, sofre ainda de males tão corriqueiros como problemas estomacais, por exemplo — Já não vinha lembrado da vida real à custa do forrado por dentro e por fora. Queixava-se sobretudo da vida do estômago, fugia do sol curvado dentro dum envólucro enorme. Por essa razão, o impacto que a sua aparição poderia suscitar se esvazia diante de um processo o qual, no máximo, institui uma paródia voluntária das figuras oriundas do além-vida que apavoravam os leitores em obras produzidas décadas antes, consciência exposta na descrição do desabamento de um armário de louça na cozinha tal qual como nos episódios dos livros espíritas, como então essa literatura fantástica se vê pejorativamente classificada. Por isso mesmo, o protagonista encontra liberdade para tripudiar do ser espectral quando lhe puxa o pescoço até a porta, onde o larga... E aquela cabeça recolheu ao ponto de partida e... por largo tempo baloiçou!, numa cena de evidente comicidade. Ao invés de pavor, o espectro recém-chegado serve de pretexto para as reflexões do narrador. Funciona, assim, mais do que uma aparição que a economia do conto pudesse sugerir ser factual, antes como uma metáfora que virá a propósito para que sejam tecidas considerações sobre os estados de evolução cultural dos homens, que acreditamos importante retomar: 111 Em “O corvo”, o poeta fica a procurar de onde vêm as pancadas que lhe acordam à meia-noite, chegando a abrir a porta, para logo depois descobrir que as batidas soaram à janela. 73 Há apenas três estados: o Estado Metafísico, que é a negação da Humanidade, negação do conjunto, para ser apenas a delirante afirmação do único (a impressão de ser único — o único que existe!); Estado Selvagem, que de qualquer modo é já afirmação de Humanidade, impressão de que há mais individualidades além do próprio, espécie de repouso no encosto do Múltiplo até mesmo à projecção do próprio em figuras de deuses. Esta é a verdade: o Homem selvagem acredita na individualidade do cada um, não vê que o cada um é ilusão de si mesmo, criou a multidão de todos, e não contente com isso criou até a multidão dos deuses. Vem por último o Estado Civilizado, tentativa da redução do número, redução do Múltiplo começando pela redução dos deuses a um só Deus, e a acabar na redução dos homens a um só Homem com a sensação de que os outros homens são múltiplos aspectos de si próprios, fantasmas projectados de si próprio! É a delirante sensação do único! É o hipercivilizado, o monge-Tudo que alcança esse delírio da Sensação.112 O trecho aponta o caráter alegórico do conto de Saa, uma vez que discursa efetivamente a respeito da tese que o autor pretende defender, o que, todavia, não o desabonaria como um representante do gênero fantástico. Dizemos isso porque, embora Todorov defenda que o sentido potencialmente alegórico de uma narrativa a impede, na mesma proporção, de manifestar-se como fantástica — “Se o que lemos descreve um acontecimento sobrenatural, e que exige no entanto que as palavras sejam tomadas não no sentido literal mas em um outro sentido que não remeta a nada de sobrenatural, não há mais lugar para o fantástico.” 113 — referindo-se à forma clássica da alegoria, Barrenechea contesta essa posição, afirmando que tal conceito não se aplicaria aos textos do gênero no século XX, uma vez que “ahora existe la tendencia a usar tambien lo fantastico para el nivel literal de estas obras, y ademas, a dejar poco explicita la función alegorica, simbólica o parabolica, es decir su significado no literal”114, trazendo entre os exemplos textos como “La biblioteca de Babel”. Quanto à tese-alegoria de “O José Rotativo”, diríamos que se refere a um tema semelhante ao que havia sido matéria de análise de “O Anjo”; em outras palavras, fala da dificuldade de o homem integrar-se totalmente à massa ao se permitir alcançar uma individualidade e expor as suas especificidades. Nesse conto, no entanto, a matéria 112 SAA, M. (2006), p. 260-1. TODOROV, T. (2004), p. 71. 114 BARRENECHEA, A. M. (1972), p. 394 113 74 ganha desenvolvimento outro. A narrativa de Saa apresenta-se como “símbolo da perturbação do homem ao captar-se plenamente, na expressão da sua totalidade”115, como reconhece Isabel Pires de Lima. E, nela, exibe-se o conceito de que a solidificação da civilização moderna baseia-se no rechaço de duas ideias: (1) a de que o homem é um ser único e só — o Homem Metafísico — e (2) a de que o homem pode viver entre outros mantendo suas características singulares — o Homem Selvagem. Somente aquele que é reprodução em série dos seus pares alcança o estatuto socialmente reconhecido de Homem Civilizado (o que não seria possível a Amorim, por exemplo, o “louco”, o “fanático religioso”). Civilizar-se é, nesse sentido, agir segundo imagem e semelhança dos demais componentes da coletividade — como os passageiros do comboio, cada um a contemplar o silêncio dos outros, a pensar o pensamento dos outros, a ter as mesmas impressões e as mesmas opiniões, portanto, o que, mais à frente, resulta simbolicamente na transformação de dois vultos magros em um mesmo vulto gordo. Ao denominar o Homem Metafísico como a delirante afirmação do único e o Civilizado como a delirante sensação do único, o narrador põe em dúvida (porque as considera delírio) as legitimidades desses dois estados que pressupõem excepcionalidades ou singularidades do ser humano, chegando à tese principal: o homem real é o Homem Selvagem, estado do qual o fantasma — que alcançara a sua condição espectral por se ter tornado hiperbolicamente um hipercivilizado — esquecera, já que não vinha lembrado precisamente da vida real. Tal Homem, no entanto, pejorativamente definido como Selvagem apenas por ação da ironia que permeia todo o discurso do narrador (que, nessa escolha de nomenclatura, finge coadunar com a opinião pública geral), será vítima de uma sociedade que insiste em domá-lo, alvo de incansáveis tentativas de civilizá-lo em prol do funcionamento da cidade, tornando algo que ele não é verdadeiramente. Daí a metáfora dos chapéus na terceira parte do texto, quando os acessórios que parecem pertencer a artistas ou escritores, por exemplo, são usados na realidade apenas por estudantes das respectivas áreas que procuram criar de si uma imagem que não possuem mas almejam alcançar, culminando na figuração do chapéu coco, que por sua falta de traços distintivos tem função escamoteadora e, no fim das contas, acaba por ser vasta e indiscriminadamente adotado, tornando-se signo desse Homem Civilizado, que é igual a todos os demais. 115 Embora de posse desse LIMA, I. P. de (1984), p. 249. 75 conhecimento quanto ao sentido verdadeiro da apregoada selvageria do homem, que ele afinal contempla, José, contaminado que ainda é do vírus da flânerie, tem por objetivo maior atingir o Estado Metafísico (que significa alcançar grande posse interna, ou seja, largo conhecimento), quiçá o mesmo que desenvolvera Amorim ao fim do conto de Branquinho da Fonseca ao se afastar definitivamente da sociedade. Nesse sentido, a identificação da urbe com a selva permite acreditar em duas rotas possíveis, como se pode concluir das considerações do narrador: para conduzir a tão grande posse interna tanto podem servir as veredas das selvas como as ruas das cidades ultra-excitadas: o Estado Metafísico alcança-se por esses dois caminhos. Eis então outro significado para o apelido Rotativo: os três estados expostos formam, na verdade, um ciclo: ...METAFÍSICO - SELVAGEM - CIVILIZADO - METAFÍSICO SELVAGEM - CIVILIZADO - METAFÍSICO..., de modo que se pode alcançar o primeiro estado no sentido horário (passando pelo terceiro) ou, pelo contrário, no sentido anti-horário (passando pelo segundo). Assim, seguindo a lógica do Homem Selvagem, o Estado Metafísico é passível de obtenção porque já se possui naquelas circunstâncias o conceito de individualidade, restando apenas a percepção da inexistência do restante da Humanidade; seguindo, entretanto, a lógica do Homem Civilizado, desenvolve-se o mesmo estado caso se alargue o conceito de que não existem outros homens (mas apenas reduplicações do mesmo homem). Caso aplicássemos essa proposta ao conto de Branquinho da Fonseca, poderíamos concluir que Amorim teria tomado o caminho anti-horário, com a diferença de que o percurso por ele efetuado não seria cíclico como o de José Rotativo e sim um vetor de direção definida e sentido único, cujo ponto extremo a alcançar fosse justamente o Estado Metafísico: ou seja, não é possível para o protagonista de “O Anjo” continuar a andar para frente a fim de novamente alcançar o Estado Selvagem porque este seu movimento apenas potencializaria a metafisicalidade que ele parece ter atingido ao termo da narrativa. No conto de Mário Saa, ao contrário disso, José é Rotativo também por ser capaz de alterar o seu estado — primeiro de Civilizado, aquele exigido pelo meio, para Selvagem, dentre os que agem segundo sua autonomia independente dos julgamentos erigidos pela sociedade, sendo verdadeiramente si mesmo (mas onde se vive não necessariamente cônscio de tal condição, operando antes por instinto); e depois, a completar o ciclo, finalmente evoluir para o estado Metafísico, na madrugada 76 em que reflete sobre o espaço urbano e a dialética que trata da interação de seus elementos, e, por força das convenções sociais que efetivamente o moldam (e que a aparição espectral vem ratificar), mostrar-se engenhoso ainda para retornar, logo após, em um percurso perimétrico, à condição original. Isto lhe permite ser de dia o reflexo daquilo que a coletividade especularmente dele espera, ainda que à noite alcance outros níveis de evolução até chegar à madrugada-metafísica, sem precisar optar pelo radical apartamento social empreendido pelo protagonista do conto de Branquinho da Fonseca. Assim, fica claro que as três partes do conto correspondem a cada um destes estados: respectivamente, o Selvagem, o Metafísico (o central, o do fragmento do meio) e o Civilizado. O e fui que encerra o texto significa o reinício do interminável ciclo e um novo processo de selvagerização... No terceiro bloco, portanto, José, que em função da visão que é capaz de elaborar sobre o meio poderia comportar-se como um homem na multidão, disfarça-se, sob a máscara do homem da multidão. Se muitas décadas mais tarde Zygmunt Bauman concluirá que “não há outro caminho para buscar a libertação senão ‘submeter-se à sociedade’ e seguir as suas normas”116 (e enfatiza: “A liberdade não pode ser ganha contra a sociedade.”117), poderemos dizer que o personagem de Mário Saa havia precipitado, em certa medida, essa conclusão que Amorim, por sua vez, negara veementemente em sua vontade de ser livre. O papel escolhido por José não será, todavia, interpretado impunemente. A irônica afirmação que o narrador fizera no comboio (Que a vida na Província é tão vagarosa que andam todos mais gordos que na véspera, mais gordos e mais mal calçados.) será finalmente compreendida a partir da tese de que as pessoas que não apresentam conteúdo significativo em suas conversas é que permitem que se lhe reparem os pés, sina que parece acometer mesmo o próprio protagonista — e eis a punição à qual nos referíamos — que logo terá a preocupação de engraxar os sapatos, para o caso de não conseguir despertar suficientemente o interesse de outras pessoas, sobre o que José discursa: Que sabor antipático a conversas de estudantes pobres com muitas vírgulas no ‘mas’... a dar tempo nos olhos de lhes olharmos os pés! Ai daquele que é reparável do pescoço para baixo. Ora eu tinha reparado em demasia no nó da gravata do primo do amigo do Luciano precisamente porque no primo do amigo do Luciano nada havia a reparar do pescoço para cima. 116 117 BAUMAN, Z. (2001), p. 28. BAUMAN, Z. (2001), p. 28. 77 Mas não há possibilidade de me lembrar do feitio das pernas ou das botas dum indivíduo inteligente. Enquanto a noite dos bordéis permite ao homem, em sua condição selvagem, voltar-se na verdade para si próprio (e as referências ao onanismo, explícitas ou sutis, não são poucas no texto) para depois, no ápice do processo evolutivo, nos momentos reflexivos da madrugada, alcançar a sua metafisicalidade, o amanhecer do dia seguinte provoca a reestruturação das aparências e um ritmo desacelerado que contrasta com o da narração das duas primeiras partes do conto (velocidade que distinguia a tarde anterior, na qual os rápidos de todos os lugares do mundo vinham chegando às grandes capitais, um desaguar de barulho noutro barulho de tempestades eléctricas) e se mostra marcado pela alusão ao trabalho burocrático e ao funcionamento precário do encanamento do banheiro da repartição pública: A cidade tinha agora de manhã o aspecto de limpeza das casas de jogo com serradura no chão e as cadeiras em pilha. E mais o sono pesado das repartições do Estado com um pingo de água a cair no W. C.; e o escarrador de areia do contínuo. Ratifica-se, assim, no conto de Mário Saa, a falsa sensação de limpeza da cidade, representada pela serragem a cobrir o chão sujo da casa de jogos e pela caixa que esconde as secreções bucais do contínuo, expondo um meio urbano assinalado pela hipocrisia, pela valorização das exterioridades e pelas relações sociais forjadas (que fazem de todos os homens, na verdade, nada mais do que fantasmas de si mesmos, figuras que perdem a individualidade para se entregarem a uma massa pretensamente uniforme e contínua). Destaca-se, no entanto, que o fato de organizar essas ideias conscientemente não impede que José se articule com a sociedade, jogando de modo esclarecido o jogo que lhe é proposto, ao contrário de Amorim, que, na sua clarividência, lida de modo distinto com invasão da loucura urbana, optando pela antissociabilidade. Enquanto o primeiro personagem radicaliza a sua inabilidade de relacionar-se com a sociedade, o segundo se rende às regras, o que será um importante passo para, nos termos tratados em “O José Rotativo”, efetivar-se o processo civilizatório dos cidadãos, a fim de, em algum momento, transformar os homens também em hipercivilizados, fantasmas que de nada se lembram de suas vidas reais, que sobre nada deliberam, formando sociedades compostas por homens da multidão, como as que analisaremos a seguir, em contos de Isabel Cristina Pires, João de Melo e Jorge de Sena. 78 III. ... VS.O HOMEM DA MULTIDÃO O jardim voador Todos olhavam, de nariz no ar. O inverno tinha sido longo e áspero, e as notícias da guerra distante mal chegavam à cidade. O espanto há muito se esgotara, as batalhas encadeavam-se umas nas outras e a guerra era agora uma vaga ameaça, uma ficção distante e um pouco monótona. Desagradável, isso sim, era o confinamento a que o inverno obrigava, o torpor quente das casas, a neve enodoada de óleo e fuligem, uma certa tristeza, um certo cansaço viscoso e cor de cinza. E agora andava um jardim a voar por cima da cidade, com o seu talento luminoso a espantar as caras dos passantes, uma nuvem verde-clara e florida de onde o vento soprava labaredas de perfume. Aquela manhã amanhecera diferente, impetuosa, a latejar de música. Sentia-se no ar uma inquietação de viagens, um desassossego de pés que não cresciam às escondidas debaixo dos casacos de fazenda. No meio da rua borbulharam riachos, e a água chilrou nas sarjetas em cachões espumacentos que brilhavam ao sol. Todos olhavam em volta, espantados, e depois seguiam com os olhos aquele inacreditável jardim que pairava lá no alto. E irresistivelmente falaram uns com os outros. De súbito as palavras pareciam cantar, tornavam-se verdadeiras e cheias de uma crença extenuante, uma efusão, um inebriamento de valsa por entre as gargalhadas, e aquele maio deslizava cá fora, tépido e convidativo, como se tivesse sido inventado naquele instante. Uma esperança bizarra começou a pulsar na cidade e todos dançaram de mansinho debaixo da roupa. A nuvem descera um pouco e avistava-se já uma encosta onde flutuavam árvores rosadas, talvez ameixoeiras ou pessegueiros, tudo por entre a suave desordem das vides, oliveiras e ciprestes. Ao lado, via-se uma muralha verde-escura de buxo onde se torciam peónias e camélias num abraço de sangue. E logo a vista era atraída por imensos tapetes amarelos de margaça, a perder de vista, por onde uivava um perfume agridoce. Entre elas um riacho fazia estremecer as coralas molhadas e arrastava as plantas do fundo. Como todos os jardins exigem o seu toque de coisa artificial, o riacho dispersava-se em fios de água por entre fetos e avencas, caindo para uma gruta onde vicejavam hepáticas. O olhar espantado e urbano era agora incapaz de se deter, sorvido por manchas de papoilas que corriam mais que o vento entre os trigais, manchas azuis de centáureas, de borragem, punhados de rosas silvestres com o seu folho lilás e doirado, e tudo isto insinuava dúvidas e desconfortos, o peso consciencioso de desprezar o dinheiro, a responsabilidade de pôr em causa todos os laços. As glicínias espumejavam, o preto e o amarelo das abelhas entre cataratas de flores. A um canto do jardim havia um bosque de altíssimos castanheiros, onde a luz era verde, um verde fluorescente e trémulo de jazigo, e por entre o tapete de folhas cresciam jarros-bravos com o seu capelo atacante, túrgidos e ameaçadores. Tudo parecia fremir de bicharada escondida debaixo das pedras húmidas e dos galhos, lacraus, escaravelhos, aranhas peludas, cobras castanhas e ociosas que deslizavam para baixo dos arbustos. O jardim ia descendo cada vez mais, e na ponta dos arranha-céus roçavam-se moitas de dedaleiras, tão lustrosas e violáceas que feriam a vista. Plantas natalícias, gilbardeira, azevinho e musgo empapado pendiam das antenas filiformes e dos fios eléctricos como uma decoração exagerada em que se confundissem festas e estações. E as latitudes misturavam-se, goiabas e cacau explodiam entre manchas de bétulas e vidoeiros, e dos laranjais tolhidos de laranja vinha um vapor perfumado que entontecia e excitava, mais do que tudo. 79 Reinava uma grande alegria, e ouviam-se pedaços de música cantarolados entredentes, depois com mais rudeza, e finalmente as pessoas cantavam a plenos pulmões, como se o cimento e o alcatrão fossem já prados floridos cobertos de céu. A pouco e pouco, as canções e a felicidade torceram os caminhos e as estradas, e, como a perfeição é a do círculo, e a grande sageza a da esfera, as ruas serpenteavam ao acaso das valsas trauteadas, fazendo curvas de amor ou de tristeza um pouco tolas, mas aceitáveis e vivas. Surgiam já animais a espreitar, punham o focinho dentro das janelas e olhavam com olhitos maliciosos, perdido todo o medo, pata aqui, pata acolá, como se a cidade fosse sua: o jardim mágico arrancara-os das fragas e dos bosques, como se tivessem recebido um minuete secreto e esplendoroso. Sim, dentro de casa as paredes pesavam como nunca, e a todos acometia o desejo de partir. As mulheres desenharam os lábios polpudos, num vermelhão de flor, bem apertada a roupa nos quadris balanceantes, e os homens erguiam o peito, os ombros alargavam-se e o olhar ria. Ah, mas de onde é que vinha aquele borbulhar de desejo, aquela alegria, aquela exaltação? Partiam todos, jovens e velhos, um cortejo que engrossava sem parar, e o jardim acompanhava de perto aquele êxodo, baixava ainda mais, curioso, e todos puderam ver remoinhos de orquídeas, lótus e flor de macieira, e pântanos sombrios onde floresciam a cicuta e o heléboro negro, pauis baços e mefíticos que eram a linha de perigo e do desafio. Como era perturbante o jardim! Que estranha atracção exercia aquela mancha doirada que pairava no céu, como se todos os diques tivessem rebentado de repente e a causa das coisas se descobrisse, exuberante e sagrada! O rio de gente saía da cidade aos borbotões por entre gritos apaixonados. As coisas impossíveis estavam perto, e os adolescentes esqueciam as dores fantasiosas e mortais, as mães esqueciam os filhos, os velhos a idade, os homens os amigos. A multidão espraiava-se pelos caminhos de terra, entre uivos, suspiros e assobios estridentes, abandonando os laços, os horários, o dever e a rotina, o passado e o futuro. Aquela máquina dementada e escura rolava sem mercê, pisoteando searas e devastando a terra, deixando atrás de si uma geleia pudribunda de corpos esmagados. Ah, mas poderia alguém resistir ao perfume, ao desafio, à alegria do jardim? O seu hálito era forte e arrebatador, e a todos envolvia sem remédio. Começaram a cair tulipas e açafrão, figos, mangas e anonas, e a turbamulta bradava, aos saltos, querendo agarrar o jardim num desespero de alegria. De repente fez-se silêncio e a nuvem foi descendo num redemoinho vagaroso, tornando-se cada vez mais doirada. Então ressumou um perfume sufocante e afrodisíaco e toda aquela gente respirou fundo, subitamente aquietada pelo excesso de felicidade. Um clarão final transformou-os a todos em montículos de cinza que depois o vento dispersou. A cidade ficou abandonada ao céu e ao vento, uma casca de caracol vazia com as suas estrias de betão, até ser preenchida pelos inventores do jardim voador, esplêndida armadilha a que não faltou grandeza. 118 A guerra tinha acabado. Ninguém se podia queixar. Ao contrário de Amorim, de “O Anjo”, e de José Rotativo, do conto homônimo — que desenvolvem, cada um em certo grau, um olhar crítico a respeito da sociedade em que estão inseridos, promovendo sobre ela uma visão alternativa àquelas que lhes são impostas — os personagens de “O jardim voador”, narrativa de Isabel Cristina Pires publicada no livro A casa em espiral, de 1991, não são hábeis para elaborar leituras a propósito do meio urbano e do contexto político em que se desenvolvem as ações do conto. Não ignoram, como fica claro desde as primeiras linhas, que estão inseridos em uma guerra que, embora distante, os envolvia. Mas, naturalizado que está o conflito em 118 PIRES, I. C. (1991), p. 79-83. 80 razão de sua longa duração e da ausência de notícias a seu respeito (a guerra era agora uma vaga ameaça, uma ficção distante e um pouco monótona), não acreditam ou nem mesmo conseguem mais conjecturar, fatalmente para eles, que possam ainda ser palco de batalha. Isto é: não são competentes para interpretar com suspeita ou prevenção o inexplicável jardim que passa a sobrevoar as suas cabeças, relegando à banalidade a conhecida informação — que lhes deveria ser fundamental — de que havia constantes movimentos militares de combate os envolvendo. Pelo contrário, esse jardim exercerá sobre eles um inegável poder de sedução (tanto que o olhar espantado e urbano daqueles homens era incapaz de se deter). O falhanço é sintático, portanto: as informações estão à disposição de todos, mas seus excessos impedem que se estabeleçam as conexões necessárias entre elas e impõem, dessa maneira, aquela particular forma de censura diametralmente oposta à tradicional, que teria caráter proibitivo, uma censura introjetada que se cola à vontade do sujeito sem que ele disso se aperceba. E é assim que, como já dissemos, o livro da cidade se oferece ao mesmo tempo em que se esconde entre outros signos, não sendo satisfatoriamente lido. Ora, se o entendimento que desenvolve a propósito da sociedade moderna coibira Amorim de participar da massa e uma consciência semelhante induz José a integrar-se a ela, mas apenas relativamente, jogando o jogo cônscio de suas regras e dos papéis que ele deve desempenhar tão somente a fim de garantir a sua sobrevivência social, neste conto de Isabel Cristina Pires não haverá qualquer personagem na cidade que encontre par em um dos dois protagonistas antes estudados. Mais do que isso, arriscaríamos dizer que, na verdade, há aqui apenas uma figura dramática: a multidão, formada por pessoas que se entregaram a um comportamento ordinário e abriram mão de suas individualidades, de suas peculiaridades, enfim, de suas idiossincrasias. Como bem observa José Ortega y Gasset em seus estudos sobre a massa: “Já não há protagonistas: só há coro.”119 Assim, em “O jardim voador”, a população é composta por genuínos homens da multidão, não existindo quem se destaque da massa em algum instante, libertando-se da cegueira ideológica que possuíra a todos diante do elemento inexplicável, sedutor, encantador (talento luminoso, nuvem verde-clara e florida, labaredas de perfume, a latejar de música) para mais bem ajuizar os acontecimentos, apresentando-se como 119 ORTEGA Y GASSET, J. (2002), p. 43. 81 opção às percepções vulgares — ou seja: não há aqui nenhuma dimensão possível do flâneur, figura oitocentista cujo comportamento Lucrécia Ferrara observara se esfacelar, levando-a a concluir que, mais modernamente, “o indivíduo perde-se ao longe e se torna anônimo e sem identidade”120, “dissolvido na massa”121. Por ação do fascínio exercido pelo jardim, os homens que compõem essa multidão são transpostos — e recuperamos a metáfora elaborada pela narrativa de Saa — a um Estado Civilizado. Isto é: isolados que estavam uns dos outros, sob o pretexto do clima que lhes enclausurara em seus lares (o desagradável confinamento a que o inverno obrigava), tornam-se aptos a conversar (somente após o aparecimento do jardim é que irresistivelmente falaram uns com os outros). No entanto, limitados ou castrados por esse processo civilizatório, não conseguem aproveitar tal ocasião para discutirem o significado daquele estranho jardim, não percebem a sua armadilha, enfim, não são capazes de ameaçar o seu estranho sucesso — a ausência de discursos diretos, aliás, indicia que não possuem direito a elaborar as suas próprias palavras. Agem sem coordenação, tanto que, pouco antes do extermínio de todos, deixam de ser referidos como multidão para ganharem nomenclatura mais pejorativa: turbamulta, a evidenciar, na festa alienada que promovem122, precisamente uma desordenação, uma incapacidade de aliança organizada que os pudesse fortalecer, que lhes permitisse resistência, que os guiasse a uma conclusão pertinente a respeito do que fosse o jardim, a fim de não sucumbirem ao fascínio que os leva à morte. Revelam-se homens facilmente manipuláveis. 3.1 A multidão sem arbítrio Em sua tessitura, o “O jardim voador” materializa, de forma quase exata, explícita até (como se realmente as tivesse tomado como paradigma), as teorias elaboradas por Ricardo Piglia para investigar o funcionamento do gênero (conto), que levantam a hipótese de uma bilateralidade inerente ao enredo de narrativas desta 120 FERRARA, L. D. (2000), p. 89-90. FERRARA, L. D. (2000), p. 90. 122 Lembremos que Mário Saa usara o substantivo com a mesma intenção denotativa: E a turbamulta a divertir-se chateada de noite com automóveis e outras vezes a cavalo com algodão nos urinóis de viva a República. Analogamente, a multidão do texto de Isabel Cristina Pires será essa turbamulta que bradava, aos saltos, querendo agarrar o jardim num desespero de alegria. 121 82 natureza, conforme ele esclarece ao expor uma de suas teses sobre o conto, qual seja: um conto sempre conta duas histórias: Num de seus cadernos de notas, Tchekhov registra esta anedota: “Um homem em Montecarlo vai ao cassino, ganha um milhão, volta para casa, suicida-se.” A forma clássica do conto está condensada no núcleo desse relato futuro e não escrito. Contra o previsível e o convencional (jogar-perder-suicidar-se), a intriga se oferece como um paradoxo. A anedota tende a desvincular a história do jogo e a história do suicídio. Essa cisão é a chave para definir o caráter duplo da forma do conto. Primeira tese: um conto sempre conta duas histórias. [...] O conto clássico (Poe, Quiroga) narra em primeiro plano a história 1 (o relato do jogo) e constrói em segredo a história 2 (o relato do suicídio). A arte do contista consiste em saber cifrar a história 2 nos interstícios da história 1. Um relato visível esconde um relato secreto, narrado de um modo elíptico e fragmentário. O efeito de surpresa se produz quando o final da história secreta aparece na superfície.123 No caso do conto de Isabel Cristina Pires, a história 1 seria a narração da invasão do espaço aéreo pelo jardim, que se manifesta em primeiro plano, e a história 2, secreta, a do desenvolvimento de um conflito bélico, cuja referência se limita estrategicamente às primeiras linhas do texto para somente no fim ser retomada. O relato sobre a guerra, portanto, se dá por elipse e, se são na verdade os seus episódios os que o narrador ambicionava contar, o silêncio sobre eles ratifica a limitação da sua ocorrência ao discurso clandestino da escritura. Ou, antes, essa narração que se forma por ausência de significantes comprova o ocultamento da história 2 pela linha de um oceano; assim, ao menos, determinaria a metáfora do iceberg que Ernest Hemingway encontrara para expor o seu fazer poético, conforme Piglia mesmo menciona: “A teoria do iceberg é a primeira síntese desse processo de transformação: o mais importante nunca se conta. A história é construída com o não-dito, com o subentendido e a alusão.”124 — ou seja, para esse escritor americano, a história 2 seria a que se encontra sob a água e, assim, o leitor apenas a deduz enquanto acompanha a história 1, que não passaria da ponta do iceberg. 123 124 PIGLIA, R. (2004), p. 89-90. PIGLIA, R. (2004), p. 91-2. 83 Até que se produza o efeito de surpresa a que o teórico argentino alude — que nesta narrativa, evidente está, é precisamente a descoberta de que o seu elemento-chave, que catalisa toda a problemática do texto, não é mais que uma arma de guerra que dizima a população e dá a vitória aos adversários — “O jardim voador” poderia ser interpretado, por exemplo, como a descrição simbólica do fim do inverno. Diante do término dessa rigorosa e longa estação do ano, parece natural que finalmente a primavera surja, o que no texto se manifestaria sob esta aparição fantástica. Para que tal compreensão, claramente falha em sua observação de todos os semas que a obra forneceu (mas, ao mesmo tempo, provocada pelo modo estratégico, e mesmo perverso, como o texto fora composto para induzi-la), fosse sustentada até certa altura da leitura (potencializando, assim, o inesperado final), seria essencial que o leitor houvesse esquecido a alusão à guerra feita no início da narração. Essa reação é deliberadamente promovida pelos mesmos recursos a que a multidão do conto é de modo simultâneo sujeitada: os extensos trechos com descrições do jardim (que ocupam, diluídas no conto, cerca de sua metade) e de suas belezas (expostas com riquezas de detalhes e sob vocabulário específico que também colabora com o processo de distração) deslumbram de tal modo, seduzem de tal maneira (ou mesmo, dependendo do receptor em questão, entediam a tal ponto) que desviam a atenção do leitor de partes do conto que permitiriam desconfiar dos acontecimentos. No entanto, inadvertidamente, por trás de muralhas verde-escura de buxos, sob tapetes amarelos de margaças e pedras úmidas, no fundo dos riachos, dentro de grutas, entre os trigais e os altíssimos castanheiros do bosque, enfim, em todos estes espaços que virtualmente poderiam esconder algo, estariam, por assim dizer, ocultados os indícios da guerra que a narrativa sói manter emudecidos até a sua última ação. Por outro lado, caso o leitor chegue a reter reminiscência da referência à guerra, o jardim poderia receber uma leitura também eivada de ingenuidade, que o interpretasse como uma representação do próprio fim do conflito, que estaria dessa forma se fazendo anunciar finalmente. Quiçá seja essa a ideia que permita que o efeito de surpresa que encerra a narrativa acarrete então as mais significativas reflexões. Isto porque, a julgar pela sua beleza e pelo aspecto positivo daquilo que o jardim oferece e gera (alegria, esperança, comunhão, libido...), seria de se calcular que metaforizasse, portanto, o sucesso daquele povo na batalha. Será neste ponto que a narrativa se proporá a 84 remontar um antigo mito grego, a que logo faremos menção. Antes, a propósito disso, é pertinente lembrar que a ensaísta Isabel Cristina Rodrigues, em estudo sobre os contos do livro em análise de Isabel Cristina Pires, afirma, sem aludir especificamente a “O jardim voador”, que tais narrativas, na constituição dos seus enredos, lançam mão ora de uma reinterpretação de mitos gregos (como é o caso do conto “O fio de Ariane”), ora de uma recuperação transfiguradora de figuras e episódios bíblicos, como o de Sansão e Dalila (no “Conto do Homem excessivamente barbudo”) e o da criação do mundo (no conto “Criação”).125 Poderíamos alargar tal referência citando contos que Isabel Cristina Rodrigues não trouxe à baila e nos quais encontrássemos características semelhantes às que ela vislumbrou nas três peças mencionadas, o que acontece por exemplo com a narrativa “O pássaro azul”, que recria o mito bíblico da Arca de Noé e cuja temática, de certa maneira, se aproxima da de “O jardim voador”. Nesse outro texto, sobreviventes de um dilúvio vivem alojados dentro de uma barca, até que um pássaro azul passa a bicar incansavelmente a vidraça do lado de fora. Enquanto todos preferem ignorá-lo, uma menina, chamada Mónica, vê-se intrigada e, por um pequeno furo que as bicadas da ave fizeram, sai pela primeira vez ao tombadilho da embarcação, constatando que a água já baixara. Passa então ela também, agora do lado de fora, a bater no vidro, como fazia o pássaro, na tentativa de avisar aos demais sobre o fim das consequências da inundação. Os outros passageiros, contudo, a consideram perdida, incapazes que estão, em razão do ponto de vista reduzido e redutor que podem assumir como referencial, de observar que a menina se libertara e que já era possível abandonar a barca. Encontram-se presos às impressões limitadas que lhes é possível elaborar a partir do lugar em que estão, tornando assim a barca uma espécie de Caverna de Platão, outra referência importante recriada pelo conto que, dessa forma, tal qual em “O jardim voador”, evidencia a incapacidade de os homens elaborarem uma leitura pertinente do mundo. Em análise geral do conjunto das suas narrativas de A casa em espiral, a própria autora, em conciso artigo, destaca a “ausência de arbítrio que os personagens têm perante à vida”126. Seria o caso dessas pessoas embarcadas em “O pássaro azul” — ou, 125 126 RODRIGUES, I. C. (2003), p. 245. PIRES, I. C. (2003), p. 251. 85 se considerarmos a falta de individuação, da multidão — como seria igualmente o da população aliciada pelo éden flutuante que deixa os homens indistintamente dominados, mirando outra coisa que não a terra de onde se afastam e que abandonam aos invasores, os inventores do jardim voador. Suas vontades estão condicionadas a elementos externos que os ludibriam e direcionam suas ações, manipulando-os. Mais radicalmente que os ocupantes da barca (em que ainda, e providencialmente, surge uma menina capaz de interpretar os dados de modo novo, libertando-se da visão lugar-comum que cegara a todos naquele confinamento arbitrário, o que acontece, como se viu, com os habitantes da cidade de “O jardim voador”) estão condenados a uma perda total da capacidade de interpretação e julgamento, de tal modo que se tornam presas fáceis dos que afinal vencem a guerra. Mais do que isso, Mónica, como uma genuína flâneur, tenta, mesmo que em vão, propagar a sua visão de mundo fora da barca diluviana / caverna platônica. Diante do mistério que representava o pássaro azul, cuja atitude todos interpretaram como um pedido para também ser abrigado na barca, hipotética súplica para a qual não haveria aceite, a menina Mónica investiga as causas para somente então elaborar, com independência de pensamento, as suas próprias considerações. Mas não há quem faça algo semelhante em “O jardim voador” diante da falácia de perfeição edênica que só o excesso descritivo de positividade permite ao leitor intuir. Esse jardim sobrevoa a cidade e nele todos depositam uma fé deslumbrada, mística e irracional: exatamente por isso as palavras pareciam cantar, tornavam-se verdadeiras e cheias de uma crença extenuante. Tudo isso, no entanto, provoca no narrador a observação: uma esperança bizarra começou a pulsar na cidade. Curiosamente, o narrador não se furta, sempre com sutileza, a assumir ele próprio a postura de um flâneur que não compactua com a fé da multidão, inserindo nos interstícios dos excessos descritivos comentários modalizadores que ajudam o leitor a desconfiar das benesses do jardim. É chegado agora o momento de ligar “O jardim voador” aos outros textos evocados até aqui — “O fio de Ariane”, “Conto de um homem excessivamente barbudo”, “Criação”, “O pássaro azul” — de modo a encarar também esse conto como uma recriação de um mito, nesse caso grego, o do Cavalo de Troia, estátua oca de madeira que, como se sabe, segundo os lendários episódios cantados em A Odisseia, fora utilizada pelos gregos para penetrar no forte que protegia a cidade dos troianos 86 tornando-se elemento decisivo na vitória dos exércitos de Ulisses e Aquiles que Homero cantou. Conforme já referimos anteriormente, uma leitura ingênua do conto poderia, mesmo sem perder de vista a questão da existência da guerra, levar a encarar esse literal jardim suspenso (e fazemos evidente identificação com a babilônica construção que figura entre as chamadas Sete Maravilhas do Mundo) como uma metáfora do anúncio de um fim vitorioso do conflito, interpretação possível que deixa o leitor surpreendido diante de um resultado diametralmente oposto. Ora, é exatamente esse mesmo simbolismo ilusório o que leva os troianos a aceitarem a escultura que os gregos lhes haviam dedicado: supõem-no como sinal de rendição e não percebem que ela vem repleta de soldados escondidos em seu interior. Deixam-se ludibriar porque fornecem uma conotação positiva a um artefato que deveria, como este jardim de agora, tão estranho no seu voo como as dimensões do cavalo de Troia, ser olhado com desconfiança. A grande argúcia e engenho dos construtores do jardim voador é a de oferecer à população ingênua algo que lhes faltava: surge como um oásis de primavera em meio a um cenário de fim de inverno, que, ao alcançar o mês de maio, já se confirma como mais longo do que o costume; transforma uma certa tristeza, um certo cansaço viscoso e cor de cinza em um borbulhar de desejo, uma alegria, uma exaltação, uma excitação, enfim, um excesso de felicidade. É também libertação o que o jardim parece prometer: por isso provoca uma inquietação de viagens, um desassossego de pés que não cresciam às escondidas debaixo dos casacos de fazenda, e a todos acometia o desejo de partir. Pressagia alforria de um cotidiano citadino e de um inverno que aprisionam. Ainda em seu artigo sobre os próprios contos por ela escritos, Isabel Cristina Pires afirma: “A linha recta já não representa a infinitude, mas sim a previsibilidade crua das cidades.”127 Por isso, como engodo e para reinventar o previsível, o jardim oferece ao ambiente urbano um aspecto redondo, que representa a quebra de sua rotina massacrante; a multidão é descrita abandonando os laços, os horários, o dever e a rotina, o passado e o futuro e, como a perfeição é a do círculo, e a grande sageza a da esfera, as ruas serpenteavam ao acaso das valsas trauteadas, fazendo curvas de amor ou de tristeza um pouco tolas, mas aceitáveis e vivas. No fim das contas, todavia, essa destruição da rotina nada mais representa do que o rito circense que desde a Roma Antiga é oferecido às populações a fim de conter as suas revoltas e as 127 PIRES, I. C. (2003), p. 252. 87 suas insatisfações. Ópio do povo, como dissera Marx128 da religião, capaz de desviá-lo ilusoriamente da angústia. Pese o fato, contudo, de que, nesse caso, há ainda uma estratégia que, além de tomar os personagens de surpresa, procura envolver também o leitor (fazendo valer a teoria de Piglia), vitimando-o pelo mesmo truque e levando-o a perceber sua própria fragilidade, a sua própria predisposição a também ser manipulado. Essa parece ser a grande denúncia agenciada pelo conto. Dentro da ótica que quisemos apontar e que dá conta de um fantástico que, na contemporaneidade, exerce a função de provocar em seu leitor o despertar de um olhar que lhe parece ocultado, esse conto acusa o mesmo leitor como membro da massa alienada, uma vez que se especula que o narratário, igualmente fascinado pela descrição do jardim, também será surpreendido pela armadilha de uma guerra da qual ele não pode protestar que não tivesse tomado conhecimento. Nesses termos, o curto último parágrafo — A guerra tinha acabado. Ninguém se podia queixar. — simultaneamente denotativo e metalinguístico, evidencia justamente isso. A guerra entre a população da cidade evacuada e o invasor tinha acabado com a vitória deste último. Por outro lado, ao final do conto, a guerra entre o narrador e o narratário também tinha acabado; o leitor não se podia queixar, pois fora alertado mas não soubera inferir as sutis estratégias modalizantes da narrativa: os reiterados espaços propícios ao encobrimento, que já citamos acima; os juízos de valor de expressões como curvas de amor ou de tristeza um pouco tolas; as excessivas e quase tediosas descrições de uma plena felicidade; a denúncia do estranhamento contida em uma esperança bizarra que começou a pulsar na cidade, ou na sinestesia evidenciada enquanto se uivava um perfume agridoce; o jardim — todo encanto aparente — tinha por vezes bosques verdes mas de um verde fluorescente e trémulo de jazigo, e por entre o tapete de folhas cresciam elementos ameaçadores, ou moitas violáceas que feriam a vista, numa decoração exagerada feita de elementos que desviam porque confundem, entontecem e excitam, ou, em outras palavras, tragam os seu admirados expectadores para um vórtice que aponta o iminente desastre; a referência a uma cidade que vai perdendo o seu aspecto humano, onde os animais punham o focinho dentro das janelas e olhavam com olhitos maliciosos, perdido todo o medo, pata aqui, pata acolá, como se a cidade fosse sua. Tantos sinais para levar ao 128 MARX, K. (1991), p. 106. 88 êxodo (ou à emigração?): Partiam todos, jovens e velhos, um cortejo que engrossava sem parar. / O rio de gente saía da cidade aos borbotões. Ninguém afinal resistia ao hálito que era forte e arrebatador, e a todos envolvia sem remédio. O jardim é uma paisagem que aliena a população, provavelmente como acontece com os inocentes do Leblon do poema de Drummond, que não veem o navio entrar e tudo ignoraram porque a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas, e esquecem, mesmo esquecimento da multidão do conto que passa a também tudo ignorar: os adolescentes esqueciam as dores fantasiosas e mortais, as mães esqueciam os filhos, os velhos a idade, os homens os amigos. E possivelmente o mais grave é essa constatação de que o próprio leitor se sente embarcar na falácia, também esquecido, por força da paisagem alienante, da guerra cuja existência não ignora, até que chegue ao espanto da cena da dissolução dos corpos em montículos de cinza dispersados facilmente pelo vento, uma espécie de show em tamanho minimal, e então ele se ponha a ler com mais cuidado o peso dos significantes que o narrador utilizara para denunciar a história 2 que se escondia sob o encantamento de um jardim que pairara aliás sempre no ar e nunca pertencera de verdade a ninguém (história 1). Engodo, falácia, traição de uma irônica esplêndida armadilha que transforma também os leitores em montículos de cinza, aniquilando-os como leitores mesmos, mas não por sadismo e sim para provocar neles, ocupantes da intelectualidade que é o lugar pressuposto do leitor, sempre identificado com a erudição, uma tomada de consciência, que possuirá sempre um valor preventivo, da sua condição de, tal qual a massa de que por vezes finge não fazer parte, ser passível de manipulação. Para o leitor, ao menos, e ainda bem, é sempre tempo de mudar. 3.2 O esvaziamento semântico da sociedade “O jardim voador” pode ser lido também como denúncia de uma sociedade que valoriza a forma em detrimento do seu conteúdo, que se volta para o parecer subvalorizando o ser — artificialidades denunciadas tanto pelo recurso de sedução da prostituta de “O Anjo” como pela metáfora dos chapéus exposta em “O José Rotativo”, por exemplo. O jardim é destituído de sentido para a multidão que não o compreende, fator que, ainda assim, não limita as suas potencialidades para impactá-la. A população da cidade é seduzida não por aquilo que o jardim é — o que afinal desconhecem — mas 89 pelo que ele representaria: um conjunto de significantes que remetem a significados de caráter positivo, embora francamente imprecisos, no imaginário humano — talvez as belezas da primavera ou quiçá o bíblico paraíso perdido ou simplesmente um local de descanso do trabalho que se processa fora do espaço urbano. A multidão nem mesmo consegue descobrir, a tempo de evitar a sua própria dizimação, que se trata na verdade de uma arma de destruição em massa. O jardim passa a constituir, nesse sentido, o reflexo de uma lógica moderna daquilo que poderíamos considerar como uma espécie de esvaziamento do sentido das coisas ou a sua dessemantização. Essa mesma estratégia é a que acende na sociedade moderna a possibilidade de forjar simulacros pelo uso de significantes que, embora vazios de sentido, são preenchidos por falsos significados: antes, é como se determinado significado migrasse de um significante original (e genuíno) para outro que o herda embora a relação que sustente esse signo se mostre frágil. Ora, para ilustrarmos o fato, lembremos como, em 2007, o município chinês de Fumin, por ação da administração local ligada a assuntos de agricultura e florestas, pintou de verde uma montanha devastada por atividades de uma pedreira, ao invés de efetivamente reflorestá-la, tendo, evidentemente, a intenção de alcançar um resultado estético que representasse outro procedimento, mais complexo e caro; ou seja, almejava-se provocar a ilusão de uma atitude ecologicamente correta, ao invés de verdadeiramente tomá-la. A frustração do alcance dos objetivos se deu em função do nível caricato do trabalho, mas esse resultado (a referida frustração) está longe de ser uma regra. Ainda que os motivos não sejam os mesmos, essa opção do governo municipal chinês se assemelha à de condomínios residenciais fechados que simulam o ambiente externo da cidade ou à de lojas de shoppings centers que se inspiram na arquitetura de estabelecimentos de rua ou ainda à de administradoras de metrô que sonorizam as estações com sons gravados de pássaros... para citar apenas alguns exemplos temporal e espacialmente mais próximos a nós. Atitude análoga alguém adota ao adquirir uma peça que tenha sido fabricada recentemente com o intuito deliberado de parecer antiga, como um relógio de pêndulo ou cordas que, no entanto, funcione a pilhas, apenas dissimulando um mecanismo mais remoto. A antiguidade lega a quem a possui um status de nobreza, pelo valor de mercado que teria o objeto original em função, entre outros fatores, de sua raridade ou 90 de sua qualidade de herança de família que pode representar — a peça falsamente antiga forja também esse status que outras pessoas podem legitimamente possuir. Importa na verdade que eles pareçam algo e não que o sejam. Lucrécia Ferrara explica: A crença no objeto ultrapassa seu caráter racional funcionalista, e valoriza-se a representação, a linguagem. Marx chamou essa atração de fetichismo das mercadorias, uma espécie de religião ou de narcótico, e foi um, dentre muitos, que se impressionou com o fato de se revestir coisas materiais com atributos sociais e afetivos, com sua manifestação em termos de massa, e, sobretudo, com o resultado, uma inevitável homogeneização da aparência.129 Ainda sobre o uso desse falso objeto antigo, a fim de demonstrar a maior abrangência do fenômeno, é lícito apontarmos que correntes de discussão recentes intuem que o fato de a moda e a arquitetura contemporâneas investirem em um estilo vintage, também conhecido como retrô, baseado na fabricação de peças e vestimentas que remetam às décadas de 1920 a 1980, e que acaba se refletindo até mesmo nas produções artísticas que resgatam músicas e filmes de outros tempos, está fortemente ligado a um conceito de reciclagem e sustentabilidade muito em voga hoje que, uma vez difundido, predispõe o público ao consumo de peças antigas. Uma vez, todavia, que, tais peças são na verdade novas, o suposto e inconsciente objetivo não é alcançado. As calças fabricadas com o tecido conhecido como jeans possuem história semelhante. Criadas no século XIX para serem usadas por trabalhadores de minas, ganharam mercado em meados do século seguinte em razão de sua durabilidade, predicado que logo foi associado por uma juventude ligada ao movimento da Contracultura com o conceito de não consumismo que defendiam. A publicidade então passou a vender o produto precisamente a partir desse briefing (e uma propaganda brasileira veiculará a imagem de jovens trajando jeans sendo perseguidos pela polícia, enquanto suas calças resistem aos puxões dos policias ou ao salto por cercas de arames farpados). Quando o resultado do seu longo uso for um desfile de calças surradas pela cidade, a indústria passará a fabricar seus produtos já originalmente rasgados ou desbotados ou manchados ou esbranquiçados. E os combatentes do capitalismo e do consumismo continuarão a comprar calças novas, guiados por mantras como liberdade é 129 FERRARA, L. D. (1993), p. 222. 91 uma calça azul, velha e desbotada130. Quiçá por isso Willi Bolle veja a publicidade e a propaganda como o “idioma da metrópole moderna”131. O mesmo ocorre ainda (possivelmente seja esse o maior símbolo dessa sociedade que se dessemantiza — para se ressemantizar com significados mais convenientes a determinados segmentos sociais — ou a sua mais antiga e fácil metáfora) com os livros em branco vendidos para atender a uma função puramente estética: o de ser exibido na estante, o que embute, mesmo quando inconscientemente, a venda de um conceito (mas nada além disso) de erudição. Se, como insiste Lucrécia Ferrara, “a posse dos objetos é uma nova consciência de classe”132, possuir os livros sem necessariamente absorver seus conteúdos é suficiente para alçar o cidadão ao espaço destinado aos intelectuais. Tais livros vazios, portanto, comercializados não raras vezes a metro, surgem do diagnóstico do mercado de que o produto, mesmo com conteúdo, já era procurado por certa parcela do público consumidor com intenções meramente decorativas. Esse último protótipo, que provavelmente é um dos mais remotos que poderíamos levantar, foi o argumento encontrado por João de Melo para, já em 1987, no conto “O Solar dos Mágicos”, discutir essa questão da contemporaneidade a que aqui chamamos dessemantização da sociedade. O Solar dos Mágicos A fumarada dos cigarros e dos cachimbos e o zumbido contínuo das vozes logo me levaram a comparar o casarão a um transatlântico acostado a um cais em festa. A vista, de resto, era panorâmica. Os miradouros, magníficos. Lisboa, mesmo debaixo de chuva, não era menos soberba, nos seus anfiteatros medievais, do que quando outrora o sol ameaçava estoirar a caliça e os telhados dos prédios ainda não ameaçados de ruína. Apenas o óxido das suas empenas era agora um labirinto mais fumegante, porquanto a chuva parecia chiar de rescaldo nas paredes ardidas e nas árvores queimadas pelos estios de muitos séculos. Emergindo do meio dos poetas, um rapaz muito loiro, com uns compactos, longos cabelos transbordando da boina basca, assomou à tona das brumas de fumo, saiu do meio dos cachimbos e abriu para mim dois braços desolados: — Ai, menino! Esta gente já devorou tudo o que havia para comer. Fiquei a ver navios. Foram-se aos pastéis e aos rissóis, foram-se ao absinto dos poetas e ao gim tónico dos críticos, e era uma vez o jantar dum pobre como eu. Incrédulo, aturdido, rapei do convite que levava na algibeira e, ingenuamente, perguntei-lhe pela chouriça, pelo vinho carrascão. 130 E a mensagem, oriunda de antigo jingle publicitário brasileiro, poderia estar numa das caixas brancas do supermercado que serve de cenário ao citado filme alegórico 1,99 - um supermercado que vende palavras, a que já antes nos referimos. 131 BOLLE, W. (2000), p. 274. 132 FERRARA, L. D. (1993), p. 224. 92 — Ora, mamaram tudo! — bradou ele, com os braços em gancho à altura da cara — São uns alarves. O whisky, o Martini, o portwine, tudo! Deixaram-te uns refrigerantes, topa bem. Isto é gente de muito alimento! Com efeito, os rostos que então me rodeavam, afogueava-os o calor discreto da euforia. A tenebrosa devastação das bebidas alcoólicas fizera mesmo eclodir as primeiras eloquências. Estava chegada a hora dos cachimbos pensantes, a hora dos rápidos, sucessivos cigarros. Grupos falantes tinham ocupado os melhores recantos do salão, e os eruditos exibiam já o sorriso trocista, que em breve submergiria os tímidos e os reduziria à pior das misérias humanas. Muitos daqueles rostos, cerzia-os a ruga preocupada e tensa do intelecto sempre em trabalho e em turbilhão. A outros, chegara a singular humildade do silêncio e da atenção à conversa alheia. Como é sabido, os escritores são modestíssimos: não gostam nada de falar da sua Obra. Preferem dizer mal da dos outros. Pode dizer-se que o loiro da boina constituía uma difícil, inexplicável exceção? Pois pode! Era apenas um poeta faminto e sem casa, que carregava sobre o lombo encardido saco, cheio dos seus livros, e andara vendendo-os pela cidade aos livreiros mais pachorrentos. Uma semana depois, roubava-os das bancas. A terceira ronda era para pedir contas sobre os exemplares supostamente vendidos. Mas como fora sendo enxotado, e como tivesse topado o seu banditismo, não tivera outro remédio senão começar tudo de novo. Impingia-os agora aos intelectuais, aos jornalistas e aos futuros escritores — e eram cadernos autografados, livros brancos que se abriam sobre furiosos e castigadores prefácios e alguma insólita poesia de origem asiática, dando notícia de um andarilho e dum filósofo esfomeado. A providencial existência de gente que frequentava os lançamentos, as conferências ou os concertos acabava assim por ir governando os hábitos incertos daquele estômago e a circulação dos livros. Pus de parte o loiro e continuei a procurar o Festejado Autor, para o abraçar, para agradecer tão amável convite e felicitá-lo pelo novo livro. Estava-se no acto de lançamento daquele a que já o editor vinha chamando “O Grande Romance do Ano”, o romance do mais sério candidato ao Prémio Camões. E, não obstante o facto de ninguém ter lido ainda a obra-prima do candidato, toda a gente acreditava na premonição, na aposta, na profecia experiente dos editores. Fui deslizando pelo meio daquela literatura uivante, como uma enguia ou um piolho em costura. Sem propósito disso, pisei poemas em forma de gente, os quais apertavam em excesso a passagem para o sítio onde devia estar, para nos receber, o Festejado Autor. Recebi os beijos maternos das dulcíssimas poetisas, que pesadamente trajavam de cerimónia e pareciam agachar-se ao peso das argolas e das gorras de fantasia. Um excêntrico dramaturgo, de bigodes à Salvador Dali e turbante na cabeça, inclinou-se para mim, numa vénia, e logo desviou o rosto. Cumprimentava toda a gente, porque isso fazia parte daquele toque de génio, do génio todavia irreconhecido e guardado para depois da morte ou do centenário do seu nascimento. Daí a um momento, eu estava nos braços do Festejado, que me tomou em peso, como um troféu de caça, e me beijou nas duas faces. Todo calvo, imponente, passara já dos cinquenta anos e tinha um hálito acidificado, curtido pelo gim tónico. Estava, compreensivelmente, no seu grande dia D. O enorme delta duma vida de êxitos abria-se de novo, à data da publicação de cada novo romance, na posse definitiva da Grande Glória Literária do Século Vinte. O seu nome, impresso na lustrosa cartolina das capas, ultrapassara há muito o tamanho das letras dos títulos e transformara-se numa imagem de marca. O comum das pessoas começava mesmo a associá-lo aos sabonetes, às pastas dentífricas e a outros precisos de higiene e do engenho humano. Os menos despeitados iam ao ponto de garantir que ele seria o Primeiro Nobel da Literatura portuguesa, pois que já as revistas estrangeiras o apontavam com insistência ao cisma das academias internacionais. De resto, aceitando a ordem natural desses pregões distantes, muitos eram os que o vinham rodeando, como pajens incolores, vendo nele o guerreiro musculoso, o académico, a estrela majestosa que os guiaria também para os misteriosos céus estrangeiros. Nessa altura, caixinhas de rosas e orquídeas, envoltas em celofane, corpos de mulheres e tímidas meninas avançavam ao encontro daquelas grandes mãos de milhafre, e o Festejado recebia tudo isso sem assombro nem encanto, afeito como estava às paixões, aos sucessos de livraria e às homenagens dos ministros e dos jornais. Lia-se nos olhos das meninas a esperança ansiosa de um dia inspirar-lhe uma nova paixão de orquídeas. E amavam-no tão sobrenaturalmente como se fizessem parte do mundo imaginário e dos delírios da sua alma sempre luminosa e sempre distante de tudo. 93 — Você desculpe lá isto — disse-me ele, entre duas mulheres com orquídeas —, mas estes dias são deveras péssimos para quem recebe amigos. Nunca ouviu dizer que o pior do casamento é o dia do casamento? Com efeito, um editor perfilara-se-lhe nas costas, com irreprimível impaciência. Vinha dizer-lhe, entre solene e melífluo, que os homens da rádio queriam entrevistá-lo. E a televisão vinha também aí. Alguém conseguira, a muito custo, garantir a sua presença no lançamento. E o senhor ministro da Cultura, acompanhado por alguns deputados, não tardaria a dar entrada no edifício. Como é óbvio, tantos argumentos tiveram um peso decisivo sobre o humor do Festejado, que se despediu logo de mim e foi furando, à pressa, pela estreita passagem que outros dois editores abriam na multidão. Logo aí, os homens da rádio avançaram, seguidos pelo tropel dos jornalistas culturais que, de bloco na mão, se acotovelavam entre si, desejando obter uma entrevista em exclusivo para as gazetas literárias e para os suplementos de domingo. O bramido das máquinas gravadoras e dos relâmpagos suplicantes, vindos dos flashes dos fotógrafos profissionais, encheu logo a atmosfera dum rumor grosso e contínuo. As pessoas tinham-se voltado na direcção da porta rotativa do Solar dos Mágicos, porque nesse preciso instante o ministro da Cultura e a corte dos deputados rodavam com o eixo das portas, deslumbravam-se brevemente com a luz feérica que todos aqueles seres irradiavam de dentro de si — e pareciam, eles mesmos, levitar sob a luz muito branca dos projectores das câmaras de televisão. Os deputados eram de facto seres levíssimos, muito pálidos, e rodavam em torno do ministro como planetas perdidos — miúdos, ossudos, anões. Uma inesperada alameda de luz de convento estava-se então abrindo à passagem do Poder, e o ministro, encadeado pelos holofotes, erguera a mão acima dos óculos. Quase a trote, atrás dele, os deputados assemelhavam-se a coisas tão drásticas como isto: cordeiros que uivavam como lobos, estando eles em presença do Grande Lobo, clérigos zelosos e reverentes diante do seu bispo, anões de circo povoando o suor deslumbrado do trapezista. O próprio ministro parecia olhá-los como a coisas desnecessárias, subalternos travessos que se permitiam, por vezes, apertar mãos que lhe eram destinadas a ele, só a ele, petulantes, sediciosos. Aquela mãe masculina tinha, nessas alturas, a tentação de repreender as crias, para que aprendessem a ter maneiras e a respeitar o protocolo. Sua excelência era um corpo em forma de bule, com um tão natural porte eclesiástico que os deputados se agachavam a um simples pestanejar. Apertava mãos, dizia graças que se perdiam nos risos excessivos e reverentes e seguia em frente, passando pelos outros como um ser luminoso, ainda que de barro ou de papel. Os cisnes televisivos seguiam-no aos pulinhos, de grupo em grupo, sempre na sombra do ministro, e cobria-os aquele suor dos ferreiros condenados à forja de toda a vida. Diligenciavam, num supremo esforço, por filmar a preceito a gradas figuras da Literatura, do Cinema, das Artes Plásticas, do Teatro, da Música, da Política. Aos outros, nem isso. Eram coisas de somenos. Eu via os seus ginasticados corpos de mergulhadores pondo-se ora em bicos de pés, ora de cócoras, para assim surpreenderem melhor as figuras que habitualmente enchiam as páginas dos jornais e o bojo da televisão com os pormenores, as poses e os faits drivers do costume. Como era de se esperar, os políticos patenteavam perante as câmaras uma maior e mais digna sobriedade. Tratava-se de seres eleitos e, por isso, impolutos e até luminosos. Os escritores, sempre tão modestíssimos, avessos às luzes da ribalta, fingiam não dar por nada — ou suportavam com inefável heroísmo a devassa dos seus rostos envergonhados mas felizes. A poetisa Mónica, conhecida pela luciferina beleza do rosto e pela bem modelada voz com que na rádio declarava as Cantigas de Amigo da sua paixão, fez por arregalar um pouco mais os olhos, já de si amendoados e irrequietos como peixes perseguidos. Ao ser focada em cheio, deixou escapar um involuntário sorriso de ocasião — e eu pensei para mim que talvez ela se estivesse convertendo na Mona Lisa, numa assexuada, eterna e indefinida Mona Lisa de brandos costumes. O romancista Ernesto Flora corou em excesso, ao ser surpreendido em público e rodeado por três ferrenhos adversários políticos. Para disfarçar o embaraço, queixou-se do calor, do ar abafado e, num gesto rápido, alargou a gravata no colarinho. O deputado Amadeu Fernandes, que se dividia entre o Parlamento, as odes satânicas e os sonetos categóricos à liberdade, pretendeu mesmo esconder da indiscreta câmara o rosto proletário e o herético punho fechado, pois seria objecto da censura ortodoxa do Partido o facto de estar mantendo relações sociais com gente que subscrevia os pontos de vista do Movimento Feminista. O seu ar compungido contrastava fortemente com a malícia da actriz Júlia Valdez. Quando focaram em cheio o romancista Álvaro Nobre, a sua calva atravessada por duas repas loiras luziu como a cartolina dos seus trinta e sete romances traduzidos em todas as Línguas do Globo Terrestre. O ministro penetrou no cone branco dos projectores e veio cumprimentá-lo 94 com humildade. O romancista Nobre subira já à altura dos deuses, e por isso o ministro se lhe dirigia tão cabisbaixo, como a pedir desculpas de existir. Tanto bastou, ainda assim, para que o homem da câmara, num salto de animal felino, se aplicasse a fundo na captação da imagem e do breve diálogo suscitado por aquele histórico encontro. Eu encostara-me a uma das mesas, sobre as quais jaziam os despojos da devastação dentária e ocorreu-me de repente a pouca sorte dos escritores novos. Como não eram gente conhecida, não lhes dispensavam um segundo sequer daquele olho mágico, que alimentava o bojo da televisão de coisas volumosas e bem-falantes, mas sempre engelhadas de idade. Contraditoriamente, pensei, a grande sorte dos novos é não serem velhos. Contudo, também eles se moviam à procura dos vultos famosos. Pediam abrigo à sombra maternal dos seus corpos, disputavam um dos seus breves sorrisos, e assim tinham esperança de poderem figurar, de fugida, no prodigioso campo da lente, da lente que os levaria aos poderes decisivos da televisão. No outro dia, os amigos e os vizinhos vê-los-iam entre uma cantora e um deputado, ou entre uma actriz e um músico de orquestra, e pensariam nas enormes vantagens que um rosto pode ter, no écran, sobre a fotografia morna das contracapas. Mas isso nunca acontecia, e era desolador! O homem da câmara tinha sido instruído nos segredos de focar apenas a parte indispensável do mundo. E o indispensável era, como se sabe, as luminárias que sorriam e se beijavam, eram os cachimbos inteligentes e as suas rugas filosóficas, era o novo existencialismo dos cabelos grisalhos ou brancos e dos poderosos óculos com aros de tartaruga. Os jovens poetas punham a sua esperança na presença do Festejado, pois decerto não deixaria de ser sacramentado, lambido, passado à lixa pelo locutor de serviço e pelo cameraman. Foram-se pois aproximando aos poucos — e eram aves do deserto rondando o peregrino solitário que não tardaria a sucumbir sobre o areal sem fim. Se pudessem filá-lo pelas abas do casaco ou por uma orelha, pedir-lhe-iam a fineza de um diálogo, o serviço de um gesto, a generosidade de um adjectivo novo. Eu estava ali e era um entre eles, tão anónimo e tão sem sentido de mim, e tão trouxa como quantos ainda pudessem admitir que a sua juventude feria os outros como a visão de um pecado mortal. Estava ali por causa do Festejado, mas perdera-o de vista, conforme perdera também os pastéis, a chouriça assada e o carrascão. Esperava de novo a minha soturna e estranha dignidade. Seguia, tal como o homem da câmara televisiva, as borboletas doidas, as frases sábias, os rostos, a importância dos outros, e tinha também o pânico desse homem: era, tal como ele, o palhaço pobre da festa dos outros, do infernal mundo de quantos em vão tornam difícil esta forma de existir. Quando o solene e melífluo editor de há pouco bateu as palmas e pediu — Silêncio, por favor! Silêncio, por favor, que vamos dar início à cerimónia, O ministro estava longamente abraçando o corpo do Festejado e, como por magia, as luzes televisivas feneceram, fuziladas por um botão de comando. Isso acontecia porque o operador de câmara ia correr, ganhar outra posição, alargar o ângulo das suas visões e dos seus planos de cena. Então, toda a pesada estrutura do Solar dos Mágicos pareceu estremecer, começando a dilatar-se. Ia decerto voar como uma nave de loucos, um balão de circo ou a espada côncava, rubra, dos ilusionistas, e o silêncio começou a pingar ao compasso da chuva que enchia, lá fora, a longa noite do mês de novembro e os anfiteatros medievais da cidade de Lisboa. O melífluo editor convidava sua excelência a ocupar a presidência da sessão, e houve quem o ouvisse cogitar, sorrindo: — Não sei é se o nosso Festejado Autor me torna digno dessa honra! Sentaram-no à direita do escritor, perante um feixe de microfones e tubos sonoros. A seguir, o editor convidou para a mesa, por ordem de chamada, os professores catedráticos, os críticos de princípio do século, os directores de jornais, os deputados-anões, os agentes literários estrangeiros, os romancistas mais idosos, os realizadores de cinema — e, aos poucos, aquela prancha muito longa, disposta sobre um estrado, em arco, foi-se enchendo de sombras, seres ressuscitados, perfis de aves, monos e várias outras espécies animais. Veio junto de mim a poetisa Dora Flores e deixou-me gelado com esta confidência: — Sabe que o senhor ministro da Cultura até é advogado? Eu disse que sim, sabia, e ela acrescentou: — Sabe imenso, imenso de leis! E eu respondi: — Ele só é ministro da Cultura porque é advogado, minha senhora. Todos nós habituámos já a ver nos advogados homens que servem para tudo. Não sei mesmo por que motivo ou mais esquisita razão não havia o homem de ser ministro da Cultura deste país sem cultura: eles são 95 administradores de bancos, directores de ópera, membros de júris literários, candidatos à presidência da República, reitores de medicina, provadores de vinho, chefes de redacção de vários jornais ao mesmo tempo, padres e às vezes herejes, por isso não compreendo o motivo do seu espanto, minha senhora. E de novo a poetisa Dora Flores, eufórica, disse: — É que, além de ministro, ele sabe imenso, imenso de leis! Um poeta-pugilista, que estivera de guarda a todas estas confidências, largou sobre os tacos do Solar dos Mágicos uma tremenda patada, a qual ecoou profundamente. E disse: — Os ministros da Cultura deste país têm crises de inteligência, minha senhora! A poetisa fugiu, espavorida, perante a brutalidade do pugilista: “Sua mula!”, disse ele, e aproveitou para urrar: — Vão começar os discursos! Socorro! De longe, uma voz disse: — Aguenta os cavais, ó bêbado! Rua mas é com ele! Tivesse bebido água, que sempre desentope a bexiga, ora essa. Perante tais admoestações, o poeta-pugilista desanimou, fez-se num ovo e sentou-se. Não suportava discursos — não era patriota. Como ia dar-se início à cerimónia de apresentação aos presentes do Grande Romance do Ano, a própria respiração das pessoas obedeceu à ordem de silêncio e alguns cachimbos recolheram às bolsas dos samarrões mais rústicos. Vi então que os outros editores transportavam caixas de livros e as depositavam no chão, à roda da grande mesa; vi que os convidados de honra começavam a servir-se dos primeiros exemplares, e os miravam, e abriam, e folheavam. Cheiravam decerto, ainda, à tinta morna, à cola plástica, à guilhotina das máquinas da tipografia. Vi que era afinal um pequeno, minúsculo volume, quase só um caderno como o dos meus alunos de Literatura, e tão discreto no tamanho quanto a aparatosa paleta de cores da sua capa — e pensei: Não, Não é verdade, Não pode ser este bezerro de ouro que a rádio, a televisão, os jornais e os catedráticos aqui vieram adorar, nem este o Templo, nem este o tempo, nem este o mês de Novembro, nem esta a chuva do deserto urbano que eu atravessei sozinho. Os professores iam decerto gostar, pois amavam o magistério fácil dos livros menores. Talvez o pudessem mesmo devorar com pudor, tal qual a miserável, vergonhosa e envergonhada sanduíche do almoço, entre duas aulas, dois tempos de espera entre o fim do mês e a próxima promoção na carreira docente. E, quanto a mim, nada decidira ainda a meu respeito, pois não pudera ter descoberto então para que mundo ou reino podia um homem como eu viajar um dia. Possivelmente, ficaria para sempre ancorado ao dia da minha partida para o Grande Sonho. Levaria comigo a voz dos meninos que se juntam a mim e me recolhem à porta das salas de aula; levaria o infinito mar cujo destino me espera, a minha Ilha, o meu passado, uma faca amarela entalada nos dentes, o sumário de todas as aulas que gostaria de ter dado e recebido e já não posso dar nem receber. Disse tudo isto só para mim, porque estava sendo impossível ouvir o eco da voz da poetisa repetir-me de longe: Ele sabe imenso de leis, imenso, imenso. Impossível também que tivesse percebido o inesperado sussurro que se erguia então da mesa dos convidados de honra. Sua excelência olhava ora à esquerda, ora à direita, corava, fazia por ganhar algum tempo de espera e adiar o protocolo. Os professores catedráticos tinham empalidecido, cheios de frio, do frio glacial que costuma atravessar a espinha, e a fende, e a rasga e abre, como a lâmina do dia, e um deles perguntou ao colega do lado se aquilo tinha de ser mesmo assim, se por acaso ele e os outros não estariam a sonhar com livros diferentes do costume. O mais antigo crítico do século assestou o monóculo, uma, duas vezes, viu, reviu, treviu e rosnou de forma ameaçadora: Não é possível, Não posso acreditar, Deve tratar-se de mais uma partida que fazem aos críticos deste país. O Festejado Autor ergueu-se, foi direito ao chefe dos editores e exigiu de pronto: Uma explicação! O melífluo editor voltou-se para os subalternos, esporeou-se, esteve incapaz de dizer coisa que se ouvisse, apetecia-lhe chorar, fugir, desaparecer por milagre, transformado em fogo. Iria, obviamente, processar os tipógrafos, arruinar de vez a casa impressora. O homem da câmara de televisão suspendeu a filmagem da capa com o rosto do Festejado em fundo e voltou um olhar de espanto na direcção do ministro, e nada, sua excelência emudecera, era como se não estivesse presente. Os editores menores puseram-se a despejar caixas, a conferir os exemplares excessivamente bem acomodados no interior do cartão canelado. Suavam como lesmas, como polvos, como anêmonas, tropeçando em pirâmides de livros — e apenas souberam abrir os braços e abanar trabalhosamente a cabecinha deserta. O Festejado perdeu as estribeiras e falou em roubo, em esbulho, em vexame, e disse outras palavras difíceis, e foi grosso, bronco, desajeitado. Decididamente, faltava ali alguém capaz de dizer: O rei vai nu, O rei vai nu. Esse 96 alguém, caso não existisse, precisava de ser rapidamente inventado, imaginem o escândalo, a afronta, com tanta televisão, tantos jornais e rádios presentes, a vergonha que era, logo aquilo havia de acontecer com o Festejado, caramba!, ainda por cima na presença do ministro da Cultura, que subsidiava o prémio e exportava livros e se correspondia tanto com os agentes literários estrangeiros, e sabia imenso, imenso de leis; e não só isso, também na presença dos catedráticos, dos que estavam escrevendo teses de doutoramento sobre o Festejado, dos críticos e dos outros escritores, prezados confrades e homens de bem. E estava-se neste impasse, e a multidão que enchia o Solar dos mágicos, sem saber de nada e coisa nenhuma, fluiu, borbulhou, inquieta e louca. Começou logo a clamar por vingança, uivando de loba — porque se estava mesmo a ver que a Literatura não podia estar assim sujeita à mão perversa de algum intruso. Tudo tinha um limite, uma medida, não era mais possível suportar o eterno grãozinho de areia que à última hora emperra sempre as máquinas... E nunca como então me pareceu a mim que o poeta-pugilista fosse afinal tão alto e tão contrário a todos nós. Vimo-lo subir a uma mesa, abrir muito os braços e começar a pedir silêncio. Fazia-o de um modo indignado, com as mãos fechadas à frente da boca. Tratava-se do nosso único e último poeta, porquanto o vimos voar, poisar aqui e acolá, sempre com as suas proféticas asas muito abertas. Chegando-se por fim à borda da mesa, muito acima de nós e da nossa falta de razão para tudo, ergueu no ar, com as mesmas asas, o Grande Romance do Ano. Passou páginas, fez dele um leque, um infólio, uma concertina muda — e logo ali arreou a grande bronca: — Espécie de beduínos! Queriam para quê o livrinho, se nem ao menos sabem ler? Ponham-se mas é todos ao fresco, que não vai haver livros para ninguém. Façam vossas excelências o favor de o escrever, se é que são gente e disso forem capazes... Para grande assombro nosso, e não menor assombração, tratava-se com efeito de um Livro Branco. Sem uma única letra dentro. Muito bem lombado, sem dúvida, e mesmo até terrivelmente laminado pelo aço azul e alcalino da guilhotina — porém sem o único e inconfundível sinal das máquinas impressoras. Faltava inventá-lo ou tão-só escrevê-lo, como sempre supus. Faltava ali quem o inventasse e quem o escrevesse. Faltava inventar também 133 quem porventura inventasse o livro e o escrevesse. E assim sucessivamente... Nesse conto de João de Melo, que encerra o livro de narrativas Entre pássaro e anjo, o narrador é um jovem escritor e professor de Literatura convidado para o lançamento do livro de um autor consagrado. O evento ocorre em uma fictícia casa de Lisboa batizada com o nome que serve de título ao texto: Solar dos Mágicos. Pois eis o primeiro sinal da artificialidade de que se acercarão todos (ou quase todos) os seus personagens: o próprio cenário do conto é denominado um solar, cujo duplo sentido possível não pode se concretizar, gerando uma ruptura, uma vez que ironicamente a narrativa decorre em horário noturno e sob um temporal de outono (concentrada reunião de três características, portanto, que não são propícias a manifestações solares), condição reiterada quando se descreve a chuva que enchia, lá fora, a longa noite do mês de Novembro e os anfiteatros da cidade de Lisboa. Sucedesse o fato narrado numa manhã ensolarada de verão, o título do conto mais bem coadunasse, do ponto de vista semântico, a lógica temporal ao espaço em que se desenvolve. Tal fratura entre a nomenclatura arquitetônica do estabelecimento e o contexto em que ele se encontra na 133 MELO, J. de (1993), p. 189-201. 97 narrativa é significativo por apontar a dicotomia ser vs. parecer, a que fazíamos menção e que representa um dos motes centrais de problematização dessa criação de João de Melo. Satirizando a imprensa que vinha tratando o jubilado escritor como sério candidato ao Prémio Camões ou ao Primeiro Nobel da Literatura Portuguesa134, o narrador se refere à obra a ser lançada e ao seu autor com alcunhas grafadas com maiúsculas: refere-se assim ao Grande Romance do Ano escrito pelo Festejado Autor, então de posse da também Grande Glória Literária do Século XX, o que evidencia um discurso pautado pela ironia que impõe uma leitura de distanciamento em relação à coisa narrada. Por ter o Festejado alcançado tamanha fama, dirá o narrador, seu nome, impresso na lustrosa cartolina das capas, ultrapassara há muito o tamanho das letras dos títulos e transformara-se numa imagem de marca, indiciando desse modo uma inversão de valores promovida pela prioridade da glória pessoal sobre a qualidade artística: o nome do escritor é o logotipo que imputa sinal de qualidade ao produto em que se transformara a sua literatura; em função disso, o comum das pessoas começava mesmo a associá-lo aos sabonetes, às pastas dentífricas e a outros precisos da higiene e do engenho humano, como o narrador arremata causticamente — também ele mesmo, escritor-produto, é manifestação do fetichismo das mercadorias. A surpresa advém no momento final quando — diante da imprensa, da (conforme assim entendida) nata intelectual do país, do ministro da cultura e de outros políticos de menor escalão, dos membros da editora, de poetas sem expressão no cenário nacional e do público em geral — a primeira caixa de livros é aberta para a distribuição dos volumes, e se descobre que todas as cópias estão em branco. Esse acontecimento insólito será responsável pelo absoluto desmoronamento de todas as aparências, de toda a forjada dignidade que a grande custo os personagens que desfilam no evento almejavam sustentar. Antes disso, porém, suas condições de impostura, de simulação social já terão sido evidenciadas ao leitor através das estratégias de ironia superlativa contidas no discurso do narrador. Primeiramente, ironizara-se a falta de recursos que assola os artistas literários ao descrever a velocidade com que o coquetel de recepção fora consumido; um dos poetas, sobre isso, reclama: Ora, mamaram tudo! Isto é gente de muito alimento! E tal penúria 134 Por ter sido publicado na década de 1980, o conto é, obviamente, anterior à premiação conquistada por José Saramago, em 1998. 98 é enfatizada justamente pela descrição de episódios recentemente protagonizados por esse mesmo poeta que protestara, escritor dos mais medíocres e miseráveis com um malfadado plano para vender seus livros. Os demais artistas presentes ainda conseguem se esconder sob o estereótipo da arrogância exibida no sorriso trocista que submergiria os tímidos e os reduziria à pior das misérias humanas e na ruga preocupada e tensa do intelecto sempre em trabalho e em turbilhão, catalisando mais ironia no discurso do personagem-narrador — Como é sabido, os escritores são modestíssimos: não gostam nada de falar da sua Obra. Preferem dizer mal da dos outros. E há ainda representantes dessa classe, por fim, que apelam à bajulação irrestrita, como o dramaturgo que cumprimentava toda a gente, porque isso fazia parte daquele toque de génio. Em nenhum momento as suas obras serão referidas: a poetisa Mónica, por exemplo, é antes conhecida pela luciferina beleza do rosto e pela bem modelada voz com que na rádio declarava as Cantigas de Amigo da sua paixão do que, como seria mais justo, por seus poemas, do mesmo modo que a erudição de todos será ratificada não pelas suas produções artísticas, mas por meros aspectos externos metonimicamente referidos: cachimbos pensantes e inteligentes, rugas filosóficas, cabelos grisalhos ou brancos, poderosos óculos com aros de tartaruga — elementos, vale ressaltar, que possuem finalidade semelhante àqueles chapéus sobre os quais discursara o narrador de “O José Rotativo”. Já a categoria dos políticos é formada por um ministro da Cultura que não seria dotado de aptidões específicas para o cargo que ocupa. Como de costume ocorre com estadistas desse escalão, cerca-se de deputados e assessores que incondicionalmente o bajulam, cordeiros que uivavam como lobos, estando eles em presença do Grande Lobo, clérigos zelosos e reverentes diante do seu bispo, anões de circo povoando o suor deslumbrado do trapezista. A crítica a essa equivocada opção de natureza política para a nomeação da pasta da Cultura se faz sentir no diálogo que o narrador trava com outra escritora, que demonstra estar deslumbrada com a figura pública da gestão administrativa da cultura do país, por motivo a princípio irrelevante: ele saber imenso de leis. Também a figura dos docentes é alvo do sarcasmo do narrador (autossarcasmo, nesse caso, já que o personagem também é professor). Diante do inesperado tamanho do romance — um pequeno, minúsculo volume, quase só um caderno como o dos meus 99 alunos de Literatura, e tão discreto no tamanho quanto a aparatosa paleta de cores da sua capa — ele discursa a respeito da mediocridade do magistério a que o país se encontra confiado (já evidenciado em outro conto dessa mesma coletânea: “Os animais docentes”), afirmando que tal livro os professores talvez o pudessem mesmo devorar com pudor, tal qual a miserável, vergonhosa e envergonhada sanduíche do almoço, entre duas aulas, dois tempos de espera entre o fim do mês e a próxima promoção na carreira docente. Toda essa turbamulta de docentes e artistas e políticos (e não é ingenuamente que recuperamos aqui esse termo eleito para a descrição final da multidão em “O jardim voador”, que já encontrava par no conto de Mário Saa, mas em função do caráter heterogêneo e pouco criterioso que governa a escolha dos — e colocamos em termos literais — catedráticos que será feita pelos organizadores do evento) toda essa turbamulta, repitimos, comporá, sob os holofotes da mídia, a bancada de ilustres da solenidade de lançamento do romance, junto ao autor e ao ministro — sombras, seres ressuscitados, perfis de aves, monos e várias outras espécies animais, como os classifica a eleição vocabular destilada pelo personagem-narrador. Dentre os presentes, destaca-se, por oposição, o poeta-pugilista, que se dispõe a fazer a sua crítica pública sobre todos, aventura a que o protagonista não se arrisca, guardando suas considerações mais ácidas apenas para o leitor do conto ou utilizando-as cautelosamente em conversações mais reservadas — é como um José Rotativo que guarda as suas análises sociais mais aprofundadas apenas para a solidão da madrugada. Quanto ao poeta que protesta publicamente, é ele o responsável por afirmações do tipo os ministros da Cultura deste país têm crises de inteligência ou vão começar os discursos! socorro! ou ainda (quando já instaurada a confusão em razão da descoberta do livro em branco) queriam para quê o livrinho, se nem ao menos sabem ler?, reiterando posições do narrador que ele não se atreveria a tornar amplamente manifestas e, assim, servindo-lhe de espécie de providencial e estratégico alter ego. Todavia, esse pugilista não é capaz de demolir ou, melhor dizendo, de nocautear as dissimulações dos presentes à cerimônia: é mesmo tripudiado por um dos convivas, que impetra, com algum significativo sucesso, deslegitimar seus comentários evidenciando a sua condição de embriaguez: Aguenta os cavais, ó bêbado! Rua mas é com ele! Tivesse bebido água, 100 que sempre desentope a bexiga, ora essa — e assim o cala por bêbado, como era feito com Amorim, criticado como louco. Pertencerá, na verdade, como dizíamos, ao elemento insólito — o Livro Branco, precisamente — a responsabilidade de efetivamente derrubar as máscaras, o simulacro. Diante das páginas vazias do pequeno mas bem cuidado volume, inseguros de seus conhecimentos literários, os componentes da mesa não se aventuram a reconhecer que há ali algo falho, sob o temor de revelar a sua própria ignorância sobre questões ligadas aos estudos literários; antes, procuram talvez compreendê-la como manifestação de alguma vanguarda artística cujos propósitos desconheçam. Por isso, a princípio, há apenas burburinhos: o ministro olhava ora à esquerda, ora à direita, corava, fazia por ganhar algum tempo de espera e adiar o protocolo; um professor catedrático, inseguro de seus conhecimentos, absurdamente perguntou ao colega do lado se aquilo tinha de ser mesmo assim; e o mais antigo crítico do século rosnou de forma ameaçadora dever tratar-se de mais uma partida que fazem aos críticos, evidenciando na fala o conservadorismo artístico no qual a crítica mormente se abriga contra o novo, contra tudo cuja compreensão pode lhe escapar, revelando os horizontes estreitos de seu conhecimento. Enfim, também o Festejado Autor terá uma reação desprovida da usual fleuma que marca a sua personalidade, desvelando a todos uma personalidade que as máscaras sociais ocultariam em circunstâncias normais. Sua atitude, aliás, além de deixar claro que o livro não estava em branco por deliberação sua, irá inflamar a multidão presente no local, a qual, como no conto de Isabel Cristina Pires, agirá tão somente de acordo com o modo como é conduzida, movida por estímulos que lhe são externos, comprando posições que foram refletidas por outrem, o que a leva a conclusões que na verdade não lhe pertencem, como demonstra a também cáustica reflexão do protagonista a respeito da cena em que os populares começaram a clamar por vingança, uivando de loba — porque se estava mesmo a ver que a Literatura não podia estar assim sujeita à mão perversa de algum intruso. Para o conto, na verdade, pouco importa o que provocara a tiragem de Livros Brancos e essa explicação é inteiramente roubada tanto ao leitor quanto aos personagens. Poderia ser uma falha da tipografia (hipótese que os editores logo levantam como forma de transferir uma possível responsabilidade para outras pessoas que estivessem convenientemente ausentes). Não se descarta, por outro lado, que se 101 tratasse ali de um fenômeno sobrenatural, insinuado textualmente desde a referência ao espaço do pomposo lançamento numa casa de eventos, cujo nome ambíguo faz referência à magia. Se o Solar pertence aos Mágicos, em uma primeira instância, por simbolizar o talento dos artistas que o frequentam ou a competência dos seus empreendedores para a realização de eventos de grande porte, em uma camada alegórica mais condizente com as revelações que o texto promove, o termo estaria relacionado ao modo como se consegue promover emoções apenas em função de formas e a despeito de reais conteúdos que as credenciem. Por outro lado, a cena que antecede o fato insólito aparenta dispor o leitor para um acontecimento extraordinário: toda a pesada estrutura do Solar dos Mágicos pareceu estremecer, começando a dilatar-se e ia decerto voar como uma nave de loucos, um balão de circo ou a espada côncava, rubra, dos ilusionistas. Tomada, então, por fim denotativamente, é possível realmente que a expressão dos Mágicos esteja a fazer menção à sobrenaturalidade do que ocorrerá nesse espaço de magia. Desfazendo, porém, toda a análise e resgatando a hipótese primeira: a julgar pela incongruência de um dos significados do termo nuclear do sintagma (Solar, como lugar que recebe o sol, tal como antes referimos), poderia também o seu adjunto (dos Mágicos) dotar-se das mesmas propriedades e, dessa forma, o fantástico dessa narrativa fantástica estaria, na radicalização máxima da tese que o conto pretende defender, destituído de magia e, portanto, dessemantizado. Pois será, na verdade, essa ambiguidade (em certa medida todoroviana) o que sustentará o viés fantástico que pode ser atribuído ao conto e, por essa razão, à narrativa não caberá resolver o mistério. Aos leitores, no entanto, exceto por uma ingenuidade literária, já nada importaria tal elucidação. A manifestação insólita não surge para ser explicada, mas a fim de, fundamentalmente — objetivo que defendemos como a função do fantástico no século XX — denunciar o mundo real (ou a irrealidade do que acreditamos real, nas palavras de Barrenechea, o que em “O Solar dos Mágicos” se refere à hipocrisia dos componentes daquele meio social). Lembremos, a esse propósito, que João de Melo é um escritor sobretudo notabilizado pelo romance O meu mundo não é deste reino, de 1982, saga de cinco séculos sobre a ilha açoriana que bebe na estética mágico-realista de Gabriel García Márquez — lembrando, por diversos recursos, os episódios passados na Macondo criada pelo escritor colombiano e tornada célebre no romance Cem anos de solidão — cuja incursão no gênero é igualmente 102 sugerida pelo título da obra, que nos remete a O reino deste mundo, de Alejo Carpentier, além de ser uma inversão paródica das palavras do Cristo pouco antes da sua morte: Meu reino não é deste mundo. O romance fantástico de João de Melo é, em sua estrutura irrealista, capaz de “denunciar os exageros de uma religião controladora que vigora pelo medo do desconhecido”135 (conforme analisa Paulo Serra em trabalho sobre o realismo mágico na literatura portuguesa), demonstrando “como o fantástico irrompe no cotidiano”136 (segundo reconhece Maria Graciete Besse em sua leitura do romance). Nesse sentido, este conto de Entre pássaro e anjo, produzido por um autor que sob nenhuma hipótese realiza uma produção estranha à sua trajetória literária, como aqui verificamos por agora, possivelmente será, de nosso corpus, o que mais explicitamente demonstre a nossa tese de que o fantástico do século XX possui uma função denunciadora do real mais incisiva que os textos realistas, ao trazer personificados, em sua diegese, os problemas que desvela e, já nesse nível ficcional, essas marcas sofrerem o desejado desvelamento. A mensagem guardada por esse Livro Branco é, apesar do seu vazio semântico, paradoxalmente muito clara em seu silêncio rico de significados. Metaforiza o esvaziamento de conteúdo intelectual da sociedade, o apagamento de sua habilidade para refletir criticamente sobre os fatos. A erudição é um produto representado pela posse exposta do livro, não sendo necessário lê-lo (não sendo mesmo preciso que se saiba ler, como acusa o poeta-pugilista) a fim de ratificar uma suposta cultura, a qual se quer exibir sem que necessariamente exista. Adquiri-la é decerto um procedimento mais trabalhoso do que o de pintar a montanha chinesa de Fumin ou mais dispendioso do que o de garimpar e adquirir antiguidades genuínas. Na sequência dos simulacros do mundo moderno, fica claro que não é indispensável, por exemplo, ter conhecimentos no campo da cultura para assumir a pasta ministerial da área, bastando que se exibam habilidades técnicas ou que, enfim, se saiba imenso de leis. Igualmente, não se faz imprescindível que o livro, para ser publicado e bem vendido podendo ainda concorrer a prêmios de fama internacional, contenha efetivamente um romance, bastando que esteja bem lombado e laminado pelo aço azul e alcalino da guilhotina e que o nome do seu autor se encontre impresso em destaque na aparatosa paleta de cores da lustrosa cartolina da capa, onde se ostente a sua foto: afinal, presume-se que apenas o seu 135 136 SERRA, P. (2008), p. 93. BESSE, M. G. (1983), p. 85. 103 aspecto externo será mostrado, por ocasião de sua exibição na estante. Trata-se, como dissemos, de conduzir o parecer a uma posição hierarquicamente superior a do ser. Fortalecendo semelhante denúncia desse fenômeno comportamental da contemporaneidade concretizada pelo conto de João de Melo, um texto de Jorge de Sena, escrito algumas décadas antes, apresenta já evidente faculdade de observação para desvendar matéria similar. Publicada originalmente em Andanças do Demónio, livro de 1960, a narrativa “A comemoração” é datada, em seu termo, pelo ano de 1946. A comemoração The valiant taste of death but once. Shakespeare — Julius Caesar, AII, C. 2 I De uma conversa de café surgira aquela ideia, mas, na voz empreendedora de Gustavo Dores logo a tal ponto se completou, que nem os habituais companheiros, levados na paixão imperial do chefe de repartição, reclamavam o título de sócios fundadores da importante comemoração a celebrar. Talvez pareça estranho tão profundo desinteresse da parte de quem o não tinha mesmo para o reconhecimento do valor de qualquer simples aventura acontecida a outro, e ali contada à mesa do café, cujas mesas, em décadas sucessivas, haviam sofrido os esquemas de rios e senzalas, ou de posições em face de inúmeras feras do sertão africano. No entanto, uma vez que, à excepção de Gustavo Dores e de três ou quatro seus “colegas de Ministério” (e estes não muito assíduos, pela frieza reservada a leigos continentais, com que eram recebidos, a menos que ouvissem respeitosamente), todos eram funcionários reformados, empregados da Fazenda ou administradores, embora saudosos do espaço e do poder, fartos da “secretaria” que lhes fornecera a experiência da vida ou da imaginação, e, ao mesmo tempo, admiradores suspeitosos da burocracia metropolitana que, outrora, em parte, dispusera deles, e agora, também em parte, os sustentava, não era tão de estranhar a capitulação perante Gustavo Dores, que aliava a uma humildade sobriamente doseada o prestígio proveniente de ser um homem que, saído do outro lado dos “guichets” do Terreiro do Paço, vinha sentar-se junto deles, no meio deles, por amor de territórios medidos, no seu espírito, a montanhas de livros e de fólios. Depois, a tudo isto se sobrepunha e impunha, cheia de possibilidades e subentendidas influências, a voz persuasiva do chefe de repartição em exercício, ressuscitando neles, muito tépida, a antiga consciência de participação anónima, e concentrando, no habitual canto do café, a atmosfera de secreta religiosidade, favorecida pelas colunas de falso mármore, as madeiras escuras e lavradas, e os azulejos historiados (com o pormenorizado e mau desenho propício ao devaneio da classe média), e ventilada pelos trémulos do quarteto, muito proficiente na “Rapsódia Portuguesa”, terminada sempre, num largo e solene crescendo, entre arrepios na espinha dos frequentadores e alguns compassos do hino nacional. Faltava pouco menos de um mês para se cumprirem dez anos sobre o obscuro falecimento de João Pereira Castanheira, que, de mísero empregado de balcão de loja sertaneja que vendia tudo, se elevara a respeitado funante, defendera Namucala contra o gentio revoltado, guiara expedições da Ocupação, governara uma província (houvera controvérsia sobre se era, naquela época, província ou distrito), e acabara em Lisboa, vitimado talvez por uma biliosa (“os médicos da metrópole nunca acertam com as doenças tropicais”) e sem se habituar aos carros eléctricos, razão por que tirara um passe “para poder andar trocado sem gastar dinheiro a grão e grão”. Precisamente a propósito da defesa de Namucala, cuja “estratégia” se discutia com fervor, é que a ideia da comemoração tomara corpo. Recordar aquele homem, que em Lisboa ostentara a sua barba branca ser receber especiais atenções, e, sendo um deles, tinha chegado a ser, lá, o que, por isto ou por aquilo, quando não pela prepotência de um superior, a intriga de um igual ou a denúncia de um inferior (havia sempre um culpado, e narravam-se então casos de suborno honestamente repelido), lhes fora inatingível, era recordar o passado, real ou virtual, de uma 104 classe, da “sua” (da “vossa”, como acentuava Gustavo Dores com simplicidade), era chamar a atenção pública, “por meio de uma iniciativa modesta mas significativa, para uma vida de perigos e responsabilidades”, e todos tinham estimado o Castanheira, que hasteara sempre, no seio do grupo, que frequentara, a invejada bandeira da independência do comerciante perante a administração. E, além disso, tipo com muita graça! Era por todos risonhamente admirada aquela partida feita ao Rebelo, um coitado que era casado e chefe de posto fronteiriço. O Castanheira, de cada vez que queria passar a sua gente, convidava os Reb elos. Passava aquilo tudo e, por unidade, fazia pôr em casa do chefe de posto, um chifre de pacaça. O pobre do Rebelo andava preocupado, mesmo doente, com aqueles chifres, que iam enchendo o edifício, vindos não se sabia de onde, pois todos os servos estavam bem pagos. E os chifres, periodicamente mais numerosos, cobrindo tudo, apareciam no próprio quarto do chefe de posto. O Rebelo, atribulado, chegara a separar-se da mulher, que depois se juntara com um sargento que a abandonou em Luanda quando regressou à metrópole. Só muito mais tarde é que o Rebelo, em Luanda, para ser presente à Junta, soube da história e perdoou à mulher, que encontrou, julgava ele, muito séria e solitária. Assentes, pois, as bases da comemoração, o Gustavo Dores revelou-se incansável. Conhecia um redactor do Diário do Comércio, o Matos, de quem fora intermediário num negócio de empréstimo a funcionários, e por ele conseguiu a publicação de um “singelo comunicado”, que veio por duas vezes, “na necrologia também, para os que só leem a necrologia”. Outros jornais fizeram eco; Dores falava a muita gente no Ministério; dizia-se que o próprio Ministro, em conversa com o director-geral, louvara a iniciativa. Na repartição, todos os momentos de distracção do chefe, por detrás dos seus óculos de aro escuro e espesso, que dão seriedade e impõem respeito, eram atribuídos à comemoração, e todos os escriturários se abstinham de o interromper, quando o viam curvado sobre a secretária, mudando constantemente de caneta, redigindo por certo mais uma notícia, ou tomando notas para o que diria a fulano ou cicrano. De resto, afirmava-se de Gustavo Dores que a tal prática e persistência eram devidas a sua serenidade na réplica e as suas observações sempre oportunas. Lia muito os jornais e as revistas, citava logo um caso idêntico, sucedido na Pérsia ou na Polónia: a política internacional era para ele como uma experiência vivida. As suas simpatias, porém, oscilavam um tanto ao acaso dos comunicados de guerra, sempre animadas, aliás, pela esperança na vitória não sabia bem de quem nem de quê. Na verdade, quando alguns dos pequenos funcionários se inclinavam para os países totalitários, levados pela saudade da própria importância e o superior desprezo pelos negros, “negro é criado”, sentia uma certa volúpia administrativa; mas, se esse desprezo, tomando foros de aristocratismo, se estendia aos colonos, “que tinham chegado com o saquinho às costas”, Gustavo Dores, embora se limitasse à útil mímica do assentimento dúbio, não comungava, e chegara, de uma vez, a arriscar que o Castanheira começara por ser mais ou menos isso. Logo a seguir, a conversa animara-se: choviam, de novo, os casos e as peripécias, e o Castanheira não andara de enxada ao ombro, e Gustavo Dores recuperara a sua “paixão serôdia”, como criticara o Medeiros, chefe de outra repartição, ao que o Passos Silva, pertencente à repartição de Dores, e apesar de o detestar, respondera: “o patriotismo não escolhe idades” — resposta que foi muito celebrada, com aplausos ou risos, por todo o Ministério, e chegou aos ouvidos de Gustavo Dores, pela boca do contínuo Januário, seu informador particular. Gustavo Dores sorriu da crítica e da resposta, na mesma medida em que afastara friamente o Pereira Cláudio, outro chefe de repartição, que se interessara demasiado pela homenagem, e procurara associar-se a ela. II Por fim, chegou o dia. A cerimónia fora marcada para as dez da manhã, hora afinal só propícia à pontualidade de Gustavo Dores, visto que os outros ou não tinham que fazer, ou começavam a trabalhar por volta dessa hora. Ainda se pensara em adiar para domingo, mas Dores demonstrara a inconveniência que daí resultava “para os que não tornam a reparar no que já leram”, e pusera em relevo “o mau efeito, que todos conheciam por experiência própria, do adiamento de qualquer cerimónia, por adiável que seja. Era adiável aquela? Não era”. Na véspera, Dores recomendara muito à D. Conceição que o acordasse uma hora mais cedo. D. Conceição sabia disso, desde que “principiara a comemoração”; mas, à semelhança de outros casos que considerava à margem de sua vida, não replicara coisa alguma. Davam-se muito bem, tinham uma filha de dezoito anos, que cantava às sextas-feiras num posto emissor particular. Claro que também o posto anunciara a homenagem, e até se comprometera a noticiar a 105 consumação do acto. Gustavo Dores aludiu, no café, à “inteligência invulgar daquela gente, sempre pronta a acarinhar uma iniciativa como a reconhecer um talento”. Da casa de banho, Gustavo Dores gritou: — E as flores, já vieram as flores? — levariam flores, colocariam silenciosamente os ramos, não haveria discursos. “Então as flores vieram ou não? A Cristina ainda não voltou?” Não demoraria, respondeu D. Conceição. Não demoraria!... Como se alguma vez se não demorasse!... Dizia algumas palavras, era natural, fora o promotor, o organizador, se ali estavam a ele se devia. Palavras simples, explicando o motivo, fazendo uma leve referência ao seu esforço, talvez uma anedota do defunto não caísse mal, essas coisas, em tais ocasiões, enternecem sempre, sempre ajudam a recordar. Saiu da casa de banho. Começou a vestir-se. Oxalá não faltassem os convidados. E as notícias dos jornais teriam chamado a atenção de outras pessoas, que aproveitariam a oportunidade para reatar velhas amizades. A telefonia era um grande veículo, por aí também vinha gente. Há os que não leem o jornal, e ouvem só notícias de rádio. Teriam ouvido a Mimi? Gostariam dela? Gostavam pela certa, cantava bem. O piano do posto é que era muito desafinado. Nunca pudera comprar um piano. Também nem a mãe nem a filha sabiam tocar. Se não fosse a D. Clotilde, nem a pequena tinha por onde estudar as músicas. Boa senhora, a D. Clotilde. “Ó Conceição, onde está a gravata preta? Nunca estão as cosias no seu lugar!” Por baixo dos lenços. Estaria? A gravata preta não dava nó que se visse. Ficava sempre torcido. Vamos a ver. Não está mal. Está. Dando duas voltas. Já nove e meia. E a gravata sem acertar. Até que enfim. “Ó Conceição, ainda não ouvi chegar a Cristina.” Claro que ainda não veio. Mais valia comprar de passagem, as flores, em qualquer parte. E agora mudar tudo, o fato não era aquele, devia ser o preto! Mas não havia tempo, e depois, andar todo o dia de preto!... Até calhava bem, era significativo. Está de luto? Não: fui à homenagem ao Castanheira. “Ó Conceição, onde está o colete preto? Por que é que não puseste as coisas todas à mão?” Não está tal. Ah, está. “Anda aperta a fivela do colete. Arre, não apertes tanto! Qual não sabes! É de propósito. Se me vês com entusiasmo por qualquer coisa, com alegria...” Com alegria, não; não era próprio de uma homenagem fúnebre. E por que não? A alegria do dever cumprido. O Castanheira. Lembrava-se do Castanheira, muito alto, de barba branca, sempre com o colarinho desapertado por trás da barba. Não. Lembrava-se dele, mas sentado à mesa do café, com as mãos apoiadas no castão da bengala, que era uma cabeça de cão, em prata, com os olhos de vidro vermelho. Faltavam as chaves, esquecera-se de mudar as chaves. Agora só as flores. “Ó Conceição, quando vier a Cristina, põe as flores onde quiseres. Eu compro outras pelo caminho. Não almoço? Então não hei-de almoçar!?” Sentou-se à mesa, e, enquanto comia o bife com arroz da véspera, foi folheando o jornal, pesquisando as colunas uma a uma. Talvez na necrologia. Tornou a ver. O Matos esquecera-se. Ele é que se esquecera de tornar a lembrar ao Matos. Não fazia diferença. Toda a gente sabia. Escusavam de aparecer os da última hora. Há sempre fulanos que sabem as coisas à última hora. — É preciso manteiga. Não te esqueças de trazer da Baixa a manteiga — recomendou D. Conceição. — Ó filha, tenho tanto em que pensar, hoje é um dia importante, e queres que não me esqueça da manteiga! Ora até que enfim chegavam as flores! Faltavam dez para as dez. Ia chegar atrasado. E, se o eléctrico demorava, já lá estariam todos. Esperariam por ele, sem dúvida que esperariam. E se não dava com a sepultura? Dava, estudara bem o local. “Até logo.” Gustavo Dores, impaciente, aguardou o eléctrico para o Alto de S. João. Quando apareceu um, correu-o todo com os olhos, que talvez fosse alguém para lá. Talvez aquele sujeito de preto. O sujeito voltara-se, inspeccionara curiosamente o ramo de Gustavo Dores, que esteve quase a perguntar-lhe se ia, também, para a homenagem. Como se adivinhasse a interpelação, o sujeito voltou as costas, acomodou-se no seu banco. Estava uma manhã bonita, havia imensa gente na rua. Também aquela rua era sempre assim. Parecia uma feira. E as casas? Dúzias de pessoas apinhadas em cada uma, penduradas nas varandas, parecendo não caber lá dentro. Um enterro modesto, com acompanhamento a pé, desviou-se para dar passagem ao carro. Os homens que puxavam a carreta chamar-se-iam gatos-pingados? Não fora ao enterro do Castanheira. Por quê? O Castanheira desaparecera, só depois soubera que tinha morrido. Não deixara família, nem na província. Devia ser de origem muito humilde. Um marçano. Um marçano há cinquenta anos em África! Há mais de cinquenta anos, sem dúvida. 106 Apeou-se no largo em frente do cemitério. Dez horas e cinco minutos. Quase não chegava atrasado. O sujeito de preto apeara-se também, e vinha entrando vagarosamente. Gustavo Dores, fingindo ler uma inscrição e observando-o de soslaio, deixou-o passar à frente. Compôs as flores do ramo. O sujeito andava muito devagar, como quem não ia para parte alguma. Não vai, senão também tinha pressa. Gustavo Dores estugou o passo, e ultrapassou-o. O sujeito tornou a olhá-lo. Conhecer-me-á de algum sítio? É pessoa que não tem nada que fazer. Que ideia aquela: vir passear de manhã para o cemitério! Era um... como é?... necrófilo. Lera, uma vez, uma história qualquer que até se passava ali, no Alto de S. João. Em que livro? Voltou-se. Não viu o sujeito, que metera por qualquer transversal. Vinham subindo a rua duas mulheres de preto. Conversavam. Uma delas ria. Vinham com despropósitos para o cemitério. Ri-se do que já cá está. Sentiu então uma grande ternura pela esposa que não mais riria quando ele morresse. Ainda era longe a sepultura do Castanheira. Não se enganara? Não. Uma urna quebrada com os ossos espreitando, depois o jazigo com colunas por cima da porta. Ia bem. Estava agradável a manhã, corria uma aragem, havia por todo o cemitério um grande sossego. Ao domingo, há quem traga farnéis. Já via o quarteirão por detrás do qual repousava o Castanheira. Os outros esperá-lo-iam, em volta da sepultura funante, e todos de preto, com ramos em punho, conversando em voz baixa. A correnteza de jazigos encobria a cena; Gustavo Dores empertigou-se e afugentou do rosto a bonomia que a frescura da manhã nele espalhara. Dobrou a esquina. As sepulturas sucediam-se pela encosta abaixo; algumas pessoas, aqui e ali, moviam-se por entre a rede, aparentemente instransponível, de gradeamentos, cruzes e caixas de lata mais ou menos desbotadas. Não se via qualquer grupo. Gustavo Dores olhou em volta, ainda duvidoso, e depois ficou com os olhos perdidos na terra amarelada, que os ramos de flores envelhecidas faziam parecer um imenso jardim devastado pelo espalhar de tanto ferro velho, e as flores plantadas e viçosas não conseguiam emergir, com nitidez, de tão confusa massa. Era ali, não havia dúvida, mas não estava ninguém. Ninguém viera. Passava das dez e dez. Teria o relógio adiantado? Acertara-o na véspera, pela pêndula! Ninguém. A culpa era sua, que não tornara a pedir ao Matos a publicação no próprio dia. A maior parte julgou que não se efectuava a homenagem. Há muita gente que se serve de tais pretextos para se desculpar, para se convencer de que não vale a pena, que não vai ninguém. E “alguém” viera. Se ele, o promotor, não tivesse aparecido, estariam ali dúzias de pessoas. É sempre assim. Não há sentimentos, não há consciência, não há nada. Prometem e faltam. Quando prometem, até já sabem que vão faltar, que não querem lá pôr os pés. Ninguém tem noções de dignidade: pensa-se em homenagear alguém que representa o melhor de cada um, e é como se, em cada um, não haja qualquer coisa que se aproveite. Depois a maior desconsideração não era para o morto a quem, coitado, tanto se lhe dava; a maior desconsideração era para ele, que se esforçara, que organizara, que se entusiasmara e entusiasmara os outros. Sim, o Castanheira nem sofria com aquilo; e quem sofria pelo Castanheira? Ele, que encarnara a recordação do grande homem. Pobre Castanheira. Tantos anos, tantos trabalhos, tanta grandeza, e todos preferiam esquecer-se. Passaram-lhe então pela cabeça inúmeras imagens de África, fotografias uma vez contempladas, ou narrativas alheias; Gustavo Dores sentia-se em plena recordação. Comoveu-se. Que esforço! Que entusiasmo! Que perseverança no trabalho dia a dia, na escrita mantida em ordem! E via o Castanheira perseverando, o Castanheira subindo todas as manhãs a escadaria do Ministério das Colónias, na figura do chefe de repartição Gustavo Dores. — Com licença. Gustavo Dores desviou-se para a senhora passar. Uma mulher loura, gorda, vestida de claro. Perfumada. Olhou-lhe para as pernas. Menos más. E ali estava ele de ramo de flores em punho. Já era tarde. Quase dez e meia. Ninguém vinha. Era mais certo. E subitamente deu-lhe um apetite enorme de ir-se embora. Não. Não iria ainda. Esperaria um instante. Viera, cumpriria. De novo lhe apeteceu recuar, chegar à esquina do jazigo. Lembrou-se de D. Conceição, e logo depois, de D. Conceição pesadona, silenciosa, apagada, sem perfume algum, uma D. Conceição como nunca vira. Assustou-se, ficou mesmo estranhamente assustado. Embora seguisse com os olhos, e às vezes com mais do que os olhos, muitas mulheres, nunca a imagem de D. Conceição se atravessara assim desprestigiada — pelo contrário, sempre favorecida pela paz de trinta anos invisíveis e impalpáveis. E, agora, de repente, os anos passavam todos de uma vez, e nada ficava, tudo desaparecia deixando um vácuo de vida pacatamente perdida; em vão procurou uma agradável recordação que, em tão aflitivo instante, se salvasse do naufrágio. Maldito Castanheira! O 107 demónio do velho! Via-lhe o riso sardônico, a barba descuidada, as unhas negras; ainda lhe soavam nos ouvidos as casquinadas alvares com que acompanhava as próprias piadas. Vidas de saltimbanco, de terra em terra, com a casa às costas, armando o balcão para roubar os negros. Felizmente que a lei se impusera, metera na ordem a canalha toda. E “eles”, os Castanheiras todos, guiavam as tropas para onde sabiam haver dentes de elefante — uma avalanche de gigantescos dentes lhe perpassou na mente — e, na metrópole, imaginava-se que tinha sido desfeiteada a autoridade, como se tal gente, naquele tempo, andasse de bandeira ao alto a trocar gado por contas de vidro! Esses militares é que sim: iam convencidos, e lutavam contra centenas de pretos. Nem eles sabiam a língua do gentio, nem a pretalhada sabia português — senão tudo se explicava, e os Castanheiras, então... Olhou para s flores. Estava a ser injusto; estava a ser muito injusto. Havia seriedade, havia heroísmo. Não se julgam as pessoas pelas aparências, nem pelo que se ouve dizer, mas pelo que fazem. Os que não tinham vindo — verdadeiros hipócritas. Ninguém viera; se ao menos aparecesse alguém! Mas é assim a vida: um homem trabalha, sacrifica-se, e é esquecido. Quantos lhe não deveriam dinheiro! Tinham medo que, dez anos depois, o Castanheira ainda reclamasse: ele, que vivia com tanta modéstia, mas pagava sempre o seu café! Modéstia ou sovinice? Não é sovinice o hábito da economia num homem sem família, que vive só. Desamparado... E, já refeito, saboreando a roupa em ordem, o leito de mogno, o guarda-fato que fora da tia Edwiges (com w), os cuidados de D. Conceição, as tardes na varanda, teve imenso dó do Castanheira, de cuja sepultura amiga não cuidavam, nem sequer por causa do “parece mal”, as forçadas mãos de qualquer pessoa de família. Mas as horas passavam, não podia ficar ali eternamente. E veio caminhando para a rua do cemitério. Começou a subir. Não deixara as flores. Voltava atrás, punha-as na sepultura, e ia-se embora. Parou. Nisto, levantou os olhos para o extremo da calçada... e, especado ao cimo, sem saber para onde havia de seguir, estava o Pereira Cláudio! Atirou-se para o espaço, entre dois jazigos. Com dificuldade, porque eram muito próximos, conseguiu passar. Ofegante, sujo de poeira, tropeçando e atascando-se na terra levantada — sempre lama aqui, lama pegajosa! — veio correndo aos jazigos. Quando chegou à esquina do último, espreitou, muito trémulo. O Pereira Cláudio estava mesmo em frente. Não podia sair dali. Cambada! Hão-de meter o nariz em tudo! Era de calcular: o Cláudio, sempre coscuvilheiro, não se envergonhara com as frases secas que ouvira. Como se tivesse algum direito a assistir àquela homenagem tão íntima, só de amigos, um homem que estava no Ministério por engano, e percebia de ultramar ainda menos que o porteiro. “Foi em Moçambique?” Numacala em Moçambique! Cavalgadura! E, se calhar, não arredara pé — um atado. Em tudo se via: chefe de repartição, com dúvidas ridículas, praticando erros crassos. Raivosamente, capaz de o morder, tornou a espreitar. O Pereira Cláudio, hesitante, principiara a descer outra rua. Idiota! E Dores atravessou a encruzilhada num pulo, e lançou-se para o portão, que via lá ao fundo. Passava muita gente, chegavam enterros: abrandou o passo. Olhavam para ele, imaginava o que pensariam do seu ar espavorido, sujo: sacudiu-se um pouco. Parecia-lhe não haver quem ignorasse o fiasco da homenagem, a fuga. Envergonhado, queria andar depressa, que era pior, muito mais de reparar. Ia de olhos baixos, temendo encontrar alguém conhecido, alguém com quem fosse obrigado a trocar palavras. E, ao aproximar-se da porta, quando suspirava de alívio, estava a seu lado, saindo também, o sujeito de preto. O homem olhou-o com o mesmo olhar de polícia, e depois, com espanto, fixou as flores. Gustavo Dores parou. Viera de flores em punho. Num repente, desejou livrar-se de tudo, não estar ali, nem na repartição, nem em casa, nem em parte alguma, ansiou desaparecer ou que desaparecesse o mundo inteiro — Quere-as? — e as flores já se alteavam nas mãos do outro. Um eléctrico arrancava; e Gustavo Dores, subitamente ocupado por correr para alguma coisa, deu uma corrida para o apanhar. Da plataforma, ainda viu o sujeito voltar para trás, e, com as malditas flores, perder-se no meio das pessoas que atravancavam o portão. III Ao voltar a casa, ao fim da tarde, logo depois de sair da repartição, vinha firmemente decidido a não voltar ao café. Não eram homens que merecessem o seu convívio, uns pobres diabos sem vergonha e sem iniciativa, incapazes de compreender a própria vida que tinham vivido. Chegara a hesitar em comparecer à Repartição, não fosse encontrar o Pereira Cláudio; mas ele não o vira, evidentemente que não o vira. Riu-se, várias vezes, da partida que lhe pregara, escondendo-se, e saindo, depois, às claras, mesmo nas costas dele! 108 Não se encontraram. Quase ficara então antegozando o prazer de se cruzarem no corredor, o que dava sempre ocasião a cerimoniosos cumprimentos. Mas não o procurou; de resto, não fora necessário. O dia decorrera sem novidade alguma. Apenas o Passos Silva, solícito, perguntou pela comemoração. Sentira um baque, recompusera-se logo: — Muito simples, muito simples. E o outro: — Palavras suas, Sr. Dores, permita-me que não acredite. — Exasperara-se: O senhor duvida de mim? — e o Passos Silva correra a sentar-se à secretária, molhando apressadamente a pena, ante os sorrisos irónicos dos colegas. Nesse momento, chegara a desconfiar que havia, entre todos eles, um entendimento qualquer. Teve tentações de sair; mas, graças a papéis que na sua mesa aguardavam o devido destino, pôde vituperar, com a devida acrimónia, um dos subordinados. E conhecia-os bem, para ver que, dessa como das outras vezes, os subjugara totalmente. Subiu a escada, bateu à porta (trazia chave, preocupava-se com ela; durante o dia, contudo, batia sempre). Esquecera-se da manteiga! A D. Conceição chegou a observar: — Vieste mais cedo, nem te lembraste de a trazer. — Eu logo te disse que me esquecia. — Sempre foste ao cemitério? — Que pergunta! Claro que fui! — Foi bonito? — Bonito?! Então aquelas coisas têm alguma beleza? IV Quando se sentou à mesa é que se lembrou das flores, ao dar pela falta delas nas jarras. Momento difícil, agravado precisamente pela chegada da filha, que vinha do “ensaio”: — Conte, papá, diga como foi! O papá discursou? Não houvera discursos. E é melhor, porque ninguém os ouve. — Ó filha, discursos para quem? — e sorriu-se, de si para si, contente do trocadilho. No entanto, um mal-estar subsistia: tornara-se-lhe impossível arredar a imagem do extravagante sujeito, ora cruzando-se com ele, ora com as bochechas pendendo para as flores. No fim do jantar, foi até à varanda, sentou-se a tomar o fresco. Fez cuidadosamente um cigarro, e acendeu-o. Não fumava senão depois do jantar; o tabaco andava até nas algibeiras (no lado direito) daquele casaco de trazer por casa. Lá dentro, a filha ligara a telefonia. D. Conceição nunca mexia no aparelho, limitava-se a ouvir, comentando esta ou aquela frase, uma ou outra música. Um dia mandara pedir para tocarem algumas músicas do seu tempo. Não as havia em disco. E já se esquecera das suas saudades musicais, quando fora agradavelmente surpreendida por um programa directo, em que, ao piano, foram executadas (“Executadas, mãe” — acentuara Mimi) valsas antigas. Desde então, respeitava muito o aparelho, deixou de o considerar como um estranho. Da telefonia, vinha até Gustavo Dores umas palavras soltas. Mas quem seria o sujeito? O que vale é que esta gente encontra-se uma vez na vida! — Pai, venha ouvir, venha ouvir! “...uma singela homenagem em memória de um ilustre africanista, Pereira Castanheira, que foi um dos heróis das Campanhas da Ocupação, defendendo Namucala contra milhares de indígenas revoltados. Em volta da sepultura, reuniram-se alguns dos seus amigos, entre eles o nosso querido consócio Sr. Gustavo Dores, alto funcionário da administração pública, a quem se deve a brilhante ideia desta comovedora cerimónia. Num curto mas sentido improviso, o Sr. Gustavo Dores traçou o perfil do homenageado, após o que todos os presentes desfilaram, em religioso silêncio, pela humilde sepultura, que deixaram juncada de flores.” D. Conceição olhava-o enternecida. A filha veio dar-lhe um beijo. E Gustavo Dores, depois de se preocupar ainda um instante com todo aquele caso, pensou: “Quem sabe se o sujeito conhecia o Castanheira, e lhe foi pôr as flores? Não o conhecia, é claro. Foi pô-la a outra pessoa. Talvez à mulher. Talvez a um filho querido.” Sentiu-se feliz. Apeteceu-lhe estar no café a encarar o Pinheiro Couto, o cínico do grupo, com aquelas palavras a deslizarem-lhe na mente: “...num curto mas sentido improviso, o Sr. Gustavo Dores traçou o perfil do homenageado, após o que...” 137 1946. 137 SENA, J. de (1984), p. 87-99. 109 O enredo desse conto gira em torno do empenho do funcionário Gustavo Dores, chefe de uma repartição pública, para prestar homenagem póstuma a João Pereira Castanheira, negociante que se teria elevado a governador de um distrito português na África Colonial, após o que, vitimado por uma doença tropical, terminara os seus dias em Lisboa, esquecido na mesma repartição onde surgia agora, dez anos após a sua morte, o projeto encampado por Dores. Menos, porém, do que oferecer tributo ao finado e, na realidade, pouco emérito homem, preocupa ao funcionário que seja reconhecido o seu próprio valor pela organização da solenidade, cuja idealização reclamara exclusiva e quase impositivamente para si. Distinguir a suposta importância de alguém evidencia uma habilidade social e o ato de demonstrar tal habilidade é que se revela a primeira intenção de Gustavo Dores, sendo pois a celebração em si secundária e apenas pretexto (oferecido aos outros e mesmo à sua própria consciência) para a exposição de sua própria figura pública. Fica isso manifesto, por exemplo, em seu planejamento do protocolo da cerimônia, todo ele hipotético como sugere o tempo verbal utilizado: levariam flores, colocariam silenciosamente os ramos, não haveria discursos, imagina ele, logo adiante se corrigindo, autenticando o seu direito de discorrer no evento, sem que, todavia, demonstrassem-se (nem mesmo para si) as razões egocêntricas que o levaram a formalizar a homenagem: Dizia algumas palavras, era natural, fora o promotor, o organizador, se ali estavam a ele se devia. Palavras simples, explicando o motivo, fazendo uma leve referência ao seu esforço, talvez uma anedota do defunto não caísse mal, essas coisas, em tais ocasiões, enternecem sempre, sempre ajudam a recordar. Ora, ao contrário da maioria dos colegas de repartição, composta por funcionários reformados, empregados da Fazenda ou administradores saudosos do espaço e do poder, fartos da “secretaria” e, ao mesmo tempo, admiradores suspeitosos da burocracia metropolitana, Dores ostentava um duvidoso e frágil prestígio proveniente de ser um homem saído do outro lado dos “guichets” do Terreiro do Paço que portanto alcançara certamente a sua posição em razão de suas próprias competências e sem apadrinhamentos. Reside nessa sua origem diferenciada a necessidade de ratificar tal distinção, que não lhe lega a pertença à classe dos que 110 podem usufruir de favores políticos, a partir de atitudes nobres (e não é por acaso então que se entrega ao trabalho com mais empenho do que os colegas, mostrando-se ostensivamente um servidor comprometido com as suas funções em relação à nação e à população). A ideia da homenagem, portanto, revela-se um novo instrumento, esperava ele que producente, para que se pudesse sustentar dentre os demais o conceito que a seu respeito se desenvolvera, no que o herói parece, aliás, obter sucesso: para citar um exemplo, lembremos que se comenta, em função dos preparativos que Gustavo Dores efetua, que a tal prática e persistência eram devidas a sua serenidade na réplica e as suas observações sempre oportunas. Aqui, o evento que se organiza assemelha-se ao Livro Branco do conto de João de Melo na medida em que, tal qual, representa uma mercadoria a ser vendida: “Na cidade, tudo se compra e tudo se vende: as amizades, as honras, os títulos, os graus e as profissões de fé.”138 — descreve Henri Laborit. Ora, esse produto que se torna a comemoração a ser realizada apresenta uma suposta funcionalidade, que na verdade pretende mascarar outra questão, de cunho ideológico. Guy Debord, em sua leitura do que reconheceu como sociedade do espetáculo, esclarece essa sobreposição sígnica entre mercadoria (cujo fetiche a narrativa de “O Solar dos Mágicos” denunciara com clareza) e espetáculo: O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade por “coisas suprassensíveis embora sensíveis”, se realiza completamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existe acima dele, e que ao mesmo tempo se fez reconhecer como o sensível por excelência.139 E Dores se dedica com afinco à empreitada de criar um espetáculo (aqui literal, enquanto no discurso de Debord ele se mostra uma forma de conceituar representação140) que transforme suas reais intenções (que seriam facilmente reconhecíveis em uma leitura atenta do mundo sensível) em algo ocultado pela falsa 138 LABORIT, H. (1990), p. 190. DEBORD, G. (1997), p. 28. 140 Se Debord insiste que vivemos em uma sociedade do espetáculo definindo-o como “o âmago do irrealismo da sociedade real” [DEBORD, G. (1997), p. 14.], vemos aí mais uma oportunidade de reafirmar que a narrativa fantástica se evidencia, no século XX, como o modo mais eficiente de mimetizar o real, porquanto baseie a sua diegese nesse irrealismo que, afinal, permeia o mundo sensível. 139 111 imagem da intenção de homenagear Castanheira (sema forjado que, todavia, é o que, ilegitimamente, se fez reconhecer como o sensível por excelência). O chefe de repartição estabelece todas as bases do evento, da ampla divulgação interna à publicidade externa via imprensa, passando ainda pelo rechaço à ajuda de colegas que ele julgava apenas quererem usurpar a sua glória dividindo com ele os frutos do reconhecimento; assim, aliás, afastara friamente o Pereira Cláudio, que se interessara demasiado pela homenagem, e procurara associar-se a ela. Aguarda o dia marcado sob expectativas ilusórias, as quais a narrativa revela por intermédio do uso de um discurso modulado pelo hipotético: dizia-se que o próprio Ministro, em conversa com o director-geral, louvara a iniciativa é uma das passagens em que tal atributo se acentua. No entanto, o fato é que, na manhã agendada no cemitério para a consumação da comemoração, ninguém compareceu. O cotejamento da cena imaginada pouco antes da chegada de Gustavo Dores à campa do homenageado e da cena efetivamente processada logo depois (cujos principais traços estão assinalados no trecho que abaixo recortamos) dá conta do paralelismo existente entre o egocêntrico e ao mesmo tempo ingênuo pensamento do funcionário e o real baixo nível de entusiasmo que a comemoração despertara nos demais colegas de trabalho, apesar das declarações elogiosas que proferiam. Recordemos: Já via o quarteirão por detrás do qual repousava o Castanheira. Os outros esperá-lo-iam, em volta da sepultura funante, e todos de preto, com ramos em punho, conversando em voz baixa. A correnteza de jazigos encobria a cena; Gustavo Dores empertigou-se e afugentou do rosto a bonomia que a frescura da manhã nele espalhara. Dobrou a esquina. As sepulturas sucediam-se pela encosta abaixo; algumas pessoas, aqui e ali, moviam-se por entre a rede, aparentemente instransponível, de gradeamentos, cruzes e caixas de lata mais ou menos desbotadas. Não se via qualquer grupo. Gustavo Dores olhou em volta, ainda duvidoso, e depois ficou com os olhos perdidos na terra amarelada, que os ramos de flores envelhecidas faziam parecer um imenso jardim devastado pelo espalhar de tanto ferro velho, e as flores plantadas e viçosas não conseguiam emergir, com nitidez, de tão confusa massa. Era ali, não havia dúvida, mas não estava ninguém. Ninguém viera.141 141 SENA, J. de (1984), p. 93-4. (Grifos nossos) 112 A representação do grupo coeso que respeitosamente aguardaria portando flores recém-compradas, empenhado portanto em consumar a comemoração que Dores julgava tão importante para todos quanto era para si, transforma-se, por contraste, em uma cena com poucas pessoas isoladas no cemitério, todas sem ligação com o evento, na qual flores envelhecidas se destacam em meio a um campo sem requintes, com sinais claros de falta de manutenção. As pessoas que ele ajuíza que o aguardariam apesar do seu pequeno atraso — o que cunha a sua certeza de que ele próprio, e não o homenageado falecido, era a figura central do evento — nem mesmo se encontram no local, negligência justificada em razão de não poder haver neles o interesse que o chefe demonstra, uma vez que a dimensão que confere à homenagem é, antes de qualquer coisa, um comprometimento que assume consigo próprio sem evidente justificativa do homenageado cuja vida incluíra episódios aliás nem sempre dignos e relevantes como refere o próprio Dores em momento de indignação: Maldito Castanheira! O demónio do velho! Via-lhe o riso sardônico, a barba descuidada, as unhas negras; ainda lhe soavam nos ouvidos as casquinadas alvares com que acompanhava as próprias piadas. Vidas de saltimbanco, de terra em terra, com a casa às costas, armando o balcão para roubar os negros. Felizmente que a lei se impusera, metera na ordem a canalha toda. O único que, já tardiamente, comparece ao cemitério (e cujo encontro, na saída, o protagonista opta por evitar) é justamente o Pereira Cláudio, não por acaso o mencionado chefe de outra repartição, cujo apoio o próprio Dores recusara por acreditar terem sido guiados por idêntico zelo de protagonismo que, evidentemente, ele não desejava partilhar. Durante o percurso que Dores fizera ao campo-santo, o conto introduz um elemento que por si nada apresentaria em princípio de fantástico, mas cujo espaço de sentido estrategicamente não preenchido institui um mistério, um estranhamento que prepara o leitor para o episódio ambiguamente insólito que fechará a narrativa: trata-se da figura do curioso homem que, trajando terno, está no transporte coletivo em que Dores também se encontrava ao se dirigir ao evento, e que, ademais, adentra o cemitério na sua frente. O protagonista infere, desde a primeira vez em que o vê, em função dos trajes e do caminho, a sua possível intenção de participar da homenagem, quiçá atraído pelas notícias na imprensa, o que contudo não se concretiza, porque afinal ninguém comparece ao evento. Enquanto sai do cemitério, ao cruzar novamente com o homem, Dores envergonha-se por ainda estar com as flores nas mãos, prova concreta do fracasso 113 da sua empreitada. A situação constrangedora e um evidente receio pelo estranhamento daquela situação o levam a absurdamente entregá-las ao desconhecido, que as pega e volta-se novamente na direção das sepulturas. À noite, em casa, é prioritariamente sobre a efígie misteriosa dessa aparição algo incoerente que o chefe de repartição solitariamente reflete (porque tornara-se-lhe impossível arredar a imagem do extravagante sujeito, ora cruzando-se com ele, ora com as bochechas pendendo para as flores), quando a sua filha o chama para ouvir a notícia no rádio a respeito da homenagem que não se consumou. Ora, a descrição desse não acontecimento mostra-se uma manifestação, mais que absurda, francamente fantástica (em termos todorovianos) porque reside na ambiguidade de duas explicações opostas e cuja escolha a narrativa não consolida: não é possível afirmar se o episódio representa uma efetiva sobrenaturalidade ou se se justifica pelo simples fato de o radialista pouco cioso de suas funções noticiar algo que ele supõe ter ocorrido tal como anunciado, já que ninguém realizara a cobertura jornalística da homenagem, montando o seu discurso a partir de lugares-comuns normalmente observados nesse tipo de cerimônia.142 Dores, por sua vez, imerso num mundo de simulacros afetivos, não busca esclarecimentos; pelo contrário, apenas se regozija por ter alcançado o seu objetivo: Sentia-se feliz. E essa felicidade é, na verdade, resultado da sua opção (deliberada e consciente, claro está) por um jogo social de oportunismos. De certo modo desloca-se o fantástico da ação para a ideologia. Se nada de extraordinário acontecera, se tudo afinal pode ter ao menos alguma explicação plausível, é o próprio cotidiano que se investe de implausibilidades, localizando-se aí, nesse ponto crucial, o cruzamento — perdoe-se a redundância — da farsa e do simulacro com a realidade. Discorrendo sobre a contística de Sena, Óscar Lopes afirma: 142 Tanto “A comemoração” quanto o “Solar dos Mágicos” poderiam ter o seu pertencimento ao fantástico colocado em xeque. E é verdadeiramente tentador perscrutar pelos contos algum detalhe que lhes fizesse valer a explicação realista, que parece tão mais fácil, tão mais próxima. Reforce, talvez, a condição de textos fantásticos o fato de estarem avizinhados por outros desta natureza. Em Entre pássaro e anjo, “O Solar dos Mágicos” divide páginas com “Hipótese para um fim feliz”, “A divina miséria” e “Postumografia de Pedro-o-homem”, por exemplo, a se desenvolverem sob características de algo de realismo mágico. Do mesmo modo ocorre com a narrativa seniana: em Andanças do Demónio, vários subgêneros fantásticos são exercitados, da história de fantasmas de caráter clássico de “A campanha da Rússia” ao surrealismo de “O comboio das onze”, passando pelo maravilhoso da “História de um peixe-pato” — tudo parece reforçar que, por coerência, “A comemoração” também se apresentasse como representante do gênero. 114 A verdade é que Jorge de Sena se assume como narrador realista mesmo nos seus contos fantasmagóricos, aqueles que mais ‘desrealizam’ sensos de realidade predominantes, mesmo nos seus contos de feições lendárias, ou mais nimbados de uma distanciação histórica ou de um exótico oriental.143 — o que demonstra justamente a consciência seniana a respeito dos meandros do fantástico novecentista e sua função de problematizar o real, de desmascarar uma segunda realidade. Ora, retomando brevemente o conto de João de Melo, é preciso acrescentar que o elemento fantástico fora responsável por catalisar a revelação da hipocrisia dos personagens nele caricaturados: artistas, políticos, acadêmicos e público em geral. Já em “A comemoração”, onde a classe alvo de crítica é a de um indolente funcionalismo público que festeja, nesse caso, um de seus membros por atitudes colonialistas certamente discutíveis do ponto de vista autoral, o acontecimento insólito — qual seja, o de a cerimônia ser noticiada e descrita com detalhes embora não tenha verdadeiramente ocorrido — ratifica a leitura sarcástica que a própria narrativa evidenciara ao reforçar as máscaras usadas pelos integrantes dessa burocracia metropolitana: vida social como jogo de simulacros. Afinal, a partir do discurso sobre a suposta consumação do evento, todos irão agir em função da sua presumida realização. Maria de Fátima Marinho afirma que, nesse conto, “é o humor o elemento principal”144; e seríamos mais específicos em dizer que sua comicidade é alcançada pelo viés da ironia (como, ademais, se observa também em “O Solar dos Mágicos”). E parece importante dizer que os funcionários ironizados na narrativa de Jorge de Sena estão inseridos no ambiente de trabalho de um Estado salazarista, totalitarista e imperialista. É o próprio autor quem, em nota publicada ao fim do livro, classifica essa criação sua como uma “alegórica sátira à mania ‘comemorativa’ que era endêmica no Estado Novo”145 — e, por agora, pretendemos mais bem esclarecer o que motiva esse hábito festeiro. O conto, segundo se observou, é datado ao seu término pelo ano de 1946, o primeiro pós-Segunda Grande Guerra Mundial, cujo resultado trouxera como uma das 143 LOPES, Ó. (1984), p. 328. MARINHO, M. de F. (1987), p. 180. 145 SENA, J. de (1984), p. 217. 144 115 consequências para Portugal a possibilidade mais concreta de demonstração de uma crise da legitimidade do império português, causada pela descrença na superioridade da civilização ocidental e na missão tutelar das nações europeias sobre as outras raças, antes ditas inferiores. Estas são contudo leituras ideológicas difíceis de serem mantidas após um conflito vencido por uma aliança libertadora que se propunha a lutar contra a violência e o autoritarismo do nazismo e do facismo, sob o risco de se identificar com o inimigo, o que resultaria afinal numa estratégia pouco inteligente por parte do poder português. É preciso, portanto, encontrar outros caminhos para a sustentação do imperialismo colonial. Ora, no conto, os funcionários públicos espelham um sistema de ideias introjetado, reproduzindo-as muitas vezes acriticamente. Trabalham para um governo que investe em propagandas ideológicas que buscam legitimar o império português das suas colônias africanas, baseado em um nacionalismo elitista que apregoa a crença na histórica missão sagrada de Portugal em mantê-lo, como se fora um direito afiançado pelas conquistas e descobertas atribuídas ao país nos últimos seis séculos e pela defesa dos valores cristãos. De fato, o Estado Novo aprofundara, a partir dos anos de 1930, essa mentalidade imperial no povo português, através de uma campanha eficaz com bases estabelecidas em realizações de impacto junto à opinião pública146 — daí a sua endêmica mania comemorativa — e por intermédio de um sistema educativo de princípios fascistas e colonialistas, alicerçado numa leitura tendenciosa e, nesse sentido, claramente deturpada do poema épico camoniano, o que por muito tempo condenaria Os Lusíadas a uma verdadeira repulsa pela vertente política e intelectual anti-imperialista de tendência mais radical e possivelmente menos sensível à representação universalizante que a obra, na verdade, continha. Pois é nesse contexto histórico e político que o protagonista do conto de Jorge de Sena realiza a homenagem a Castanheira, que teria sido peça ativa na exploração e na manutenção dessas colônias. Segundo Gustavo Dores, empreender a comemoração era recordar o passado, real ou virtual, de uma classe, da “sua” ( da “vossa”, como 146 Em 8 de junho de 1940, inaugura-se em Coimbra o parque temático “Portugal dos Pequeninos”, miniatura emblemática do paradisíaco império português, no conjunto das comemorações de oito séculos da fundação de Portugal (1140-1940). Essas festividades ganhariam força entre os meses de junho e dezembro de 1940 na conhecida “Exposição do Mundo Português”, realizada em Lisboa, que se oferecia como imagem idealizada do império e como contraponto de uma Europa devastada pela guerra. 116 acentuava Gustavo Dores com simplicidade), era chamar a atenção pública, “por meio de uma iniciativa modesta mas significativa, para uma vida de perigos e responsabilidades”. Vale destacar que o protagonista se refere a um passado real ou virtual, como real ou virtual passará a ser, ambiguamente, a própria comemoração. Os funcionários públicos mostram-se, assim, coadjuvantes e vítimas também desse investimento do Estado Novo na propaganda imperial, cuja ideologia eles seguem alienadamente — em semelhança, observemos, à multidão da cidade do conto de Isabel Cristina Pires, manipulada cegamente pelo jardim voador. Estamos sem dúvida na “sociedade do espetáculo, na qual a mercadoria contempla a si mesma no mundo que ela criou”147, como ratifica Debord. Assim, a cerimônia, mercadoria que, mesmo sem haver, produz o efeito desejado pelo seu realizador (e, na verdade, não mais que pseudoidealizador, como deixa claro o período inicial do conto: De uma conversa de café surgira aquela ideia, mas, na voz empreendedora de Gustavo Dores logo a tal ponto se completou, que nem os habituais companheiros, levados na paixão imperial do chefe de repartição, reclamavam o título de sócios fundadores da importante comemoração a celebrar.), esta cerimônia, repetimos, é, tal qual o Livro Branco do conto de João de Melo, um significante esvaziado de significado, um simulacro a que basta parecer para atender a sua expectativa de funcionalidade. Estão aí reunidas duas metáforas burlescas da sociedade do espetáculo debordiana, caricatas na medida em que as imagens que substituiriam a realidade sensível são esvaziadas, desvelando aos leitores os embustes que representam. Uma vez abertas as páginas vazias que a capa desse Livro Branco abriga, denunciam-se também as outras metafóricas páginas vazias que estão sob a capa com que desfilam artistas, políticos, professores e imprensa em “O Solar dos Mágicos” e funcionários públicos e mesmo novamente a imprensa em “A comemoração”. E, desse modo, todos eles, que podemos chamar de os não leitores do Livro Branco, estarão aptos a assumir a sua posição no gado que alude também à multidão de “O jardim voador”, sem capacidade de discurso e fortemente sujeita à manipulação em razão de uma inveterada falta de capacidade de leitura — do livro e do mundo. Também o jardim voador era um livro branco, ou que carecia de assim se apresentar já que as suas ameaçadoras inscrições não podiam ser reveladas, sendo 147 DEBORD, G. (1997), p. 35. 117 contudo capaz de co-mover toda a multidão, da mesma forma e com semelhante intensidade. E isso se torna tragicamente fácil em uma sociedade que crê a aparência ou o “hábito externo”148 machadiano como mais relevante do que a verdade, o parecer como mais importante do que o ser, nos significantes vazios de significados. O mesmo Machado de Assis, aliás, possivelmente com a mesma injustiça, já acusara o próprio Eça de substituir o essencial pelo acessório.149 Aqui a tragédia é mais radical: é o simulacro que se sobrepõe à verdadeira criação. 148 Conforme em Dom Casmurro: “O que aqui está é, mal comparando, semelhante à pintura que se põe na barba e nos cabelos, e que apenas conserva o hábito externo, como se diz nas autópsias; o interno não aguenta tinta.” [ASSIS, M. de (1997), p. 17.] 149 Conforme a crítica que o escritor brasileiro produziu a respeito do romance O Primo Basílio, de Eça de Queirós, publicada originalmente na revista O Cruzeiro de 16 de abril de 1878. [ASSIS, M. de (1937), p. 153-78.] 118 IV. O HOMEM SEM A MULTIDÃO Trânsito Como aquela tapeçaria, de cor indefinida, entre o rosa e o amarelo, deve ser o cetim dos ventres interiores. Espelhos há quatro. Ou cinco? E quando as bailarinas sorriem — não sei, de resto porque sorriem — tenho nas mãos uma renda de sal; há espumas, e há ondas, e areias sujas e conchas nesta tapeçaria que os espelhos multiplicam e sobre a qual escorre do tecto, da luz, um suor de estrelas. Uma das bailarinas chora. Vejo as gotas de vidro que lhe descem pela face morena e esguia. São cinco bailarinas brancas, em um divertissement que eu conheço. Que reconheço... Lenta e gravemente, como animais sagrados, dançam entre os prismas e numa folhagem de dedos se elevam, em pontas, presos aos braços os véus que são quase só poeira. Tchaïkovski? Stravinski? Honegger? É a Sinfonia dos Salmos? O Concerto Barroco?... Tudo se pode dançar... E não há cenário, senão a perspectiva infinda dos espelhos. A música mal se ouve, interrompida; é luz decapitada, longe. Vem na minha direcção, correndo, uma delas. Pirouettes, croisés, développés. A variação da primeira bailarina. A outra, a que chora, com olhos de gazela, assustados, com as pernas muito longas, tem um sorriso súbito pelo meio das lágrimas, um sorriso intenso, pueril, quando a puxo para fora do círculo iluminado e lhe enxugo o rosto com o meu lenço. — Rosa! — Não o conheço... — Como é isso?! — Ou já o esqueci... Ninguém se conhece, não é verdade? E continua a chorar. Junta-se ao grupo, deixa-me. Torce os cabelos negros. Tem agora movimentos convulsivos. O bailarino, que está de costas para mim, faz seis fouettés, e depois uma série de jetés, passos de tesoura, arabescos e mais arabescos, não se cansa, salta com as pernas unidas — tem uns músculos formidáveis —, e cai sem choque, sem ruído. Todas acodem, de roda dele, nem Willis nem sílfides, apenas rapariguinhas de branco, quase gémeas. Só ela fica parada, em estátua, os olhos na sombra, encovados, o cabelo até a curva dos rins, o peito saliente, o ombro direito num reflexo de bronze, o braço caído. Está de perfil, mas a face voltada para mim. Sentamo-nos num banco de pedra, encostado à parede, aos espelhos, e envolve-lhe o ombro com o meu braço aflito, pesado não sei se de remorso se de incerteza. Mas a sua pele clareia, o olhar tornou-se-lhe quase verde, talvez por efeito das lágrimas, embora há pouco fosse negro, bem negro, ou castanho muito escuro; e toda ela se cristalizou numa expressão tristíssima. Sequer um resto de esperança. — Luísa! — Não. Não vale a pena. Não te esforces... Entrego-lhe o meu lenço. Afasto-me. Ela regressa ao círculo luminoso. Tenho na boca um sabor de anéis oxidados. O mais impressionante é que ela se afasta, bailando, com gestos quase burlescos, até que estaca, já ao pé das outras e, sem me ver, sem me pensar, com certeza, o rosto muito erguido, assenta o joelho direito no círculo iluminado. Terminou a festa, suponho, e a rua está fria. O Inverno veio até nós. Não é de estranhar esta humidade alvacenta, que engole fatias de edifícios e ora esconde, ora revela o anúncio luminoso da Canadian Pacific sobre a calma Avenida da República. 119 O prof. Benavente caminha a meu lado, ainda mais esgalgado, adunco, irónico e prazenteiro do que há dez anos. Não me surpreende, aliás, tê-lo reencontrado. — Não, meu amigo — diz ele, e por detrás de cada palavra lenta ouço a água, a água mansa do silêncio nocturno —, a tese do sonho nunca pode ser a tese da percepção, mesmo que à primeira vista se lhe pareça. Eu sonho, logo não percebo... — Como?... Ah! sim... O Sartre... — O sonho é frágil, desfaz-se ante a consciência reflexiva... — Curioso! — Não, é bem simples. Está a ouvir? Rosa, Luísa ou Júlia, a figura da mulher-criança dói-me no peito ao atravessarmos a Avenida da República. Está frio, sinto nas mãos umas luvas de gelo. — A diferença entre o sonho e a percepção é a diferença entre a consciência de crer e a consciência de saber. — Pois é... Os alambicados prédios Valmor, com seus arcos e azulejos, seus tortos cordões de pedra e suas cornijas, encimadas de conchas e pífias estilizações, colunatas, capitéis chorudos, encaracolados suportes das varandas — balcões e balaustradas gordas, dentes inchados, cúpulas, sótãos escoltados de vasos de estuque, e por baixo mascarões e arremedos de feras hiantes — são acariciados, percorridos pela névoa fugidia, que se esgarça, mantilha clara, já rota, aqui e além, e logo pousa nas empenas baixas, descobre pinas, pâmpanos, florões, mansardas de ardósia e junto de nós pórticos, intercolúnios, contrafortes, obesos adornos assimétricos, e os ferros forjados, as cancelas, as grelhas das caves além dos nossos pés, que medem as pedrinhas alvi-negras do passeio. Outro anúncio luminoso: “Beba Fanta”. Damos as costas à praça de touros morisca e vamos direitos à torre branca da igreja de Fátima, cuja cruz intensamente amarela tem também, de cada lado, por cima, rendilhados de mesquita. Mas, chegados que somos às luzes intermitentes da sinalização, o tempo distanciou-se e quanto mais avançamos menos lhe apercebo os contornos. É, sim, um imenso stand de automóveis — verdes, beges, cinzentos, piscíneos, cromados, alinhados em placa de cristal — o edifício, todo em planos horizontais e com painéis de polyester translúcido, que se ergue na nossa frente. Mais adiante, são prédios espiroidais, com enormes biombos de ardósia nas janelas e que assentam sobre colunas alvos ladrilhos, transparentes; as portas como tetas egípcios; e nos mosaicos apercebem-se hieróglifos, que afinal não são hieróglifos. O professor, desatento ao que nos rodeia, fala comigo-consigo: — Sempre fui um agnóstico, meu caro, sempre considerei, como Epicuro, que se pensa na morte precisamente porque se está vivo. É claro que, mesmo para um materialista, o espírito, com maiúscula, existe, não tenho pudor de o afirmar, e é mesmo essa força motriz, a dos factos morais, a par dos factos económicos, dos factos sociais, que vai transformando o mundo, na sua marcha de internas contradições... Mas onde está a igreja? Não nos teremos perdido? — Que ideia! Conheço muito bem o caminho da minha casa. Mas, realmente, não percebo... — Ainda aqui mora? — Nunca morei noutro sítio. Não reconheço esta rua por onde os nossos passos ressoam, insólitos, rua de puro som, com ascéticos renques de concreto, ritmos agora verticais, paredes de uma compacta carnação cinzenta, com olhos vazados, janelas que abrem, as mais baixas, sobre cercas desertas. Mas a estas casas quase angustiantes, de que não tenho memória (tão depressa a cidade se transforma... e a noite tudo confunde) sucedem-se altas construções de vidros e de aço, luminosas e que, no entanto, não me desoprimem (tão-pouco consigo recordá-las, orientar-me), múltiplas gaiolas geométricas, inquietantemente serenas e vazias, como ideias sem matéria. No interior, à nossa vista, veem-se filas de secretárias desabitadas, ventoinhas imóveis, escadas rolantes que pararam. Apenas em constante movimento lentos ascensores cilíndricos, que sobem e descem e se cruzam no espaço, sem vivalma. Há uma ressaca de sons que chega até nós, mas longínqua, confusa, talvez cristais entrechocados, ruídos de facas, de cutelos, ou só uma invisível cascata. O ar da madrugada é agora mais seco, a névoa esbranquiçada desapareceu de todo, dir-se-ia que uma luz azul surde do chão, luz mineral, dura, com inesperados reflexos nas abas das cornijas, nas folhas de mármore-cinza dos prédios esqueletos-de-aço, nos terraços-jardins cujas plantas são pólipos, estruturas arborescentes, criaturas de silício. A avenida azul prolonga-se, vasto túmulo deserto, para onde?, entre vidros que cintilam, muros ondulados, torres circulares em cujo ventre os mesmos elevadores morosos prosseguem a sua perturbante, silenciosa marcha 120 contrária. Praia de luz magnética sobre a vegetação química dos geométricos jardins. Água, só esta água de lama, não de medo, na minha boca, dilúvio de lama interior no momento em que o chão se volta. Não: era apenas uma tontura. Neste bairro de xadrez, cenário de nada, somos nós, perturbados, calados, com os nossos passos vivos, sonoros, a tragédia sem delírio que avança, como? e porquê? Andamos, cada vez mais depressa. Agora sabemos mesmo sem o dizermos que estamos noutra cidade, que passámos, sem dar por isso, da nossa Lisboa ronceira, amodorrada, tranquilamente criminosa e bem pensante, para uma cidade diversa, inominável, sem gente. — Para onde é que você me trouxe, amigo? — Eu? — surpreendo-me a responder — também eu posso dizer o mesmo, ora essa! Todavia, aproximamo-nos um do outro. Sempre somos dois contra o desconhecido, no solo projectado lado a lado em compridas, pálidas sombras. A minha face gelada, imagino-a, sinto-a máscara de proa ao longo dos uniformes edifícios metálicos de laminados lisos e tubos de aço, com blocos-torres, cúpulas, largos vãos envidraçados azul-turquesa, azul-ameixa, azul-violeta; e, por todo o lado, em vez de estátuas, prismas e esferas, mas essas como que movidas pelo frio ar azul, azul sidéreo, o ar-luz que varre a cidade, que nasce ao chão, das estrelas dos mosaicos que piso. Entrámos numa vasta praça, de uma geométrica monumentalidade — formas elípticas, fachadas de mármore sobre pilares, temas espaciais de livres diafragmas suspensos. A única decoração, no alto de uma parede nua, cuja pedra tem propriedades idênticas às dos sulfuretos de bário, é um feixe de traços incisos, que assemelha um nervo óptico. Este portal tão amplo e tão lacónico, de arquitraves majestosas, de um classicismo não arqueológico, será a entrada de um banco, de um ministério, de um hospital modelo? Há uma força, creio, que para ali nos chama, para aquele pátio de ângulos rectos entrevistos, onde tudo se decompõe. Terá sido o cheiro — primeiro odor desta noite —, vagamente de éter e formol, que me levou a pensar num hospital, com as macas de marfim que lá não estão, ceras petrificadas que afinal não existem no átrio todo liso, mudo? Transpusemos os umbrais; a luz azul, errática, entrou conosco; e, quedos, a meio do átrio, pela primeira vez distinguimos homens e mulheres, dentro dos elevadores que cumprem movimentos inversos, cruzando-se no espaço. Homens com alguma coisa de lagartos, de tão lívidos, a pele como lama branca. Adivinho-os frios, sem voz, figuras quase em estado gasoso. A mão do professor aperta-me o braço, tanto que me faz doer, mas quando ele abre a boca para falar, fá-lo sem comoção: — Sabe onde estamos? Os vagarosos elevadores sobem, descem, segregam um tempo-ausência. As criaturas de lazareto que os ocupam mal se mexem, substância sem reflexos. São de bronze as minhas pálpebras e dentro do meu crânio há agora sinos, que por fim se desagregam. Sinto então a impossibilidade de mexer os dedos, que ficaram, não sei como, enclavinhados, numa rigidez de pedra. Mas os ascensores não se detêm, no seu matemático vaivém; só não recordo já desde quando, se de há um instante, de há uma hora, ou de sempre, 150 conheço, reconheço, a sua lívida carga. O conto “Trânsito”, de Urbano Tavares Rodrigues, foi publicado originalmente em 1966 no livro Imitação da felicidade, o que já pelo título nos lança na esfera do simulacro, da possibilidade de a verdade — a felicidade, nesse caso — aparecer apenas em modos de imitação. Nessa narrativa, acompanha-se uma deambulação pela cidade de Lisboa que começa a ser descrita logo após um texto-prelúdio em que decorre uma insólita apresentação de balé. Quanto ao percurso a pé do narrador-protagonista, efetuado inicialmente na Avenida da República e na Avenida de Berna (que é parte do 150 RODRIGUES, U. T. (1974), p. 555-61. 121 caminho que se conjectura quando os dois personagens seguem no sentido contrário à Praça de Touros, em direção à Igreja de Fátima), espaço cuja contemporaneidade e referência mimética imediata são reforçadas pela menção a peças publicitárias (como as de Canadian Pacific ou Fanta, por exemplo), cedo se transforma, com o avançar da noite, em um passeio insólito, por um lugar inexplicavelmente desconhecido e de traços francamente irrealistas, um cenário de nada, bairro de xadrez em que o tempo distanciou-se, o que nos leva à conclusão de que se chegou a uma espécie de não lugar atemporal. Já que, a certa altura, o narrador afirma nunca ter morado em outro sítio que não fosse a capital portuguesa, o que insinuaria um vasto conhecimento do espaço percorrido, não há justificativa plausível para que o protagonista afinal se perdesse na cidade natal. No entanto, o fato é que não é mais na Lisboa ronceira, amodorrada, tranquilamente criminosa e bem pensante, com a qual se mostra mais habituado, que agora ele caminha, mas em uma cidade diversa, inominável, sem gente, cidade marcada assim pelo frio ar azul, azul sidéreo, o ar-luz que varre a cidade, cidade marcada também por construções de paredes fluorescentes (característica deduzida a partir da alusão aos sulfuretos de bário, que possui exatamente essa propriedade de refletir a luz que sobre eles incide em maiores comprimentos de onda, gerando o efeito de fluorescência), cidade marcada, enfim, pelo odor vagamente de éter e formol: ou seja, um espaço urbano metamorfoseado. E será, pois, desse modo que se exibirá uma cidade que tão depressa se transforma aos olhos do personagem principal do conto e de seus leitores. 4.1 A cidade mutável Em sua descrição da capital portuguesa, o narrador primeiramente faz alusão aos chamados prédios Valmor151 — e eis a citada Lisboa ronceira e amodorrada, com suas construções de arquitetura clássica, que reproduzem muitas vezes estilos como o gótico ou o renascentista, a apontar para uma antiguidade em simulacro — para depois descrever um modernismo-futurista em que se usam vidros e estruturas de aço em lugar 151 Trata-se de um prêmio de arquitetura instituído no início do século XX pela Câmara Municipal de Lisboa e que leva o nome do seu idealizador, o segundo Visconde de Valmor, cuja lista de vencedores inicia-se em 1902, a qual possui, como vem a propósito destacar, a própria Igreja de Fátima, ponto de referência que também será importante no conto em leitura, como um dos seus contemplados. 122 de alvenaria, um modelo que, cabe ressaltar, longe está de encontrar par na Lisboa real da época em que foi produzido o conto. O aspecto atrasado que o narrador destaca na primeira descrição da cidade é provavelmente fruto de contextos políticos dos anos de 1940 que influenciaram na estética da construção civil de Portugal. Nessa época, o Estado Novo de Salazar rejeitava a construção de prédios modernistas, em razão de considerá-los contrários aos valores nacionais, obrigando diversos projetos a se adequarem a modelos que se inspirassem em palácios do século XVII, nas aldeias portuguesas ou mesmo na arquitetura nazista de feição imperial. Os projetistas, então, passaram a disfarçar os seus desenhos modernistas com excessivas ornamentações que driblassem o olhar censor salazarista, a que foi dado o nome de Estilo Português Suave. Daí as cornijas, conchas, colunatas, capitéis, balaustradas e dentes demasiadamente presentes no conto, a serem classificados depois de ronceirismos pelo narrador. Na época em que se publicou o conto “Trânsito”, tais resultados arquitetônicos já eram encarados de modo pejorativo e vastamente criticados pela intelectualidade, a despeito do seu agrado popular.152 Desse modo, a estética de cidade fantástica — que essa Lisboa, a princípio vista numa descrição mimética, vai adquirindo no decurso da narrativa — aparenta sofrer uma influência de representações que comumente artistas e cientistas, especialmente a partir do início do século XX, arriscaram usar para predizer o que imaginariam ser um dia uma cidade do futuro. Desse modo é que, a partir da segunda metade do conto, vislumbramos altas construções luminosas de vidros e de aço ou também uniformes edifícios metálicos de laminados lisos e tubos de aço, com blocos-torres, cúpulas, largos vãos envidraçados azul-turquesa, azul-ameixa, azul-violeta — imagens algo fictícias, sobretudo em se tratando de meados da década de 1960 lisboeta, ainda, reiteremos, ronceira e amodorrada, já que prédios de grande altura somente começaram a se alastrar por Lisboa a partir da década seguinte. Ora, não é a cidade contemporânea à escrita de “Trânsito” que os caminhantes encontram ao fim do percurso. Nesta, se se observa novamente um projeto de engenharia que traz alusão ao passado (como ocorrera com os dos citados prédios Valmor), o seu resultado não pode ser confundido com uma construção efetivamente 152 Tais informações são sucintamente descritas no artigo “Lisboa ao longo de uma vida”, do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, publicada no terceiro número da Revista Semear de 1999. 123 remota, e, recordemos, o portal da cena final possui um classicismo não arqueológico. Pode-se citar ainda o que o narrador define conotativamente como uma praia de luz magnética sobre a vegetação química dos geométricos jardins, cena que, se reconhecido o seu cariz futurístico, evidencia uma urbe cujo desenvolvimento se orientara por conhecimentos científicos ligados à física, à química e à matemática, em detrimento de conceitos que se vinculassem às ciências humanas. Reparemos, aliás, que, em direção oposta, o personagem principal possui referências culturais de outra ordem, o que se nota pela menção à apresentação de balé, no início do conto, e por sua identificação com o amigo de deambulação, um professor que possui conhecimentos filosóficos, a julgar pelas suas referências a Sartre e a Epicuro. Por isso mesmo ele se vê cada vez mais isolado num espaço que valoriza conhecimentos exatos em detrimento a humanos, configurando-se aí uma primeira razão para a sua dificuldade de relação social e a sua sensação de solidão no passeio pelas ruas desertas da urbe noturna. Essa metamorfose a caminho do mais terrível isolamento tem, portanto, relação nítida com o discurso urbano, já que tais hipotéticas alternativas arquitetônicas futurísticas acompanham, por seu turno, modificações conceituais do próprio espaço citadino. Estas, previstas igualmente por outros intelectuais e artistas que se ocuparam da meditação sobre o porvir dos homens e dos centros urbanos de seus tempos, incluem, dentre outras características que seria despiciendo arrolar, a pouca importância concedida aos valores do espírito fundamentais ao humano. Para só referir um exemplo da época — já que desenvolveremos esse assunto ainda no capítulo seguinte deste ensaio — evoquemos, no cinema, Alphaville, de Jean-Luc Godard, lançado em 1965 (ano anterior, aliás, à publicação do conto de Tavares Rodrigues), uma das películas fundamentais da Nouvelle Vague francesa, cujo enredo, sob atmosfera noir, gira em torno da visão trágica de uma cidade futurista dominada por um computador que aboliu os sentimentos dos seus habitantes, automatizando-os, fundamentando-se na crença de que a cidade ideal é regida por uma lógica técnica desumanizadora onde os sentimentos, por exemplo, estão abolidos. Ora, à medida que a sociedade pós-industrial cresceu desmesuradamente, a individualidade do cidadão sofreu um processo de controle ou apagamento em prol do funcionamento organizado da coletividade, vista como algo abstrato e não como uma composição humana heterogênea. Retornando a um dos leitmotivs destas reflexões, 124 estaria aí uma das causas das limitações de atuação do flâneur, figura ímpar em um mundo que apenas acolhe os pares, que possuiria ainda, em outros tempos, a liberdade de vagar, observar e julgar. Assim, testemunhamos a desconsideração do fator humano por uma cidade que parece progredir em razão de si mesma, ideia corroborada pelas últimas edificações descritas no conto, em que se usam figuras abstratas ao invés de representações do homem: em vez de estátuas, prismas e esferas. A lacuna deixada pela ausência de esculturas que consagrassem formas humanas tende, todavia, a ser ocupada pelo próprio ser humano em seu processo de reificação: coisificada estará a bailarina com reflexo de bronze, sentada num banco de pedra, cristalizada numa expressão tristíssima; coisificados estarão os dois amigos ao fim do conto, as pálpebras igualmente de bronze, a verificarem a impossibilidade de mexer os dedos enclavinhados, numa rigidez de pedra; coisificados estarão todos tornados estátuas em uma sociedade que, de modo definitivo, os define, classifica, funcionaliza e estratifica irrevogavelmente e à sua revelia.153 Tal conceito de espaço urbano reflete-se na ausência de pessoas nas ruas, motivo pelo qual tudo o que é cabível então apresentar é justamente a geometria das construções, a que o narrador passa a se ater com alguma riqueza de detalhes. Suas críticas à cidade se evidenciam nas longas descrições que ele promove dos próprios prédios (não por acaso envolvidos pela névoa fugidia, que reforça o seu aspecto negativo), sempre permeadas por um vocabulário mesclado por adjetivos com valor pejorativo — termos, em maioria, de uso corrente no discurso da construção civil e que aqui, no entanto, ganham profícua ambiguidade: tortos cordões de pedra, pífias estilizações, capitéis chorudos, dentes inchados, arremedos de feras hiantes, balaustradas gordas, obesos adornos assimétricos, ferros forjados. Esse último adjunto grifado, a propósito, identifica-se com a descrição que se faz do edifício adornado com letras tetas para forjar hieróglifos que não terão significado algum, hieróglifos que afinal não são hieróglifos. Ler a cidade é discriminar a sua tendência aos esvaziamentos de sentido, o seu culto à forma em prejuízo do conteúdo, como já se discutiu na análise dos contos de João de Melo e Jorge de Sena, no capítulo III deste ensaio. 153 A análise que faremos mais tarde da contística saramaguiana reforçará essa ideia. 125 A observância dessa metamorfose, que, em “Trânsito”, repentinamente se processa diante dos olhos do narrador em uma velocidade maior do que a sua faculdade para acompanhá-la (reiteremos a sua queixa de que tão depressa a cidade se transforma) leva à gradativa instauração de um ambiente fantástico, de modo que o ponto final da jornada dos personagens se contrapõe àquela cidade de relação aparentemente mais fotográfica com a Lisboa real descrita no princípio, logo depois do episódio do balé. E o insólito da narrativa é inferido desde o seu começo, ainda que não manifestado do modo radical como se verifica em seu clímax, já que desde sempre o frio do inverno e o nevoeiro não são capazes de verdadeiramente explicar esse aspecto estranhamente calmo (mesmo para o período noturno) de um dos principais eixos da ligação entre o Norte e o Sul de Lisboa promovida pelas chamadas Avenidas Novas, nas quais não se cruza com pessoa alguma, exceção feita ao professor Benavente. Aliás, não causa surpresa essa companhia para o passeio do narrador ter surgido de modo inesperado após os referidos dez anos em que os dois homens não se haviam encontrado. Acresce-se a isso a cena do balé, que já faz com que o leitor seja absorvido por uma atmosfera insólita desde as linhas iniciais do conto. Fosse porque o espetáculo ocorresse em um espaço não convencional e aberto ao invés de um teatro com o seu palco convencional, fosse porque se tratasse de uma apresentação de viés talvez mais brechtiano (as descrições não permitem uma conclusão precisa, o que potencializa a sua atmosfera de estranhamento), a bailarina interage continuamente com o narrador até, a certa altura, ser conduzida para fora do círculo iluminado em que dança para que ele se arrisque a dizer-lhe o nome, a vagamente reconhecê-la: Rosa, Luísa, Júlia... As respostas que a chorosa dançarina lhe dá a cada tentativa (Não o conheço...; Ou já o esqueci... Ninguém se conhece, não é verdade?; Não vale a pena. Não te esforces...) são indícios de um dos motes da narrativa, essa inépcia do homem moderno em relacionar-se plenamente e em reconhecer-se a si e aos outros — temática já tratada na nossa proposta de leitura dos contos de Branquinho da Fonseca e Mário Saa, exposta no capítulo II. A apresentação artística propriamente dita, o narrador classifica-a como um divertissement, que vem a ser o ato de uma peça de balé que não estabelece uma relação direta com o desenvolvimento do seu enredo. Poderia ser essa, numa leitura 126 autorreferencial, o modo proposto para entender a coesão entre a introdução da narrativa e o restante do conto, a julgar especialmente pela forma inesperada e aparentemente desconexa com que se transita de um movimento para o outro, como se sucedesse a justaposição de textos distintos e passássemos subitamente a ler uma nova narrativa que se inicia e, a princípio, referenciaria pouco ou nada da anterior. Relembremos o trecho: [...] ela se afasta, bailando, com gestos quase burlescos, até que estaca, já ao pé das outras e, sem me ver, sem me pensar, com certeza, o rosto muito erguido, assenta o joelho direito no círculo iluminado. Terminou a festa, suponho, e a rua está fria. O Inverno veio até nós.154 Na verdade, essa cena do balé tem pouco a ver com a descrição mimética de um espectador que vai ao teatro, funcionando muito mais como um delírio do personagem, uma impossibilidade de atribuição de limites entre a ficção (dança) e a realidade. A bailarina que salta da luz e que invade a cena da vida estaria em situação oposta mas simbolicamente similar à da jovem que vai ao cinema e salta para dentro da tela em A rosa púrpura do Cairo, obra que décadas mais tarde viria à cena na direção de Woody Allen. O narrador do conto de Urbano Tavares Rodrigues, por assim dizer, dançará um balé semelhante durante o transcorrer do conto. Tanto assim é que o, digamos, passo final, executado por ele e por seu par, será precisamente a imobilização, numa rigidez de pedra como já observamos, ambos também quedos e a meio do átrio, sob uma luz azul, errática — isto é, uma posição física e uma localização espacial facilmente comparáveis às que se encontram as bailarinas ao fim do espetáculo, visto que, anteriormente, elas se movimentaram de forma análoga ao estacarem no círculo iluminado. O divertissement da abertura do conto autentica-se, desse modo, como uma reprodução metonímica do deslocamento pela cidade a ser concretizado na cena principal da narrativa. Consta da cenografia do espetáculo a tapeçaria de cor indefinida, entre o rosa e o amarelo, como deve ser o cetim dos ventres interiores, além dos espelhos, cuja quantidade o narrador não pode precisar: Espelhos há quatro. Ou cinco? Ora, se assim 154 RODRIGUES, U. T. (1974), p. 556. (Grifo nosso) 127 é, do mesmo modo será passível de dúvida a contabilidade supostamente precisa que se exibe no parágrafo seguinte: São cinco bailarinas brancas. Afinal, poderiam elas ser, de igual modo, apenas quatro (ou até menos) e é a presença dos espelhos o que teria confundido o narrador, visto que, além disso, muito convenientemente tratava-se de rapariguinhas de branco, quase gêmeas, como logo adiante ele revela. Quiçá será a imagem alegórica desses espelhos o que permitirá que a segunda parte do conto seja então essa espécie de reflexo do divertissement que o inicia. Quiçá sejam esses os espelhos que o narrador então metaforicamente atravessa, como a Alice de Lewis Carrol, a fim de partir de uma cidade similar àquela em que vive para, a seguir, chegar a ela mesma transformada em outra. Corroborando essa nossa hipótese de leitura, pode-se dizer que realmente há elementos da abertura do conto que migram para a sua parte principal, por uma espécie de processo especular. Constata-se isso em pequenos sintagmas, como a reiteração da referência ao ventre da tapeçaria cenográfica nas torres circulares em cujo ventre os mesmos elevadores morosos prosseguem a sua perturbante, silenciosa marcha contrária ou no processo de petrificação que a dupla de caminhantes sofre, e que é especularmente similar à das dançarinas da peça. Mas igualmente é possível observar o fenômeno de especularidade na comparação por oposição entre a cena final da narrativa e aquela inicial em que as bailarinas realizam o seu bailado: enquanto elas dançam, escorre do tecto, da luz, um suor de estrelas, ao passo que, em seu destino, o protagonista encontra o ar-luz que varre a cidade, que nasce do chão, das estrelas dos mosaicos em que pisa. É em um mundo às avessas (alto / baixo) que o personagem agora deambula, como se o segundo fosse uma representação do primeiro, nascida a partir do seu espelhamento, e nessa cidade refletida ao contrário é que ele caminhasse. A impossibilidade de identificar as pessoas (a falta de habilidade de o narrador nomear corretamente a bailarina), bem como a relação geminal que se estabelece entre essa dançarina e as suas colegas de coreografia, que podem funcionar tão somente como duplicações suas, permitidas pela existência real ou metafórica dos vários espelhos, não podem assim evitar a solidão. Por isso, ela chora e passa por um conjunto de pequenas metamorfoses enquanto conversa com o protagonista, sentada em um banco que fica, a propósito, encostado aos espelhos, como a pele que clareia e o olhar que esverdeia, comprometendo ainda mais a sua identidade. Tudo isso alegoriza (também por um 128 processe de espelhamento entre as duas partes do conto) essa cidade deserta155 pela qual o narrador caminhará mais adiante, esse espaço citadino onde, normalmente, as pessoas não se podem distinguir e as relações humanas se tornam, por essa razão, improváveis. Ora, descrever essa deambulação por uma urbe vazia — efetivamente sem a multidão, como a que Cris empreende na cidade em colapso de “A lua” — é radicalizar e, mais do que isso, fazer literal a metafórica observação feita pelo personagem de um dos contos de Branquinho da Fonseca anteriormente citado: nas cidades cada um vive como se estivesse sozinho, porque anda no meio da multidão.156 Desse modo, também a eterna marcha contrária dos elevadores, que se cruzam paralelamente no espaço sem jamais se encontrarem (como as pessoas que andam sós na multidão) e que mais tarde revelarão transportar, isolados uns dos outros, homens e mulheres com alguma coisa de lagartos (frieza dos seus corpos?... falta de emoções?...), institucionaliza, por meio do maquinismo que não permite opção outra, tal desencontro das pessoas que vivem na cidade, tornando a solidão o grande tema destes espaços urbanos, paradoxalmente marcados pelas altas taxas de densidade demográfica. Essa temática da solidão do homem é recorrente na obra de Urbano Tavares Rodrigues, assim como na de muitos escritores e pensadores do seu tempo, marcados pela leitura do existencialismo francês (lembremos o Sartre citado expressamente num 155 Reconhecemos que outra leitura possível para o conto seria a que dá conta, justamente nos anos de 1960 de sua publicação, do trânsito ilegal de portugueses que, em busca de melhores condições de vida, migraram para a França. Especula-se que cerca de um milhão de pessoas deixaram o país na época, sem contar os mais de um milhão e meio de portugueses que já viviam em Angola ou Moçambique, o que, para uma população que, segundo censos (superestimados já que mascarados pela ditadura salazarista para forjar processos eleitorais) não chegava a nove milhões, representa significativo esvaziamento, uma desertificação do país. Mas esta aposta, ainda que coerente, não será a que nos interessará e nela preferimos não investir agora. 156 É interessante pensar que, num âmbito geral, a partir da segunda metade do século XX, e em especial mais recentemente, a cidade esvaziada foi-se tornando uma obsessão imagética artístico-literária, recurso para representar determinadas formas de contradições da cidade real. Para fixar em poucos exemplos, podemos verificar que as cenas do conto lembram as que o personagem César (interpretado por Eduardo Noriega) protagoniza no princípio da película espanhola Abre los ojos (1997), de Alejandro Amenábar, quando sonha sair de casa pela manhã rumo ao trabalho e é desconcertado por uma Madrid absolutamente deserta, o que Tom Cruise reviverá no remake norte-americano Vanilla Sky (2001), de Cameron Crowe, ao reencenar a passagem na pele de David, que em seu sonho está no centro vazio de Nova York, onde, todavia, os anúncios luminosos seguem acesos sobre Manhattan (como, aliás, também é observável em “Trânsito” com Fanta e Canadian Pacific). O motivo é ainda aproveitado na recente série televisiva de documentários Life after people, veiculado pelo canal History pela primeira vez em 2008, em que se relatam implicações do desaparecimento de todos os seres humanos repentinamente, restando apenas os objetos, exercício idêntico ao que realizou Guido Morselli, escritor italiano que nos anos de 1970 publicou a novela Dissipatio H. G., a qual também relata uma repentina e simultânea dissipação do gênero humano, restando apenas o protagonista (obra a que recorreremos por ocasião de leitura de um conto de José Saramago). 129 diálogo dos personagens desse conto, referência que ainda avaliaremos). Na narrativa “O centro do mundo” (do livro, de 1982, Fuga imóvel157), tal inquietação reaparecerá e dela optamos por recortar o trecho final: A rua desapareceu e os meus passos, que o sol desorienta, andam de roda de mim, sem conseguir atravessar o muro, a máscara de luz. Iço-me, transponho a barreira, mas logo me acho noutro espaço fechado. Só que daqui posso, ao menos, avistar uma parte do labirinto: em vez de ruas e das travessas que ali tinham existido vê-se apenas uma extensa e confusa teia de pátios, que parecem sem comunicação, ligados, quando muito, por alguma cancela, também pintada de branco. Estou já para desistir quando apercebo, ao longe, numa das divisões daquele dédalo (não se percebe por onde tenha podido entrar), o pequeno automóvel que Ela costuma guiar. E, pendida sobre o volante, uma cabeleira castanha, quase loura no incêndio da hora. Prossigo, busco a pista perdida, o segredo, salto este muro e aquele e outro e mais outro, às vezes encontro uma porta, forço-a, o carro está sempre distante, cristais de luz flamejam no sono, na insuportável alvura das casas, dos quintais sem vivalma, lúcida vila inexistente, preste a explodir em fogo branco. O calor aumenta, desaparecem todas as sombras. Em seu lugar, silenciosas chamas, discretas mas persistentes, erguem-se do solo. Avanço, a mão em pala sobre os olhos, vencendo obstáculos, que são sempre os mesmos. Coisas miúdas e grandes, pedras, vidros de garrafas, ferros torcidos e quebrados, carros com os varais em terra, cacos de barro amarelado, o próprio pó em labareda, os grumos das paredes, tudo condensa e reverbera filamentos de sol. A consagração do oculto. Moídos os músculos, exasperado, parece que enfim se revela o percurso certo. Mas o carro, que, do alto deste muro a que subi, se me oferece afora nitidamente, de perfil, está vazio. E não é o dela: é o meu, um pouco maior e também branco, de um branco cortante como a lâmina do meio-dia. Vazio. Dói-me o sexo, dói-me o coração. Sento-me no chão. Deito-me, de lado, joelhos encolhidos, o rosto apoiado no ângulo do braço, roçando o pó, que de tão perto ficou vermelho, e digo “mãe” como dantes, há muito, dizia “meu deus”.158 157 Em verdade, essa obra não é classificada como um volume de contos, sendo mesmo por vezes referida pela crítica como romance. Identificado em sua edição pela estratégica nomenclatura de ficção, de caráter generalista, o texto apresenta-se como um gênero híbrido quando se afirma em sua portada que “os textos de Fuga imóvel formam um puzzle com várias combinações; podem ter a ordenação que lhes demos ou a que o leitor encontrar” [RODRIGUES, U. T. (1982), p. 7.]. 158 RODRIGUES, U. T. (1982), p. 29-32. 130 Nesse conto, o protagonista realiza um movimento de perseguição de uma mulher com quem possui relacionamento amoroso (como o início do texto, não transcrito, deixa claro), a qual ele aguardara em vão no lugar em que reside, junto a duas figuras femininas de idade avançada que igualmente moram naquele local e que são evidentes figurações de imagens maternas, representação referida, aliás, explicitamente ao final do texto, não somente pelo sintagma mãe mas por vários outros signos relevantes. Ao enfim se arriscar a ir buscá-la e possuí-la, descreve o narrador um ambiente externo transformado que, apesar de conter elementos que referenciem o espaço de uma cidade, torna-se labiríntico e fantasmático, reduplicando em desdobramentos infinitos o próprio pátio do quintal em que está, como se então se tratasse de um aprisionamento ou de uma clausura de que vai sendo expulso, porque talvez não o desejasse verdadeiramente deixar, na busca do seu objeto de desejo. Daí que a narrativa se insira em um volume intitulado exatamente Fuga imóvel, uma vez que é esse o paradoxo que nela se cria: de certo modo a mulher que lhe escapa não se mostra nunca genuinamente ameaçada por seu perseguidor, que não abandona na verdade o local em que vive, em seu enclausuramento quiçá desejado como um útero do eterno retorno. Por isso, as figurações maternas e, mais do que isso, gestacionais e parturientes, abundam no texto: as citadas senhoras, que lhe dão conselhos no início do conto e das quais ele demonstra sentir vergonha por elas conhecerem a sua intimidade ao se intrometem ali sem cerimônias; mais ainda, a posição fetal que o protagonista adotará ao fim da narrativa, quando pronunciará aliás a palavra mãe; a transposição de barreiras formadas por sucessivos muros-máscaras de luz que parecem denotar o esforço de quem sai de um corpo fechado, o que o leva a forçar portas fechadas, a moer os músculos exasperadamente e a fazer doer o sexo e o coração, logo vazios, como em um contexto pós-nascimento que indica a ruptura umbilical mãe-filho; por fim, além da incômoda luz em demasia que remete claramente à cena de um parto, momento em que o ser é dado à luz, em que o calor aumenta e desaparecem todas as sombras, tem-se o reforço do pó vermelho, alegoria do sangue que faz parte central de um evento dessa natureza: líquido, placenta, sangue. Estamos diante de um fenômeno que pode efetivamente explicar a expressão consagração do oculto descrita no conto. Alargando a análise a respeito do título do livro, Maria Graciete Bresse afirma: 131 A “fuga” é, em termos musicais, uma composição rigorosa, em que o elemento melódico inicial contém, em potência, toda a estrutura da obra. Para alimentar o seu discurso, o compositor manipula dois universos temáticos intimamente ligados. Parece-nos ser esta a arquitectura esquemática de Fuga imóvel de Urbano Tavares Rodrigues, obra cuja beleza resulta da ordenação contrapontística das linhas de sentido (Amor e Morte), dos múltiplos reflexos que nos transmite em espelhos de jogos recíprocos, da respiração que pressentimos fora do espaço e do tempo, percorrendo o onírico ou os horizontes breves dum quotidiano vivido em exaltação ou amargura. “Telepathos”, a narrativa inicial, contém as linhas temáticas fundamentais da obra.159 O comentário, embora se refira ao volume em sua completude e não especificamente ao texto que dele faz parte e que aqui recortamos, mostra, nesse nível macro, notável semelhança com o que observamos em “Trânsito”. O motivo musical que Urbano Tavares Rodrigues descobre para metaforizar a função dessa narrativa primeira (“Telepathos”) em relação às outras apresenta a mesma simbologia que propusemos para o divertissement que abre o conto que selecionamos de Imitação da felicidade, quando essa outra nomenclatura artística igualmente contém, em seus traços, a estrutura narrativa verificável no restante do conto, no qual, a propósito, encontramos também os múltiplos reflexos de espelhos e a oposição fantástico vs. cotidiano que Bresse observa no livro de 1982. Ressaltamos isso porque poderíamos apostar que “O centro do mundo”, observado em suas relações possíveis com “Trânsito”, pareceria configurar uma espécie de versão diurna da deambulação empreendida pela noite no texto publicado cerca de duas décadas antes, o que autentica que aquele seja aqui trazido à leitura como contribuição para o entendimento deste. Ora, trata-se de uma caminhada de viés tão fantástico como o da narrativa de 1966 (em ritmo evidentemente mais acelerado, quiçá pela própria energia excessiva legada pelo sol que se apossa de cada centímetro dos insólitos cenários que se repetem). Ao invés de ruas e travessas, que desapareceram, o protagonista, ao içar-se no muro, depara-se com as multiplicações (especulares, portanto) desses espaços de transição que são os quintais — lugar de passagem entre a 159 BESSE, M. G. (1983), p. 79. 132 casa e a cidade, entre o público e o privado. E para além disso, temos outra transição: entre a vida adulta e a intrauterina, fazendo sobressair os signos da narrativa que remeteriam à figuração materna. A impossibilidade de vencer os muros do quintal, que ressurge a cada ultrapassagem, indica um personagem que não parece desenvolver plenamente a sua própria maturidade social e afetiva, que não se desprende de suas relações uterinas, que não é capaz de cortar o seu cordão umbilical, mantendo-se sempre nesse meio caminho entre a dependência da mãe (a casa) e a autonomia emocional (a cidade), negando-se um amadurecimento que lhe permitiria viver entre ruas e travessas agora desaparecidas. Talvez por isso persiga a mulher de cabelos castanhos (ou loiros — e também essa personagem sofre mutações conforme as que observamos na bailarina de “Trânsito”, afetando assim a sua identidade), já entrevendo nela a própria figura materna, possibilidade de base freudiana que recupera o Complexo de Édipo. O protagonista mostra-se, assim, dependente do elemento feminino, o que se evidencia na espécie de devoção que oferece à mulher que persegue, referida pelo substantivo “mãe” e pelo pronome pessoal reto grafado em maiúscula — Ela (todas as mulheres incluindo a mãe) — expediente formal de linguagem utilizado quando se faz menção a Deus, figura cujo lugar Ela visivelmente ocupa, e que, para o caso, às avessas, vem nomeado em minúscula como simplesmente deus: e digo “mãe” como dantes, há muito, dizia “meu deus”. Essa mulher procurada n’o centro do mundo também é portanto inominável como a bailarina de “Trânsito” (tal qual, aliás, são os próprios personagens principais, ambos, a propósito, narradores de seus respectivos contos). A busca por Ela, que não pode nunca ser alcançada, representaria também, tortuosamente, uma tentativa de encontro do herói com a sua origem, o que afinal não se consubstancia (note-se que, ao achar o seu próprio carro, o descobre vazio) enquanto ele tenta encontrar-se n’Ela e paradoxalmente sentir-se sempre e para sempre expulso do seu corpo e lançado ao chão do mundo. Podemos ainda buscar, com igual pertinência, diferenças entre os dois contos, diferenças que, uma vez perfeitamente diametrais, provam, de outro modo à similitude, a relação entre eles. Em “Trânsito”, por exemplo, descrevem-se sombras que surgem certamente com alguma dificuldade, em se tratando de um cenário noturno pouco iluminado apenas pelas luzes azuis, enquanto em “O centro do mundo” desaparecem 133 todas as sombras, precisamente pelo excesso de luz que é possível exclusivamente ao meio-dia, a hora sem sombra em razão da conhecida inclinação de noventa graus da incidência de luz sobre a terra. Esse sol escaldante impõe a todo o cenário um monótono branco, enquanto a noite de “Trânsito” se encontrava marcada pelo azul, igualmente monocromático. Mas, nesse cotejamento das duas criações de Urbano Tavares Rodrigues, encontramos a mais profunda (e significativa para nosso intento) semelhança: nelas, temos protagonistas que andam a sós na cidade (em espaços sem vivalma, como se verifica textualmente em cada uma das narrativas). De certo modo, ao jogar com os dois textos, estamos a pressupor que aquele que data do início da década de 1980 comprova a leitura que estamos nos propondo a realizar de seu ancestral direto: uma mesma temática — que é a solidão do homem contemporâneo — com opções narrativas similares e resultados mais ou menos análogos, em outro momento do percurso literário do autor. 4.2 A cidade duplicada Essa sensação de se estar só em meio à multidão, forçoso estado citadino, irá revelar-se então a principal questão dramática do herói de “Trânsito”. Como em relação à bailarina em sua convivência com as colegas gêmeas, também no caso do protagonista a repentina presença de Benavente para acompanhá-lo em sua deambulação não será verdadeiramente capaz de rescindir essa solidão, uma vez que a aparição do companheiro é envolta de certa ambiguidade, como se não acontecesse literalmente e, nesse sentido, favorecendo o fato de não provocar espanto; como uma estratégia do narrador para conversar consigo mesmo, através de uma segunda voz representada por aquele que ocuparia para ele um lugar de mentor, como, aliás, até sugere o título de professor. Através desse processo dialógico (em um estilo que lembra os recursos retóricos clássicos usados por Platão e Aristóteles), o personagem (afeito, aliás, à filosofia, como já realçamos) será capaz de desenvolver breves discussões epistemológicas, dentre as quais a que faz menção a teses defendidas por Jean-Paul Sartre, em trecho que recortamos novamente: 134 — Não, meu amigo [...], a tese do sonho nunca pode ser a tese da percepção, mesmo que à primeira vista se lhe pareça. Eu sonho, logo não percebo... — Como?... Ah! sim... O Sartre... — O sonho é frágil, desfaz-se ante a consciência reflexiva... — Curioso! — Não, é bem simples. Está a ouvir? Rosa, Luísa ou Júlia, a figura da mulher-criança dói-me no peito ao atravessarmos a Avenida da República. Está frio, sinto nas mãos umas luvas de gelo. — A diferença entre o sonho e a percepção é a diferença entre a consciência de crer e a consciência de saber. — Pois é...160 As palavras do professor, dessa maneira, potencializariam a ambiguidade do conto, visto que uma das possíveis funções narrativas para o seu personagem seria a de exercer justamente o papel de consciência reflexiva do protagonista, o que descartaria a ideia de que o enredo se passasse na esfera do onírico. Afinal, sendo frágil, esse sonho se desfaria diante da ação reflexiva de Benavente, o que na verdade não acontece. Por outro lado, a indiferença do narrador para as suas conclusões (conforme expressões como Ah! Sim..., Curioso! e Pois é.) apenas contribuem para sustentar a continuidade de um diálogo do qual o protagonista na verdade não participa, se recusando a refletir. A sua fácil distração em relação ao assunto é provocada pela lembrança da bailarina ou pela verificação do clima, o que indica que ele não percebe de fato (realmente, não percebo — ele confessa ao professor em outro contexto), levando a uma contestação de seu estado de vigília. Todavia, não cremos que seja essa a discussão mais profícua que o uso da filosofia de Sartre pode trazer para a leitura de “Trânsito”. Parece-nos na verdade mais relevante observar que, no trecho, o professor exibe as fundamentações do existencialista exibidas em um dos seus primeiros escritos publicados, em 1936: A imaginação. Sem pretender uma investigação mais profunda dessa teoria, limitemo-nos a buscar o que parece ser fundamental à interpretação do conto: a diferença que Sartre, com base no conceito de fenomenologia proposto por Edmund Husserl, estabelece entre duas formas possíveis de existência por ele reconhecidas — uma como coisa e outra como imagem. Com o intuito de demonstrar tal ideia, o ensaísta usa o exemplo de uma 160 RODRIGUES, U. T. (1974), p. 557. 135 folha de papel em branco que se encontrasse em sua escrivaninha: ao olhar para ela, afirma estabelecer contato com a sua existência como coisa, que não está sujeita à sua constatação, não depende de nenhuma espontaneidade nem de uma consciência; mas, ao voltar o rosto para a parede, alega ainda poder visualizar essa folha que continua todavia sobre a mesa, instituindo dessa forma a sua existência como imagem, a qual, por sua vez, depende da reflexão de uma consciência e possui com a folha-coisa uma identidade de essência. Sartre, porém, reconhece que essas duas existências podem ser facilmente confundidas pelo homem e cremos que essa possibilidade de conflito é o que se mostra mais fértil para a interpretação do conto de Urbano Tavares Rodrigues que aqui elegemos para leitura. Discursa, deste modo, o filósofo: [...] essa confusão dos modos de ser é tentadora, pois afinal a folha em imagem e a folha em realidade são uma única e mesma folha em dois planos diferentes de existência. Por conseguinte, tão logo o espírito se desvia da pura contemplação da imagem enquanto tal, tão logo se pensa sobre a imagem sem formar imagens, produz-se um deslizamento e se passa, da afirmação da identidade de essência entre imagem e objeto, à de uma identidade de existência. Já que a imagem é o objeto, conclui-se que a imagem existe como o objeto. E, dessa maneira, constitui-se o que chamaremos a metafísica ingênua da imagem. Essa metafísica consiste em fazer da imagem uma cópia da coisa, existindo ela própria como uma coisa. Eis aí, portanto, a folha de papel “em imagem” provida das mesmas qualidades que a folha de papel “em pessoa”. Ela é inerte, não existe mais apenas para a consciência: existe em si, aparece e desaparece a seu critério e não ao critério da consciência; não cessa de existir ao deixar de ser percebida, mas continua tendo, fora da consciência, uma existência de coisa. Essa metafísica, ou melhor, essa ontologia ingênua é a de todo mundo. Por isso, observamos o curioso paradoxo: [...] acaba por [se] constituir, em vez de uma única folha de papel em dois planos de existência, duas folhas rigorosamente semelhantes que existem no mesmo plano.161 A imagem, ao contrário do objeto, depende da subjetividade de uma determinada consciência para que seus traços possam ser definidos. Ora, a Lisboa descrita pelo narrador em “Trânsito”, mesmo em seus momentos de maior mimetismo, não 161 SARTRE, J.P. (2010), p. 9-10. 136 representaria na verdade a sua existência como coisa, mas como imagem, aquela que o autor será capaz de atribuir à cidade em razão de suas visões particulares sobre ela e até porque é feita de linguagem: a isso equivale, aliás, qualquer produção artístico-literária. Trata-se, assim, de uma cidade que, como a folha de papel sartriana, “não existe de fato, ela existe em imagem”162. Tomando, todavia, uma perspectiva interna da narrativa, fincando bases na argumentação que o protagonista mesmo seria capaz de, interdiegeticamente, elaborar, percebemos que esse espaço urbano inicial, o da Lisboa amodorrada e ronceira, identificar-se-ia com uma existência como coisa (para o narrador-personagem) e aquela alcançada mais tarde com uma existência como imagem. O protagonista, no entanto, vitimado exatamente pela sua metafísica ingênua da imagem (seu delírio? seu sonho?), não compreende que, ao ultrapassar o espelho, alcançara outro plano de existência e deambula assim na cidade-imagem que criara cuidando que estivesse na cidade-coisa. E as características da cidade-coisa é que provocam essa percepção particular do espaço urbano que o narrador descreve (daí a importância de que, nesse conto, ele compareça na primeira pessoa verbal). Assim, o espaço-imagem é apresentado sob um discurso de estranhamento porque tão depressa a cidade [coisa] se transforma [em imagem] (e a noite tudo confunde) que por consequência o herói não é mais capaz de associá-la à Lisboa-coisa de sua memória. Assim também a incomum luz azul que irá matizar a urbe-imagem tão somente simboliza uma urbe-coisa que ele não pode mais descodificar e que por isso ganha essa tonalização insueta. Assim, finalmente, o esvaziamento que se percebe nas ruas-imagem é fruto de uma percepção de isolamento do homem nas ruas-coisa — ideia simbolizada na já citada metáfora dos elevadores: os homens se cruzam na multidão sem em momento algum se encontrarem (e, uma vez mais, reiteremos: nas cidades cada um vive como se estivesse sozinho, porque anda no meio da multidão). Pensemos pois nessa última imagem. Não é difícil encontrar em tais homens que se transportam no espaço através de elevadores isolados dos demais uma metáfora também para o trânsito realizado em automóveis, nos quais milhares de pessoas cruzam uma cidade sem interagir com as demais. Ora, no espaço urbano descrito nesse conto intitulado exatamente “Trânsito”, a ausência da multidão indicia essa transferência do 162 SARTRE, J.P. (2010), p. 8. 137 protagonismo urbano do homem aos elementos inanimados: notadamente aos prédios, mas também aos automóveis. A descrição de um edifício garagem metaforiza, assim, com maior precisão, a cidade que reconhecemos existir em função de si própria, promovendo a inversão de valores entre meios e fins: a construção configura-se em um imenso stand de automóveis — verdes, beges, cinzentos, piscíneos, cromados, alinhados em placa de cristal — o edifício, todo em planos horizontais e com painéis de polyester translúcido. Há, então, evidente teor de ironia para o título da obra, já que, na verdade, a cidade parece imóvel (os carros estão guardados nos prédios) e o único — e mesmo último — trânsito que ainda haveria até o termo da narrativa seria o do narrador e de seu companheiro de caminhada, que, aliás, são chegados às luzes intermitentes da sinalização, criadas todavia em função da existência dos veículos. E quando automóveis estão abrigados pelo edifício enquanto duas pessoas andam nas ruas sob o controle dos semáforos, promove-se uma clara inversão de papéis, em que se evidencia novamente a reificação do homem e a consequente subjetivação das coisas.163 Caberia agora concluir se, nessas condições, o protagonista do conto efetuaria uma flânerie. Vejamos: o verdadeiro flâneur anda no meio das pessoas sem com elas se confundir e necessariamente as percebe. Assim, o simbolismo gerado pela descrição da capital do país absolutamente esvaziada tem como resultado inevitável uma flânerie falida, como a de Cris do conto de Rubião: sem o contato com as massas, o tema urbano por excelência segundo sagrara Willie Bolle, não é admissível estabelecer conhecimento sobre o espaço urbano porque é como se ele também não existisse, não acontecesse, não se concretizasse, restando apenas a falta de entendimento a seu respeito. É então porque se encontra sem gente que a cidade se torna inominável, conforme constatamos textualmente (inominável como são as bailarinas e mesmo, vale ressaltar, o protagonista). Dessa forma, o único equacionamento viável para esta incógnita que se tornara o espaço urbano, cuja leitura é recusada, será a absoluta incompreensão ao seu respeito, o que culmina, simbolicamente, nas descrições cada vez mais insólitas e ilógicas sobre a cidade. Para ser um flâneur e entender a urbe, seria necessário se esquivar do posto de homem da multidão (destino de que não se desviaram os personagens de “O jardim 163 Essa discussão, tão em voga no contexto novecentista, guardaremos, todavia, para mais adiante, retomando-a por ocasião da análise dos contos de José Saramago, nos dois capítulos seguintes deste ensaio. 138 voador”, por exemplo) mas seria igualmente imprescindível que se ocupasse o lugar do homem na multidão (condição ainda alcançada por Amorim e José Rotativo), mas isso se revela inexequível quando essa multidão não mais existe (ou não é mais notada, para traduzir em termos denotativos). O personagem-narrador de “Trânsito” é o homem sem multidão. E, sob essa ótica, a cidade vazia é precisamente aquela cidade que não se pode / pôde racionalizar. 4.3 A reflexão interdita A incapacidade de compreender o espaço urbano talvez fosse um dos sentidos possíveis para a expressão substâncias sem reflexo, que define os homens e mulheres que transitam por intermédio dos elevadores. É necessário, para isso, pensar na ambiguidade do termo reflexo, que se referiria não apenas à reprodução da imagem, quando significaria então exatamente a solidão desses seres, que não encontram par na cidade moderna, todavia podendo a expressão estar relacionada ao campo semântico do pensamento: essas pessoas sem reflexo perderam, na realidade, a capacidade de contestação e de leitura do mundo (como os personagens de “A comemoração” e “O jardim voador”, por exemplo), isolados que estão em suas cápsulas de transporte, sejam efetivamente os elevadores, sejam os automóveis que eles simbolizariam, seja tão somente a barreira de defesa que esses habitantes do espaço urbano moderno normalmente criam contra as suas ameaças e que impede as suas interações com outras pessoas nas ruas, fazendo-as então andar sozinhas na multidão. Essa substância sem reflexo, porém, pode fazer menção ainda (e retomamos então o sentido que originalmente lhe tínhamos atribuído) a uma literal ausência de espelhos, objetos sem os quais não pode mesmo haver reflexão de imagem e que povoaram a cena inicial transformando-se nessa espécie de caminho de Alice que levou o protagonista a um espaço de representação urbana que a sua percepção intuiu. Não haver espelho que ofereça essa mesma propriedade de portal entre dois mundos (ou, nesse caso, para manter o conceito fornecido pela teoria sartriana, entre dois planos de existência, a como coisa e a como imagem) sugere a impossibilidade de se localizar um caminho de volta semelhante ao de ida e, portanto, a irreversibilidade do percurso empreendido pelo herói. Ora, tal dado — somado ao fato de que, no trajeto, conforme já ressaltamos, as construções descritas parecem encaminhar o leitor para uma cidade de 139 aspecto futurístico — permite crer que esse percurso seria, na verdade, regido por uma representação da passagem do tempo, afinal, trata-se de uma viagem sem retorno, irrevogável, em sentido único, propriedades pertinentes a essa grandeza. Evidentemente, não é o caso de aqui defender um teor efetivamente futurista para o enredo de “Trânsito”: obras com essa natureza, a flertarem com o gênero da ficção científica, serão tema do capítulo seguinte deste ensaio. A narrativa sobre a qual agora ponderamos passa-se antes em uma contemporaneidade a qual, no entanto, o narrador e protagonista, com um olhar ainda habituado a certo passado, não consegue mais distinguir, de tal modo que isso lhe sobrevém com as marcas do fantástico. A despeito das descrições finais do texto, é preciso pesar uma vez mais o fato de que se lida aqui com um narrador-personagem: e essa opção se mostra, na verdade, um sofisticado recurso para expor não a visão de um personagem que encara uma cidade supostamente futura, mas o olhar de alguém que não entenderia mais a sua cidade atual, ainda que ela não tivesse alcançado efetivamente aquela arquitetura. Não é pois a cidade que é futurista mas o herói é quem é anacrônico. A cidade não espanta por ser futurista mas porque é só metaforicamente futurista e esse futuro é tão somente a projeção do espanto do protagonista que não consegue ler, porque é através dos seus olhos que a vemos. É essa, aliás, uma das capitais características do fantástico, como anteriormente defendemos: a de, em função do estabelecimento de um discurso que não é mimético, delinear e pôr em causa o real de um modo mais incisivo do que a própria prática realista poderia empreender. A rigor, nesse texto de Urbano Tavares Rodrigues, o que se narra é o mesmo que uma obra de cunho realístico poderia facilmente descrever caso mostrasse a cidade contemporânea sob uma poética absolutamente mimética, preferencialmente constituída em terceira pessoa nesse caso, e evidenciasse a partir daí o desajuste de um personagem provinciano, por exemplo, face a ela. Todavia, para que se consolide essa discussão a respeito do não lugar daqueles que se percebem incapazes de ler a urbe, opta-se por fazer uso desse discurso interior do personagem que, portanto, será capaz de expor com maior precisão o seu drama, embora o faça provocando a inevitável caracterização insólita do conto. É assim, por fim, que se sinaliza um personagem tornado arbitrariamente anacrônico, no sentido de que seus modos característicos de interpretar o mundo não se aplicam mais ao tempo presente como quiçá eram funcionais em momentos pretéritos. 140 “Trânsito” é então menos uma narrativa que trata somente da metamorfose urbana (da observável à conjecturada) do que um conto que, especialmente, tematiza a tragédia do seu personagem central. Ora, dizer que essa cidade se altera em razão de uma passagem pelo espelho foi justamente entender que é para a sua subjetividade que o herói se encaminha, para a cidade que ele particularmente enxerga. Por isso há no decorrer do texto tantas referências ao interior do corpo na descrição do espaço urbano, como ventres, diafragmas e nervos ópticos (e mesmo a imagem dos elevadores luminosos a cruzarem-se no espaço remeteriam, nesse caso, a representações usuais das sinapses cerebrais que existem entre os neurônios). Desse modo, é por dentro de si próprio que o protagonista envereda — também é, afinal, a sua imagem que reflete nesse espelho — e é, por conseguinte, para dentro de si que ele se volta. Tal conclusão é, aliás, basilar para que finalmente se compreenda a figura do seu companheiro de deambulação: afinal, ele vai ao encontro de si mesmo e, no entanto, depara-se, sem se surpreender, com o professor Benavente. Por isso é que a presença do professor não poderia mesmo atenuar a solidão do protagonista. Na qualidade de seu antigo mentor, Benavente já não pareceria presente de fato, funcionando tão somente como um seu alter ego. O professor, que a propósito será o único personagem nomeado no conto, é assim somente uma duplicação da própria consciência do protagonista, sendo, a exemplo das bailarinas, sua reprodução geminal, seu duplo. Tal identificação justifica que o professor falasse comigo-consigo. Explica também o diálogo em que Benavente contesta o estranho local alcançado por eles em sua deambulação: — Para onde é que você me trouxe, meu amigo? — Eu? — surpreendo-me a responder — também posso dizer o mesmo, ora essa! Todavia, aproximamo-nos um do outro. Sempre somos dois contra o desconhecido, no solo projectados lado a lado em compridas, pálidas sombras.164 A metáfora das sombras se torna importante porque a aproximação de ambos tem como resultado evidente as suas projeções como uma imagem, sombras contra o desconhecido, senão uma única, ao menos formam elas um valor único contrário a tudo 164 RODRIGUES, U. T. (1974), p. 559. 141 o que lhes é alteridade, momento em que a fronteira entre as até então supostas individualidades de dois seres ganha certa continuidade funcional sugestiva do lugar similar que ocupam. Além disso, a despeito de inicialmente ser o protagonista quem guie o professor, já que estão indo para a sua casa165 (e isso infere-se por ser ele quem conduz a nós, leitores, em sua condição acumulada de narrador), é também o professor quem o leva ao estado em que culmina a sua vida, possivelmente porque, como supusemos antes, tivesse sido o seu mentor e suas decisões então indubitavelmente teriam tido influência sobre o homem de hoje como fruto. Encarar, além disso, os dois personagens como um único também explica o porquê de a dupla de verbos conheço / reconheço surgir duas vezes no texto, sempre em sequência, ambas em posição de destaque, no início e no encerramento do conto (o narrador afirma que conhece e reconhece o divertissement a que assiste, assim como conhece e reconhece a lívida carga dos ascensores enquanto está petrificado na cena final). É evidentemente preciso ser dois para primeiro realizar uma das ações e depois, de imediato, repeti-la: assim, aquilo que o Benavente de dez anos atrás conhece o Benavente atual re-conhece. Antes de perceber no companheiro de caminhada a reprodução do próprio narrador, seria preciso, no entanto, ponderar sobre o único bailarino que se apresenta junto às moças na abertura do conto, o qual é possível supor que desempenhe uma função semelhante à do professor — outra duplicação especular do protagonista. Vale ressaltar, todavia, que é sempre de costas para o narrador que ele surge, e, sendo assim, pela presença dos espelhos em cena, mostrar-se-ia admissível que, numa associação livre de ideias, justapuséssemos essa imagem à tela de René Magritte de 1937 batizada A reprodução interdita, famosa pintura surrealista em que um homem, de espaldas para o espectador, observa no espelho à sua frente o seu reflexo, onde no entanto ele também surge de costas — efeito impossível no mundo empírico. É efetivamente como outro que ele mesmo se vê ao espelho (tal qual é também como outro que o narrador tratará o professor que é ele mesmo). Se imaginássemos que diante do homem espelhado da tela do pintor belga houvesse novo espelho, a figura seria reproduzida, em mise en abyme, indefinidamente; ou, antes, até que não mais restassem espelhos, ausência aliás que já constatamos ocorrer na segunda parte do conto, o que então interromperia a jornada. E, 165 Reiteremos o único trecho que comprova essa informação, em um diálogo entre o professor e o narrador: — Mas onde está a igreja? Não nos teremos perdido? / — Que ideia! Conheço muito bem o caminho da minha casa. 142 caso fosse a vida do herói que esse percurso de várias imagens segmentadas metaforizasse, a ausência de um novo espelho que ainda permitisse a continuidade da estrutura de abismo criada significaria, portanto, a interrupção do caminho, o fundo desse mesmo precipício em que caíra, (e eis a sua petrificação, configurada na impossibilidade de seguir a sua deambulação), detença que significaria então, em termos denotativos, a sua morte. Ora, é indubitavelmente para a morte que o protagonista se orienta: destino inevitável desse itinerário irreversível que é o tempo-vida cuja única opção é a interrupção, o parar-morrer (ou, como se vê textualmente, petrificar-se). Talvez por isso ele creia que a última construção encontrada em sua deambulação seja um hospital (chega a atribuir tal intuição ao cheiro vagamente de éter e de formol). E, muito a propósito, também sobre essa dicotomia vida-morte filosofara o professor: — Sempre fui um agnóstico, meu caro, sempre considerei, como Epicuro, que se pensa na morte precisamente porque se está vivo. É claro que, mesmo para um materialista, o espírito, com maiúscula, existe, não tenho pudor de o afirmar, e é mesmo essa força motriz, a dos factos morais, a par dos factos económicos, dos factos sociais, que vai transformando o mundo, na sua marcha de internas contradições...166 Nesse sentido, seria a cena primeira, a da apresentação de balé, o marco inicial dessa jornada que fora a vida de Benavente (e podemos a essa altura assim nos referir ao personagem que narra o conto). Na linha de leitura proposta, então, por esse motivo é que se faria a referência ao ventre quando se descreve a tapeçaria que serve de fundo ao cenário do espetáculo. O pano, aliás, possui características marinhas: o protagonista afirma ter nas mãos uma renda de sal; há espumas, e há ondas, e areias sujas e conchas nesta tapeçaria que os espelhos multiplicam, o que reforça assim a metáfora, porque não apenas o mar é reconhecido pelas ciências biológicas como o berço da vida na terra como também é imerso em água que todo ser humano se desenvolve em sua fase uterina, além, é claro, de haver num complemento da simbologia esse poder multiplicador dos espelhos, igualmente ligado ao campo semântico de reprodução da espécie. Talvez em função desse seu sentido, a primeira parte do conto seja sonorizada 166 RODRIGUES, U. T. (1974), p. 558. 143 de modo aparentemente abafado: A música mal se ouve, interrompida; é luz decapitada, longe. — como se pode imaginar que sejam os sons que chegam a um feto dentro do útero, alojado no ventre materno. Daí, portanto, que se passe da cena do balé para a da deambulação de modo abrupto, como mencionamos, tão somente através do período: Terminou a festa, suponho, e a rua está fria. A festa que terminou é a vida de Benavente, de que a narrativa não fornece nenhuma informação porque a omite nessa elipse (a grande velocidade da queda no abyme), descrevendo alegoricamente apenas os seus dois extremos, marcos inicial e final: gestação e morte — e arrisquemos a dizer, porque cremos que nossas argumentações até aqui nos respaldam em tal liberdade, que a cena do nascimento do personagem se produzirá apenas anos mais tarde, sendo publicada sob o título “O centro do mundo”. A hesitação para afirmar o término da festa, que se faz presente no segundo verbo do período (suponho), justifica-se pela impossibilidade de o homem precisar o momento exato de sua morte, acontecimento decisivo da vida que, aliás, se representa pelo signo do frio das ruas. O inverno, estação que fecha um circuito iniciado pela primavera (comumente associada ao nascimento) é símbolo recorrente para a morte que nesse conto comparece. Também o fará, além disso, a noite durante a qual Benavente caminha, que igualmente se estabelece como um fim de ciclo. E o quase ininterrupto silêncio da cidade possui semelhante riqueza simbólica. E, logo, a cruz da Igreja de Fátima pelo mesmo motivo teria sido enfatizada durante a deambulação, como último ponto de referência a que a dupla caminhante pôde aludir da Lisboa mimética, a Lisboa-coisa que ficara para trás. Evidentemente, seria possível presumir ainda a causa mortis do personagem, afinal de contas, trata-se de uma narrativa intitulada “Trânsito” — que pode ambiguamente fazer referência a essa transição que o personagem faz da cidade-coisa para uma cidade-imagem, ou a que o encaminharia da vida para a morte. Mais do que isso, trânsito poderia identificar a ocorrência que o vitimara, especialmente se pensarmos que a transformação da cidade testemunhada pelo herói caminhante começa a se processar mais ou menos a partir do momento em que atravessa, diante do semáforo, a Avenida da República. Nesse sentido, outra vertente de leitura levaria a crer que toda a narrativa descrevesse um delírio que o personagem sofre em razão de uma circunstância de agonia, momentos finais de vida cuja expiração fosse catalisada 144 por um atropelamento. Tal opção, por outro lado, persuadiria a encarar o pano cor de ventre da cena inicial como o próprio abdômen aberto do personagem, a agonizar em uma sala de operação (e as menções a signos hospitalares na parte final do texto de outra maneira, por conseguinte, se justificariam). E, finalmente, as várias mulheres inominadas que com ele cruzam no balé inicial configurariam projeções das frágeis e fugazes relações amorosas que ele estabelecera no decorrer da vida e pelas quais lamenta em seu segundo fatal, em uma tentativa desesperada de corrigir o que não possui mais tempo para refazer, de agregar-se aos seus amores e às suas paixões quando não mais os há: resulta disso o seu empenho para lembrar o nome da bailarina, que ela mesma diagnostica como vão (Não vale a pena. Não te esforces). Viria a propósito, quanto a esse último traço, mencionar brevemente um conto de David Mourão-Ferreira, também passível de classificar-se como fantástico, em que se observa (sob um discurso que nem mesmo promove tantas hesitações interpretativas quanto o de Tavares Rodrigues) uma construção semelhante no que toca a uma experiência de revisitação da vida no momento da morte por parte de um personagem, em relação a seus relacionamentos amorosos, que são todos uma relação trágica entre Eros e Tanatos. Trata-se de “Agora que nos encontrámos”, publicado em Os amantes e outros contos, versão ampliada da obra trazida a público em 1968 e que em 1974 ganhava nova edição com o acréscimo de três narrativas, dentre elas essa a que nos referimos (datada, aliás, de 1973). Em suma, “Agora que nos encontrámos” é uma criação mais ou menos contemporânea à que figura em Imitação da felicidade e que aqui interpretamos, o que nunca é inteiramente irrelevante, porquanto tenha potencial para acusar alguma tendência estético-literária vigente no pensamento artístico de determinada época. Ora, nessa obra de Mourão-Ferreira, a narração é feita pela personagem que visita um homem agonizante no hospital, após intervenção cirúrgica decorrente de uma úlcera. A esse moribundo ela dirige o seu discurso por todo o texto, em um procedimento da poética davidiana muito comum no qual há um tu explícito e interno ao discurso a quem a narração se remete em segunda pessoa, sem que evidentemente se possa confundi-lo com o leitor167. 167 No decorrer do conto, a narradora descreve Esse mesmo procedimento é, por exemplo, identificável em contos da mesma obra — “Nem tudo é História” e “Ao lado de Clara” — além de ser observável ainda no único romance de David Mourão-Ferreira: Um amor feliz. 145 passagens da vida do interlocutor: como uma de vinte anos antes, em que o homem já quase perdera a vida em um acidente de comboio na Espanha, ou outra em que ele se relaciona com prostitutas em Amsterdã, todas sob uma atmosfera onírica, insólita, quiçá motivada (justamente como uma das alternativas de leitura para “Trânsito”) por um delírio moribundo ou ao menos pelos efeitos dos remédios anestésicos que o paciente tomara. A mulher, a julgar pela riqueza de detalhes com que pode descrever os fatos168, sugere-se (em uma estratégia semântico-estilística que ao fim do conto será justificada) ora estranhamente onipresente às cenas ora uma narradora observadora dos episódios, o que por vezes a faz confundir-se com as outras mulheres referidas. Em ambas as ocorrências, o comparecimento da sensualidade feminina se faz fundamental, desde a passageira que se desnudava para ele na carruagem do comboio antes do desastre até às profissionais do sexo com que estabelece contato no clube de strip-tease holandês. Nos dois casos, porém, o ato sexual nunca chega a termo, assim como não há, em ambas as ocasiões, uma presumível (notadamente no primeiro caso) consumação da morte do personagem e, assim, estabelece-se a perpetuação indefinida de um desejo dúbio, que passa pela relação carnal mas alcança igualmente a ânsia de um fim de vida — são o gozo e a morte, cuja profunda afinidade Georges Bataille apreendera em seu ensaio intitulado O erotismo: A rapariga deteve-se a meio da cena, a três ou quatro metros do lugar onde estamos. E, num relâmpago, destraça o casaco de peles que já trazia desabotoado, mas volta imediatamente a envolver-se dentro dele, ficando com as mãos cruzadas sobre o peito. No entanto, o que só entreviste, nessa fracção de segundo, chegou para de assombro te sufocar. Foi apenas um relance e todavia bastou para concluíres que nunca tinhas visto nada semelhante em matéria de esplendor sensual, de irradiação erótica. Nada, enfim, que possas traduzir em termos de beleza: a intensa bestialidade, cor de fogo, desse púbis imenso, desse ventre espaçoso mas tão liso, desses peitos pesados e contudo tão erectos, só te acorda o desejo de lutares ofegante, de ficares afogado, de te sentires por fim ressuscitar, aos poucos, entre limos de lume num litoral de lodo.169 168 Esse é um fato a princípio estranho que ela não deixa de justificar: “Porque há-de espantar-te o pormenor com que sei tudo isto? Não o tens tu próprio contado a tanta gente? Também aos meus ouvidos havia de ter chegado...” [MOURÃO-FERREIRA, D. (1998), p. 68.] 169 MOURÃO-FERREIRA, D. (1998), p. 74. (Grifos nossos) 146 No transcorrer da narrativa, a identidade dessa plurívoca mulher que visita o personagem no leito hospitalar vai-se revelando em passagens sugestivas — por exemplo, uma em que ela afirma: já sabes como posso circular à vontade nesta casa de saúde. Trata-se ali da própria personificação da Morte (afinal ela confessa ter sido a responsável pela aplicação da anestesia, causa das complicações que custariam a vida daquele homem a quem se dirige), a qual finalmente vem buscá-lo, após tantos desencontros. E, nesse agora que se encontraram, finalmente será possível a consumação do duplo desejo interdito e adiado em momentos pretéritos (“Agora que nos encontrámos, nunca mais vamos nos perder, pois não?”170: eis o período que inicia a narrativa). O desejo sexual não efetivado do personagem serve de metáfora para que a morte elucide para ele os mistérios que a cercam — por isso chega coberta apenas pelo casaco de peles (como a prostituta holandesa ou antes como a Vênus das peles de Sacher-Masoch) e pelas luvas, primeira peça de que se desnuda, a fim de exatamente efetivar o strip-tease que não seguira em Amsterdã, e rematara na descoberta da forma desengonçada de um enorme esqueleto. E assim pode agora ela mesma, a Morte, satisfazer o seu próprio desejo, que ganha aqui características sexuais, de levá-lo finalmente para si. Ora, poder-se-ia especular por fim que fosse semelhante representação aquilo que o protagonista de “Trânsito” concretiza no momento de sua morte em relação à interação com as bailarinas na cena primeira do conto. A visão do espetáculo de balé torna-se um desfile de mulheres com quem ele se relacionou na vida, das quais, no entanto, não guarda lembrança precisa, mas que lhe reapareciam em espécie de retrospectiva por ocasião de sua morte, configurando algo como um delírio moribundo. Mas não é apenas à morte física que o conto de Urbano Tavares Rodrigues se refere e outra destruição, de cariz alegórico, é a que mais nos interessa na leitura do texto e nos fez considerá-lo pertinente para compor o corpus dessa tese. Nessa cidade de seres isolados, habitada apenas pelo homem sem multidão, é também, enquanto impossibilidade de flânerie, o fenecimento da própria figura do flâneur o que se verifica: o destino de Benavente é, então, o mesmo de Cris do conto de Murilo Rubião — e não poderia ser outro: a morte. 170 MOURÃO-FERREIRA, D. (1998), p. 65. 147 “Trânsito” representa assim a culminância de um processo, cujas etapas foram descritas nos dois capítulos anteriores deste ensaio. Refere-se a uma ação que se desenvolve da gradativa impossibilidade de relacionamento do flâneur com os demais habitantes da cidade em razão de sua vocação para uma flânerie cada vez mais condenada socialmente desde a segunda metade dos oitocentos (caso representado pelo Amorim de “O Anjo”), passando por uma tentativa de integração que o faz, ainda dissimuladamente, abdicar de suas convicções em momentos estratégicos fomentado por um instinto de sobrevivência sem o qual não pode existir como cidadão (conforme faz o José Rotativo), até alcançar como resultante a sua absoluta (e não mais consciente) absorção pelo sistema que o impede de ainda refletir a respeito do meio em que vive, a rendição e o abandono da flânerie (tal qual a multidão manipulada de “O jardim voador” e os personagens descritos em “O Solar dos Mágicos” e “A comemoração”). Esse último momento configura a extinção sofrida pelo flâneur nos cenários da cidade moderna contemporânea, cuja ausência deriva numa lacuna não preenchida, que deveria ser ocupada por aquele que se responsabilizaria pela leitura do meio urbano, o que apresenta como consequência a potencialização, notada em “Trânsito”, desse aspecto insólito surgido aquando da representação das cidades — aspecto insólito que, em razão do fenecimento do flâneur, tornara interdita a reflexão; numa cidade que assim se tornara também interdita à reflexão. 148 V. O FUTURO NO PRESENTE Verde Foi gratuitamente e por acaso que estando ontem na Ribeira das Naus a olhar para um Tejo verde me espantei a trouxe-mouxe. Eram sete e tal duma tarde de fim de Abril, quando princípios de Primavera já puxam o bridão de verdes diferentes em cima das árvores mais dengosas. No entanto, era o Tejo verde e sem mesclas de barros invernosos ou pardos esgotosos que se me apresentava. A visão não se possuía só da cachimónia, não senhor. O que eu estava a ver era a realidade de uma água verde e espelhar-se contra os barcos catraeiros de Cacilhas e a deixar pousar o reflexo de velas rotas e remendadas das velhas fragatas de Offenbach que pacoviamente deslizam para cima e para baixo — numa viagem trazem legumes e na outra levam ninharias rio nascente. Eu olhava para as bandas lá do fundo e a mancha verde mais carregada alimentava-se num futuro cheio de entusiasmo. Pensava nas férias no campo, também ao fim de tarde, ouvindo o cacarejo de umas galinhas aliviadas de ovo quando aproveitava a ocasião para deitar o busílis à jovem mestra-escola que guardava cautelosamente a sua virgindade para fins oficiais e, decerto, matrimoniais. Realmente porque estaria assim o Tejo tão verde, tão esperançoso? Ao meu lado as pessoas corriam silenciosas e esbodegadas à procura de transporte quando táxis se raspavam em bumbas de susto para as várias estações marginais. Em todos havia uma esperança a olhar para aquele verde nem tremendo nem trágico — era um verde gramado, agradável, bem disposto, sem dedadas sujas — era semelhante, no fundo, à disposição da professora de instrução primária, que longe, na aldeia, se escondia à minha passagem com medo de se tentar. Tentar! Como podia eu pensar assim? Era orgulho desmedido, mas satisfazia-me. A alegria no entanto estava cabisbaixa, monocórdia, e sem graça. O fim de Abril chamava para uma liberdade em férias de praia ou campo, e uma riqueza de alma que não podia chegar no momento — tudo nas pessoas esperava, quando um barquito a dois remadores arrancou uma bela enguia das funduras lodosas de um Tejo ainda verde. Lembrei-me desta sensação de Cesário Verde: Nas nossas ruas, ao anoitecer Há tal soturnidade, há tal melancolia Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia Despertam-me um desejo absurdo de sofrer. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Batem os carros d’aluguer, ao fundo Levando à via férrea os que se vão. Felizes. Olhava persistente para algumas bujardas da natureza: coisas feias e dejectas a boiarem no verde límpido e cheio de velas pardas; olhava para uns cachorros rabujentos a lamberem a babugem mais fácil e sentia um grito melancólico de esperança e alegria a despontar em tudo que se mexia à minha volta. No contudo, o mundo estava teleguiado, as pessoas iam determinadas pela torre de comando central e à menor tentação mudavam logo de direcção. A esperança era diminuta — não se podia fugir a ser teleguiado. Mesmo eu, que estava tão absorto, ligado ao verde do Tejo, comecei a sentir a força inexplicável e invisível do telecontrole a obrigar-me a deixar a beira rio, onde gozava o fim de uma tarde de Abril encostado às margens educadoras, para seguir um destino preso que não era o meu. 149 A força do comando meteu-me num carro eléctrico para o Poço do Bispo — há anos que eu não ia ao Poço do Bispo! Não percebi qual era o interesse de me mandarem assim, sem mais nem mesmo, ao Poço do Bispo. No entanto, ao meu lado os cansados amanuenses de Juntas, Ministérios e Grémios, sentados a bocejar de pacote em cima dos joelhos, olhavam distraídos para Santa Apolónia. Outros, puramente interessados nas notícias, liam os jornais teleguiados e não ofereciam qualquer arrimo de esperança. Quando o carro eléctrico parou no Poço do Bispo para mudar os assentos e virar a direcção do “trolley”, eu tive de sair. Saí, hesitei na escolha entre duas ruas. Como fazia diferença o Poço do Bispo! — dizia para comigo — até que me meti ou meteram por ali acima. Ao meu lado e insistindo na companhia, desenhava-se uma figura tipo chefe de repartição — oblongo, de cigarreira monogravada, despacho debaixo do braço, dentuça arcaica, chapéu um pouco detectivado e de barba por escanhoar. Apetecia-me dar-lhe um cachucho ou arroz de cebolada, mas não era possível na ocasião. À minha frente seguia um cortejo de duas senhoras tipo pastelaria Império — cheias de peles, pinturas fora do lugar, berliques e berloques falsos e bunda avantajada. Íamos todos a subi absurdamente, sem mais nem menos gingávamos de suor um bom bocado, esquecendo quase a companhia de um compenetrado burro que cadenciava o bater de palmas com periquitos nos ombros e um papagaio à cabeça. Era uma marcha pelos terrenos de Moscavide, transformados, bem recheados de gente vivendo naquela espécie de cisternas que apesar de tudo ainda têm um vislumbre de milagre nas entranhas. A subida continuava. Puxa! Carocha! — dizia comigo: então o meu jantarinho, já são oito e meia e daqui a pouco é noite! — quando pensava assim, oiço um esticão mental. Paro-me, vejo todos na mesma e sem abrir ou fechar os olhos faço meia volta volver e novamente a passo para o Poço do Bispo —, desta vez atrás do burro com os periquitos assustados nos ombros e o papagaio na ponta do nariz, o chefe de repartição com o chapéu à banda e as duas senhoras em cortejo com os pés doridos do mau piso habitual das ruas da cidade. Lenta a lengalenga dos passos sem olhar para nada de interesse marchamos num tamborilar de parada comemorativa. De facto, este era o meu grupo. Não havia escolta, aceitar resignado o comando onde já não via o Tejo verde, nem pensava mais em alegrias possíveis — tinha que me sujeitar ao eléctrico e aos joanetes das duas frequentadoras da Império. Entrámos para o eléctrico — o burro ia na plataforma sem que isso causasse a mínima confusão aos funcionários do transporte. Sentei-me, e quando tentei levantar-me para puxar da carteira, outro esticão sentou-me novamente no lugar. Reparei então que o chefe de repartição tinha pago o meu bilhete. Ele devia ser o chefe do grupo. Não sabia o que fazer. Estava completamente dominado, nem mesmo valia a pena fazer projectos, nem mesmo pensar naquela professora de instrução primária que ao pé de São Pedro do Sul agora ensinava os rios de Portugal e seus afluentes caudalosos de amor na primavera e soletrava o b-a-bá da timidez sentimental. Como estaria ela? Onde teria passado a Páscoa? Que saudades eu lembrava! Apetecia-me mandar para o maneta todas as capitais do espírito e da geografia e ir ter com ela para juntos passearmos ao fim da tarde nas margens do Vouga, o rio mais envergonhado de Portugal. Levava-a aos prados mais viçosos e prometia-lhe cosias tão simples que não haveria bernardas de caçoada nem cabazas de tristeza que nos separassem. Casar é que eu não podia. As mulheres queriam sempre casar, mas eu não podia — ela é que devia esperar calmamente na sua aldeia com um jovem alferes ou avantajado lavrador. Devia criar filhos e couves, considerar as plantas na Primavera a colorirem-se e a vida a reproduzir-se em seiva esperançosa. Sempre pensei que ela fosse uma das Pupilas do Senhor Reitor ou a Purinha do querido Nobre. Puxa! outro sacão. É verdade, estamos no Terreiro do Paço. Saímos todos. Já são nove menos um quarto. Para brincadeiras, basta. Vou mas é para casa, já vão sendo horas. Olho para o Tejo de intensa cor de garrafa e espreito as luzes da outra banda um pouco dengosas e inebriantes. Cá vamos outra vez com o burro atrás, o chefe de repartição ao meu lado e as duas senhoras derreadas a começarem a cheirar aos suores. Entramos todos para um rstaurante na Rua dos Correeiros — o burro ficou ao balcão. Sentámo-nos os quatro à mesma mesa. Vem sopa de coentros que eu detesto, mas tenho de comer, a seguir peixe no forno que odeio, mas todos calados comemos sem tugir nem mugir e depois uma carne estufada e dura que somos obrigados a engolir. Afinal minha viola que vais para Angola — onde estou eu? aqui depositado à espera que me deem destino com o papagaio a dizer palavrões e as senhoras a acharem muita graça. Dali fomos todos pelo meio da Rua do Ouro até ao Rossio, onde nos esperava uma das fontes cheias de água e verdete para tomarmos banho. Sempre detestei banho depois do jantar, e sobretudo no Rossio. Um dos periquitos teve uma congestão e morreu ali mesmo. Coitado! A 150 certa altura, quando ia a tirar o casaco pingado, senti outro esticão e saí do lago e, com o burro a escorrer verdete, lá fomos todos. Qual não é o meu espanto quando entramos pela porta principal do Teatro Nacional com o burro à frente e pela coxia abaixo os seis em procissão nos dirigimos ao palco. O público não assobiou. As luzes davam em cheio na minha cara. Pensava então no último passei ode férias, em fim de Setembro, quando ela me veio visitar à represa e depois de mão dada fomos por ali abaixo, entre salgueiros e olmos, a fugir pelo sombreado das latadas a rebentarem ao peso das uvas. Não lhe dei nenhum beijo. Nada disso — dei-lhe confiança e ternura. Parámos junto ao Vouga a cochichar com o fim da tarde. De mãos nos bolsos e, para acalmar, dei uns passos cadenciados co ma água a escorrer e comecei a cantar uma ária do dueto de D. Juan de Mozart, que nunca tinha ouvido. O burro estava deitado de admiração. Que tirania estúpida, esta de nos porem todos no palco! Graças a Deus que durou pouco tempo. Sentia frios e vontades de uma toalha para secar e uma cama para dormir. Mas carregar com o burro, o periquito, o papagaio, as duas da Império e o chefe de repartição é que era demais. O que me diriam em casa quando lá chegasse?! Estava tudo frustrado: o burro que não zurrava, o papagaio que não podia falar, as senhoras que não tinham amantes e o chefe de repartição que não tinha despacho. Tudo molhado por causa daquele banho estúpido. E, agora, para onde nos levariam? Puxa, outro esticão, assim sem mais nem menos. Raio de mundo que tão depressa nos tirou a esperança, o verde fugia de todos nós. E cada um já nem pensava no que podia fazer, já não era possível poder fazer-se nada. E os cinco avançámos telecomandados pela força que nos fazia subir a Avenida da Liberdade. Eu já ia a dormir — o burro de olhos fechados fazia contas à vida e as duas ruminavam mau génio. Ninguém olhava para nós — caminhávamos no absurdo sem graça ou esperança. O chefe já começava a cair da tripeça, mandando para o maneta os colarinhos avantajados do despacho de Vossa Excelência. As esperanças de cada um tinham sido muito efémeras — quando o mundo parecia cheio de poesia e sonho — ali à beira do Tejo verde com a memória dos feitos de naus por mares nunca dantes navegados e lembranças de ânsia para melhores dias — ali, obsoletos, nós seis estacados à espera de estrume para nos transformarmos. Sempre me custou subir a Avenida da Liberdade, então com um burro molhado ao lado ainda é pior. Era fatal a nossa direcção: íamos para a Torre de Comando Teleguiadora. As duas da Império marchavam agora descalças com uns dedos pavorosos de pequenas elevações calosas e a barriga a sair pelas bermas de uma cinta calmeirona. Não havia mais nada a fazer. Era assim mesmo, sem tirar nem pôr. O verde tinha sido sol de pouca dura. Aquilo de esperanças e poesia era anormalidade. Obedecer a oesticão — ali para a frente até onde quisessem: Pumba! quase dei uma cambalhota — estamos a entrar pelos cimos da Torre. Faltavam-me já as cedilhas do pensamento. As da Império, desgrenhadas e sem vida uivavam nos ouvidos do burro plácido e sereno — era o único que aceitava a teleguiação. Quanto mais burro tanto melhor, mesmo o papagaio só dizia “bububurro burro bububurro bububurro anda”. Coitado do chefe de repartição, sem a pasta e sem ligas, tinha-se transformado numa coisa móvel e pouco apresentável. Do fundo vinha o grito de “figos de capa rota. Capa rota — figos...” ainda sibilavam num ar capado e sem graça. Bruburro. Tudo se transformava — até a imagem daquele Tejo cheio de gaivotas e outras bandas bonitas ao longe se me parecia uma visão penumbrada da realidade. Até mesmo as covas de trutas do acanhado Vouga — me lembravam as mãos esguias daquela maravilhosa professora de instrução primária à espera que me declarasse no platónico jogo de um longo passeio pelas margens. Ah! Como eu queria uma vida simples e fora das companhias diárias. Ui! Que estcão! Até o burro tremeu. Lá em cima da Avenida da Liberdade ficámos depositados. O mundo coloria-se de saudades de verde. As da Império olhavam para o lado e diziam: “Ah! Isto não presta.” O chefe de repartição, atrapalhado com as novidades que o rodeavam, comia fruta verde. Tudo por amadurecer, tudo teleguiado, inexperiente, exceptuando um caldo verde em panela, tipo gasómetro, que fervia ao eterno natural e sem quaisquer preocupações. Abri a boca, espreguicei-me e tentei abaixar-me para um repouso depois de tanta novidade patética. Não. Não podia. Estava à espera — olhava à minha volta e as coisas estendiam-se sem vista possível mesmo o burro e o chefe de repartição já estavam encostados um ao outro e a bocejarem. Tanta espera! Realmente aquele mundo de há horas — o despachinho nas mãos, a fava no bucho e os merengues pela goela abaixo, era bem mais completo do que esta escura verdura verdejante mas impotente. As da Império faziam ginástica sueca e eu olhava para uma Avenida da Liberdade castigada, sem árvores e sem cor, só com peugadas ocasionais de pernilongos. Não havia mais nada a fazer a não ser arranjar um redil, entrarmos lá para dentro e pastar. O resto não existia — a não ser para o burro que comia 151 bem e para o periquito e papagaio que nas cordas se balouçavam alegres e voláteis. Estávamos ali na esperança de voltar a ver o Tejo verde e um dia seguinte alegre. Moribudnas depois de tanto exercício já as duas da Império ressonavam desalmadamente quando o chefe de repartição desapertou o colarinho engomado e apapado para se preparar a outra sorna. O burro olhava em pé para tudo aquilo sem meter o bedelho onde não era chamado. O papagaio cantava o verde gaio é meu que me custou bom dinheiro. Longe a professora de instrução primária caminha inconsciente à mercê de saudades sem vagares —, no rio uma promessa de esperança espelha-se de encontro aos musgos de outrora. No talvez se adiantasse ela, procurando o tempo perdido do seu amor, gasto no viçoso das primaveras por que já passara. A mim dava-me a impressão de que os comando da Torre Teleguiadora haviam adormecido. Também sentia um cheiro a erva sepulcral que se dispersava à volta do redil sem uma esperança viçosa que me desse apetites. Um novo esticão imobilizou-me encostado ao burro, que mirava 171 espantada os primeiros acordes da manhã. Só para ele o Tejo ainda estava verde A narrativa “Verde”, de Ruben Alfredo Andresen Leitão (ou Ruben A., pseudônimo com que se notabilizou), encerra o volume intitulado Cores, único livro de contos do autor, publicado originalmente em 1960. A obra traz oito textos, todos sob o título de uma cor distinta. O número já seria a princípio surpreendente: em um livro com tal proposta, pode-se-ria esperar que fossem sete os contos, em função de uma referência imediata ao campo semântico do arco-íris. E “Verde” figura curiosamente como a oitava das peças, dentre as quais surgem algumas de natureza mais realista, mas outras, e a maior parte delas, de teor fantástico, o que, de certa maneira, corrobora a relação que a crítica comumente estabelece entre Ruben A. e a estética dos movimentos surrealistas de Portugal172. Exemplo disso seria a narrativa “Vermelho”, cujo enredo é protagonizado por um homem que excessivamente ruboriza diante de mentiras e que acaba se casando com uma mulher que conheceu em um sonho e que também sonhara com ele, casal que apenas posteriormente se encontra já em estado de vigília. São, a propósito, os contos irrealistas de Cores os que parecem produzir as críticas mais impactantes sobre a sociedade portuguesa de meados do século XX, como observa Liberto Cruz em sua descrição da obra, na qual descobre um “autor que cai em estado de fantasia para melhor descrever a irrealidade, o conformismo e o paradoxal de tanta vida sem cor”173, e um narrador que, “avesso à estupidez e às cores que muita gente aceita como bênção, [...] insurge-se de forma corrosiva contra tão descromática 171 A., Ruben. (1989), p. 81-8. Vale dizer que, em sua pesquisa sobre o assunto, Maria de Fátima Marinho aloca o autor entre aqueles que ela considera à margem do surrealismo ortodoxo, ou seja, um dos que, “embora nunca tendo feito parte de nenhum dos grupos, apresenta inequivocamente influências e características surrealistas” [MARINHO, M. de F. (1987), p. 249]. Na oportunidade, todavia, Marinho analisa mais detidamente apenas o romance Caranguejo, de 1954. 173 CRUZ, L. (1992), p. 129. 172 152 vida, tão deslavada presença humana”174. Poderíamos, nesse aspecto, destacar ainda, à guisa de exemplificação, o conto “Azul”, que narra a história de um fidalgo arruinado que para sobreviver aceita realizar a dinheiro transfusões de seu sangue, que possui a coloração do título, para burgueses que queiram tornar-se nobres legítimos. A despeito, todavia, do interesse que “Azul”, “Vermelho” ou outros contos do livro poderiam despertar em nós em função dos recursos fantásticos através dos quais se realizam, a narrativa “Verde”, ao acompanhar discussões antes travadas na pesquisa que aqui expomos, revela-se a escolha mais conveniente no momento para ser alvo de uma proposta de leitura. Isso porque nela se descreve um grupo de cidadãos que vaga pela cidade de Lisboa comandado por um sistema de teleguiamento via antenas, o que aproxima a narração da temática desenvolvida em “O jardim voador”, onde também se denuncia, como se viu no capítulo III deste ensaio, uma população que se submete a determinadas formas de manipulação e se entrega, ali de modo talvez mais sutil, a uma postura de gado tocado. Em ambos os contos, observa-se o abandono da deambulação crítica que caracterizaria a flânerie em troca de uma errância influenciada / conduzida despoticamente por terceiros, que ditam os caminhos dos homens da multidão que formam a massa. 5.1 A esperança desencantada É digno de nota que o conto de Ruben A. flerta mais proximamente com o modo de narrar da ficção científica, diferentemente da obra analisada de Isabel Cristina Pires — que, a despeito de sua solução em certo grau cientificista (o fato de o jardim ser na verdade uma máquina de extermínio em massa), parece estar governada por um discurso pautado pelo predomínio de elementos da esfera do maravilhoso. Dizemos, por outro lado, que “Verde” tão somente flerta com o citado gênero porque, realmente, o conto não apresenta de forma explícita nenhuma evidência que o datasse em uma sociedade futura à sua escrita, como acontece a uma parte considerável das obras identificadas sob essa classificação. O principal traço semântico, não a indicar claramente, mas a tão somente sugerir o aspecto futurista da narrativa, residiria, em termos metafóricos, na própria simbologia que a cor-título classicamente abriga e que é vastamente referida em “Verde”: a esperança, disposição do espírito que sempre projeta 174 CRUZ, L. (1992), p. 129. 153 suas referências para um futuro (tempo afinal que se espera, recuperando o sentido etimológico do vocábulo). A partir de tal leitura, será possível reconhecer nesse controle robotizado da população — assunto por si futurista — um mote que dialoga com uma série de manifestações artísticas que, de maneira genuína e de forma mais evidente que o texto de Ruben A., se enquadrariam na esfera da ficção científica. Quanto a isso, vejamos: quando, no fim da década de 1920, o editor americano Hugo Gernsback cunhou o termo science fiction em revista criada por ele para se dedicar ao gênero, procurava um rótulo que abrangesse algumas obras que, no século XIX, nasciam sob a influência dos avanços tecnológicos, lidando com a ciência como leitmotiv dos enredos nelas desenvolvidos. Desse modo, os romances baseados em pesquisas científicas então atuais, como os de Júlio Verne por exemplo, os de cunho mais fantasioso, como de W. G. Wells, e também o próprio Frankenstein de Mary Shelley, que precede a todos, poderiam ser etiquetados, mais ou menos pioneiramente, sob essa denominação.175 Nossa atenção agora, porém, restringe-se, como dizíamos, ao comportamento de obras do gênero que possuam natureza futurista, isto é, que proponham a construção de um hipotético porvir abalizadas, contudo, por elementos do tempo presente,. Essa ficção científica designadamente ambientada em um futuro exibe, via de regra, um mecanismo de composição em que se imagina um amanhã no qual demandas da sociedade contemporânea encontrem-se hiperbolizadas. Quando tais questões levantadas são de caráter negativo (como será muito frequente no século XX), a crítica comumente reconhece que se está diante de uma distopia (em oposição diametral à Utopia de Thomas Morus), que consiste em uma visão pessimista a respeito do futuro. É o pensador alemão Erich Fromm quem, em posfácio a uma edição de 1961 do romance 1984 de George Orwell, formaliza uma análise geral quanto ao contexto histórico em que germinam as utopias negativas da literatura do século XX. Nesse artigo, Fromm trata de uma trilogia composta por Nós, editado em 1924, de autoria do russo antissocialista Yevgeny Zamyatin (livro proibido em seu país de origem até 1988, 175 Alberto Manguel ratifica tais informações: “A expressão science fiction não foi empregada até 1926, quando a inventou um inspirado editor americano, Hugo Gernsback, fundador da revista Amazing Stories, para definir o tipo de história que lhe agradava, na qual às maravilhas da ciência do início do século XX se uniam os antigos temores, visões e desejos de nossas primeiras literaturas. [...] Os jovens autores de ficção científica patrocinados por Gernsback reconheceram em Wells (e em Júlio Verne, em Poe, em Mary Shelley e até mesmo em Swift e em Voltaire) seu precursor.” [MANGUEL, A. (2009), p. 182-3.] 154 por motivos óbvios) e Admirável novo mundo de Aldous Huxley, de 1932, além do romance do próprio Orwell (publicado em 1949, mas cuja escrita findara em 1948, o que permitiria supor que a eleição do tempo em que se passa o enredo futurístico da narrativa — e consequentemente a escolha do título do livro — tenha sido pensada não aleatoriamente ou com base em concretas predições, mas a partir de uma inversão dos dois algarismos finais do seu ano de produção). Essa trilogia estaria opostamente posicionada a outra, a das utopias positivas dos séculos XVI e XVII, constituída pela obra de Morus a que se somam A cidade do sol de Tommaso Campanella e Cristianópolis de Johann Valentin Andreae. Para Fromm, o marco do fim da esperança na perfeição individual e social do homem (que permeara o pós-medievo), quiçá causa primeva de tais distopias literárias mais recentes, teria sido a Primeira Guerra Mundial176: Essa guerra, na qual milhões morreram pelas ambições territoriais das potências europeias, ainda que sob a ilusão de estarem lutando pela paz e pela democracia, foi o início do desenvolvimento que levou, num tempo relativamente curto, à destruição da tradição ocidental de esperança, que contava dois mil anos de idade, e a sua transformação num sentimento de desespero. A insensibilidade moral da Primeira Guerra Mundial foi apenas o começo. Outros eventos se seguiram: a traição das esperanças socialistas pelo capitalismo estatal de Stalin177; a grave crise econômica do fim da década de 1920; a vitória da barbárie em um dos mais antigos centros culturais do mundo — a Alemanha; a insanidade do terror stanilista durante a década de 1930; a Segunda Guerra Mundial, na qual todas as nações em conflito perderam algumas das considerações morais que ainda existiam na Primeira Guerra Mundial; a destruição ilimitada de populações civis, iniciada por Hitler e que teve sequência na destruição ainda mais total de cidades como Hamburgo, Dresden e Tóquio, e, por fim, na utilização de bombas atômicas contra o Japão.178 176 Erich Fromm, a despeito da linearidade histórica, acresce em nota a obra O tacão de ferro de Jack London, de 1908, como outro exemplo de narrativa distópica. No romance, produz-se a respeito do cenário da luta proletária do início do século XX a visão de homens pertencentes a uma sociedade futura na qual o capitalismo não mais existe. A existência desse livro, porém, não é suficiente para deslegitimar os eventos históricos citados pelo psicanalista alemão como catalisadores da produção dos textos pertencentes à trilogia proposta. 177 O romance de 1905 Uma utopia moderna, de W. G. Wells, ratificaria os argumentos de Fromm, já que sua criação, em que se descreve positivamente uma sociedade baseada na tecnologia e na forte presença do Estado em seu controle, somente é possível antes da decepção do seu autor com a implantação do governo soviético após a Revolução Russa, anos mais tarde por ele dito corrupto. 178 FROMM, E. (2010), p. 367-8. 155 Tais utopias negativas descobrirão também no cinema grande alternativa de expressão, gerando produções como Alphaville (1965) de Jean-Luc Godard, referência que já fizemos no capítulo anterior. Além dela, pode-se mencionar ainda O planeta dos macacos (1968) de Franklin J. Schaffner (obra que se confessa uma distopia apenas em sua última cena, o que configura o final-surpresa que lhe dá fama) e 2001: uma odisseia no espaço (1968) de Stanley Kubrick — que apostaria ainda no gênero em Laranja mecânica (1971) — sendo digno de nota também, mesmo mais à frente, Blade Runner (1982) de Ridley Scott, exemplos significativos cujas linhagens convergem ao filme mudo, marco do expressionismo alemão, Metropolis (1927) de Fritz Lang. Poderíamos lembrar, por fim, o romance de Ray Bradbury, de 1953, Fahrenheit 451, homonimamente adaptado para o cinema por François Truffaut (1966). Ora, vem a propósito observar que a concentração dessas produções precisamente nos anos de 1960 é sintoma de um contexto — saldo, aliás, da sequência de fatores inventariados por Fromm — que torna propício o aparecimento de obras desse viés e no qual diríamos que o conto “Verde”, de Ruben A., publicado logo no início da década, também já estaria mergulhado.179 A respeito de tudo isso, é preciso dizer, porém, que o fundamental das distopias futuristas reside menos na capacidade de antever o amanhã de forma precisa (conforme equivocadamente apregoariam os leitores mais incautos) do que no pretexto com que esse fictício distanciamento temporal municia o registro de uma crítica sobre a conjuntura que lhe é atual. Assim, imaginando um plano cartesiano onde o eixo horizontal representasse a variável tempo e o vertical a variável problema (geralmente de ordem social e/ou política e de caráter urbano, muitas vezes ligado a temas como o 179 Uma listagem que se estendesse para além desses títulos cinematográficos seria desnecessariamente exaustiva, embora indubitavelmente volumosa. Aliás, em função disso, os traços principais do gênero, na medida em que foram muito exercitados, cristalizaram-se a ponto de se tornarem de execução relativamente fácil e poderem ser empregados, culminantemente, em películas como, por exemplo, Jogos vorazes (2012), de Gary Ross, onde o funcionamento da técnica narrativa do gênero, tanto no cinema como na literatura onde surge o conjunto de livros de Suzanne Collins que inspiraram o filme, está de tal modo internalizado pelo público que é possível fazer o seu uso em uma obra voltada de modo mais particular para um público leitor / espectador mais identificado com o juvenil e, ademais, sem que se teçam tantas explicações sobre os meandros de sua diegese, como parecia importante nas películas mais antigas que citamos. Prova, aliás, de que o gênero já fora bastante desenvolvido nos anos de 1960 é que no início da década seguinte já seria admissível que se fomentasse ao menos uma produção paródica — O dorminhoco (1973), de Woody Allen — cujos efeitos de humor, para alcançarem sucesso, carecem de que o público identifique os substratos que originam o pastiche. 156 controle, a vigilância e a opressão do Estado ou de elites detentoras de poder sobre a população em geral, além da desumanização de cidadãos que não podem mais nem mesmo escolher fazer escolhas) e se marcassem, nesse plano, com facilidade os pontos referentes ao passado e o relativo ao presente no gráfico, gerar-se-ia uma reta, grosso modo e por desvio padrão, ascendente, que faria presumir uma ininterrupta continuidade. Ou seja: a narrativa de ficção-científica distópica elimina a expectativa de que esse traço gráfico que assim desenhamos estabeleça uma curva descendente em algum momento e opta por marcar o ponto indicativo de um determinado futuro (mais à direita em relação às abscissas) numa posição sempre superior aos demais (tendo as ordenadas como parâmetro), verticalizando o problema ali representado a um grau excessivo nesse espaço-tempo de um porvir ficcional que ambientará a narrativa. E frisemos: isso não se dá porque seja realística e calculadamente improvável que tal questão se amaine, influenciada que poderia ser por fatores quaisquer, mas antes porque a descrição dessa sociedade futura, a sofrer problemas caricaturalmente majorados, sói suscitar uma reflexão a respeito de alguma demanda que na sua atualidade, na contemporaneidade de sua produção, não causaria o impacto que talvez merecesse, por uma espécie de invisibilidade que ocorre justamente por se encontrar em níveis supostamente toleráveis para a coletividade, a qual não se dá conta dos prejuízos a que se encontra efetivamente sujeita. Tal vertente da ficção-científica possui, portanto, a habilidade formal de trazer à luz de modo evidente problemas que na sociedade presente se naturalizaram — recurso, a propósito, conforme vale lembrar, que defendemos como a principal função da literatura fantástica no século XX, da qual a science fiction seria, aliás, uma espécie de subgênero, uma vez que, por terem nascido contemporaneamente no mesmo século XIX e possuírem semelhanças, mas não absoluta identidade genética, nós poderíamos dizer que esses dois gêneros são como gêmeos bivitelinos da literatura ocidental da modernidade. Fromm prossegue o seu raciocínio, o qual claramente corroboramos, no que toca a certa superfluidade do suposto caráter profético de que tal qualidade de escrita gozaria: 157 As utopias negativas expressam o sentimento de impotência e desesperança do homem moderno assim como as utopias antigas expressavam o sentimento de autoconfiança e esperança do homem pós-medieval. Não poderia haver nada mais paradoxal em termos históricos do que essa mudança: o homem, no início da era industrial, quando na realidade não possuía os recursos para um mundo no qual a mesa estaria posta para todos os que desejassem comer, [...] era repleto de esperança. Quatrocentos anos mais tarde, quando todas essas esperanças são realizáveis, quando o homem pode produzir o suficiente para todos, [...] no momento exato em que o homem está prestes a poder concretizar sua esperança, ele começa a perdê-la. É questão essencial para as três utopias negativas não apenas descrever o futuro rumo ao qual nos movemos como também explicar o paradoxo histórico.180 A maioria dessas obras de ficção discute o controle exercido sobre as massas pela ação de governos (ou elites detentoras do poder) que, frequentemente, intervêm no privado — fruto de alguma forma inesperado (paradoxal, como afirmara Fromm) de um modelo capitalista que estabelece suas bases em significativo desenvolvimento tecnológico e científico. As distopias futuristas são, portanto, narrativas que delineiam regimes totalitaristas e sociedades compostas por cidadãos que, ao passo em que teriam relativamente (e sabemos o quanto isso não é, em escala mundial, verdadeiro) sanado as suas necessidades básicas, desenvolveram também metodologias e um arsenal de instrumentos que sofisticaram as suas formas de exercício de poder. Em reação a isso, Admirável mundo novo, por exemplo, ao descrever homens que se recusam terminantemente a se entregar à intervenção absoluta do Estado em suas vidas e que por isso se exilam da cidade, metaforiza, nesse centro urbano de oito séculos pós-Ford que Huxley escolhera para ambientar este seu romance, a própria falta de espaço de que poderia usufruir a figura do flâneur na urbe, personagem que aqui a propósito resgatamos por ser aquele que forneceria à cidade e à sociedade uma leitura crítica e por esse motivo (e, em paralelo, lembremos que o ato de ler é o grande crime a ser combatido no aludido Fahrenheit 451 de Bradbury) carece de ser retirado da polis como Platão já defendia que devesse ser feito com o Poeta desde o século V a.C. — e quantas 180 FROMM, E. (2010), p. 369. 158 funções mais, afinal, poderia ter o flâneur além da de poeta?181, e quantos motivos mais haveria “para não o recebermos em uma cidade que vai ser bem governada”182, como supôs Platão? A rebeldia desses exilados do romance de Huxley, portanto, volta-se fundamentalmente contra as chamadas sociedades de controle. Tal modelo de organização e funcionamento social, filho do século XX, é descrito por Gilles Deleuze como aquele que, mais contemporaneamente, começou a substituir as sociedades disciplinares (e tal fenômeno substitutivo encontra-se ainda hoje em processo), as mesmas que seu concidadão francês, Michael Foucault, pesquisador assíduo das estratégias e da natureza do poder, identificara pouco antes como marca da modernidade. Por sociedade disciplinar, entende-se aquela baseada em espaços de confinamento, estruturada entre os séculos XVIII e XIX, como esclarece Deleuze em artigo de 1990 em que refere Foucault: O indivíduo não cessa de passar de um espaço fechado a outro, cada um com suas leis: primeiro a família, depois a escola (“você não está mais na família”), depois a caserna (“você não está mais na escola”), depois a fábrica, de vez em quando o hospital, eventualmente a prisão, que é o meio de confinamento por excelência. [...] Foucault analisou muito bem o projeto ideal de confinamento, visível especialmente na fábrica: concentrar; distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor no espaço-tempo uma força produtiva cujo efeito deve ser superior à soma das forças elementares.183 A partir do século XX, mecanismos diversos permitem que o ato de vigiar o cidadão ultrapasse os muros desses espaços confinados e estenda-se para toda a cidade, toda a sociedade, dos locais públicos aos privados, em uma ação que torna inclusive o próprio homem um guardião de si mesmo, o que amplia as antigas limitações de uma vigilância que estivesse delegada tão somente às instituições: família, escola, trabalho... Ainda segundo Deleuze, controle é, significativamente, o que “Foucault reconhece 181 Para Lucrécia Ferrara, o flâneur seria “a quem é dada a capacidade de esquadrinhar a multidão e montar seus fragmentos numa narração em que se misturam o poeta e o romancista” [FERRARA, L. D. (2000), p. 86.]. 182 PLATÃO (2006), p. 304. 183 DELEUZE, G. (2000), p. 219. 159 como nosso futuro próximo”184 — e é nesse sentido que estas distopias pós-Primeira Guerra encontram na observação irrestrita por um Big Brother por exemplo (esse Grande Irmão que tudo observa) uma matéria comum, já que quase invariavelmente desenham esse futuro próximo foucaultiano em que a sociedade de controle se estabeleceu plenamente. Ao descrever as sociedades disciplinares, Foucault usara o exemplo do Panóptico de Jeremy Bentham, jurista inglês de fins do século XVIII que desenhou um projeto de penitenciária no qual, de uma torre central, seria possível vigiar todas as celas sem que a sentinela fosse vista (sem que mesmo fosse possível saber quando a torre estaria ou não de fato ocupada, gerando um efeito de introjeção do poder no vigiado, que, por isso, autocensura-se, instaurando o poder disciplinador que Foucault apresentara): O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre: esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; e lãs têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido; ou antes, de suas três funções — trancar, privar de luz e esconder — só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha.185 Já em uma sociedade de controle, o panoptismo desenvolveu-se junto a tecnologias que lhe permitem prescindir também desse trancamento (Bauman, por exemplo, refere-se a isso como “a armazenagem de quantidades maciças de dados, 184 185 DELEUZE, G. (2000), p. 220. FOUCAULT, M. (2009), p. 190. 160 ampliadas a cada uso de um cartão de crédito e virtualmente a cada ato de compra” 186, resultando “num ‘superpanóptico’”187). Assim, o uso do desenvolvimento tecnológico para o estabelecimento de tal controle torna-se uma combinação fértil para instituir o paradoxo levantado por Fromm, que mostra como o progresso do homem pode-se voltar contra ele, produzindo a criação desses futuros distópicos que a arte busca representar para encontrar, no presente, as suas causas. Pois tal controle das massas é o tema latente de “Verde”, é o seu problema majorado e caricaturado no motivo dos homens teleguiados. O conto, portanto, também é uma distopia (distopia inserida em um contexto em que já ocorreram integralmente as motivações previstas por Fromm para o surgimento dessas narrativas, distopia potencialmente influenciada também pelas obras mencionadas de Zamyatin, Huxley, Orwell e Bradbury, todas publicadas anteriormente, nas décadas de 1920, 1930, 1940 e 1950, respectivamente, enquanto Cores abre a de 1960), não obstante o seu aspecto de ambientação futura estar relegado à sugestão trazida pelo próprio argumento do conto e pela explicitada metáfora fornecida pela cor (simbolismo verde = esperança, que no conto toma valor inaudito de uma alegoria) que intitula o texto. Aliás, reparemos que mesmo a referência à esperança, que lemos como sinalização para um futuro, se oferece ali pela via negativa, como uma ficção inalcançável, uma utopia agora impossível, eivada de pessimismo e ceticismo, evidenciando o aspecto distópico do conto, como se pode intuir textualmente: Realmente por que estaria assim o Tejo tão verde, tão esperançoso? — contesta o narrador. O sentimento de esperança que se tematiza surge, então, como explícita manifestação da esperança perdida do homem moderno, identificada por Erich Fromm nas utopias negativas que ele analisou, e que no texto de Ruben A. está concentrada na alegoria do Tejo (onde a mancha verde mais carregada alimentava-se num futuro cheio de entusiasmo) e é por isso mesmo que os homens são levados, contra as suas vontades, quando ainda as há, a se afastarem, conduzidos pelo teleguiamento. Para além, no entanto, dessa dupla de dados a indiciar um tempo narrativo futurista em “Verde”, é significativo que nenhum outro traço abasteça a hipótese de que o conto se ambiente em um espaço ficcional vindouro. Será, aliás, irônico que o seu período inicial apresente a marca gramatical de um acontecimento passado, ainda que a 186 187 BAUMAN, Z. (2000), p. 57. BAUMAN, Z. (2000), p. 57. 161 diferença temporal entre a diegese e o espaço-tempo do narrador fosse insignificante do ponto de vista físico (não o sendo, porém, do ponto de vista ideológico): Foi gratuitamente e por acaso que estando ontem na Ribeira das Naus a olhar para um Tejo verde me espantei a trouxe-mouxe. Ora, a cidade descrita no conto se assemelha ao espaço urbano da capital portuguesa contemporâneo à sua produção (mesmo que se trate de uma ambientação futura, estamos diante da Lisboa ronceira e amodorrada aludida em “Trânsito”), desde os barcos catraeiros e as velhas fragatas a deslizarem sobre as águas do Tejo observados a partir da Ribeira das Naus até os eléctricos de Lisboa, que viveram o auge do seu funcionamento e alcance justamente em fins da década de 1950, quando percorriam mais de cento e cinquenta quilômetros pela cidade. Somam-se a isso os cenários descritos da região mais marginal de Lisboa, como o Poço do Bispo e Moscavide, ou ainda o Terreiro do Paço, a Rua dos Correeiros, a Rua do Ouro, o Rossio ou o Teatro Nacional, onde os personagens são levados, nessa ordem, a caminhar por longas horas, gratuitamente e em círculos como sugerem os pontos de referência descritos, até alcançarem a Avenida da Liberdade, quando peregrinarão em direção ao único elemento urbano que inviabiliza o seu mimetismo com a Lisboa real. Trata-se da Torre de Comando Teleguiadora — panóptico benthamiano referido por Foucault, peça que controla a liberdade irreal do cidadão (e é por completa ironia que esteja localizada no alto de uma avenida que leva esse nome), a liberdade vigiada e aqui, mais do isso, deliberadamente manipulada, a ocupar o espaço da estátua do déspota esclarecido português — o Marquês de Pombal. Esse cenário hodierno parece servir de intencional recurso para que, a partir de um argumento (e quiçá não propriamente de uma ambientação) futurista — daí, então, que se estabeleça a ironia de descrever esse espaço forjadamente futuro em um discurso que remeta ao passado recente, expresso na localização temporal assinalada pelo advérbio ontem do período inicial do conto — para que, repito, Ruben A. discuta e apresente, sob a égide de um contexto fantástico que é o controle remoto dos movimentos dos cidadãos, a sociedade lisboeta (e certamente a ocidental de forma geral) não precisamente do futuro, mas a do seu próprio tempo — em coadunação com a função principal que levantamos para as distopias: a de produzir crítica a respeito do tempo presente — pintando-nos, sob a representatividade literária, essa sociedade de 162 controle que Deleuze identificaria e sobre a qual teorizaria décadas mais tarde, a partir das considerações tecidas por Foucault. A razão de, no conto de Ruben A., tal controle acontecer por intermédio de um sistema de antenas poderia remeter às transmissões televisivas e radiofônicas, que já em 1960 dividiam o alcance das massas e figuravam como importantes instrumentos de formação de opinião — e, mesmo ultrapassando a metáfora, é digno de nota que também a leitura da mídia impressa é controlada pelas mesmas forças oriundas da torre de comando central (haja vista que os passageiros do bonde liam os jornais teleguiados). Trata-se, pois, de uma torre antibabélica que violentamente obriga todos a falarem a mesma língua ou, para sermos mais precisos, a seguirem os mesmos caminhos. O que Lucrécia Ferrara ressalta quatro décadas mais tarde já era, então, guardadas é claro as devidas proporções, observável no ambiente em que nasce “Verde”: De certa forma, a cidade dos nossos dias vive o impacto crescente dos veículos de comunicação e informação que, se de um lado, são responsáveis por uma civilização que se globaliza pela possibilidade de criar e propagar a informação minimizando tempos e diferenças; de outro, transforma a vida urbana na imagem padrão que unifica todos os espaços públicos e privados. O imaginário transforma-se na imagem que corrige o particular indeterminado, adaptando-o ao padrão comum e geral.188 — e o padrão comum e geral conceitua, precisamente, o homem da multidão. Ora, a citada torre de comando, sobre a qual não se esclarece se quem de fato a controla seria o governo ou outra qualquer organização representante do poder, é antes, de certa maneira, uma espécie de referência abstrata ao controle deleuziano que se institui nas sociedades modernas do que uma entidade ou grupo operacional real contra o qual os cidadãos poderiam se rebelar. Essa torre é o inimigo invisível e diluído na sociedade, manifestado, por exemplo, na burocracia (e não é por acaso que a figura do chefe de repartição assuma igualmente a de chefe do grupo que deambula forçadamente por Lisboa, embora o funcionário seja como os demais teleguiado, o que nos lembra, 188 FERRARA, L. D. (2000), p. 130. 163 por tais traços, o Gustavo Dores de “A comemoração”, personagem cuja habilidade para manipular opiniões, as dos outros e mesmo as suas próprias, liga-se ao fato de ele mesmo se encontrar de igual forma manipulado). Essa torre é, ressaltemos então, a disciplina introjetada que Foucault descobre no panoptismo, internalizada pelos membros da sociedade por ela vigiada e que lhes afasta do verde da esperança que matiza o Tejo, em cujo fundo ela está ocultada / protegida e de onde, por isso, os personagens são, como já destacamos, estrategicamente afastados. Esse rio, com seus reflexos esverdeados, surge aqui também como símbolo da própria narrativa ficcional, notadamente a fantástica: é sob os seus tons esverdeados que a narrativa se desenvolve, na cidade refletida no espelho d’água, a indiciar o aspecto insólito em que seu enredo se processa. Evidencia-se então, uma vez mais, a literatura como uma criação baseada no mundo empírico, ainda que a narração pertença a um gênero irrealista: a imagem refletida em verde não é autêntica, possuindo porém o seu substrato real — isto é, a Lisboa fantástica, que se observa sob os tons verdes do rio, é um reflexo possível (artístico-literário) da Lisboa real. Assim, eis-nos novamente, em recuperação à teoria sartriana aproveitada por Urbano Tavares Rodrigues, diante de uma Lisboa-imagem que representa (sem evidentemente a ser) a Lisboa-coisa. O Tejo encontra-se, desse modo, constituído por uma água verde a espelhar-se contra os barcos, verde que mais à frente será, como antecipamos, associado ao futuro (Eu olhava para as bandas lá do fundo e a mancha verde mais carregada alimentava-se num futuro cheio de entusiasmo.) e à esperança (Em todos havia uma esperança a olhar para aquele verde nem tremendo nem trágico.). Essa esperança reside numa expectativa de fuga da opressão da cidade e do seu governo totalitarista (e é inescapável que lembremos, sem contudo a intenção de, nesse caso, reduzir a isso nossa leitura, que sua escritura ocorre no auge do regime salazarista, que, aliás, marcou a arquitetura citadina com o levantamento de “torres de vigia, que ainda subsistem um pouco por todo o país nas imediações de estruturas militares ou outros recintos do estado, [...] vestígios menos polidos dessa preocupação evidente do longo braço do governo no estabelecimento de mecanismos físicos de controlo”189). Ao que parece, porém, essa evasão desejada pelo herói é inalcançável: A esperança era diminuta — não se podia fugir a ser teleguiado. A cidade é a prisão panóptica que 189 SILVA, D. N. A. A. da (2007), p. 157. 164 Deleuze entendera ultrapassar os muros da instituição concreta para se institucionalizar por toda a sociedade. Por isso, a partir de uma demonização do espaço urbano — descrito de forma decadente, desde as velas rotas e remendadas das velhas fragatas a levarem ninharias pelo Tejo até uns cachorros rabujentos a lamberem a babugem mais fácil, passando pelo mau piso habitual das ruas da cidade e pelas coisas feias e dejetas a boiarem no verde límpido do rio — faz-se apologia à evasão para locais não centrais: O fim de abril chamava para uma liberdade em férias de praia ou campo. Há-de se destacar, nesse sentido, a insistentemente referida professora de instrução primária que vive no meio rural, cuja beleza virgem encontra nas personagens urbanas representadas pelas duas senhoras da Império (cheias de peles, pinturas fora do lugar, berliques e berloques falsos e bunda avantajada e com seus dedos pavorosos de pequenas elevações calosas e a barriga a sair pelas bermas de uma cinta calmeirona) um mais absoluto contraste. Daí que o personagem, em sua narração, faça referência a “O sentimento de um ocidental”, de Cesário Verde — quiçá o maior exemplo de flânerie da poesia portuguesa, encontrando par talvez apenas nas lisboas revisitadas por Fernando Pessoa — e precisamente ao trecho que trata da soturnidade e da melancolia que há nas ruas, ao anoitecer, despertando um desejo absurdo de sofrer, contrapondo-o ao verso que afirma que os que se vão partem felizes. É notório, aliás, que o conto remonta, em traços diversos, o poema oitocentista — o que lega, evidentemente, novo significado à alusão ao verde que lhe intitula. Cá está o protagonista, como o poeta Verde do século XIX, próximo ao Tejo de uma mesma Lisboa, em um fim de tarde, encarando o espaço urbano sob semelhante melancolia. Cá está ele enquanto táxis se raspavam em bumbas de susto para as várias estações marginais, tal como, no seu poema, batem os carros d’aluguer, ao fundo. E eis que surgem, no caminho que logo a seguir ele empreenderá, personagens que representam classes diversas das castas urbanas, como ocorre no poema de Cesário (com dentistas, donas-de-casa, bêbados, lojistas, padres, floristas, soldados e prostitutas): amanuenses de Juntas, Ministérios e Grémios, chefe de repartição, além dos personagens com evidente função fabulista (por serem animais que representam os homens) — o burro e o papagaio — e, por fim, as aludidas duas senhoras frequentadoras da Império, cuja referência ao estabelecimento que frequentam 165 evidentemente se refere ao tempo monárquico de Cesário Verde, que, todavia, segundo se sabe, era republicano. Mas a República com que sonhara o poeta realista transformara-se no Estado Novo de Salazar, fator que coloca em xeque o futuro imaginado por ele e provoca no narrador do conto o efeito de que a esperança se desencante no século que se lhe segue, constatação que o narrador textualiza com mais frequência próximo ao fim do conto: Raio de mundo que tão depressa nos tirou a esperança, o verde fugia de todos nós. / Ninguém olhava para nós — caminhávamos no absurdo sem graça ou esperança. / O verde tinha sido sol de pouca dura. Aquilo de esperanças e poesia era anormalidade. / O mundo coloria-se de saudade do verde. E, quando afinal esse sentimento novamente se projeta (Estávamos ali na esperança de voltar a ver o Tejo verde e um dia seguinte alegre.), é para se desfazer nos dois períodos finais da narrativa: Um novo esticão imobilizou-me encostado ao burro, que mirava espantado os primeiros acordes da manhã. Só para ele o Tejo ainda estava verde. Assim, a figura desse animal que pode ser facilmente guiado (por arreios e por treinamento, por exemplo) surge como a representação evidente do membro da sociedade mais facilmente manipulado (a respeito disso, aliás, o protagonista identifica no animal o único que aceitava a teleguiação passivamente). Também o papagaio merece análise semelhante: seu discurso é sempre reprodução irrefletida (sendo representativo então o fato de que sua primeira aparição se dê precisamente sobre a cabeça do burro). Estamos diante da metaforização do resultado mais radical de uma sociedade cujos membros paulatinamente abandonaram o direito à flânerie. Sem dúvida, seria o burro aquele efetivamente capaz de se crer mais livre enquanto na verdade se afasta de um futuro mais esperançoso: lembremos que subir a Avenida da Liberdade lisboeta, levando em conta que o verbo acena para um crescimento dos números dos endereços, é na verdade, geograficamente, afastar-se do Tejo, em cujo leito metaforicamente a esperança estaria ocultada. Por isso estamos diante desse cenário de absoluto desencanto, em que então estava tudo frustrado — e no qual podemos encontrar o burro que não zurrava, o papagaio que não podia falar, as senhoras que não tinham amantes e o chefe de repartição que não tinha despacho. A frustração que se processa (e está vinculada à República futura sonhada no século XIX por Cesário Verde e outros que com ele comungavam da mesma ideologia) projeta a felicidade para dias ainda mais vindouros, 166 para um tempo ainda mais futuro. Esse futuro descrito e esperado em “Verde” é, portanto, reiteremos, o futuro do futuro de Cesário; e, se nos for permitido manejar ludicamente as nomenclaturas gramaticais, diríamos que o tempo que o conto afinal reivindica é um futuro mais que perfeito cesariano, superação portanto da perfeição tencionada para um tempo indefinido ainda por derivar, cujo alcance talvez somente seja possível caso o flâneur, esse Poeta que se exila / é exilado da polis, migrado nesses espaços outros pelos quais aliás já optara o Amorim de “O Anjo”, possa organizar a sua resistência, para criar estratégias que permitam seu acesso ao que o Tejo abriga / esconde / nega no fundo do seu leito. Exatamente desse modo, a propósito, ocorrerá a revolta dos chamados oumis no conto de José Saramago “Coisas”, outra narrativa portuguesa cuja leitura nos parece ser complementar à proposta do conto de Ruben A., uma vez que denuncia, sob uma estruturação distópica, o excessivo controle do governo sobre a sociedade, além de enfatizar mais precisamente a reificação do homem moderno, o que no conto rubeniano se atém à metáfora de homens robotizados. 5.2 O homem reificado “Coisas”, de Saramago, foi publicado, já em um Portugal pós-ditadura, em 1978, no livro de narrativas curtas intitulado Objecto quase — batismo, aliás, relativamente incomum se levarmos em conta que não se trata aqui do nome de nenhum dos contos da obra, o que sintomatiza uma consciência una a perpassar todo o volume e a legitimar que tais contos estejam reunidos em um mesmo lugar por evidenciarem um mesmo fio estético-ideológico que os vincula entre si. Eleger para análise este específico conto futurista é como dar continuidade, nos anos de 1970, à sequência que mencionamos desde os romances clássicos distópicos publicados entre os anos de 1920 e 1950 até o conto de Ruben A. em 1960. É preciso justificar, todavia, de que maneira nesse ensaio, que estabelece como um dos critérios de escrutínio de corpus um olhar para obras não contempladas vastamente pela crítica, surge a escolha por José Saramago, que poderia parecer algo desproposital. Ora, indubitavelmente, Saramago figura dentre os grandes romancistas da Língua Portuguesa. São escritos como Levantado do chão, Memorial do convento, O ano da morte de Ricardo Reis, A jangada de pedra, História do cerco de Lisboa, O 167 Evangelho segundo Jesus Cristo e Ensaio sobre a cegueira alguns dos volumes que consolidam o nome do escritor na História da Literatura. Todavia, a obra do eminente romancista, por ter alcançado notório nível de desenvolvimento artístico, tem por consequência, como já levantamos anteriormente, obscurecer outros caminhos da arte das letras pelos quais Saramago também passeou. Seria o caso desses contos reunidos no fim da década de 1970, insuficientemente prestigiados pela crítica literária não obstante as peças ali abrigadas também possuírem a marca do talento de um futuro Nobel, o que legitima trazê-las à baila nesse espaço, visto estarem vitimadas, guardada as devidas proporções, por equivalente esquecimento crítico que observamos em outros contos trazidos à leitura até o momento. Evidentemente, ao defender que a contística de Saramago é pouco estudada, não sustentamos aqui que a fonte de leituras sobre este livro de narrativas curtas se encontre absolutamente seca, como é o caso de outros contos de nosso corpus. Há a recensão crítica produzida por Maria Alzira Seixo para a Revista Colóquio Letras por ocasião do lançamento do livro e alguns ensaios de outros autores a estudarem contos específicos, notadamente a narrativa “A cadeira”. É também merecedor de nota o ensaio de Margarida Braga Neves que volta o seu olhar para toda a ficção breve do autor, como também procede outro ensaio escrito mais recentemente por Perfecto E. Quadrado. Além disso, em sua pesquisa a respeito das primeiras obras saramaguianas, Horácio Costa, para além de outras produções do autor, analisa cada um dos seus contos e Carlos Reis igualmente produziu um artigo que trata desta obra de modo mais alentado. Ainda assim, algumas apreciações, de que são exemplos as dos dois últimos críticos, frequentemente encaram estes contos como sementes de futuros romances, a anteverem os temas e o estilo que alçariam mais tarde o seu autor a um lugar entre os imortais da literatura mundial. Desse modo, o critério para o recorte empreendido por Horácio Costa fundamenta-se justamente na ideia de que as obras anteriores a Levantado do chão podem ser classificadas sob a nomenclatura de período formativo enquanto Carlos Reis, com opção metodológica semelhante, organiza sua leitura a partir do que ele chama de uma deriva do conto ao romance em José Saramago, reconhecendo em suas narrativas curtas “sua condição de projectos embrionários que outros relatos de José Saramago, 168 mais amplos e mais circunstaciados, hão-de aprofundar”190. E mesmo Braga Neves encaminha-nos aos textos curtos do autor “para neles procurarmos alguns dos temas, nexos e obsessões que os vertebram e, simultaneamente, vermos até que ponto se repercutem em obras posteriores”191. Em suma: são investigações que aparentemente se consideram dignas de execução em função da existência da aclamada produção romancista de Saramago que se realizaria futuramente. É de fato irrefutável que encontramos em tais contos os genes literários que se firmariam nos romances e o autor, como muitos escritores portugueses (conforme já dissemos anteriormente), realmente faz crer usar a forma do conto como espaço de estudo para a escrita romanesca, tradicionalmente de maior prestígio. Chega, aliás, a fazer a seguinte confissão a Carlos Reis sobre a escrita da sua primeira obra vastamente aclamada, Levantado do chão (seu “livro de viragem”192 segundo Margarida Braga Neves ou o “divisor de águas na sua obra”193 para Horácio Costa): “...escrevi o Manual de pintura e caligrafia e Objecto quase provavelmente (há algum exagero nisso, mas apetece-me dizê-lo) porque não sabia como havia de escrever o Levantado do chão.”194 Agarremo-nos, contudo, aos parênteses de Saramago, bem como ao advérbio que o antecede a expressar dúvida. Comparativamente ao saltério gerado a respeito de cada um de seus romances, a experiência do autor nesta outra forma de narrativa, que é o conto, ainda parece merecer mais leituras que percebam o seu valor intrínseco, para além da sombra projetada pelos seus posteriores escritos ditos mais amplos ou circunstaciados ou aprofundados. Portanto, a insistência da crítica corrente de que teríamos em Objecto quase não mais que um Saramago quase romancista é o que faz desta obra, na verdade, ainda um Saramago quase lido, lacuna cuja premente ocupação defendemos e com a qual, por agora, brevemente ao menos, contribuímos. Feitos esses parênteses justificativos, olhemos a obra em sua inteireza, antes de chegarmos a “Coisas”, procedimento que o citado caráter relativamente uno do livro faz crer fértil. Objecto quase abriga seis contos. No primeiro, “A cadeira”, é narrado o acidente que provocou a queda de Salazar, queda do seu poder ditatorial em razão da 190 REIS, C. (2006), p. 162. NEVES, M. B. (1999), p. 122. 192 NEVES, M. B. (1999), p. 117. 193 COSTA, H. (1997), p. 18. 194 REIS, C. (1998), p. 42. 191 169 literal queda de uma cadeira quebrada, que causou o seu óbito. O texto, segundo revela o biografista João Marques Lopes, guardava uma particularidade pouquíssimo mencionada a respeito de Saramago: por trás da história breve dos bichos microscópios que roíam a cadeira de Salazar e o levaram ao coma irreversível, escondia-se um projeto que o escritor nunca chegaria a concretizar sobre uma biografia ficcional do ditador.195 Tal afirmação corrobora a tese de que o autor usara a forma do conto como estudo para telas que ele pudesse pintar mais tarde, ainda assim, a qualidade destes ensaios não permite que os tratemos como simples esboços. Nesta primeira narrativa de Objecto quase, Saramago já manifesta uma opção que indelevelmente marcará seus romances, sobretudo desde Levantado do chão até O Evangelho segundo Jesus Cristo: a de unir / confundir de modo irremediável os discursos da Literatura e da História, de forma a contaminá-los mutuamente. Esta é uma das razões por que “A cadeira”, “do ponto de vista literário, pode talvez ser considerado o mais audaz dos contos de Objecto quase”196, como defende Horácio Costa, ou “um dos mais admiráveis contos da nossa literatura, também pelo perfeito domínio dos recursos técnicos que nele se exibem”197, conforme afiança Carlos Reis referindo-se especialmente à habilidade da escrita saramaguiana para discursar longamente sobre um acontecimento brevíssimo. Trata-se aqui, pois, de uma narração em slow motion de um episódio cuja duração não ultrapassaria um segundo, estendendo-se por várias páginas, a partir de diversas digressões peculiares ao Saramago romancista que o mundo mais tarde conheceu. Contudo, os períodos ainda relativamente curtos evidenciam que ali pouco se manifesta da técnica formal que acompanharia tais divagações no vindouro estilo do autor, cujas estruturas compostas a partir de cadeias de inúmeras coordenações e subordinações poderiam ser mais bem observadas no quarto conto do livro, “Refluxo”, como se pode comprovar em seu período inicial: 195 LOPES, J. M. (2010), p. 90. COSTA, H. (1999), p. 211. 197 REIS, C. (2006), p. 156. 196 170 Primeiramente, pois tudo precisa ter um princípio, mesmo sendo esse princípio aquele ponto de fim que dele não pode separar, e dizer “não pode” não é dizer “não quer” ou “não deve”, é o estreme não poder, porque se tal separação se pudesse, é sabido que todo o universo desabaria, porquanto o universo é uma construção frágil que não aguentaria soluções de continuidade — primeiramente foram abertos os quatro caminhos.198 Nesse conto, as infrutíferas estratégias de um rei sobre o modo de criar para os mortos um local de destino que os separasse dos vivos a fim de eliminar do reino a lembrança da morte — um “cemitério único, central e obrigatório”199 — produzem desastrosas consequências para o povo submetido à sua risível administração. O refluxo dos mortos de volta ao “convívio” dos vivos, enterrados ilegalmente em quintais (contrariando os decretos reais) nas cidades que surgem ao redor da necrópole construída, mostra-se inevitável, o que, aliás, segundo Horácio Costa, “explorará alegoricamente, e de uma nova feita, a natureza do poder”200. Tal circunstância leva a uma evidente comparação com Todos os nomes, quando também as decisões que visam à resolução do problema da acomodação das fichas dos vivos e dos mortos no Registro Civil geram problemas de organização complexos e, tal qual em “Refluxo”, a mistura dos dois é inevitável, o que, no conto, expressa a inescapável relação do homem com a morte. Em Objecto quase, aliás, todos os contos (exceto o último, cujas particularidades discutiremos) culminam com a morte de seus protagonistas. É esse, por exemplo, o destino do rei de “Refluxo”: experimentar uma morte iminente como para os demais, experimentar o encontro com a Indesejada das gentes, que Manuel Bandeira chamara de iniludível, mas que ainda assim o monarca tentara adiar201, evidentemente em vão, expondo, por um lado, a fragilidade humana, e, por outro, uma elucidação possível para o efeito da palavra quase na expressão título da coletânea. Ainda que alienado e estratificado como nos contos do livro, o ser humano não pode ser coisificado em definitivo pelo sistema que o oprime porque, ao contrário dos objetos e sua vocação para uma resistência com aparente potencial de eternidade, o homem finda, sendo a 198 SARAMAGO, J. (2004), p. 49. SARAMAGO, J. (2004), p. 52. 200 COSTA, H. (1997), p. 332. 201 Fazemos evidente referência ao poema “Consoada”. 199 171 morte então a marca indelével e imutável que lhe lega, em instância última, sua liberdade em relação ao processo de reificação que sofre. Da mesma morte libertária será vítima o “Centauro”, a figura mitológica que dá título ao quinto conto do livro e que apresenta uma minudência curiosa: ao invés de termos um indivíduo metade homem metade cavalo, condizente com as descrições clássicas do personagem lendário, há dois seres que siamesamente convivem de forma inseparável. Essa sua natureza, todavia, não é absolutamente clara em seus primeiros períodos: O cavalo parou. Os cascos sem ferraduras firmaram-se nas pedras redondas e resvaladiças que cobriam o fundo quase seco do rio. O homem afastou com as mãos, cautelosamente, os ramos espinhosos que lhe tapavam a visão para o lado da planície.202 Desse modo, se não fosse o título do conto a nos fazer desconfiar das características físicas do personagem, para nos apercebermos de que não se trata ali tão somente de um cavaleiro montado teríamos que provavelmente aguardar outro trecho do conto, no qual seria, aí sim, de se estranhar o contorcionismo a que se submete este suposto cavaleiro, justamente por estar reprimido pela vontade do animal a que nasceu atrelado: O cavalo teve sede. Aproximou-se da corrente de água, que estava como parada sob a chapa da noite, e quando as patas da frente sentiram a frescura líquida, deitou-se no chão, de lado. O homem, com o ombro assente na areia áspera, bebeu longamente, embora não tivesse sede.203 E, por fim, as dúvidas se dissipam precisamente no trecho que trata de um “ponto qualquer do corpo onde se entrechocavam as ordens que do mesmo cérebro partiam”204. Esse homem, cônscio de sua natureza centáurica, não mais encontra espaço em um mundo dominado pelo discurso cientificista, onde as pessoas parecem abdicar dos seus instintos animais mais baixos (representado na figura do centauro por sua parte 202 SARAMAGO, J. (2004), p. 109. SARAMAGO, J. (2004), p. 110. 204 SARAMAGO, J. (2004), p. 110. 203 172 equina) em favor apenas de sua condição de civilizado, transformando-se em um frio e alienado ser social desprovido, de um modo paradoxal (nos termos tratados por Fromm), exatamente de humanidade, porque burocratizado e mecanizado — temática recorrente nas distopias literárias e que nos remeteria novamente ao enredo de Alphaville. Sobre o conto, esclarece ainda Horácio Costa: Ao inserir o símbolo do centauro dentro de uma temporalidade histórica, não exactamente historicizando-o, porém tratando a matéria mitológica, por princípio avessa à historicização, no contexto actual, Saramago encontra na dualidade animal-humano que nele reside o valor simbólico de Objecto quase: o centauro terminal passa a dar a medida mesma da imagem do sema “objecto quase” que o escritor vai polindo em cada um dos seus contos. Dentro e fora da história e do imaginário, dentro e fora de uma civilização, habitante da fronteira, conflituado último e único, finalmente a morte do protagonista de “Centauro”, como símbolo não apenas do macro-texto que é a mitologia herdada como também no espaço textual do livro, aponta para a morte mesma de toda a mitologia na época actual; à luz dos valores negativos com os quais a “mitologia” contemporânea é trabalhada em “Embargo”205, “Centauro” constitui uma crítica, um olhar céptico, sobre a possibilidade de mitologizar num universo em que o conflito básico se dá menos entre o animal e o humano e sim entre o objectual e o humano, numa época em que o homem, inconsciente dos seus atributos, antes de explorar a sua animalidade prefere muito pior reduzir-se a coisa.206 Por fim, o último conto do livro, “Desforra”, já publicado antes em uma primeira versão (na Revista Colóquio Letras em 1972, intitulado “Calor”), adentra o volume em discreta variante em relação ao original: além do título, a narração do encontro em um ambiente bucólico de um casal de jovens — os quais, reciprocamente seduzidos sem troca de palavras, irão entregar-se, como fica explicitado, à comunhão carnal em um momento posterior à narrativa — será ainda modificada, em comparação ao texto publicado na revista, em seu período final: 205 206 Segundo conto do livro, cuja análise adiaremos para o próximo capítulo, conforme nos é conveniente. COSTA, H. (1997), p. 341-2. 173 Então, porque o Verão queimava e era urgente negar o escárnio, o rapaz meteu-se à água e nadou para a outra margem, enquanto o vulto branco da rapariga se escondia entre os ramos.207 transforma-se em Então, o rapaz meteu-se à água e nadou para a outra margem, enquanto o vulto branco e nu da rapariga recuava para a penumbra dos ramos.208 A eliminação dos efeitos intensos antes provocados pelas palavras Verão, urgente e escárnio abranda os tons da cena final, gerando maior contraste entre o ato amoroso que se consumará e o violento episódio anteriormente narrado (em que o rapaz presenciara a castração de um porco). Quanto à cena de amor apenas prenunciada, percebe-se que na sua segunda versão ela é marcada por uma eleição vocabular que intensifica o convite sedutor: a jovem está nua, e já não se esconde mas antes recua para a penumbra num jogo evidente de sedução, dando maior relevo à sublimidade do enlace que servirá como a desforra da violência mencionada no novo título. É com tais alterações que “Calor”, agora “Desforra”, fosse porque o autor desejasse publicar em uma obra sua o conto que anteriormente figurara nas páginas da revista e a oportunidade ali se apresentava, fosse porque apenas cinco contos não fossem suficientes para dar ao livro o volume editorial necessário (e muitas outras poderiam ser as especulações e ainda assim não seriam mais que especulações), adentra na verdade Objecto quase aparentemente a fórceps, porque, conforme reconhece Horácio Costa, “em tom, forma e conteúdo, este conto destoa frontalmente dos outros do mesmo livro”209. Maria Alzira Seixo, todavia, encontra leitura para a sua presença no conjunto da obra (mesmo que a partir da evidência de sua disparidade), apontando-o como a “única saída deste universo de pesadelo”210 que permeia as demais narrativas, saída da cidade para o campo como o conto de Ruben A. sugerira (e “Embargo”, como veremos no próximo capítulo, de certo modo parece ratificar), saída do labirinto que ela mesma defende como “motivo presente em todos os contos do livro, marca do pesadelo, da viagem circular, da absurda 207 SARAMAGO, J. (1972), p. 58. SARAMAGO, J. (2004), p. 134. 209 COSTA, H. (1999), p. 212. 210 SEIXO, M. A. (1979), p. 79. 208 174 ideologia do final, do concreto terror da coação”211, que em “Desforra” se consolida a partir da “anulação da morte pelo amor”212, o que também explicaria as citadas alterações entre as duas versões. Sendo assim, acrescentaríamos que o título ganharia significado outro em função do diálogo com os cinco primeiros textos, como se este conto último é que valesse de desforra para a coisificação que o homem sofrera nos demais numa lógica muito própria à obra de Saramago, em que o amor terá recorrentemente similar função. Será assim provável que o comentário de Maria Alzira Seixo advenha do fato de este ser o único texto do livro em que a separação do homem de um objeto (seja de uma cadeira, seja de um automóvel, seja de sua parte cavalo...) não causará a sua morte; é, aliás, o único em que nem mesmo haverá uma relação homem-objeto. Cuadrado intui algo semelhante ao perceber em “Desforra” a afirmação final contra a morte — aqui a castração de um porco — da vida que está mais para além, cruzando decididamente o rio, como o faz o protagonista da história, até à promessa germinadora de vida da jovem que na outra margem, desnudando-se e oferecendo-se, nos chama e nos incita.213 E alcancemos, por fim, “Coisas”: é prioritário ressaltar que o fato de julgarmos o último conto de Objecto quase como independente do conjunto formado pelos demais leva-nos a encarar essa peça do livro como a sua narrativa central, no sentido físico que ocupa em relação às demais. Essa disposição física guardaria ainda um valor simbólico: sendo efetivamente a terceira de cinco histórias, “Coisas” tem potencializado o seu valor, já por si evidente pela extensão do texto, muito superior aos demais. Realmente, em nenhum dos outros contos o título da obra se revela tão apropriado e encontra tamanha radicalização, visto que, no enredo desse conto, concretiza-se, como se verá, a metáfora construída pela expressão objecto quase. Será o comportamento estranho adotado por objetos (e estranho já seria que eles, sendo objetos, adotassem algum comportamento) — como uma porta ferir as mãos dos seus usuários e um sofá ou um sobretudo apresentarem febre, por exemplo — o que indiciará, já desde o início, que tais coisas não são totalmente objetos. Chamadas oumis — abreviatura para “objetos, 211 SEIXO, M. A. (1979), p. 78. SEIXO, M. A. (1979), p. 79. 213 CUADRADO, P. E. (2007), p. 49. 212 175 utensílios, máquinas e instalações” que parece uma espécie de corruptela para a palavra “homens”, o que deveria provocar desconfianças no leitor desde o princípio — e destinadas a servir aos cidadãos intitulados utentes, rebelam-se e vão pouco a pouco desaparecendo e abandonando os seus usuários, ressurgindo fora dos limites do perímetro urbano, exílio que faz parte de uma estratégia de rebelião (que pareceria interessante para o protagonista de “Verde”, se lhe fosse possível escapar do controle teleguiado), culminando em antropomorfizações, como esclarecem as últimas frases do conto, quando diz uma mulher que fora objeto: “...as coisas éramos nós. Não voltarão os homens a ser postos no lugar das coisas.”214 — e será possível, como veremos, duas leituras para essa afirmação. Em “Coisas”, discutem-se os demasiados instrumentos de controle de uma sociedade (que apresentará um aspecto futurista mais manifesto do que o de “Verde”) impostos pelo seu governo, baseados na vigilância — e novamente emerge nessa distopia a sociedade descrita por Deleuze e Foucault — e ainda em um excesso de burocracia215 que manifesta o nível social dos cidadãos a partir de letras gravadas em verde na palma de suas mãos e cuja decorrência é a divisão das pessoas entre classes de cidadãos utentes, variáveis de A a Z, conforme se sugere. Trata-se, como lembramos, de uma distopia semelhante a 1984 de George Orwell, aqui também não havendo a noção, por parte dos cidadãos, de que há um Big Brother que os vigia: mais que observada, a liberdade dessas pessoas é ilusória, concretizando o citado modelo da sociedade de controle. Em uma coletividade altamente manipulada, mesmo as reivindicações dos cidadãos são excitadas pelo próprio governo, mantidas porém em um nível condicionado que transmita aos homens a sensação do exercício do direito civil sem que se ultrapassem limites que verdadeiramente criariam mudanças e incitariam qualquer revolução, tanto que, durante um tempo, a indústria fora obrigada a produzir certa porcentagem de artigos defeituosos 214 215 SARAMAGO, J. (2004), p. 105. Este ambiente é mesmo respeitado, não sem ironia, pelo próprio narrador, que insiste, adotando assim um estilo burocrata em seu discurso, em destacar repetidamente entre parênteses as siglas referentes a órgãos e setores e documentos como serviços de abastecimentos correntes (sac), nota oficiosa do governo (nog), forças militarizadas (fm), ministério da indústria (mi), polícia de segurança industrial interna (psii) — dentre os quais figuram a televisão (tv) e a rádio (r), sugerindo o comprometimento com o poder e a falta de independência dos meios de comunicação, materializados mais tarde na cena em que a mídia ocultará a morte de pessoas em acidentes causados pelo desaparecimento de objetos — e, por fim, o próprio governo (g), grafando-os todos no entanto em letras minúsculas, o que ainda mais caracteriza o seu tom jocoso. 176 a fim de promover as esperadas reclamações que alimentariam o pequeno apetite do povo pela exigência de seus direitos e deveres cívicos, dando-lhes a falsa sensação de cidadania216. Essa liberdade produzida mais do que experimentada não está longe do paradoxo de ver-se obrigado forçadamente a subir uma avenida batizada como da Liberdade. Os cidadãos dessa sociedade são aqueles reconhecidos por Zygmunt Bauman na contemporaneidade: “Somos talvez mais ‘predispostos à crítica’, mais assertivos e intransigentes em nossas críticas, que nossos ancestrais em sua vida cotidiana, mas nossa crítica é, por assim dizer, ‘desdentada’, incapaz de afetar a agenda estabelecida para nossas escolhas na ‘política-vida’.”217 Os objetos, contudo, ao se rebelarem contra os homens, passam a apresentar falhas diversas em seu funcionamento — lembremo-nos, por exemplo, da porta que fere as pessoas (supõem-se que dolosamente, uma vez que as autoridades tomarão a medida de retirá-la como punição) e o sofá acusado de aquecer demais (seria um caso de febre, conforme um diagnóstico médico, cuja posologia resulta em injeções de hora em hora) e reparemos que o tratamento por eles recebido aumenta as desconfianças do leitor sobre a impossibilidade de se tratar apenas de “coisas”. A primeira etapa da rebelião obriga o governo a suspender a lógica produtiva anterior por outra que estabelecesse, inutilmente (como ocorrera com os decretos do rei de “Refluxo”), regras severas de controle de qualidade. Em um segundo momento, um a um, tais objetos rebelados passam a esvaecer-se subitamente, o que trará implicações calamitosas, como no caso do edifício que desaparece, narrado pelo dono de uma tabacaria (ocorrência que, em suas deambulações pela cidade, o funcionário público protagonista da narrativa testemunhará verídico): 216 A manipulação do povo pelo governo já havia sido denunciada em “Refluxo”, como se pode perceber na passagem em que se evidencia a previsibilidade do comportamento massificado das pessoas ao trazer discursos de autoridade científica que discutem o fato de, como consequência da construção do cemitério central, “se ter atingido, no nível mais alto da curva de produção, o pleno emprego. Naturalmente, a esse período seguiu-se uma depressão, que aliás não surpreendeu ninguém, pois estava nas previsões dos peritos de economia. O efeito negativo desta depressão veio a ser abundantemente compensado, tal como haviam previsto os psicólogos sociais, pelo irreprimível desejo de repouso que, atingido o ponto de saturação ocupacional, começou a manifestar-se na população. Entrava-se realmente na normalidade.” [SARAMAGO, J. (2004), p. 58. (Grifos nossos)] — imagem de uma sociedade entregue a uma exatidão caricata da tecnocracia. 217 BAUMAN, Z. (2001), p. 31. 177 [...] desapareceu um prédio inteiro, e as pessoas que lá viviam foram encontradas todas mortas, sobre a terra. Completamente nuas. Nem anéis tinham. O mais estranho é ter desaparecido o prédio por completo, até aos alicerces. Ficaram só os caboucos.218 Esse processo de dissipação dos objetos em “Coisas” instigantemente se assemelhará, é verdade que de inversa maneira, ao romance Dissipatio H. G., do italiano Guido Morselli, no qual um personagem (sem nome, como os protagonistas dos seis contos de Objecto quase) que vivia isolado nas montanhas se vê repentinamente sozinho em um mundo de onde todos os demais seres humanos desapareceram, simultânea e repentinamente. Carros espatifados na estrada, malas abandonadas nos aeroportos, linotipos em funcionamento na sede do jornal, tudo isso indicia que não se trata de êxodo ocorrido de forma natural, mas do efetivo e súbito desaparecimento dos seres humanos, do qual o herói passa a ser o último representante. O Evento ou a Dissipatio Humani Generis ou a Sublimatio, alternativas do protagonista para batizar o ocorrido em seu monólogo, sobrevém na mesma noite em que ele decidira cometer suicídio numa gruta com um tiro na boca mas, ao desistir (e a dúvida quanto a ter ou não apertado o gatilho acompanha o leitor para além da narrativa), bateu fortemente a cabeça em uma pedra e desmaiou, acordando já sem companhia no mundo. Escrita entre 1972 e 1973, mas editada pela primeira vez, postumamente, apenas em 1977, a narrativa de Morselli é assim publicada em data perturbadoramente próxima ao lançamento do livro de contos de Saramago, trazido a público, lembremos, em 1978. E trata-se de um negativo fotográfico das circunstâncias vividas em “Coisas”: ao invés de os objetos desaparecerem em abandono aos humanos, a raça humana é que deixa de existir (exceto por seu último representante) deixando para trás seus objetos. Ora, a exemplo de “Embargo”, a terceira narrativa de Objecto quase denuncia, em instância inicial, a dependência do ser humano em relação aos instrumentos materiais que, por princípio, existiriam para servi-lo, desvelando a sua impossibilidade de prosseguir sem os aparatos inanimados a que se escravizara e que representam metonimicamente o estilo de vida da modernidade, objetos sem os quais o homem está despido diante do restante da sociedade. Tal questão se materializa no episódio da mulher gorda que, nua, corre sem saber como se esconder em seu apartamento após a 218 SARAMAGO, J. (2004), p. 84. 178 dissipação da fachada do edifício, cena burlesca que metaforiza o quanto o homem está travestido de uma dignidade forjada por coisas219. Dissipatio H. G., por sua vez, revela de modo mais cruciante a inversão a que a relação homem-objeto se submete nas sociedades das urbes modernas, porque ratifica que toda a máquina inumana criada pelo homem para subsidiá-lo (além dos elementos naturais, sejam vegetais sejam animais, que ele teve a pretensão de controlar, explorando-os ou mesmo preservando-os na medida em que tal postura lhe é interessante) paradoxalmente não necessita dele para continuar funcionando, demonstrando que a dependência evidenciada em “Coisas”, ademais, não é mútua. Por isso, ante a cidade iluminada e movimentada (ainda que sabidamente sob efeito de geradores com acúmulo de energia para mais meses de fornecimento automático), elucubrará o personagem do romance italiano: O fim do mundo? Uma das piadas do antropocentrismo: descreve o fim da espécie como a extinção na natureza vegetal e animal, o fim da Terra. A queda dos céus. Não há escatologia que não considere a permanência do homem como essencial à permanência das coisas. Admite-se que as coisas possam ter começado antes, mas não que possam terminar depois de nós. O velho Montaigne, que se dizia agnóstico, perfilava com os dogmáticos e teólogos: “Ainsi fera la mort de toutes choses notre mort”220. Meus caros sábios presunçosos, vocês se davam demasiada importância. O mundo nunca esteve tão vivo quanto hoje, que uma certa raça de bípedes deixou de frequentá-lo. Nunca esteve tão limpo, luminoso e alegre.221 Portanto, mesmo que por vias distintas (por caminhos opostos, diríamos), ambos os textos — e ainda os outros contos de Objecto quase em que o divórcio do ser com a coisa provoca a morte do primeiro — levam a uma conclusiva reflexão: a ruptura entre homem e objeto cunha a dependência daquele em relação a seus utensílios ou, mais radicalmente, demonstra como o homem, em uma contraversão de método, está exposto 219 A cena, além disso, ao representar a exposição a que se submete o homem moderno em uma sociedade a que não parece ter direito ao privado, lembra o enredo de Nós, romance do russo Yevgeny Zamyatin que citamos através das considerações de Erich Fromm, como um dos pioneiros dentre as ficções distópicas, no qual é descrita uma cidade em que todas as construções possuem paredes transparentes, a fim de permitir que cada cidadão seja permanentemente vigia do outro. 220 “Causará a morte de todas as coisas a nossa morte.” [nota do tradutor da edição brasileira do livro] 221 MORSELLI, G. (2001), p. 66. 179 à utilização pelos objetos, vivendo para fazê-los funcionar e a isso se dedicando num automatismo que perde contato com suas causas primeiras: meios que viram fins, segundo observara Sartre na literatura fantástica do século XX, tema a que retornaremos. Mas as frases derradeiras de “Coisas” podem-nos levar, como avisamos, a conclusões distintas. Ao dizer, constatado o sucesso da rebelião, que não voltarão os homens a serem postos no lugar das coisas, a mulher que fora objeto se refere realmente aos oumis de que fazia parte (porque ela e seus semelhantes, homens que foram reificados, não se prestarão mais a este papel) ou aos cidadãos utentes contra os quais se rebelara (porque a nova sociedade que os oumis construirão não será regida como a anterior, suplantada por eles, na qual os homens haviam perdido suas características humanas)? Dito de outra forma: os objetos do conto eram seres humanos que exerciam função de instrumentos ou rebelam-se promovendo uma inédita antropomorfização (e não uma re-antropomorfização) a fim de evitarem que os utentes continuassem a se coisificar? Por um lado, a artificialização das atitudes do homem poderia ter aberto caminho para a rebelião das coisas, destinadas a se apoderarem de um mundo que na prática já lhes pertencia e cuja consequência está metaforizada no romance de Morselli, que seria, por assim dizer, fotografia do resultado final de “Coisas” vista pelo ângulo de um dos cidadãos utentes, sobrevivente único da revolução que vitimara a sua raça. De outra maneira, no entanto, será igualmente rica a simbologia da massa sobrepujada por uma elite que a reifica tratando-a como mero utensílio, que toma consciência do seu poder e vence a rebelião que empreende — cuja inevitável e necessária consequência, como bem observa Horácio Costa, é a “desconstrução do cenário urbano”222. Nessas duas leituras, residirão, por fim, os argumentos-chave de todo o conjunto de contos de Objecto quase, que trata do homem tornado quase objeto e do objeto quase tornado homem. O ponto de vista desta e das demais narrativas poderia ser o material e não o humano: antes o automóvel do que seu condutor, antes a cadeira do que seu ditador, antes os mortos do que seu soberano rei, antes o cavalo do que sua parte humana formadora do centauro. E os títulos substantivos, quando não explicitam, parecem aludir a este efetivo protagonismo das “coisas”, o que corrobora uma das leituras que 222 COSTA, H. (1999), p. 141. 180 empreendemos desse terceiro conto. Por isso, deparamo-nos com o hipérbato com que se nomeia o livro: não mais, em uma ordem sintaticamente dita natural, quase objeto (parte da expressão homem quase objeto, em que “homem” exerceria a função nominativa) mas sim objeto quase (parte da expressão objeto quase homem, o que promove o objeto à posição de sujeito, na qual a elipse do seu complemento denunciaria ainda mais o apagamento do homem diante do termo que lhe sobrepujou a função subjetiva). No entanto, cremos ser preciso encarar de outra maneira essa opção estética, de modo a ver nela um potencial de capacidade de mudança: inverter essa ordem sintática direta para compor a expressão objecto quase (quando o mais cômodo para a língua seria quase objeto) é promover já, desde a apresentação da obra. a contraversão que se espera que a rebelião dos oumis estabeleça ao destruir a cidade para ter, afinal, a oportunidade de reconstruí-la. Submeter-nos a tal subversão linguística será, antes, para o humanista que José Saramago sempre foi, sugerir a crença na possibilidade de desobediência a uma ordem constituída e de inversão dos papéis e na destruição da sociedade estratificada por um modelo social que desumaniza o homem. Assim, desde o primeiro signo que se abre para a interpretação dos leitores — o que se espera que o título do livro sempre seja — estamos diante dessa desobediência formal que metaforiza uma desobediência cívica. Marcada que é por uma aposta utópica, esta obra será, no avesso da falência diante da perda de valores humanísticos da sociedade contemporânea, a representação da confiança de que o ser humano, ainda que já quase objeto, poderá reverter sua condição e reescrever as histórias suas e, por conseguinte, as escritas em Objecto quase. Trata-se do mesmo sentimento que emergira pouco tempo antes aquando da publicação da narrativa poética de Saramago O ano de 1993. Espécie de poema épico sem a dimensão agigantada e sem o rigor estrutural presente nos heroicos versos decassílabos que reconhecemos na saga de Os Lusíadas, a sua proposta de versículos em que nem mesmo se verifica uso de pontuação como vírgulas ou pontos finais está também a sugerir a capacidade de contestação e a predisposição à desobediência a regras. Obra confessadamente futurista, como evidencia o título e o próprio texto, pinta (através de tintas surrealizantes, conforme propõe a referência a Salvador Dalí logo nos primeiros movimentos) o início dos anos de 1990 como um tempo em que o homem, 181 expulso (como um exilado Poeta platônico) de cidades destruídas e ocupadas por animais, é tiranizado pelas máquinas, resgatando uma vez mais uma temática comum às distopias novecentistas, a dialogar profundamente com o fio condutor de Objecto quase. Publicado um ano após a Revolução dos Cravos (embora confessadamente escrito um ano antes, logo em 1973), o livro, todavia, descreve uma massa que, ao não se entregar a nenhum tipo de manipulação, ao contrário das populações dos contos de Isabel Cristina Pires e Ruben A. por exemplo, é capaz de promover uma mudança de paradigma, uma revolução. É, sob essa semelhante ótica, que se ocultará alguma esperança (aquela que parecia perdida em “Verde” no fundo do leito do Tejo) no ambiente distópico de “Coisas”, o que faz do terceiro conto de Objecto quase, tal qual o seu ancestral mais próximo O ano de 1993, uma aposta na capacidade de reação do ser humano aos modelos políticos e sociais que lhe impõem a disciplina identificada por Foucault e, mais contemporaneamente, o controle apontado por Deleuze. 182 VI. KAFKIANAS Embargo Acordou com a sensação aguda de um sonho degolado e viu diante de si a chapa cinzenta e gelada da vidraça, o olho esquadrado da madrugada que entrava, lívido, cortado em cruz e escorrente de transpiração condensada. Pensou que a mulher se esquecera de correr o cortinado ao deitar-se, e aborreceu-se: se não conseguisse voltar a adormecer já, acabaria por ter o dia estragado. Faltou-lhe porém o ânimo para levantar-se, para tapar a janela: preferiu cobrir a cara com o lençol e virar-se para a mulher que dormia, refugiar-se no calor dela e no cheiro dos seus cabelos libertos. Esteve ainda uns minutos à espera, inquieto, a temer a espertina matinal. Mas depois acudiu-lhe a ideia do casulo morno que era a cama e a presença labiríntica do corpo a que se encostava, e, quase a deslizar num círculo lento de imagens sensuais, tornou a cair no sono. O olho cinzento da vidraça foi-se azulando aos poucos, fitando fixo as duas cabeças pousadas na cama, como restos esquecidos de uma mudança para outra casa ou para outro mundo. Quando o despertador tocou, passadas duas horas, o quarto estava claro. Disse à mulher que não se levantasse, que aproveitasse um pouco mais da manhã, e escorregou para o ar frio, para a humidade indefinível das paredes, dos puxadores das portas, das toalhas da casa de banho. Fumou o primeiro cigarro enquanto se barbeava e o segundo com o café, que entretanto aquecera. Tossiu como todas as manhãs. Depois vestiu-se às apalpadelas, sem acender a luz do quarto. Na queria acordar a mulher. Um cheiro fresco de água-de-colônia avivou a penumbra, e isso fez que a mulher suspirasse de prazer quando o marido debruçou-se na cama para lhe beijar os olhos fechados. E ele sussurrou que não viria almoçar a casa. Fechou a porta e desceu rapidamente a escada. O prédio parecia mais silencioso que de costume. Talvez do nevoeiro, pensou. Reparara que o nevoeiro era assim como uma campânula que abafava os sons e os transformava, dissolvendo-os, fazendo deles o que fazia com as imagens. Estaria nevoeiro. No último lanço da escada já poderia ver a rua e saber se acertara. Afinal havia uma luz ainda cinzenta, mas dura e rebrilhante, de quartzo. Na berma do passeio, um grande rato morto. E enquanto, parado à porta, acendia o terceiro cigarro, passou um garoto embaçado, de gordo, que cuspiu em cima do animal, como lhe tinham ensinado e sempre via fazer. O automóvel estava cinco prédios abaixo. Grande sorte ter podido arrumá-lo ali. Ganhara a superstição de que o perigo de lhe roubarem seria tanto maior quanto mais longe o tivesse deixado à noite. Sem nunca o ter dito em voz alta, estava convencido de que não voltaria a ver o carro se o deixasse em qualquer extremo da cidade. Ali, tão perto, tinha confiança. O automóvel apareceu-lhe coberto de gotículas, os vidros tapados de humidade. Se não fosse o frio tanto, poderia dizer-se que transpirava como um corpo vivo. Olhou os pneus segundo o deu hábito, verificou de passagem que a antena não fora partida e abriu a porta. O interior do carro estava gelado. Com os vidros embaciados, era uma caverna translúcida afundada sob um dilúvio de água. Pensou que teria sido melhor deixar o carro em sítio onde pudesse fazê-lo descair para pegar mais facilmente. Ligou a ignição, e no mesmo instante o motor roncou alto, com um arfar profundo e impaciente. Sorriu, satisfeito da surpresa. O dia começava bem. Rua acima, o automóvel arrancou, raspando o asfalto como um animal de cascos, triturando o lixo espalhado. O conta-quilómetros deu um salto repentino para 90, velocidade de suicídio na rua estreita e ladeada de carros parados. Que seria isto? Retirou o pé do acelerador, inquieto. Por pouco diria que lhe teriam trocado o motor por outro muito mais potente. Pisou à cautela o acelerador dominou o carro. Nada de importância. Às vezes não se controla bem o balanço do 183 pé. Basta que o tacão do sapato não assente no lugar habitual para que se altere o movimento e a pressão. É simples. Distraído com o incidente, ainda não olhara o marcador da gasolina. Ter-lhe-iam roubado durante a noite, como já não era a primeira vez? Não. O ponteiro indicava precisamente meio depósito. Parou num sinal vermelho, sentindo o carro vibrante e tenso nas suas mãos. Curioso. Nunca dera por essa espécie de frémito animal que percorria em ondas a chapas da carroçaria e lhe fazia estremecer o ventre. Ao sinal verde, o automóvel pareceu serpentear, alongar-se como um fluido, para ultrapassar os que lhe estavam à frente. Curioso. Mas, na verdade, sempre se considerara muito melhor condutor do que o comum. Questão de boa disposição, esta agilidade dos reflexos hoje, talvez excepcional. Meio depósito. Se encontrasse um posto de abastecimento a funcionar, aproveitaria. Pelo seguro, com todas as voltas que tinha que dar antes de ir para o escritório, melhor de mais que de menos. Este estúpido embargo. O pânico, as horas de espera, filas de dezenas e dezenas de carros. Meio depósito. Outros andam a essa hora com muito menos, mas se for possível atestar. O carro fez uma curva balançada, e, no mesmo movimento, lançou-se numa subida íngreme sem esforço. Ali perto havia uma bomba pouco conhecida, talvez tivesse sorte. Como um perdigueiro que acode ao cheiro, o carro insinuou-se por entre o trânsito, voltou duas esquinas e foi ocupar lugar na fila que esperava. Boa lembrança. Olhou o relógio. Deviam estar à frente uns vinte carros. Nada de exagerado. Mas pensou que seria melhor ir ao escritório e deixar as voltas para a tarde, já cheio o depósito, sem preocupações. Baixou o vidro para chamar um vendedor de jornais que passava. O tempo arrefecera muito. Mas ali, dentro do automóvel, de jornal aberto sobre o volante, fumando enquanto esperava, havia um calor agradável, como o dos lençóis. Fez mover os músculos das costas, com uma torção de gato voluptuoso, ao lembrar-se da mulher ainda enroscada na cama àquela hora, e recostou-se melhor no assento. O jornal não prometia nada de bom. O embargo mantinha-se. Um Natal escuro e frio, dizia um dos títulos. Mas ele ainda dispunha de meio depósito e não tardaria a tê-lo cheio. O automóvel da frente avançou um pouco. Bem. Hora e meia mais tarde estava a atestar , e três minutos depois arrancava. Um pouco preocupado porque o empregado lhe dissera, sem qualquer expressão particular na voz, de tão repetida a informação, que não haveria ali gasolina antes de quinze dias. No banco, ao lado, o jornal anunciava restrições rigorosas. Enfim, do mal o menos, o depósito estava cheio. Que faria? Ir directamente ao escritório, ou passar primeiro por casa de cliente, a ver se apanharia a encomenda? Escolheu o cliente. Era preferível justificar o atraso com a visita, a ter de dizer que passara hora e meia na fila da gasolina quando lhe restava meio depósito. O carro estava óptimo. Nunca se sentira tão bem a conduzi-lo. Ligou o rádio e apanhou um noticiário. Notícias cada vez piores. Estes árabes. Este estúpido embargo. De repente, o carro deu uma guinada e descaiu para a rua à direita, até parar numa fila de automóveis mais pequena do que a primeira. O que fora aquilo? Tinha o depósito cheio, sim, praticamente cheio, porque diabo de lembrança. Manejou a alavanca das velocidades para meter a marcha atrás, mas caixa não lhe obedeceu. Tentou forçar, mas as engrenagens pareciam bloqueadas. Que disparate. Agora avaria. O automóvel da frente avançou. Receosamente, a contar com o pior, engatou a primeira. Tudo perfeito. Suspirou de alívio. Mas como estaria a marcha atrás quando tornasse a precisar dela? Cerca de meia hora depois metia meio litro de gasolina no depósito, sentindo-se ridículo sob o olhar desdenhoso do empregado da bomba. Deu uma gorjeta absurdamente alta e arrancou num grande alarido de pneus e acelerações. Que diabo de ideia. Agora ao cliente, ou será uma manhã perdida. O carro estava melhor do que nunca. Respondia aos seus movimentos como se fosse um prolongamento mecânico do seu próprio corpo. Mas o caso da marcha atrás dava que pensar. E eis que teve que pensar mesmo. Uma grande camioneta avariada tapava todo o leito da rua. Não podia contorná-la, não tivera tempo, estava colado a ela. Outra vez a medo, manejou a alavanca, e a marcha atrás engrenou com um ruído suave de sucção. Não se lembrava de a caixa de velocidades ter reagido dessa maneira antes. Rodou o volante para esquerda, acelerou, e de um só arranco o automóvel subiu o passeio, rente à camioneta, e saiu do outro lado, solto, com uma agilidade de animal. O diabo do carro tinha sete fôlegos. Talvez que por causa de toda essa confusão do embargo, tudo em pânico, os serviços desorganizados tiveram feito meter nas bombas gasolina de muito maior potência. Teria a sua graça. Olhou o relógio. Valeria ir ao cliente? Por sorte apanharia o estabelecimento ainda aberto. Se o trânsito ajudasse, sim, se o trânsito ajudasse, teria tempo. Mas o trânsito não ajudou. Tempo do 184 Natal, mesmo faltando a gasolina, toda a gente vem para a rua, a empatar quem precisa de trabalhar. E ao ver uma transversal descongestionada, desistiu de ir ao cliente. Melhor seria explicar qualquer coisa no escritório o e deixar para tarde. Com tantas hesitações desviara-se muito do centro. Gasolina queimada sem proveito. Enfim, o depósito estava cheio. Num largo ao fundo da rua por onde descia viu outra fila de automóveis, à espera de vez. Sorriu de gozo e acelerou, decidido a passar roncando contra os entanguidos automobilistas que esperavam. Mas o carro, a vinte metros, obliquou para esquerda, por si mesmo, e foi parar, suavemente, como se suspirasse, no fim da fila. Que coisa fora aquela, se não decidira meter mais gasolina? Que coisa era, se tinha o depósito cheio? Ficou a olhar os diversos mostradores, a apalpar o volante custando-lhe a reconhecer o carro, e nessa sucessão de gestos puxou o retrovisor e olhou-se no espelho. Viu que estava perplexo e considerou que tinha razão. Outra vez pelo retrovisor distinguiu um automóvel que descia a rua, com todo o ar de vir colocar-se na fila. Preocupado com ideia de ficar ali imobilizado, quando tinha o depósito cheio, manejou rapidamente a alavanca para a marcha atrás. O carro resistiu e alavanca fugiu-lhe das mãos. No segundo imediato achou-se apertado entre seus dois vizinhos. Diabo. Que teria o carro? Precisava de levá-lo à oficina. Uma marcha atrás que funcionava ora sim ora não, é um perigo. Tinha passado mais de vinte minutos quando fez avançar o carro até a bomba. Viu chegar-se o empregado e a voz apertou-se-lhe ao pedir que atestasse o depósito. No mesmo instante, fez uma tentativa para fugir à vergonha, meteu uma rápida primeira e arrancou. Em vão. O carro não se mexeu. O homem da bomba olhou-o desconfiado, abriu o depósito, e, passados poucos segundos, veio pedir o dinheiro de um litro, que guardou resmungando. No instante logo, a primeira entrava sem qualquer dificuldade e o carro avançava, elástico, respirando pausadamente. Alguma coisa não estaria bem no automóvel, nas mudanças, no motor, em qualquer sítio, diabo levasse. Ou estaria doente? Dormira ainda assim bem, não tinha mais preocupações da vida que em todos os outros dias dela. O melhor seria desistir por agora de clientes, não pensar neles durante o resto do dia e ficar no escritório. Sentia-se inquieto. Em redor de si, as estruturas do carro vibravam profundamente, não à superfície mas no interior dos aços, e o motor trabalhava com aquele rumor inaudível de pulmões enchendo e esvaziando, enchendo e esvaziando. Ao princípio, sem saber por quê, deu por que estava a traçar mentalmente um itinerário que o afastasse doutras bombas de gasolina, e quando percebeu o que fazia assustou-se, temeu-se de não estar bom da cabeça. Foi dando voltas, alongando e cortando caminho, até que chegou em frente do escritório. Pôde arrumar o carro e suspirou de alívio. Desligou o motor, tirou a chave e abriu a porta. Não foi capaz de sair. Julgou que a aba da gabardina se prendera, que a perna ficara entalada na coluna do volante, e fez outro movimento. Ainda procurou o cinto de segurança, a ver se o colocara sem dar por isso. Não. O cinto estava pendurado ao lado, tripa negra e mole. Disparate, pensou. Devo estar doente. Se não consigo sair, é porque estou doente. Podia mexer livremente os braços e as pernas, flectir ligeiramente o tronco consoante as manobras, olhar para trás, debruçar-se um pouco para a direita, para o cacifo das luvas, mas as costas aderiam ao encosto do banco. Não rigidamente, mas como um membro adere ao corpo. Acendeu um cigarro, e de repente preocupou-se com o que diria ao patrão se assomasse a uma janela e o visse ali sentado, dentro do carro, a fumar, sem nenhuma pressa de sair. Um toque violento de claxon fé-lo fechar a porta, que abrira para a rua. Quando o outro carro passou, deixou descair lentamente a porta outra vez, atirou o cigarro fora e, segurando-se as mãos ambas ao volante, fez um movimento brusco, violento. Inútil. Nem sequer sentiu dores. O encosto do banco segurou-o docemente e manteve-o preso. Que era isto que estava a acontecer? Puxou para baixo retrovisor e olhou-se. Nenhuma diferença no rosto. Apenas uma aflição imprecisa que mal se dominava. Ao voltar a cara para a direita, para o passeio, viu uma rapariguinha a espreitá-lo, ao mesmo tempo intrigada e divertida. Logo a seguir surgiu uma mulher com um casaco de abafo nas mãos, que a rapariga vestiu, sem deixar de olhar. E as duas afastaram-se, enquanto a mulher compunha a gola e os cabelos da menina. Voltou a olhar no espelho e compreendeu o que devia fazer. Mas não ali. Havia pessoas a olhar, gente que o conhecia. Manobrou para desencostar, rapidamente, deixando a mão à porta para fechá-la, e desceu a rua o mais depressa que podia. Tinha um fito, um objectivo muito definido que já o tranquilizava e tanto que se deixou ir com um sorriso que aos poucos lhe abrandara a aflição. Só reparou na bomba de gasolina quando lhe ia a passar pela frente. Tinha um letreiro que dizia “esgotado”, e o carro seguiu, sem o mínimo desvio, sem diminuir a velocidade. Não quis pensar 185 no carro. Sorriu mais. Estava a sair da cidade, eram já os subúrbios, estava perto o sito que procurava. Meteu por uma rua em construção, virou à esquerda e à direita, até uma azinhaga deserta, entre valados. Começava a chover quando parou o automóvel. A sua ideia era simples. Consistia em sair de dentro da gabardina, torcendo os braços e o corpo, deslizando para fora dela, tal como faz a cobra quando abandona a pele. No meio de gente não se atreveria, mas, ali, sozinho, com um deserto em redor, só longe a cidade que se escondia por trás da chuva, nada mais fácil. Enganara-se, porém. A gabardina aderia ao encosto do banco, do mesmo modo que ao casaco, à camisola de lã, à camisa, à camisola anterior, à pele, aos músculos, aos ossos. Foi isso que pensou não pensando quando daí a dez minutos se retorcia dentro do carro, a chorar. Desesperado. Estava preso no carro. Por mais que se torcesse para fora, para a abertura da porta, por onde a chuva entrava emperrada por rajadas súbitas e frias, por mais que fincasse os pés na saliência alta da caixa de velocidades, não conseguia arrancar-se do assento. Com as duas mãos segurou-se ao tejadilho e tentou içar-se. Era como se quisesse levantar o mundo. Diante dos seus olhos, os limpa-vidros, que sem querer pusera em movimento no meio da agitação, oscilavam com um ruído seco, de metrônomo. De longe veio o apito da fábrica. E logo a seguir, na curva do caminho, apareceu um homem pedalando numa bicicleta, coberto com uma grande folha de plástico preto, por onde a chuva escorria como sobre a pele de uma foca. O homem que pedalava olhou curiosamente para dentro do carro e seguiu, talvez decepcionado ou intrigado, por ver um homem sozinho, e não o casal que de longe lhe parecera. O que estava a passar-se era absurdo. Nunca ninguém ficara preso dessa maneira no seu próprio carro, pelo seu próprio carro. Tinha de haver um processo qualquer de sair dali. À força não podia ser. Talvez numa garagem? Não. Como iria explicar? Chamar a polícia? E depois? Juntar-se ia gente, tudo a olhar, enquanto a autoridade evidentemente o puxaria por um braço e pediria ajuda aos presentes, e seria inútil, porque o encosto do banco docemente o prenderia a si. E viriam os jornalistas, os fotógrafos, e ele seria mostrado metido no seu carro em todos os jornais do dia seguinte, cheio de vergonha como um animal tosquiado à chuva. Tinha de arranjar outra maneira. Desligou o motor e sem interromper o gesto atirou-se violentamente para fora, como quem ataca de surpresa. Nem um resultado. Feriu-se na testa e na mão esquerda, e a dor causou-lhe uma vertigem que se prolongou, enquanto uma súbita e irreprimível vontade de urinar se expandia, libertando interminável o líquido quente que vertia e escorria entre as pernas para piso do carro. Quando tudo isso sentiu, começou a chorar baixinho, num ganido, miseravelmente, e assim esteve até que um cão, vindo da chuva, veio ladrar-lhe, esquálido e sem convicção, à porta do carro. Embraiou devagar, com os movimentos pesados de um sonho de cavernas, e avançou pela azinhaga fazendo força para não pensar, para não deixar que a situação se lhe figurasse num entendimento. De um modo vago sabia que teria de procurar alguém que o ajudasse. Mas quem poderia ser? Não queria assustar a mulher, mas não restava outro remédio. Talvez ela conseguisse. Ao menos não se sentiria tão desgraçadamente sozinho. Voltou a entrar na cidade, atento aos sinais, sem movimentos bruscos no assento, como se quisesse apaziguar os poderes que o prendiam. Passavam das duas horas e o dia escurecera muito. Viu três bombas de gasolina, mas o carro não reagiu. Todas tinham o letreiro de “esgotado”. À medida que penetrava na cidade, ia vendo automóveis abandonados em posições anormais, com os triângulos vermelhos colocados na janela de trás, sinal que noutras ocasiões seria de avaria, mas que significava, agora, quase sempre, falta de gasolina. Por duas vezes viu grupos de homens a empurrar automóveis para cima dos passeios, com grandes gestos de irritação, debaixo da chuva que não parara ainda. Quando enfim chegou à rua onde morava, teve de imaginar como iria chamar a mulher. Parou o carro em frente da porta, desorientado, quase à beira doutra crise nervosa. Esperou que acontecesse o milagre de a mulher descer por obra e merecimento do seu silencioso chamado de socorro. Esperou muitos minutos, até que um garoto curioso da vizinhança se aproximou e ele pôde pedir-lhe, com o argumento de uma moeda, que subisse ao terceiro andar e dissesse à senhora que lá morava que o marido estava em baixo à espera, no carro. Que viesse depressa, que era muito urgente. O rapaz foi e desceu, disse que a senhora já vinha e afastou-se a correr, com o dia ganho. A mulher descera como sempre andava em casa, nem sequer lembrara de trazer um guardachuva e agora estava entreportas, indecisa, desviando sem querer os olhos para um rato morto na berma do passeio, para o rato mole, de pelo arrepiado, hesitando em atravessar o passeio debaixo da chuva, um pouco irritada contra o marido que a fizera descer sem motivo, quando poderia 186 muito bem ter subido a dizer o que queria. Mas o marido acenava de dentro do carro e ela assustou-se e correu. Deitou a mão ao puxador, precipitando-se para fugir à chuva, e quando enfim abriu a porta e viu diante do seu rosto a mão do marido aberta empurrando-a sem lhe tocar. Teimou e quis entrar, mas ele gritou-lhe que não, que era perigoso, e contou-lhe o que acontecia, enquanto ela encurvada recebia nas costas toda a chuva que caía e os cabelos se lhe desmanchavam, e o horror lhe crispava a cara toda. E viu o marido, naquele casulo quente e embaciado que o isolava do mundo, torcer-se todo no assento para sair do carro e não conseguir. Atreveu-se a agarrá-lo por um braço e puxou, incrédula, e não pôde também movê-lo dali. E como aqui era horrível demais para ser acreditado, ficaram calados a olhar-se, até que ela pensou que o marido estava doido e fingia não poder sair. Tinha de ir chamar alguém para o tratar, para o levar aonde as loucuras se tratam. Cautelosamente, com muitas palavras, disse ao marido que esperasse um bocadinho, que ela não tardaria, ia procurar ajuda para ele sair, e assim até poderiam almoçar juntos e ele telefonaria para o escritório a dizer que estava constipado. E não iria trabalhar da parte da tarde. Que sossegasse, o caso não tinha importância, a ver que não demora nada. Mas quando ela desapareceu na escada, ele tornou a imaginar-se rodeado de gente, o retrato nos jornais, a vergonha de se ter urinado pelas pernas abaixo, e esperou ainda uns minutos. E quando em cima a mulher fazia telefonemas para toda a parte, para a polícia, para o hospital, lutando para que acreditassem nela, e não na sua voz, dando seu nome e o do marido, a cor do carro, e a marca, e a matrícula, ele não pôde aguentar a espera e a imaginação, e ligou o motor. Quando a mulher tornou a descer, o automóvel já desaparecera e o rato escorregara da berma do passeio, enfim, e rolava na rua inclinada, arrastado pela água que corria dos algeroses. A mulher gritou, mas as pessoas tardaram a aparecer e foi muito difícil de explicar. Até o anoitecer o homem circulou pela cidade, passando por bombas esgotadas, entrando em filas de espera sem o ter decidido, ansioso porque o dinheiro se lhe acabava e ele não saberia o que poderia acontecer quando não houvesse mais dinheiro e o automóvel parasse ao pé duma bomba para receber mais gasolina. E isso só não aconteceu porque todas as bombas começaram a fechar e as filas de espera que ainda se viam apenas aguardando o dia seguinte, e então o melhor era fugir de encontrar bombas ainda abertas para não ter que parar. Numa avenida muito longa e larga, quase sem outro trânsito, o carro da polícia acelerou e ultrapassou-o, e quando o ultrapassava um guarda fez-lhe sinal para que parasse. Mas ele teve outra vez medo e não parou. Ouviu atrás de si a sereia da polícia e viu, também, vindo não soube donde, um motociclista fardado quase a alcançá-lo. Mas o carro, o seu carro, deu um rondo, um arranco poderoso e saiu, de um salto, logo adiante, para o acesso duma auto-estrada. A polícia seguia-o de longe, cada vez mais longe, e quando a noite se fechou não havia sinais deles, e o automóvel rolava por outra estrada. Sentia fome. Urinara outra vez, humilhado demais para se envergonhar e delirava um pouco: humilhado, himolhado. Ia declinando sucessivamente, alterando as consoante e as vogais, num exercício inconsciente e obsessivo que o defendia da realidade. Não parava porque não sabia para que iria parar. Mas, de madrugada, por duas vezes, encostou o carro a berma e tentou sair devagarinho, como se entretanto ele e o carro tivessem chegado a um acordo de pazes e fosse a altuara de tirar a prova da boa-fé de cada um. Por duas vezes falou baixinho quando o assento o segurou, por duas vezes tentou convencer o automóvel a deixá-lo sair a bem, por duas vezes num descampado nocturno e gelado, onde a chuva não parava, explodiu em gritos, em uivos, em lágrimas, em desespero cego. As feridas da cabeça e da mão voltaram a sangrar. E ele, soluçando, sufocado, gemendo como um animal aterrorizado, continuou a conduzir o carro. A deixar-se conduzir. Toda a noite viajou sem saber por onde. Atravessou povoações de que não viu o nome, percorreu longas rectas, subiu e desceu montes, fez e desfez laços e deslaços de curvas, e quando a manhã começou a nascer estava em qualquer parte, numa estrada arruinada, onde a água da chuva se juntava em charcos arrepiados à superfície. O motor roncava poderosamente, arrancando as rodas à lama, e toda a estrutura do carro vibrava, com um som inquietante. A manhã abriu por completo, sem que o sol chegasse a mostrar-se, mas a chuva parou de repente. A estrada transformava-se num simples caminho, que adiante, a cada momento, parecia que se perdia entre pedras. Onde estava o mundo? Diante dos olhos eram serras e um céu espantosamente baixo. Ele deu um grito e bateu com os punhos cerrados no volante. Foi nesse momento que viu que ponteiro do indicador da gasolina estava em cima do zero. O motor 187 pareceu arrancar-se a si mesmo e arrastou o carro por mais vinte metros. Era outra vez estrada para lá daquele lugar, mas a gasolina acabara. A testa cobriu-se-lhe de suor frio. Uma náusea agarrou nele e sacudiu-o dos pés a cabeça, um véu cobriu-lhe por três vezes os olhos. Às apalpadelas, abriu a porta para se libertar da sufocação que aí vinha, e nesse movimento, por que fosse morrer ou porque o motor morrera, o corpo pendeu para o lado esquerdo e escorregou do carro. Escorregou um pouco mais, e ficou 223 deitado sobre as pedras. A chuva recomeçara a cair. “Embargo” — a segunda peça do livro dos contos saramaguianos de Objecto quase e a única do volume sobre a qual não se teceu considerações no capítulo anterior — ganhou publicação pela primeira vez em 1974 e seu enredo foi adaptado para o cinema em 2010 por António Ferreira, em um longa-metragem homônimo. Nesse conto, um evento fantástico acomete o protagonista no momento em princípio banal no qual ele conduz o seu automóvel rumo ao trabalho. Aquilo que, na narrativa, se mostraria inicialmente apenas um sugestivo discurso de sentido figurado — o que se evidencia em fragmentos tais como o carro respondia aos seus movimentos como se fosse um prolongamento mecânico do seu próprio corpo — logo se concretiza em uma autêntica simbiose entre o condutor e o seu veículo, já que, em um dado momento, o homem não foi capaz de sair do automóvel porque as costas aderiam ao encosto do banco, precisamente como um membro adere ao corpo. O herói estará, assim, a sofrer efetivamente uma transformação, certa sorte de mutação que lhe subtrairá os traços humanos para gradativamente o reificar, enquanto, em sentido oposto, o carro ganha qualidades humanas ou ao menos animais de tomar decisões próprias: ambos objetos quase. Já no terço final do conto, em desespero em razão da insólita circunstância em que se vê envolvido, o estado grotesco do personagem tomado parte da coisa / carro estará francamente demonstrado. Tal situação de degradação será mais facilmente notada em trechos como aquele em que ele se atira violentamente para fora, como quem ataca de surpresa para logo depois sentir uma irreprimível vontade de urinar, libertando interminável o líquido quente que vertia e escorria entre as pernas para o piso do carro, a que se segue um choro baixo identificado a um ganido — imagem de perda da dignidade do ser humano muito semelhante, aliás, à que serão submetidos os personagens de Ensaio sobre a cegueira, publicado duas décadas mais tarde. Torna-se ainda mais grave a situação de perda dos valores de humanidade na cena que se passa 223 SARAMAGO, J. (2004), p. 38-9. 188 horas depois, no entanto, quando novamente tiver que urinar, já não encarará o fato com a mesma reação, já que, como um animal, estará humilhado demais para se envergonhar. Nessa altura, o homem já se encontra a brincar com as palavras que lhe surgem pela ocasião como forma de não perder a linguagem — humilhado, himolhado — declinando sucessivamente, alterando as consoantes e vogais, num exercício inconsciente e obsessivo que o defendia da realidade. O carro, por sua vez, também se animiza, mas, para um ser dito inanimado, o processo, pelo contrário, é antes uma promoção do que um aviltamento, notadamente porque o bicho / monstro em que se transforma parece forte e poderoso, ao contrário da fragilidade que acomete o herói, homem já nitidamente fraco desde o início do conto, quando até mesmo falta-lhe ânimo para levantar-se e fechar a janela e, ainda, simplesmente lhe causa temor a espertina matinal. Contestemos a propósito tal qualificação de herói ou de protagonista para o personagem de “Embargo”, já que, gradativamente vitimado por essa lei da selva que favorece aos mais fortes, ele tende a perder tal condição, passando ao secundarismo de quem obedece ao carro (na inversão sujeito vs. objeto, que se cunha desde o título do livro, se lemos embargo do petróleo e embargo da vida humana), perdendo gradativamente o controle sobre si enquanto o carro assume a posição de condutor — dos caminhos a percorrer, do enredo a se desenvolver... — no vácuo deixado pelo próprio homem — e prontamente ocupado pela máquina — de espaços de decisão, de arbítrio. Ora, quanto a isso, faz-se importante lembrar que, por toda a manhã, o personagem hesitara a respeito de que atitudes tomar, oscilara no tocante a que logradouro se dirigir: ir direto ao escritório ou visitar clientes; enquanto o automóvel parava em filas de postos de abastecimento com uma espécie de assertividade, eivada mesmo de agressividade, fundamentalmente humanas. Por isso mesmo, quando o homem desesperadamente tenta se libertar, os limpa-vidros, que sem querer pusera em movimento no meio da agitação, oscilavam com um ruído seco, de metrónomo, como se o automóvel estivesse, até com algum nível de zombaria, a lhe fazer metaforicamente um gesto de negativa que, entre os homens, convencionou-se realizar por um movimento semelhante com o dedo indicador ou a cabeça. Assim, a reação da máquina demonstra que a ela pertence o posto de autoridade, o poder decisório de fornecer licença para qualquer movimento, ou, aproveitando a metáfora trazida pelo instrumento de medição de tempo usado no âmbito musical (metrónomo), 189 pode-se dizer que a cena indica quem dará o tom dos acontecimentos por toda a narrativa. O primeiro signo da transformação do carro em um animal surge já quando o homem sai de casa e o encontra na rua pela manhã: O automóvel apareceu-lhe coberto de gotículas224, os vidros tapados de humidade. Se não fosse o frio tanto, poderia dizer-se que transpirava como um corpo vivo. A ambiguidade logo se faz notar, estendendo-se por uma sequência de outras referências análogas, desde o motor que, com aquele rumor inaudível de pulmões enchendo e esvaziando, roncou alto, com um arfar profundo e impaciente, como se suspirasse, para sair raspando o asfalto como um animal de cascos, parecendo serpentear com um frémito animal, uma agilidade de animal, até a súbita aproximação do carro ao posto de abastecimento, com o comportamento de um perdigueiro que acode ao cheiro — imagem do cão de caça que contrasta com a que é legada ao homem: a do cão lastimoso, que logo estará ganindo. Na animalização do carro que abandona o seu estado inanimado e na também reificação do homem que o reduz a ser parte do objeto com perda evidente, os dois seres fazem encontrar seus níveis de existência, alcançando uma união que gerará esse ser híbrido que configura a visão moderna de um personagem mítico, referido em outro conto de Objecto quase: o centauro. E se a sociedade atual não permite a vivência deste, como a quinta narrativa do livro discute, quiçá seja porque é essa nova criatura nascida do amálgama de outras duas, ciborgue a partir do homem e do seu automóvel, aquela que o substitui e ocupa o seu espaço. (E vale ressaltar que tal imagem se tornou profundamente comum na sociedade contemporânea, como aliás já denunciara “Trânsito” na figuração dos homens que não se comunicavam porque se transportavam isolados em cabines de elevadores, que poderiam mesmo simbolizar o trânsito das pessoas nas ruas em seus veículos, conforme sugerimos.) Retomemos, por conseguinte, a visão de Horácio Costa, que vislumbra em “Centauro” um universo em que o conflito básico se dá menos entre o animal e o humano e sim entre o objectual e o humano, 224 Parece fértil perceber que essa característica do automóvel é muito semelhante à vidraça escorrente de transpiração condensada (respiração do casal que dorme? suor da própria janela?) do parágrafo inicial do conto, objeto o qual, efetivamente, através de seu olho esquadrado, aparece como uma sugestão de certa natureza de Big Brother, enquanto fita fixamente as duas cabeças pousadas na cama, como algo que espreita em silêncio o inimigo aguardando a oportunidade de realizar o seu ataque, o que somente ocorrerá, aliás, dois contos mais tarde, justamente no cenário futurista de “Coisas”, análise que justifica que tenhamos nesse momento aproximado tal imagem de mais uma referência ao romance de Orwell. 190 numa época em que o homem, inconsciente dos seus atributos, antes de explorar a sua animalidade prefere muito pior reduzir-se a coisa. Nesse sentido, a atitude de puxar o retrovisor e olhar-se no espelho, que ocorre em duas passagens do conto, cria, no avesso dessa tendência do senso comum, a imagem necessária à constatação da metáfora: trata-se de, no corpo do automóvel, verificar não o rosto de uma máquina, mas o do próprio homem (como seria antes o busto do ser humano na estrutura equina que configurava o centauro), com expressão ainda dotada (ao menos na primeira oportunidade) de perplexidade e razão — predicados fundamentalmente humanos que se refletem assim no automóvel. 6.1 Metamorfose O personagem do conto saramaguiano vive então uma espécie de metamorfose, tema universal da arte literária que, se em um âmbito histórico mais amplo remeterá sempre aos quinze livros da magnum opus do poeta Ovídio, será, contudo, no século XX em especial, inescapável e essencialmente kafkiano. É Perfecto Cuadrado quem sugere, em breve análise, a natureza kafkiana de “Embargo”: Parece imperativa a dupla referência a uma muito ibérica e barroca tradição de humor negro e ao que poderíamos chamar o absurdo friamente racional, cujo paradigma seria a narrativa kafkiana, conjugados ambos na transformação lenta e minuciosa de um instante de banalidade quotidiana numa eternidade de excepcionalidade monstruosa, como evidente é também o protagonismo decisivo da cidade como espaço coadjuvante dessa transformação, uma cidade labiríntica [...]. Um automobilista anónimo num carro qualquer duma cidade sem perfis nem marcas identificadoras, comodamente instalado na sua rotina quotidiana, um acontecimento surpreendente primeiro, preocupante e ameaçador depois, finalmente fatal, um kafkiano ir acontecendo o que nunca acontecera mas que se demonstra acontecível: o arranque, em certa medida, de Ensaio sobre a cegueira.225 Ora, é preciso dizer que o uso do adjetivo kafkiano não se dá nunca impunemente. Em função das características muito particulares da obra do escritor tcheco das primeiras décadas dos novecentos, o termo está hoje carregado de 225 CUADRADO, P. E. (2997), p. 46-7. 191 significados que ultrapassam os sentidos imediatos fornecidos pelos dicionários que poderiam, restritamente a princípio, permitir o seu emprego em contextos em que se referisse a algo como “relativo a Kafka” ou “aquele que é admirador de Kafka ou conhecedor de sua obra”, por exemplo. Modesto Carone, ao identificar nos personagens de Kafka as angústias sofridas pelo homem moderno habitantes das sociedades de controle, como os homens teleguiados de “Verde”, define que a rigor é kafkiana a situação de impotência do indivíduo moderno que se vê às voltas com um superpoder (Übermacht) que controla sua vida sem que ele ache uma saída para essa versão planetária da alienação — a impossibilidade de moldar seu destino segundo uma vontade livre de constrangimentos, o que transforma todos os esforços que faz num padrão de iniciativas inúteis.226 A propósito desse assunto, Durval Muniz de Albuquerque Júnior explica: Kafka foi muitas vezes acusado de desenhar estruturas, pensar mundos dos quais suas personagens não poderiam escapar, em que são apenas objetos passivos e não sujeitos ativos. Foi cunhado, inclusive, o adjetivo kafkiano para se referir a estes mundos que parecem nascidos de pesadelos, que parecem absurdos por discreparem do mundo cotidiano e rotineiro, por nascerem de uma ruptura inesperada com a ordem, por serem excepcionais, bizarros, grotescos, por mergulharem suas personagens em sucessivas situações das quais não conhecem as motivações, que não conseguem explicar racionalmente e das quais não conseguem escapar, embora elas possuam uma lógica própria, difícil de dominar.227 E Edson Passetti também reflete: Com Kafka apareceu a palavra kafkiano, uma designação para os excessos de racionalidades impessoais nas funções, cargos e procedimentos que orientam a produtividade moderna, suas construções de verdades amparadas em realidades e sonhos, envolvendo gentes e animais, surpreendentes instantes onde se espera o previsível.228 226 CARONE, M. (2009), p. 100. ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. de (2004), p. 17. 228 PASSETTI, E. (2004), p. 10. 227 192 Ora, parece-nos claro que o episódio narrado em “Embargo” também traz uma verdade que se ampara em realidade e sonho, e esse nada mais é do que outro modo de se aludir justamente à função do fantástico no século XX, conforme aliás vimos defendendo até aqui: a de problematizar o próprio real através da irrupção do insólito, do irreal, do absurdo. É pertinente lembrar, a propósito, que, não casualmente, como já referimos no capítulo I deste ensaio, dois importantes teóricos do Fantástico — Sartre e Todorov — elegeram o escritor tcheco como fronteira entre as manifestações do gênero nos oitocentos (sobre as quais se dedicou o linguista franco-búlgaro) e nos novecentos (sobre que, mais brevemente, teorizou o existencialista francês). Isto significa que, de certa maneira, podemos eleger a obra de Kafka como o marco inaugural do que mais tarde Alazkari definiria como neofantástico ou, ainda mais radicalmente, o efetivo início do que contabilizamos de fato como século XX no que diz respeito à literatura fantástica, já que, via de regra, as obras do gênero produzidas em seus primeiros dez ou quinze anos seriam ainda claramente devedoras da estética praticada em décadas anteriores. Essa verdade construída pelo espaço ficcional, referida por Passetti em sua visão a respeito do kafkiano, habita, no conto de Saramago, a questão da desumanização do homem, a sua reificação consequente do protagonismo assumido pelo objeto que deveria estar, pelo contrário, ao seu serviço — seu reposicionamento, portanto, como objeto passivo e não sujeito ativo, conforme definira Muniz de Albuquerque ao discursar sobre o mesmo assunto — denúncia já evidenciada em “Coisas” e que perpassa todo o Objecto quase, dando forma nessa sua segunda narrativa a uma espécie de jogo metafórico que no texto se desenvolve de modo concreto, na metamorfose fantástica do homem em automóvel (e, por assim dizer, eis o citado amparo dessa verdade especificamente no sonho). Ratificando tal ideia, a leitura de Maria Alzira Seixo propõe que esse conto é símbolo “da escravização e destruição do homem pelo objecto, ou melhor, da sua identificação com ele”229, com o que corrobora Horácio Costa, para quem “Embargo”, “vignette sobre a situação de dependência imposta ao 229 SEIXO, A. (1979), p. 78. 193 homem contemporâneo pelas técnicas de reprodução da sociedade de consumo [...], ilustra a ‘servidão’ do sujeito tornado objeto”230. Essa inversão sujeito-objeto, a que já havíamos incansavelmente aludido, insere o conto na lista de obras cuja exegese descobre o mesmo “princípio da subjetividade completamente alienada”231 que Theodor W. Adorno identifica precisamente em Kafka. Tais leituras certamente se potencializam em função do plano de fundo da narrativa, composto a partir de um contexto político real e contemporâneo à sua escrita, o da crise do petróleo do início da década de 1970 causada pelo controle do escoamento da produção imposta pelos fornecedores árabes, o que comprometeu o abastecimento de combustíveis na Europa; e eis, por fim, o outro amparo da verdade, desta feita mais designadamente na realidade deste fato histórico, que afinal é a primeira motivação para o título do conto, cuja ambiguidade é ressaltada ainda por Horácio Costa quando aponta que “é o chofer de classe média, um exemplo acabado de cidadão comum, quem é ‘embargado’ por seu automóvel”232. E é o mesmo Horácio Costa quem aposta ainda que “Embargo” simultaneamente “recupera o registo e os ingredientes do realismo fantástico”233 e “é inseminado por imagens de extracção surrealista”234. Tais observações permitem aguçar a percepção, pertinente nesta como em outras narrativas do livro, de que o conto encontra filiação em galho mais antigo desta árvore genealógica literária na qual colheríamos frutos surrealistas ou mágico-realistas, a fim de alcançarmos justamente o seu parentesco com a poética kafkiana do início do século XX, opção artística de Saramago que, aliás, se repetiria em romances futuros tais quais A jangada de pedra e Ensaio sobre a cegueira, por exemplo, a julgar pela intromissão do inexplicável elemento fantástico em uma realidade empírica, hodierna, cotidiana, para o qual no entanto se busca antes uma negociação no tocante às consequências daí advindas do que uma elucidação das suas causas — e esta reação é (de certa forma pioneiramente na literatura ocidental) muito clara na obra de Kafka, notadamente em A metamorfose, onde o incômodo e a inutilidade social de Gregor Samsa, que se dá em razão de se ter transformado em inseto, ocupam a discussão dos personagens, sem deixar espaço para questionamentos a 230 COSTA, H. (1999), p. 139. ADORNO, T. W. (1999), p. 258. 232 COSTA, H. (1999), p. 139. 233 COSTA, H. (1999), p. 328. 234 COSTA, H. (1999), p. 331. 231 194 respeito do que poderia ter provocado o fenômeno, fator tratado então como absolutamente irrelevante. É importante dizer ainda que a simples ocorrência do tema da metamorfose não teria sido suficiente para comprovar a presença concreta de Kafka no conto de Saramago, a ponto de legitimar que o tivéssemos eleito para análise nesse espaço em detrimento de outros textos que, por motivos semelhantes, poder-se-iam ter revelado como opção. Ter-se-ia configurado talvez pertinente resgatar a leitura ficcional que Alfredo Margarido realiza da novela do autor tcheco com o seu A centopeia de 1961 (já após ter encontrado Kafka em No fundo deste canal, publicação do ano anterior), obras essas que, no entanto, escapam deste corpus em função da sua apresentação em forma de romance. Já no tocante a contos, dois outros despertariam, a princípio, alguma atenção, ao evidenciarem marcas da vertente kafkiana: “O cavalo branco” de Álvaro Guerra e “Doenças de pele” de Herberto Helder. Apresentado em Memória, livro de 1971, “O cavalo branco” (curtíssimo conto, desenvolvido mesmo em um só parágrafo, dotado de um ritmo que acelera a partida de xadrez que nele se opera) foi recolhido mais tarde na já largamente citada Antologia de Melo e Castro. Nele, um homem, o narrador do conto, se descobre, enquanto pensa no referido jogo, transformado na peça que dá título à narrativa; simultaneamente, a sala de sua casa torna-se o tabuleiro do jogo. Sua reação diante da metamorfose, no entanto, coaduna com a transitoriedade deste sentimento de espanto, que marca a poética kafkiana e a da narrativa fantástica novecentista, todas a rezarem pela mesma cartilha: “logo o meu espanto foi substituído por agudo interesse na localização das outras pedras, nas perspectivas do jogo”235. A mão que o maneja (e literalmente, então, o manipula), descrita como “mole, viscosa, fria, esverdeada, de longos e descarnados dedos, impossível de identificar com mão de homem ou mulher”236, associa-se com a imagem vulgarmente atribuída a seres extraterrestres (à época identificados como marcianos). Em se tratando de um conto de 1971, é possível que se relacione aqui com a teoria de que eram os deuses astronautas, muito em voga na época, difundida pelo livro do suíço Erick von Däniken sob rigor científico duvidoso (para dizer o mínimo), a qual expõe a possibilidade de que antigas civilizações terrestres ter-se-iam desenvolvido sob 235 236 GUERRA, A. (1971), p. 82. GUERRA, A. (1971), p. 82. 195 o fomento de alienígenas.237 Independente de quem o controla — um ente extraterreno de raça superior, uma divindade ou mesmo, representados simbolicamente por tudo isso, os governos totalitaristas ou elites detentoras de poder descritas nas distopias que antes analisamos — vemos a denúncia da condição de um homem que, mesmo não pertencendo às esferas mais baixas da segmentação social (não chegava a ser um peão, primeira peça de que o jogador em sua estratégia abre mão, antes identificando-se com um representante da classe média), revela a falta de importância de suas aspirações pessoais e o seu papel francamente utilitarista dentro da sociedade em que se insere, sacrificado que será por pouca coisa, “por causa de um xeque ao rei que nem sequer seria xeque-mate”238. Além disso, também em diálogo com a narrativa de Kafka, uma grande preocupação do narrador-personagem é aquilo que a sua esposa pensaria caso o flagrasse naquela circunstância, ao adentrar a sala-tabuleiro: “como ela ficaria zangada ao ver-me assim transformado em cavalo branco”239. Quando ela chega, todavia, permanece “alheia ao que estava a se passar”240, não percebendo a transformação e disparando comentários sobre o que falara longamente ao telefone, notícias comezinhas alheias, o que dá à mediocridade do protagonista não apenas uma dimensão sociopolítica mas também pessoal: “Eu era um cavalo branco fora do jogo e ela continuava a tratar-me como se eu fosse o seu marido.”241 “O cavalo branco”, em sua estrutura fantástica, é assim revelação realística e niilista da insignificância do indivíduo quando comparado ao chamado bem comum, e da mediocridade imposta à vida do cidadão da classe média. 237 Com indubitável sucesso à época de seu lançamento, em 1968, a despeito mesmo de um caráter que poderíamos declarar livremente como de um embuste sensacionalista, é crível que identifiquemos a influência desta obra em produções artísticas diversas, inclusive no cinema, desde o seu contemporâneo 2001 - uma odisseia no espaço (e a cena em que a evolução dos primatas para a condição de homens, no prólogo do filme intitulado “A aurora do homem”, se dá por influência de um monolito, que mais tarde se revela um artefato alienígena, não deixa dúvidas quanto a isso) até o filme de Steven Spielberg E. T. - o extraterrestre (1982), no qual a imagem de uma das cenas finais em que o garoto Elliott toca os dedos do personagem de outro planeta, ao reproduzir A criação de Adão, célebre afresco de Michelangelo pintado no teto da Capela Cistina, coloca-o na mesma posição do homem, enquanto fornece à figura do extraterrestre justamente o status de Deus. 238 GUERRA, A. (1971), p. 83. 239 GUERRA, A. (1971), p. 82. 240 GUERRA, A. (1971), p. 83. 241 GUERRA, A. (1971), p. 83. 196 Também narradas em primeira pessoa, são dignas de nota as nódoas brancas que vão gradativamente (da ponta do dedo a todo o corpo) tomando o herói do herbertiano “Doenças de pele”, conto publicado em 1960 no volume Os passos em volta. Nele, o protagonista vai igualmente se transmudar, não em inseto, mas em uma espécie de réptil branco. O enredo recebe tratamento semelhante ao instituído pela poética de Kafka, sobretudo em razão de, conforme ocorre em A metamorfose, o narrador não procurar explicações para o fenômeno, já que “cada vez menos desejava saber se era uma doença, ou que doença era”242, preocupando-se mais detidamente com os resultados sociais daí advindos. As transformações sofridas, assim, não se limitam ao aspecto físico. Ele antes “não amava ninguém”243 ainda que convivesse com muita gente, agindo como um José Rotativo que joga com a sua função no mundo de modo cônscio, vivendo no lugar que ele próprio escolhera: “Era um homem coordenado com os dias, entendendo que a matéria da minha existência, doce e dócil, afrontava a matéria do mundo e se amansava nos dedos desse mundo.”244 Uma vez, porém, que precisasse se esconder do restante da sociedade para ocultar o estranho problema, e na angústia da perda do direito de convivência, aproximava-se cada vez mais das pessoas enquanto podia disfarçar suas diferenças com luvas ou outras vestimentas, ao mesmo tempo em que o seu amor por elas surgia e crescia intensamente. Na cena final, o protagonista se observa nu no quarto escuro e afinal completamente só, em um mundo alternativo que se identifica com a fundura do espelho — “lá dentro”245 da superfície vítrea, com enfatiza, a sugerir que esse espaço outro, fantástico, está nele mesmo, o que, no discurso da prosa herbertiana que sempre se confunde com o da poesia, fornece uma dimensão psicológica ao drama do personagem: ele já não pertence à sociedade vigente — e seu caminho antes semelhante ao de José Rotativo é forçosamente transmudado em outro que corresponderia ao de Amorim. Esse livro de Herberto Helder, aliás, apresenta outros textos que, por motivos diferentes, poderiam ser lidos sob uma ótica como a inaugurada e difundida pelo autor 242 HELDER, H. (2005), p. 64. HELDER, H. (2005), p. 61. 244 HELDER, H. (2005), p. 63. 245 HELDER, H. (2005), p. 66. 243 197 tcheco. Citaríamos “O celacanto”, em que um homem abandona sua cidade em busca de um estranho peixe (que dá nome ao conto) que muitos criam extinto, após ler uma monografia a respeito do assunto. Trata-se de um texto kafkiano tanto pela forma estilizada como o personagem é batizado — KZ, conforme K. de O Castelo ou Joseph K. de O processo, num procedimento antibatismal que nos será caro na análise de “A Pousada”, de Agustina Bessa-Luís — quanto pela sua ocupação de funcionário público do ministério das finanças da cidade. Essa profissão, ícone da obra do autor tcheco (também exercida por ele próprio) em razão do seu compromisso com a burocracia (em seu julgamento generalista do mundo a despeito das peculiaridades do ser humano) fora por exemplo ainda uma vez aproveitada, como se viu, por Saramago em “Coisas”, e por Sena em “A comemoração”, certamente sob motivações estético-funcionais equivalentes ou similares. Mas, para além da temática metamórfica de “Embargo”, perceptível nesses outros exemplos, seria curioso observar com maior atenção outros semas, de valor estrutural, que nos permitem comprovar a aproximação das duas obras. No início de “Embargo”, por exemplo, aplica-se uma técnica também empregada por Kafka em dois dos seus principais textos: A metamorfose e O processo. É para coibir a tentação dos leitores de adotarem o recurso fácil de encarar suas narrativas como um sonho que Kafka estrategicamente inicia tanto A metamorfose quanto O processo por cenas em que o protagonista está precisamente despertando de seu sono, indiciando que tudo sucederia, a partir de então, sob um estado de vigília de seus heróis. A crítica nem sempre terá percebido o estratagema, o que levou a cansativos equívocos de interpretação de sua obra, não raras vezes associada de modo reducionista à atmosfera onírica para explicar a sua irrealidade. Nesse sentido, surge aqui o fator de legitimação de nossa leitura comparativa que nos parece mais evidente, e que fica a cargo do cotejamento dos trechos iniciais das duas obras: o de “Embargo” — Acordou com a sensação aguda de um sonho degolado — e a muito semelhante frase inaugural da novela de Franz Kafka — “Certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso.”246 Temos assim configurado, desde a sua oração inicial, o sintoma de que haverá algo de kafkiano em “Embargo”, ainda antes de 246 KAFKA, F. (2006), p. 13. (Grifos nossos) 198 se conhecer o seu enredo. E tal fato consiste na estratégia de impor um acontecimento insólito a um ambiente absolutamente realista, sem que se possa, para conforto dos receptores do texto, pensar que os acontecimentos narrados sejam simplesmente frutos de delírio ou sonho. É claro que seria possível levantar essa hipótese (que justamente tentamos descartar) em razão do uso da imagem do casulo para se referir tanto ao leito do casal (o casulo morno que era a cama) quanto ao carro (aquele casulo quente e embaciado que o isolava do mundo). No entanto, a reiteração do signo é antes mais uma evidenciação do diálogo do conto com a novela de Kafka (já que é em um inseto que Samsa se metamorfoseara) do que uma analogia de que estar no automóvel fosse como dormir no leito. Se, ao amanhecer, o olho cinzento da vidraça observa o casal na cama como restos esquecidos de uma mudança para outra casa ou para outro mundo, onde o prédio parecia mais silencioso que de costume e a manhã está marcada por um nevoeiro que abafava os sons e os transformava, dissolvendo-os, fazendo deles o que fazia com as imagens, não será porque esse outro espaço em que eles portanto estão (outra casa, outro mundo, outro prédio, todos transformados) seja necessariamente onírico, mas antes pelo fato de que aquele cenário, indubitavelmente mimético, será, no conto, interpretado pelo olhar da literatura fantástica, que denunciará não o sonho, mas, como já se reiterou aqui, uma segunda realidade — a da Lisboa-imagem de “Trânsito”, a da Lisboa esverdeada de “Verde”. A verdade é que, em literatura, não se pode afirmar peremptoriamente que uma narrativa se processa no âmbito onírico caso o personagem não acorde no fim da história; e o mais apavorante no aspecto de pesadelo da poética kafkiana, que ganha corpo também nesse conto de José Saramago, é que, por ser afinal nesses termos “real”, o que não é permitido ao personagem é exatamente essa fuga fácil que seria “acordar”, existindo portanto apenas uma saída, a mesma por que passaram Gregor Samsa e Joseph K.: a morte, da qual o personagem de “Embargo”, como os demais protagonistas de Objecto quase, de “Cadeira” a “Centauro”, também não se poderá desviar. Finalmente, há uma evidência última que não podemos deixar de mencionar. Está ligada ao fato de que o conto de Saramago se passa em período pouco anterior ao Natal (um Natal escuro e frio, como se frisa, data que, antes de ser época de acontecimentos milagrosos, é descrita no conto como um símbolo da sociedade de 199 consumo, segundo comprovará a crítica ao trânsito congestionado que o narrador infere do pensamento do personagem: Tempo do Natal, mesmo faltando a gasolina, toda a gente vem para a rua, a empatar quem precisa de trabalhar). Trata-se da mesma época do ano em que se consuma a metamorfose de Gregor Samsa, que chega a afirmar que teria matriculado a irmã no Conservatório se não fosse a desgraça que lhe acontecera, no Natal anterior, prova a mais do inconteste diálogo entre os textos de Kafka e Saramago. No entanto, se o personagem do conto é capaz de produzir alguma crítica em relação à sociedade que o envolve, esta se limita ao aspecto do congestionado trânsito dezembrino, que surge apenas porque o incomoda diretamente, não lhe sendo possível aprofundar-se no assunto. Não obstante passar o conto percorrendo a cidade, esse homem, sem sombra de dúvida, não é nenhum flâneur e, por isso mesmo, realiza o seu percurso isolado na cabine do automóvel, sem praticamente interagir com a cidade em que vive. Possivelmente valeria a pena pensar se a própria máquina não poderia estar a exercer a flânerie em seu lugar: e talvez por isso mesmo, ao fim do conto, ela escape, carregando o motorista encasulado, para outros espaços externos ao urbano, como fariam os objetos de “Coisas” e como agiu o Amorim de “O Anjo” de Branquinho da Fonseca. Ora, todas essas referências a resgatarem A metamorfose, presentes em “Embargo” mas também visíveis em outras obras que citamos, são, por fim, indícios que identificamos na literatura portuguesa da presença da leitura da obra de Kafka, a qual exerceu e exerce influência, na verdade, em toda a estética da literatura fantástica que o sucedeu. Tal fenômeno ocorre também, como se verá, com o conto de Agustina Bessa-Luís, “A Pousada”, cuja proposta interpretativa apresentaremos na sequência. 6.2 Castelo A Pousada Como chovia, L. procurou atravessar pela margem do jardim público, esquivando-se aos pingos que caíam das tílias florescidas. Uma rapariga que vinha em sentido contrário pareceu-lhe indicada para o informar. — A Pousada?! — disse ela, meditativa. E como aquilo, possivelmente, de maneira nenhuma a interessava, guardou silêncio por um espaço infinito, enquanto que, com a biqueira da botina, agitava a água de um charco. — Acho que deve ser por aí perto, não sei. — Aparentava o modo aborrecido, vazio, de uma criança que vê um projecto gorado e não acha mais alternativa que 200 voltar à insipidez do lar. Estava literalmente encharcada pela chuva que se derramava, a prumo, com um fragor repicado sobre as pedras e as folhagens tenras de primavera. — Abrigue-se, ande! — aconselhou L., já depois mesmo de continuar andamento. Ela fingiu não ouvir, mas voltou-se para o observar. Tratava-se de um rapaz de aspecto não muito optimista, tímido ou talvez obcecado a ponto de parecer extravagante; trajava um impermeável demasiado pequeno para a sua estatura — uma dessas peças de vestuário, sebosas, de costuras rapadas, e que, mesmo quando adaptadas ao corpo de quem as usa, não perdem aquela característica de andrajos pendurados às portas dos adelos. Levava consigo uma velha maleta de fibra que, pelo modo como ele a carregava, julgar-se-ia vazia. Esteve um momento à borda do passeio, olhando dum lado ao outro da rua, a gola levantada até meia face, e com todo o ar dum forasteiro um tanto desamparado na própria desorientação. A rapariga não estranhou aquilo. Era pela altura da feira, a vila estava repleta de desconhecidos que vagueavam pedindo informações aos transeuntes e no limiar dos estancos. O indígena zombava deles, ou pelos hábitos ou pelos sotaques típicos, ou unicamente por esse elemento de repulsão que se ausculta entre homens e bichos de diferentes castas e tribos. Porém, a feira era, ali, instituição do forasteiro; instituição antiga e cuja origem, ligada decerto à disposição topográfica da vila, ninguém sabia mais. Nos meados de Maio, e como que motivado por um fenómeno do instinto, hordas de feirantes invadiam aquela praça que, durante o ano inteiro, era como uma imensa arena cuja nudez despertava, ao contemplá-la, um sentimento de desolação e de pungente culpa. Erguiam-se barracas e pavilhões. Na fachada de tendas coroadas de luzes, flutuavam bandeirolas escarlates. Negociava-se em gado, em cereais, em ferragens, em lã. Desde a embocadura do beco dos oleiros, viam-se os tornos que giravam, gingando, e as ânforas com os seus desenhos gentílicos em vidrado sobre o barro. Os mostruários de oiros dos ourives cintilavam foscamente sobre veludos. E a mercadoria dos curtidores, que espalhava um fedor macabro, empilhava-se no interior dos cacifos iluminados a morrão de candeia. Vendiam-se as primeiras cerejas, o requeijão de cabra. O cheiro do queijo seco e das gomas que embebiam as peças de algodão distinguiam-se bem, porque o ar era rarefeito, tão penetrante e fino que respirá-lo obrigava os pulmões a uma opressão dolorosa. Porque a vila era situada na vertente da montanha e em plano muito elevado. Nas madrugadas de inverno viam-se, de cima, os flocos das nuvens, donde despontavam beirais e cataventos; e os cálices dos lírios que cresciam no rebordo dos muros pareciam vogar sobre a névoa algodoada, e eram como que pintados num relevo de espesso óleo sobre uma tela. Talvez porque era aquela uma terra que, com o tempo, se descentralizara das encruzilhadas, se não dos interesses, da civilização, não continuava muito progressiva. Excepto naquele período de feira, a vida decorria ali numa cadência em que o supremo elemento espiritual era a conformação. Definida outrora como uma grande estação de comércio, não mantinha senão um prestígio muito abalado, pois que as velhas glórias só se perpetuam alimentando-se de glórias novas. Ora, a feira significava, agora, apenas um mercado de géneros comezinhos e medíocres. Mesmo as mercadorias raras encontrariam escasso público naquela atmosfera de estagnação. Tinha passado tempo em que frequentavam a feira os mercadores do Oriente, e os intendentes dos nobres subiam a montanha nas suas liteiras de couro, rodeados de guias e palafreneiros queimando archotes de resina para afugentar os lobos, atochando de ferro os trabucos, para intimidar párias e salteadores. A vila, em si, mantinha uma certa atmosfera de estacionamento, de pausa, vizinha da decadência, com as suas pedras de armas sobre arruinados portões, o coreto ao centro do jardim público, com os suportes de ferro das partituras caídos contra a balaustrada. Recente, havia só a Pousada. Era uma branca mansão embonecada, com reixas abauladas ao rés-do-chão, e destinava-se a albergar como hóspede de honra todo aquele que contribuísse para o esplendor e a sobrevivência da feira. Apesar de a lotação da Pousada se manter esgotada e um bom número de personalidades cirandarem pelos seus corredores e abancarem no refeitório com uma pontualidade imperturbável, a feira nem por isso estava mais brilhante, e nela menos que nunca abundavam os produtos originais ou de sensação. Isto magicava L. enquanto ia atravessando pela orla do parque, esgueirando-se sob as tílias que, movidas pelo vento, eram como inopinados chuveiros. Ele tinha cruzado em toda a extensão o recinto onde acampava a grande turba, desde o bufarinho mais humilde, com o seu tabuleiro de bagatelas suspenso com uma correia ao pescoço, até aos expositores de raridades. Nada vira de inédito, se bem que se detivesse farejando aqui e além as barracas, de cujo interior vinham lampejos estranhos, risos estrídulos de mulheres de trunfa loira como a rama seca do painço. Às vezes não era mais do que uma tropilha de saltimbancos que subira a montanha para fazer render o seu espetáculo de 201 bichos amestrados ou monstros de olhar resignado entorpecido. Gente promíscua e faminta, que dormitava ou altercava rolando-se entre os fardos das forragens dos cavalos normandos, em cujas ancas pulavam os equilibristas. L. afastava-se com um gesto de asco mal dissimulado com a sua expressão de piedade. Uma por uma, ia espiando as tendas desmanteladas pelo aguaceiro, não isento duma angústia funda, impaciente. As precauções que tomava para abrigar a sua pobre maleta pareciam tão comoventes quanto inúteis. A chuva parecia ir despedaçá-las fazendo despegar os rótulos das hospedarias que conhecera no caminho. A chuva alagava toda a feira; lonas rasgadas flutuavam; ouvia-se, nos seus redutos, o mugir do gado; e o cheiro do pêlo, que desprendia vapor, vinha de mistura com outros cheiros nauseabundos, de legumes que apodreciam, de peixe acamado em salmoura. Ouvia-se um gorgolejar de esgotos, e cataratas de lama precipitadas das ruas escarpadas alastravam na praça, formando um lago onde empolavam bolhas, como um pântano que referve. No enxurro, boiando entre cascas de frutas, vinham flores, cheias de frescura, com gotas de água tremendo-lhes nas pétalas. Penosamente, L. foi avançando, chegou à parte alta da vila. Barrada ao leste pela montanha, ela aparecia inteiramente submersa naquela cortina de água que caía como cinza peneirada do alto. L. olhou em volta. Não se avistava ninguém. Apenas via à sua frente a rua — velha rua de burgo, com essa aparência de destruição e abandono que têm certas ruas que ficaram, na verdade, inacabadas. A soledade do lugar comunicou-lhe um receio que não sabia se provinha da própria desorientação dos seus passos, se da estranheza que bruscamente reconheceu nos seus instintos e na sua própria realidade. Teria retrocedido, se não visse a rapariga. Sem ser bela, exprimia certo tipo de harmonia exótica que pode impressionar até à fascinação. Chamava-se talvez Maria. A sua voz possuía aquela vacilante entoação própria dos que receiam ser demasiado jovens para que se lhes atribua personalidade. — Não sei onde é a Pousada. Deve ser por aí. Corou ao escutar a própria insolência, e L. voltou o rosto, para não a perturbar ainda mais. Com a desgarbada atitude de quem se pressente vigiado com ar de crítica, continuou a andar. Mas ela chamou-o. — Espere aí. — Aproximou-se. Com o calçado raso, o andar parecia bambo, ligeiramente flectido para trás. — Acho que sempre lhe posso indicar. L. limitou-se a esboçar um agradecimento. Caminharam lado a lado, subindo sempre, tomando por ladeiras um tanto escuras mesmo àquelas horas da manhã. Às vezes, um arco de pedra surgia pela frente, sem outro intuito que não fosse ligar os muros meio derruídos onde se agitavam longas varas de roseira e hastes de girassol. — Leve algum recado para a Pousada? — perguntou Maria, sem abandonar o modo hirto e descontente. — Vou instalar-me lá, durante a feira. — Vai? Se ela denunciou vivacidade e surpresa, vingou-se tornando a expressão mais fechada. Era como todos os adolescentes, para quem uma reacção pessoal de enorme importância, porque lhes enche o espírito dum desmedido senso de responsabilidade quanto à impressão que desejam causar. Via-se, acima de tudo, que ela não sabia que fazer de todas as emoções inéditas que a assaltavam como outros tantos casos de consciência. — Disseram-me que eu podia ficar lá, na Pousada — disse L. Maria compreendeu que ele era decerto um desses ambiciosos concorrentes da feira, dispostos a impor os seus medíocres produtos, valendo-se para isso da influência e do prestígio da Pousada. No íntimo, ela desprezou-o e quis fazer-lho notar com olhares repassados de secura. Mas L. não teve o mínimo cuidado em reparar neles. Divagava, mergulhado numa profusão de pensamentos exaltados e tão simplesmente felizes que lhe davam ao rosto características delicadas e infantis. Entretanto, chegavam. Tinha passado a chuva, mas as goteiras da Pousada despejavam a água ainda represa. E esse ruído de cachoeira, caindo, rente às frestas das caves, no chão de cimento, provocou em L. uma sensação entusiasta e ágil, de jovialidade, igual ao impulso físico que estimula a brincar uma criança. A Pousada, com as suas persianas verdes a meio-correr, as inúmeras chaminés que não fumegavam, não impunha qualquer aparência de actividade. Logo no átrio, L. foi tomado de surpresa ao receber como que um jacto de calor; envolveu-o o bafo dos caloríferos, e ele manifestou o seu prazer com uma exclamação voluptuosa e inocente. Sacudiu os cabelos molhados, ao mesmo tempo que imprimia a todo o corpo uma agitação brusca, exactamente 202 como um cão que se sacode. Maria retirava-se em silêncio, muito hostil porque estava profundamente vexada com o proceder do companheiro. Também ela achava o átrio quente, ameno e bonito; e aquelas brasas fingidas na lareira de tijolo, brilhando sobre a grelha limpa e ao lado dos atiçadores sem uso, causavam-lhe maravilha. Mas mantinha-se inescrutável. — Não me deixe ainda — disse L. Reteve-a, segurando-a pela manga, cheio de uma familiaridade tocante, porque insinuava gratidão. — Porquê? Ora, porquê?! Seguiu-o, aparentemente de má vontade, até ao balcão onde o empregado, de tão imóvel, parecia ter subitamente falecido, inclinado sobre o livro de registos. — Não há quarto — informou. Com essa cortesia estereotipada que usam aquelas a quem a profissão obriga a lidar com fila de anónimos, cada um dos quais tanto pode ser um ministro como um aventureiro, ou ambas as coisas, ele acrescentou: — Não há um só aposento disponível, não. — Como diz? Não entendo isto. Supunha que eu tinha direito a alojamento aqui... — E L., que tinha retirado a carteira do bolso, pôs-se a separar alguns documentos que o identificavam. — De facto... — O empregado tomou um ar indeciso ou simplesmente distraído. O telefone tocou e, enquanto atendia, ele continuou em voz rápida e calma, tapando levemente o bocal com os dedos: — Mas não temos um só quarto. De resto, não houve da nossa parte compromisso formal; não comunicámos oficialmente com o senhor. — Oficialmente?! — L. era presa de uma perplexidade imensa. — Isto é resposta? Então a própria organização da Pousada, criada exclusivamente para casos como o meu, não é já um compromisso formal? Como posso cuidar outra coisa senão que me aceitam, que me recebem aqui e que a minha presença não corresponde a outra coisa que não seja o cumprimento da lei da própria Pousada? — Por favor... — O empregado falou com modo apaziguador, trocando olhares expressivos com Maria, que se mantinha à parte sem qualquer indício de parcialidade. — Eu sei que a lista não o indica como hóspede presumível; que não consta aqui quarto reservado para o senhor. Pode verificar o senhor mesmo. Além do que não há quartos. Pode verificar. Adiantou-lhe o livro sobre o balcão, acompanhando o gesto com expressão entre melíflua e ofendida. Maria adiantou-se, discreta, folheou umas páginas. Via-se que tentava atenuar os modos rudes do seu companheiro, pelo contraste da sua distinção e do seu critério. — Não se trata disso — rosnou L. — E fez deslizar o livro ao longo do balcão. — Não há ninguém a quem eu possa falar? Um gerente, um encarregado qualquer da administração? — Não acho possível. Mas pode procurar informações na secretaria. Esperaram mais um bocado no átrio, até que um paquete, entalado num estreito dólman vermelho, os guiasse por um corredor apenas iluminado pelas bandeiras, de vidro opaco, das portas. Viam-se na obscuridade os verdes húmidos das plantas ornamentais. As folhas da begônias, de um soturno escarlate, com a sua penugem áspera que brilhava como uma arrepiada superfície de cincelo, roçavam-lhe no rosto, ao passar. — É aqui — disse o rapazinho, cuja cabeça parecia despontar, como por um truque de magia, do hirto colarinho do dólman. Entraram. Desde o começo, o secretário que os atendeu pareceu encantado. Era um homem um tanto obeso e que conservava as mesmas feições insípidas e graciosas duma criança, mas já murchas e envilecidas. Era extraordinariamente loquaz. Acima de tudo, preocupava-o a afirmação da sua categoria e o esclarecimento dos seus poderes. Ouvia a reclamação e as queixas de L. com modo bonachão e fatalista, como se tudo aquilo fossem apenas lamentações dum doente imaginário que, apesar de tudo, há-de morrer um dia, como toda a gente. — Mas porque, antes de mais, não se apresentava no pavilhão dos expositores? É um pavilhão patrocinado pela Pousada e pode levar uma recomendação minha, que será admitido. Porque é que não quer? E fazia-se pródigo, oferecendo oportunidades de divulgação, de comunicação, de êxito, com um modo radioso e inspirado. Maria retribuía com sorrisos humildes e deslumbrados aquele afável dinamismo. L., beatificamente, embasbacava, feliz, a amargura do seu primeiro embate com a Pousada já esquecida, como uma ferida que o calor adormenta. Então o outro foi mais entusiástico ainda, perante aquele auditório sugestionável. Pôs-se a falar de si próprio, da sua fogosidade empreendedora, dos seus planos e sonhos barbaramente, mesquinhamente reprimidos pela mediocridade das instituições. Numa voz petulante e usando um tom filosofal, criticou a Pousada, sem mesmo parecer importar-se com as portas abertas para outros gabinetes e os 203 empregados que repassavam pelo corredor, atirando para dentro do aposento aquele olhar contido, intencional e fátuo que têm os membros mais modestos dum agregado conceituado pelo público. — Isso mesmo! — aplaudia L., totalmente conquistado por aquela mordacidade tão arrojada e tão clara. — Veja a minha situação: o facto de a Pousada ser instituída como medida de estímulo aos da minha condição, acho que já constitui um compromisso. E veja como me recebem: “Volte embora, ou pereça, ou arraste-se por aí pelos becos da feira, mendigue aqui, adule além, subsista como puder, meu amigo. Ninguém lhe pediu que viesse; ninguém pediu a sua contribuição. Pelo menos, não recebeu comunicado oficial.” O outro tergiversou e não respondeu, continuando com a sua charla apenas interrompida. Ele exibia uma turbulência incoerente. Como todas as pessoas que vivem no domínio dos interesses, emprestava um valor imenso às coisas da sensibilidade, tributando-lhes um respeito grotesco, justamente porque eram para si letra morta. Mas L. apenas via nele uma influência protectora, alguém cujo cargo tinha de corresponder a algo de justo e eminente. E esforçava-se por interpretar-lhe com elevação as frases ocas, e com grandeza a nulidade, a abjecta maledicência de lacaio. Tudo isso — pensava — não era mais que outras tantas manifestações dum espírito que sofre e se revolta com as deficiências do ambiente, e que é subordinado pela força da engrenagem da própria vida. Assim, com esta grata opinião, despediu-se, e saiu com Maria. Ambos estavam alegres. Ela, que nessa mesma manhã era uma desconhecida chapinando na chuva, erguia agora para L. os olhos cheios de um ânimo afectuoso e quase tentador. Os seus cabelos pretos rolavam-lhe nos ombros e eram como longas plumas riçadas nas extremidades. Notou L. que as botinas com que ela mergulhara nos charcos eram, na realidade, galochas, das quais se desembaraçara decerto no vestiário da Pousada. Esse indício duma índole prática, muito positiva, desagradou-lhe de uma forma indefinível. E por tal motivo experimentou em relação a Maria um insidioso sentimento de desdém. Mas logo o esqueceu. Ela mostrava-se duma solicitude ligeiramente importuna, e não escondia o intuito de o acompanhar, agora que alguém da Pousada parecera fixar-lhe um destino. L. não era, portanto, um vagabundo; tão-pouco um forasteiro vulgar, desses que se veem de noite defronte das vitrinas, cotejando os preços dos artigos ou imaginando o sabor das flores de maçapão. Assim, ela entregava-se a pequenos transportes de afabilidade que eram como que ditados pelo remorso do seu procedimento anterior, menos caloroso mas tão impertinente como a sua consideração actual. Desceram ao recinto da feira. Um turbilhão de gente parecia redemoinhar ao centro e alastrar como ondas que se vão atenuando à medida que se aproximam das margens. O sol descobrira-se e, fraco, ele iluminava toda a vertente, débeis flechas de luz penetravam nas ruelas onde os cães fossavam em detritos, e os galinheiros, rentes aos muros baixos, davam ao ambiente um cunho doméstico e também sórdido e abandonado. Brilhava o papel envernizado dos cartazes da feira. Das lamas que iam solidificando, de toda aquela multidão que se agitava e fremia, arrebatada ao longo de todos aqueles becos e acampamentos de comércio, subia um cheiro indestrinçável e lúgubre. L., que caminhava consultando a espaços o cartão que o conduziria ao pavilhão da Pousada, sentia-se invadir por um descontentamento submisso. Enviava em todas as direcções um sorriso tímido e contrafeito. — É aqui — disse Maria. Ante a reacção de L., ajuntou ainda: — Talvez seja engano... Contemplavam eles a espécie de pardieiro que tinham diante, já situado num lugar excêntrico da feira. Não havia engano. Simplesmente aquilo não era o pavilhão da Pousada, mas um estabelecimento de certo modo agregado à mesma administração. Isto lhes explicou um cavaleiro de voz singularmente pomposa e atitudes cheias duma nobre reserva, como acontece com actores de segunda ordem na interpretação de mordomos e diplomatas. Ele era pródigo dessas atenções pressurosas que é comum antecederem um má notícia. Fê-los passar para o interior da barraca, cujas paredes de lona estavam impregnadas de salitre. Numa velha braseira de cobre fumegavam alguns carvões, e pesado cheiro de gás, que deles se desprendia, enchia o ar. — Tenho muito prazer — disse o homem. — Pela minha parte não vejo inconveniente à sua admissão como concorrente, se é um dos inscritos na Pousada. — Mas justamente não sou hóspede da Pousada. Sou recomendado da Pousada, mas não hóspede de lá. — Ah, sim?! Mas só tenho permissão para franquear admissão aos hóspedes da Pousada. — E, ante o rosto ansioso de L.: — Bem, o senhor compreende que o seu caso é um tanto raro, 204 diremos, até, inédito. Recomendado, mas não hóspede. Sendo hóspede, isso corresponde a uma recomendação, mas bem vê que uma recomendação não corresponde a ser hóspede... — E então? — Vou comunicar com a Pousada, eu próprio. Procure-me depois, talvez amanhã. A minha boa-vontade é excelente, e o seu caso interessa-me. Lembro-me que uma vez... Contou coisas. Falava, fazendo às vezes o gesto de atirar sobre o ombro uma toga romana. Era explícito, quase servil, mas de tudo o que dizia retirava todas as oportunidades que pudesses reatar o assunto insolúvel de L. Ensosso e sem alegria, este escutava-o. O ar denso, as paredes ressumantes de cristais provocados pela humidade, submergiam-no numa disposição amarga. E aquele homem, lógico e prudente, exasperava-o. Porém, mais de uma vez a sugestão das promessas, das palavras deferentes, dos risos, das expansões fúteis e esgotantes hipocrisias, acabavam por o adormentar. Quando abandonou o miserável abrigo, entardecia, e na mole rumorosa da feira acendiam-se e piscavam os anúncios luminosos. Pregoeiros incitavam às rifas, sacudindo nas mãos os maços de bilhetes. Nos recantos mais esquivos giravam as roletas iluminadas pelos bicos dos gasómetros. O horizonte exauria-se numa claridade melancólica e fatal, comunicada às serras, cujos cimos dentados se entreviam, sobrepostos, dum azul marinho e penetrante. — Voltamos à Pousada? — quis saber Maria. Ela era infatigável, duma actividade toda resoluta e até inconsciente. Como apenas um pequeno contributo moral entrava nessa energia, não se ressentia com decepções. L. estava exausto, faminto, sem coragem, e olhava o percurso da Pousada com ar pouco decidido. Era noite quando chegaram. Agora, o átrio não lhes causou aquela primitiva impressão de cordialidade e estímulo. Todo o regionalismo peralvilho dos seus cabides e o conventual dos seus bancos pareciam ridículos e sem objectivo. O empregado dos registos não deu mostras de os reconhecer. E o pequeno grumete de farda escarlate esgueirou-se e simulou não ter ouvido, quando L. o chamou tentando fazer-se anunciar e ser introduzido junto de alguma autoridade. Esperaram. O mestre-sala, que às vezes vinha até ao limiar do vestíbulo, perscrutando firmemente a entrada e os recantos sob as palmeiras anãs, causava-lhes nervosismo. Respiravam ali uma secreta intenção de represália. Era alguma coisa que lhes aconselhava prudência, e, durante algum tempo, não se atreveram a pronunciar quaisquer palavras entre si, com medo de denunciar um aspecto de hostilidade no seu ar de conciliábulo e segredo. Chegava até eles um aroma de comidas, o vapor dos consommés que entreviam passar em terrinas de frisos doirados; ouviam o tilintar do gelo nos baldes de cristofle. E todo o luxo que se insinuava discretamente através dos cortinados de veludo cor de canela, ligeiramente manchados de fumo, toda aquela evocação de sensualidade repousada, de coisas caras e distantes, feria-os no mais íntimo do coração. Pensava L. que aquela rapariga, cuja companhia aceitara como um pacto, o embaraçava agora com o seu rosto desfalecido e a expressão azeda do olhar. Mandá-la-ia embora, se ela não tomasse aquilo com demasiado melindre. Mas ela nem cismava, por sua parte, em ir-se embora. Antes fiscalizava as inúmeras portas de acesso aos salões e aos andares superiores, seguia o vulto dum serviçal, imaginando que meandros ele conheceria, que personagens encontrava ao longo das alcatifas vermelhas onde os passos faziam um rumor fofo e misterioso. Sozinha, não lhe seria difícil percorrer a Pousada, chegar à influência hierática e estranha que dimanava do centro daquele labirinto. Mas havia L. E só o talhe do seu corpo na sombra do átrio lhe provocava um pudor violento, como se nele auscultasse a captação dos seus pensamentos. Isto enchia-a de rancor, de intranquilidade, tanto mais que se sabia injusta. Conservava-se pois hirta, sem cuidar em esconder o desencanto que lhe causava L. — Descubra qualquer coisa. Veja se descobre como há-de resolver isto... — Ora, o quê? — E ele ficava-se a murmurar depois, cheio duma torturada sinceridade: — Não sirvo para isto, não sirvo para isto... Maria não sabia que contestar. Ela pressentia quanto era indigno permanecerem ali como cães escorraçados que se insinuam de rojo, ganindo uma lamúria toda submissa. De espírito mais árido, porém, ela suportaria tudo, se, por um interstício da sua própria razão, ela entrevisse uma possibilidade, por ilógica, por fantástica que fosse. Optando sempre pelo seu plano de actividade, foi espiar à entrada do salão, no qual, sob um tecto baixo onde entrecruzavam pesados barrotes de castanho, os hóspedes jantavam. — Que deseja? 205 Junto dela, o mestre-sala, no seu jeito de se curvar confidencialmente sobre o ombro dos convivas, parecia pronto a sugerir uma salada ou uma marca de vinhos. Maria retrocedeu, confundida. — Não é nada — disse. E já o homem se afastava, sem mesmo lhe conceder um olhar repreensivo, quando ela o interpelou com a rudeza desesperada dos tímidos: — Aquele senhor... — Apontou L., que estava quieto e sonolento junto da sua pequena bagagem. — Ele quer falar com alguém. É muito importante. O homem pôs-se a divagar, decerto chocado por aquele problema inédito, fora do hábito das suas listas de acepipes, dos seus conselhos gastronômicos, das gorjetas e das reverências. Rispidamente, chamou um criado, disse-lhe qualquer coisa baixinho e com expressão de comando. Mas logo interveio o empregado dos registos, que até ali presenciara tudo com fleuma, sem deixar de atender o telefone, a orelha colada ao auscultador, o olhar extasiado e seráfico: — Olhe que no gabinete não está ninguém. — E você sabe se eu ia mandar recado para o gabinete? E se mandasse? Há alguma disposição em contrário? — Olha que esta! — tornou o homem do balcão, agora muito assanhado. — tenho instruções para... Estabeleceu-se um debate. O moço do elevador chegou-se ao pé, veio opinar também, num segredar venenoso. E o mandarete, com a barbela entalada na gola rígida do dólman, disse coisas, todo pasmo, ora acirrando ora conciliando os partidos, porque era pequeno e vivia sob a caprichosa lei de todos os mais. — A minha responsabilidade... — bramia surdamente o mestre-sala, empertigando-se dentro da sua jaqueta branca de cerimónia. — E as ordens que recebi... — replicava o outro, digno, muito ressentido. Aquilo tornava-se uma altercação pessoal, reflectindo rivalidades; um desquite de classes em reles discussão de direitos. Ambos se mediram por uns momentos, opondo-se a voz ferina de um ao tom melindrado do outro. Fatigaram-se por fim, foram cedendo, abrandados pela tolerância mútua, e em breve trocavam palavras camaradas, porque, eles sabiam, eram demasiado dependentes, estavam por demais ligados por um ódio comum aos superiores, para se darem ao prazer de serem inimigos particularmente. — Afinal, ele que pretende? Quem é ele? Voltaram-se para L. E ali estava aquele forasteiro de aspecto duvidoso, vestido com aquele impermeável mole e pingão, como acontece quando tais roupas foram demasiado usadas e lavadas. Quem era ele, afinal? E que pretendia? Calaram-se todos, comunicados entre si pelo vexame de terem dado o espectáculo dos seus atritos, da sua desunião, perante semelhante tipo. Trocaram mais algumas frases entrecortadas, fingiram uma súbita pressa, dispersaram-se, não sem antes fixarem Maria com uma intensidade calculista, muito cínica. No balcão ficou o empregado mexendo preguiçosamente nos seus papéis, anotando números, coçando às vezes a caspa com a ponta do lápis, e aparando as unhas. Quando, tempo depois, lhes vieram dizer que se retirassem, que a Pousada ia fechar, Maria, vergando a cabeça sobre o peito, pôs-se a chorar, inconsolável. Até o último momento, ela retivera L., usando para isso todas as suas artes, ora suplicando, ora apresentando-se a si mesma como vítima da sua deserção. Preferia que a considerassem uma pequena rameira que vem implorar favores, a ser expulsa daquele lugar tépido onde ela sonhava e esperava, a todo instante, o advento de alguma coisa definitiva, deslumbrante. — Até amanhã! Amanhã podem ter mais sorte! — disse o porteiro, tocado por aquelas lágrimas, e dando à voz uma qualidade entre paternal e descrente. Maria sentiu-se um tanto confortada com aquilo. De tal modo ela se identificava com o caso e a vida de L., que não lhe ocorreu que se empenhava e sofria, de certo modo, por alguma coisa que lhe era verdadeiramente estranha. Ele era-lhe perfeitamente estranho, aquele forasteiro de andaina enxovalhada e que parecia carregar uma maleta vazia. E eis que ele não estava sequer perturbado e triste, agora que a Pousada se fechava nas suas costas e eram corridos os portões de ferro. — Vou-me embora — declarava, com um sorriso hesitante. Era tudo. Tinham a seus pés a vila, na madrugada cheia de luar. Faixas de nuvens que pairavam baixas estavam imóveis sobre os telhados; e delas rompiam chaminés e cata-ventos, e os arcos musguentos que ligavam velhos muros e eram como fontes suspensas com a sua cachoeira 206 vaporizada a diluir-se no ar. Ar tão penetrante e fino que, respirá-lo, provocava nos pulmões e na alma uma opressão dolorosa. — Agora vou-me embora — disse L. — Vou assim, pela calada da noite, feliz porque ninguém me pode reconhecer, ninguém me vai apontar e dizer — “Aquele esteve aqui”... Seja como for, esqueciam-me depressa. Ninguém se preocupará em afirmar que estive na feira e que vim aqui. — Eu não esqueço depressa — disse, precipitadamente, Maria. Muito impressionada, entregando-se a uma expansão de ternura e de piedade, ela abraçou L. e ficou a soluçar brandamente sobre o seu peito. Ele tocou-lhe nos cabelos, que eram como penas negras e frisadas, e nem por um instante sentiu que se evadia da sua solidão. O seu coração permanecia incomunicável e fechado, e a nada mais aspirava que romper ainda mais os débeis laços da curiosidade, do interesse, do medo; nada mais desejava, para estar livre, que descer a montanha e perder-se nas profundidades inescrutáveis donde tinha surgido. “Agora vou-me embora” — pensava incessantemente. Nada mais que um forasteiro que chega e que partiu sem que ninguém o abordasse na passagem, para perguntar qual o conteúdo da sua bagagem. Maria também nada lhe perguntara. Acompanhara-o, vivera a sua mesma adversidade e compreendera a sua angústia, vendo-o perdido e sem amigos nessa terra estranha e no turbilhão da feira. Mas não lhe dissera — “Qual é o segredo da tua vida? Foi longo o teu caminho, deves estar cansado, amargurado porque a Pousada te repeliu, e é inutilmente que estás aqui. Mas podes falar-me das raras e novas coisas que decerto trouxeste contigo.” Mas ela, com a monstruosa indiferença de todos os mais, nada lhe perguntara. Sentia contra o seu peito a ressonância dos soluços de Maria, e isso não o impedia de pensar: “Amanhã, ela voltará à Pousada.” Aquilo magoava-o e, ao mesmo tempo, era-lhe grato. Fazia-o experimentar uma espécie de alívio, porque assim sabia que poderia definitivamente tornar pelos caminhos abruptos e solitários, e descer a montanha. Ela não o seguiria. Não o seguiu. Ficou no limite da vila, ora acenando-lhe, ora aconchegando os braços sob as largas mangas do casaco, arrepiada, com um abatimento que era sobretudo impaciência por se agasalhar e regressar a casa. Quando L. olhou para trás, já não a viu mais. Era quase manhã. Carreadas de toros, que rojavam atrás o cocoruto dos pinheiros, subiam penosamente a estrada, o lampião de azeite bruxuleante na névoa. Entreviam-se casebres de tabuado, hortos onde uivavam rafeiros, crianças sentadas sobre o chão de jorra, mamando numa côdea. Os burricos das leiteiras passavam com o estrupido dos cascos e chocalhar das latas. As ravinas estavam coalhadas de margaridas, violetas brancas, junquilhos bravos. L. descia a montanha. Saudava as gentes, de longe, com um brado arrogante e jovial, e o eco devolvia-lhe os gritos em tom velado e misterioso. Pôs então a desafiar o eco, inteiramente absorto nessa espécie de jogo, distraído da terra que despertava para um novo dia de feira, para a eterna ronda à Pousada. A sua voz e o seu vulto foram-se perdendo ao longe, desceram até à profundidade dos caminhos rasos entre cordilheiras, — e foi como se penetrasse com a sua pequena bagagem, 247 o seu velho impermeável, o seu coração livre e cordial, na terra imutável e sombria. “A Pousada” é parte integrante de uma das primeiras publicações de Agustina Bessa-Luís, o volume de narrativas breves Contos impopulares, de 1954, que compila textos que a autora escreveu nos três anos anteriores. O título do livro ironicamente parece traduzir-se no esquecimento a que ele será relegado pela crítica. Bessa-Luís é aqui vitimada por si mesma, como ocorre, por exemplo, com Saramago: o sucesso de seus romances e mesmo de outros trabalhos contísticos surgidos em etapas mais sólidas de sua carreira literária obscurecem as narrativas que produziu no início do seu percurso. 247 BESSA-LUÍS, A. (2004), p. 27-45. 207 Elegemos tal conto de Agustina Bessa-Luís para análise especificamente nesse momento em razão da aproximação que nos é possível fazer entre ele e o romance de Kafka O Castelo, no qual um agrimensor, contratado para prestar serviços em uma aldeia que se desenvolvera ao redor e sob o jugo de um castelo, jamais consegue ser recebido pelos responsáveis por sua convocação ou saber que demandas precisava executar, já que o Estado permanece isolado entre as paredes da impenetrável construção central. A despeito da qualidade de vila ou aldeia que as cidades das duas narrativas apresentem, nítido está que a temática desenvolvida no texto reflete questões observáveis nas cidades de médio a grande porte e, especialmente, nas metrópoles modernas. A vila de “A Pousada” ou a aldeia de O Castelo são representações minimalistas dessas estruturas urbanas mais complexas, são referências metonímicas suas, são descrições microorganizadas a refletirem traços observáveis em macroestruturas. No caso do romance de Kafka, a evidência disso se contempla no fato de que as serializações burocráticas de O Castelo são observadas no genuinamente urbano O processo. Em “A Pousada”, menos do que uma aldeia pequena, deparamo-nos com uma cidade em declínio, que já fora mais desenvolvida (embora não tenha sido uma metrópole), segundo comprovam trechos como o que descreve a velha rua de burgo, com essa aparência de destruição e abandono que têm certas ruas que ficaram, na verdade, inacabadas porque a utilidade que teria em momentos prósperos deixou de haver após a falência local. A cidade apresentada no conto é, na realidade, o mesmo palco cinzento, decaído e arruinado que sobrou das ilusões romanescas, segundo Arrigucci Jr. observa na cidade da obra Murilo Rubião, o que se percebe notadamente na urbe decadente de “A lua”. É também, portanto, uma espécie de valor distópico o que se contempla na vila de “A Pousada” (mas não futurista, tendo antes a narrativa um aspecto relativamente atemporal) que esboça, ao invés de uma tecnologia (como em “Verde” ou “Coisas”), uma burocracia que, ao contrário da promoção da organização do homem, o aprisiona em seu próprio atraso, e cujos resultados comparecem na urbe por que circula. Essa burocracia é tão somente mais uma máquina que, criada em princípio para servir ao cidadão, o subjuga, como o automóvel de “Embargo” ou os oumis de “Coisas”. E tal constatação se aplica tanto ao conto de Agustina quanto ao romance de Kafka. 208 Mas as semelhanças entre as duas obras não se atêm ao seu tema. Será, a propósito, um pequeno trecho da narrativa tcheca — em que o protagonista do romance dialoga com Gardena, dona da estalagem da aldeia na qual o agrimensor se hospedara — aquilo que nos servirá de mola propulsora para a análise que empreenderemos de “A Pousada”, ajudando-nos a recuperar a vastamente citada ideia quanto a narrativa irrealista como forma de reprodução, problematização e denúncia do real: o que, aliás, leva parte da crítica a tratar Kafka, cremos que em uma radicalização simplista e equivocada, como um autor realista, conforme destacaremos. Observemos o referido fragmento: [...] posso eu certamente penetrar seus pensamentos, senhor agrimensor, esses pensamentos que aqui entre nós carecem de sentido e que no estrangeiro, de onde o senhor vem, talvez sejam válidos.248 O excerto revela o que poderia ser uma suposta chave para uma das muitas trancas que vedam a (não mais que conjecturada) porta a qual conduz ao (ou encerra o) mítico entendimento da obra de Kafka (e pedimos perdão por tamanha falta de confiança na capacidade de análise da crítica literária diante do escritor tcheco denunciada pela insistentemente pirrônica eleição vocabular de nosso discurso)249. Ainda assim, giremos essa chave dentro da tranca e tentemos levantar-lhe o bedelho: se, 248 249 KAFKA, F. (1969), p. 109. Longe de sermos os únicos a olhar com ateísmo para a ciência da literatura quando o assunto é Kafka, vale citar Leo Gilson Ribeiro: “As histórias de Kafka são líquidas na sua contextura, querer delimitá-las é como querer capturar uma nuvem, evanescente e fugidia na sua essência de vapor e de água...” [RIBEIRO, L. G. (1967), p. 35.] Maurice Blanchot também teoriza sobre o tema: “[...] todos os textos de Kafka estão condenados a contar algo de único e a parecer contá-lo apenas para expressar sua significação geral. A narrativa é o pensamento transformado em uma sequência de fatos injustificáveis e incompreensíveis, e a significação que obceca a narrativa é o mesmo pensamento prosseguindo através do incompreensível como o senso comum que o inverte. Aquele que se limita à história penetra em algo opaco sem se dar conta, e aquele que se limita à significação não pode chegar à obscuridade da qual ela é a luz denunciadora. Os dois leitores não podem jamais se juntar, podem ser uma vez um, uma vez o outro, sempre compreendem mais ou menos aquilo de que é preciso. A verdadeira leitura permanece impossível.” [BLANCHOT, M. (2011), p. 12.] Ora, para Gilles Deleuze e Félix Guattari, tal leitura estará marcada por “tentativas para interpretar uma obra que, de facto, só propõe a experimentação” [DELEUZE, G.;GUATTARI, F. (2003), p. 19.]. E Adorno, por sua vez, apelidando o autor como o parabolista da impenetrabilidade (o que o define bem, especialmente na qualidade de criador de O Castelo, vindo-nos literalmente a propósito), ratifica que “mesmo quem buscasse fazer justamente dessa perda a chave seria induzido ao erro, na medida em que confundiria a tese abstrata da obra de Kafka, a obscuridade da existência, com o seu teor. Cada frase diz: ‘interpreta-me’; e nenhuma frase tolera a interpretação.” [ADORNO, T. W. (1998), p. 241.] 209 apesar da existência de um narrador em terceira pessoa, a narrativa de O Castelo (de acordo com o que acontece via de regra nos textos do autor, como, para nos atermos aos exemplos mais notáveis, com o Josef K. de O processo ou o Gregor Samsa de A metamorfose ou o Karl Rossmann de América) se realiza sob a ótica do protagonista da trama, será com K. que o leitor se identificará. Portanto, este espaço estrangeiro de onde o agrimensor viera e a que a estalajadeira faz alusão, em que a ordem difere da que rege os acontecimentos na aldeia, identificar-se-á precisamente com o mundo empírico do leitor. Rudolf M. Stock reconhece que o herói de O Castelo “chega a saber de início que tudo o que é natural para os habitantes da aldeia lhe é estranho”250. Mas, a esta altura, a fala de Gardena promove interessante inversão, revelando afinal o ponto de vista que não pertence ao protagonista; nela se desvenda que o mundo de K. (e, por extensão, o mundo empírico do leitor) é que parece absurdo (já que seus pensamentos aqui entre nós carecem de sentido) — relação que já poderia até ser dedutível, mas sintomaticamente surge de forma explícita no texto e esta opção do autor não deve ser despicienda. Assim, as palavras da estalajadeira sustentam a tese de que o absurdo em verdade reside menos no espaço da narrativa do que na própria atmosfera em que se processa a experiência real do leitor, da qual, todavia, a literatura será nada menos do que uma reprodução, ainda que imprecisa. E eis-nos diante do desmascaramento de uma segunda realidade, para relembrar as palavras de Jaime Alazraki, uma realidade mais profunda, mais real, do que a do senso comum a que se referiu Anatol Rosenfeld, tudo isso, de certa maneira, fundado em Kafka. Sob este complexo jogo — cuja regra é demonstrar que a narrativa supostamente insólita é em última instância uma representação, em algum grau, mimética de uma realidade absurda — a obra de Kafka ganha contornos de um peculiar realismo — apesar do seu contraditório aspecto indubitavelmente fantástico — realismo, segundo Modesto Carone, “sem dúvida ‘problemático’, uma vez que colide com a expectativa do leitor sobre o que é realismo — mimese ou imitação da realidade, para simplificar as coisas”251. Kafka, então, na verdade — e destaque-se que é essa a crença que nos guia pela leitura de sua obra — é tão realista quanto pode ser toda a literatura fantástica novecentista, uma vez que esse 250 251 STOCK, R. M. (1973), p. 95. CARONE, M. (2009), p. 38 210 suposto realismo apenas é sintoma de um novo fantástico que a poética kafkiana estava a fundar. São, contudo, relativamente mais recentes, mas não necessariamente infrequentes, as pesquisas que defendem o realismo kafkiano, conforme o demonstra Michael Löwi: Nem Adorno, nem Benjamin, nem Karel Kosik — muito menos André Breton! — puseram questões sobre o realismo em Kafka. É um tema que não mobilizou a atenção dos marxistas críticos. Em compensação, no movimento comunista “pós-stalinista”, o debate concentrou-se essencialmente sobre esta grave interrogação: o autor de O processo era ou não um escritor “realista”?252 José Hildebrando Dacanal também analisa: Em O processo e O Castelo não temos a realidade perdida de Proust, a realidade “massificada” e vulgarizada de James Joyce, a realidade polivalente, vista sempre de vários ângulos, que aparece em Virginia Woolf e Henry James ou a realidade simplesmente, mas em crise, de Thomas Mann. Em Kafka, neste primeiro nível, temos, como já disse, o romance real-naturalista. Mas é ao eliminar a relação sócio-histórica de forma radical, absoluta, total, que Kafka cria o seu mundo do absurdo familiar, como o chamo.253 E Jean-Paul Sartre é categórico ao afirmar sobre Kafka que “seu universo é ao mesmo tempo fantástico e rigorosamente verdadeiro”254. Também Filipe Furtado será um dos estudiosos deste gênero literário a reconhecer que “torna-se difícil supor, por exemplo, uma abordagem integralmente fantástica de Die verwandlung de Kafka, muito embora a narrativa encene uma óbvia transgressão do real”255. Pois será essa dubiedade o elemento que colocará, por fim, o autor tcheco na posição de um divisor de águas no processo de desenvolvimento desta literatura classificada a princípio como fantástica, como o demonstraram Todorov e Sartre. 252 LÖWI, M. (2005), p. 187. DACANAL (1973), p. 61. 254 SARTRE, J. P. (2005), p. 147. 255 FURTADO, F. (1980), p. 79. 253 211 Ao expor as mesmas indagações teóricas que circundam o problema da relação entre o fazer poético de Kafka e as definições empregadas para demarcar os limites do gênero fantástico — que, aliás, exaustivamente levantadas, são mesmo um (quase obrigatório) lugar-comum nas pesquisas acadêmicas que versam sobre o assunto — José Paulo Paes nos remete a outros autores que seguiram a esteira kafkiana: Dificilmente se poderia falar aqui em hesitação por parte do leitor ou em recusa sua às interpretações poéticas: a ele não resta outra alternativa que não seja a de aceitar em si e por si esse fantástico universo ficcional, sem mais se preocupar em cotejá-lo com o universo real. O mesmo vale, em maior ou menor grau, para os textos de outros ficcionistas da mesma linhagem, como Borges ou Cortázar. Com razão observou Todorov que a obra de Kafka nos põe diante de “um fantástico generalizado; o mundo inteiro do livro e o próprio leitor estão incluídos”. Mas o mesmo Todorov não consegue encaixar bem a ficção kafkiana na sua definição restrita de fantástico, pelo que opta por excluí-la, desterrando-a para as áreas circunvizinhas do maravilhoso e do estranho, áreas das quais [...] ele timbra em diferenciar o fantástico propriamente dito. No entanto, Jean-Paul Sartre, referindo-se à identificação total com o absurdo a que os textos de Kafka implicitamente obrigam o leitor, diz: “E nossa razão que devia endireitar o mundo posto ao contrário, arrastada por esse pesadelo, torna-se ela própria fantástica”.256 Uma vez que a obra de Franz Kafka representa uma viragem actancial no percurso histórico da produção de textos fantásticos, compreender o seu legado ficcional já seria então fundamental para mais bem conhecer os textos de outros ficcionistas da mesma linhagem aos quais se refere José Paulo Paes. E, se Paes falara de Borges e de Cortázar, temos ainda outros críticos a identificar novos ramos desta árvore genealógica, como Günter Anders a citar Brecht, Daniel Piza a lembrar Italo Calvino, Leo Gilson Ribeiro a recordar Lewis Carrol, o próprio Jean-Paul Sartre, como se viu, a basear o seu artigo em um conto de Blanchot e, por último, nós a nos arriscarmos a citar, especificamente no âmbito da literatura portuguesa, os (quase contemporâneos de Kafka) Mário de Sá-Carneiro e José de Almada Negreiros, José Osório de Oliveira e o Tempo de exílio em que segundo António Quadros “vamos encontrar os mais fortes 256 PAES, J. P. (1985), p. 188-9. 212 parentescos com os contos de Franz Kafka”257, o fantástico de José Régio em que Duarte Faria encontrou “um modo kafkiano de relações que, dentro duma economia emocional e dum rigor de escrita muito singulares [...], nos remetem não para uma implantação especulativa do seu ‘caso’, mas para a esfera cósmica do mundo circunstancial”258, o surrealismo-cotidiano de Mário-Henrique Leiria e Mário Cesariny, os Casos do Beco das Sardinheiras de Mário de Carvalho, e ainda, já no século XXI, as narrativas curtas de A casa do fim de José Riço Direitinho, ou de A mulher que prendeu a chuva e outras histórias de Teolinda Gersão, e mesmo A caligrafia da solidão de Maria João Cantinho, entre outros. É dentre tais ramificações que nos deparamos, no início dos anos de 1950, com a Agustina Bessa-Luís do volume dos Contos impopulares (de onde extraímos “A Pousada” — opção que aqui também se justifica, para além de outros motivos, por apresentar uma deambulação compulsória, uma forçosa e pouco proveitosa flânerie do seu herói, como se verá), escritos num momento em que Kafka exercia importante ação sobre os seus temas259. É correto dizer que a influência kafkiana se estenderá para escritos que ultrapassam o início de sua carreira, o que leva Georges Guntert, muito a propósito, a citar o autor de O Castelo quando confessar admirar na autora lusitana sua “impressionante erudição literária: Sthendal, Buchner, Kafka, Proust, os grandes portugueses, principalmente Camilo, e até os mitos antigos, estão sempre nela presentes”260. Aqui provavelmente ainda valeria a pena acrescentar os nomes de Teixeira de Pascoaes e Fernando Pessoa — poetas que inspiram a criação dos personagens do romance O susto — e ainda o de Raul Brandão, com quem Agustina divide o mesmo cuidado na elaboração do discurso, notadamente em A sibila. Para mais, autentica com maior precisão a nossa proposta ensaística a declaração de José 257 QUADROS, A. (1964), p.126. FARIA, D. (1977), p. 42-3. 259 Consta anonimamente na contracapa da edição da Guimarães Editores para este livro de Agustina: “Os Contos impopulares significaram na carreira de Agustina um contacto com o dramático produzido pelas associações que a própria história do escritor pôs a claro. Kafka teve, nessa época, profunda influência nos temas de Agustina Bessa-Luís.” É relevante ainda anotar que no volume intitulado A Brusca, onde se recolhem contos agustinianos tornados públicos por veículos diversos entre 1958 e 1970, a influência kafkiana também se faz sentir em narrativas como “O convidado debaixo da mesa”, por exemplo. 260 GUNTERT, G. (1991), p. 101. 258 213 Manuel Heleno, que reconhece exatamente no conto “A Pousada” “um tom eminentemente kafkiano”261. Assim sendo, e extrapolando todo o expediente de que a poética kafkiana já nos municiaria naturalmente no processo de leitura dos contos de Agustina Bessa-Luís (e de maneira especial no que concerne a muitas histórias contadas neste específico livro de Contos impopulares), optamos por contemplar particularmente “A Pousada” sob a ótica dos estudos realizados a respeito do autor tcheco. Isto justifica não só a alternativa metodológica que adotamos em nosso itinerário de leitura como ainda ganha contornos peremptórios em função da existência de mais do que manifestas relações a se instituírem entre o enredo do conto em análise e o do citado romance O Castelo. No conto da autora portuguesa, como se viu, o protagonista, nomeado exclusivamente por uma letra inicial (L.), chega, num dia chuvoso (como K., semelhantemente, alcança os arredores do Castelo sob uma nevasca), a certa aldeia onde acontece anualmente uma feira (instituição antiga e cuja origem, ligada decerto à disposição tipográfica da vila, ninguém sabia mais). Com o auxílio de uma jovem aldeã, L. busca, em vão, hospedar-se na Pousada, estabelecimento localizado no ponto mais alto da aldeia (assim como o Castelo ficava no alto da montanha), que recebe aqueles que chegam ao lugar com a finalidade de participar do evento comercial. Assim, boa parte do conto se desenvolve a partir das tentativas do herói de conseguir uma vaga para se instalar na hospedaria.262 Estas brevíssimas linhas resumitivas já nos seriam suficientes para alinhavarmos as primeiras analogias entre o texto escrito por Agustina e o romance de Kafka, a começar, aliás, pelos títulos — O Castelo, “A Pousada” — em que os dois lugares impenetráveis das narrativas são selecionados como seus respectivos temas centrais e, por isso, como suas unidades de significação mais concentradas. Ademais, não bastasse o fato de os seus protagonistas levantarem esforços para alcançarem uma meta comum (penetrarem em uma estrutura, o que pode representar intenções de adesão a um determinado meio social — conforme, a propósito, dão conta algumas leituras de O 261 262 HELENO, J. M. (1997), p. 141. Potencializa nossa proposta o fato de que, em O Castelo, há duas pousadas, o Albergue da Ponte e a Hospedaria dos Senhores, locais em que o protagonista desse romance de Kafka se hospeda algumas vezes e de onde é expulso outras. 214 Castelo263), é curioso notar que, em ambos os casos, este objetivo torna aquela que seria a finalidade inicial da viagem (para K., a de prestar serviço de agrimensor; para L., a de participar da feira) irrelevante e marginal, num processo que anula os fins em favor dos meios. Ora, em sua citada análise a respeito das narrativas fantásticas contemporâneas, Sartre afirma que nelas o meio absorveu o fim como o mata-borrão absorve a tinta, explicando sob tal frase de efeito que esta nova modalidade do oitocentista gênero literário funcionava como a revolta dos meios contra os fins, seja que o objeto considerado se afirme ruidosamente como meio e nos mascare seu fim pela própria violência dessa afirmação, seja que ele remeta a um outro meio, este a um outro e assim por diante até o infinito, sem que jamais possamos descobrir o fim supremo, seja ainda que alguma interferência de meios pertencentes a séries independentes nos deixe entrever uma imagem compósita e embaralhada de fins contraditórios.264 Em “A Pousada”, este recurso se torna ainda mais evidente quando se espreita o próprio funcionamento do (único) estabelecimento da aldeia que, embora se destinasse a albergar como hóspede de honra todo aquele que contribuísse para o esplendor e a sobrevivência da feira e a lotação da Pousada se manter esgotada e um bom número de personalidades cirandarem pelos seus corredores e abancarem no refeitório com uma pontualidade imperturbável, a feira nem por isso estava mais brilhante, e nela menos que nunca abundavam os produtos originais ou de sensação. Em suma: a finalidade da Pousada (qual seja: o pleno desenvolvimento da feira, que consiste, como a narração esclarece, em instituição do forasteiro, tornando a hospedaria sumariamente necessária), embora não se concretize, não provoca o fechamento da própria Pousada, uma vez que agora ela existe de si para si, como meio que se tornou fim, transmudando-se em seu 263 A análise de Leo Gilson Ribeiro, embora talvez de cunho demasiadamente biografista, seria-nos por agora adequada: “Alguns críticos consideram O Castelo como o relato simbólico da impossibilidade de Kafka de assimilar-se na estrutura cultural do seu país e de integrar-se numa comunidade cristã. Por isso ao personagem central, K., é negado o acesso ao Castelo e só quando ele já se encontra sem forças e no leito de morte lhe é concedida a permissão de se estabelecer na aldeia ou, como dizem estes seus críticos, só demasiado tarde seria permitido a Kafka integrar-se na hierarquia ordenada da sociedade humana.” [RIBEIRO, L. G. (1967), p. 31.] 264 SARTRE, J. P. (2005), p. 140. 215 próprio escopo — do mesmo modo que, em análise de O Castelo, Michael Löwy constata que “o objetivo do protocolo é o protocolo, o objetivo da ordem é a ordem, o objetivo da administração é a administração”265. Torna-se, assim, a burocracia mais um objeto (como os que se fizeram descobrir nos dos contos de Saramago), embora não concreto, que destitui o ser humano de sua posição de sujeito para, assumindo essa função nominativa, subjugá-lo, passando ele a servi-la. Sintomaticamente, o aspecto externo da Pousada — cujo esplendor contrasta com a aparência de destruição e abandono da vila, que mantinha uma certa atmosfera de estacionamento, de pausa, vizinha da decadência, com a suas pedras de armas sobre arruinados portões, o coreto ao centro do jardim público, com os suportes de ferro das partituras caídos contra a balaustrada e da própria feira, reduzida agora a um mercado de géneros comezinhos e medíocres — não impunha qualquer aparência de actividade. E esta, digamos, inutilidade da Pousada será simbolicamente sugerida na resposta que, quanto às suas intenções de hospedagem, L. ouvirá textualmente do balconista: Não há quarto, informou o funcionário, para logo depois reiterar: não temos um só quarto. Ora, a ambiguidade do discurso é digna de uma apreciação isenta de qualquer ingenuidade: seu significado primeiro faria sim referência metonímica a uma ausência de vagas, conforme o próprio funcionário chega a, por assim dizer, traduzir, em termos mais denotativos — Não há um só aposento disponível, não. Porém, ao tomarmos literalmente a mesma frase, diríamos que o fim da explicação do empregado sinaliza a existência de um contraste entre estas duas possibilidades de leitura: Eu sei que a lista não o indica como hóspede presumível; que não consta aqui quarto reservado para o senhor. Pode verificar o senhor mesmo. Além do que não há quartos. Pode verificar. A locução além do que coteja as duas interpretações possíveis da ambígua frase — não consta aqui quarto reservado para o senhor vs. não há quartos — como informações distintas e igualmente verdadeiras. Assim, dadas todas as circunstâncias e todos os signos que cercam a Pousada, não seria terminantemente estranho que pudéssemos tomar a assertiva (cuja insistente repetição não deve ser mesmo casual) ao rigor da letra e concluíssemos que a missão de L. é efetivamente 265 LÖWY, M. (2005), p. 165. 216 impraticável porque nessa hospedaria, cujo funcionamento se mantém não obstante a falta dos proventos objetivados, não existiriam quartos.266 Tudo isso explica porque a Pousada é marcada por traços semânticos que indiciam artificialidade, que ficam expressos, por exemplo, nas inúmeras chaminés que não fumegavam enquanto no seu interior havia aquelas brasas fingidas na lareira de tijolo, brilhando sobre a grelha limpa e ao lado dos atiçadores sem uso ou no empregado de cortesia estereotipada a quem a profissão obriga a lidar com filas de anónimos que de tão imóvel, parecia subitamente falecido, inclinado sobre o livro de registos ou ainda em outro funcionário de voz singularmente pomposa e atitudes cheias duma nobre reserva, como acontece com actores de segunda ordem na interpretação de mordomos e diplomatas — recorrências a ilustrar “o mesmo cerimonial afetado, extravagante”267 que Sartre distinguira em Kafka e Blanchot, e que seriam facilmente identificáveis em personagens como Gustavo Dores de “A comemoração” ou todos os outros que circulam em “ O Solar dos Mágicos”. A necessidade de conservar-se aberta mesmo que não perdurem as finalidade iniciais de sua edificação condena a Pousada a este aspecto factício infundido por estratagemas baseados na necessidade de mascarar uma condição falsa, que viverá sempre sob o imperativo de se impor descaradamente como verdadeira — no que, contrariando todavia as expectativas, a empresa obtém fácil sucesso. Nesse sentido, reiteremos, a Pousada, de fato, é como o Livro Branco do conto de João de Melo ou a comemoração da narrativa de Jorge de Sena. E se na verdade a experiência de se hospedar na Pousada representaria, metafórica e metonimicamente, os anseios do homem em ser aceito na sociedade — organismo abstrato que a palavra sociedade representa ao compor um Estado regido por pactos, cuja perfeição do funcionamento deve ser inquestionável — a frustração desta possibilidade de adesão se justifica pela inconstância e/ou pela inconsistência (características tão concretas quanto humanas) que marcam tanto o personagem L. quanto a sua companheira de jornada. 266 O procedimento se repete em outras passagens do conto, o que corrobora a nossa análise. Por exemplo: no trecho Desde o começo, o secretário que os atendeu pareceu encantado, em virtude da atmosfera insólita que já se desenvolvera, o adjetivo encantado tanto pode denotar o falso entusiasmo do funcionário no atendimento quanto pode sugerir o aspecto mágico, enfeitiçado, por fim, fantástico que rege as atitudes do empregado. 267 SARTRE, J. P. (2005), p. 136. 217 A forma como o protagonista é batizado, tão somente por uma inicial268, é o primeiro signo do grande mistério que o rodeará e logo uma de suas primeiras descrições, olhando dum lado ao outro a rua, a gola levantada até meia face, remonta a um estereótipo do homem misterioso dos romances policiais noir americanos da primeira metade do século XX. O lugar de origem de L., nas profundidades inescrutáveis, na terra imutável e sombria, potencializam este efeito. Mas a bagagem que o herói carrega equivalerá à grande insígnia do seu aspecto enigmático: Levava consigo uma velha maleta de fibra que, pelo modo como ele a carregava, julgar-se-ia vazia, diz o narrador, usando sugestivamente o futuro do pretérito em sua função condicional. As precauções que tomava para abrigar a sua pobre maleta pareciam tão comoventes quanto inúteis, reitera adiante a narração, valendo-se do mesmo recurso. Entretanto, L. deixa a aldeia sem que ninguém o abordasse na passagem, para perguntar o conteúdo da sua bagagem; nem sua companheira de campanha, nem outros personagens, nem mesmo em última análise o leitor aceitam as, por assim dizer, provocações do narrador para atiçar a curiosidade sobre o que há na maleta (se há): parecemos todos saber desde o início que em verdade o herói não se dará a conhecer de fato em momento algum. L. também poderia ser, ele mesmo, o Livro Branco de “O Solar dos Mágicos”, ao menos enquanto este não é aberto. Tanto por isso, durante a narrativa, mantinha-se inescrutável — ou, em palavras que reforçam esse hermetismo: seu coração permanecia incomunicável e fechado. Quanto à jovem que o ajuda logo que ele chega à aldeia, é perceptível que também sua personalidade será esboçada imprecisamente pela narração e, embora por sua vez ganhe um nome, este, cuja simplicidade não é fortuita, nada mais é do que uma alcunha hipotética duvidosa: 268 A opção da autora coincide com a de Kafka em O Castelo, o que demonstra o quanto L. poderia ser um sucessor de K., a julgar pela posição sucedânea daquela letra em relação a esta no alfabeto. Curiosamente, trata-se ainda das iniciais dos seus sobrenomes — o “L” usado por Bessa-Luís poderia gerar significado semelhante ao que a letra “K” promove, no romance tcheco, parecendo sempre gritar “Kafka”. E tanto Kafka quanto Agustina usam o mesmo estratagema em outras narrativas. Os personagens kafkianos vão gradativamente sofrendo um esvaziamento de identidade, já que o “K” é apenas uma alusão a Kafka em Karl Rossmann, se torna sugestivamente mudo em Joseph K. (mantendo, contudo, um primeiro nome a individualizar o personagem) e figura absoluto como única referência nominativa no romance em análise. Talvez por isso Leo Gilson Ribeiro adote a citada envergadura biografista em sua leitura e afirme então que Kafka “é, ele próprio, o personagem mais profundamente kafkiano de seus livros, encarnando os seus personagens envoltos em mistério e enigma insondáveis” [RIBEIRO, L. G. (1967), p. 20]. Já a forma nominativa L. eleita por Agustina será também usada em diferente (ou o mesmo?) personagem de outro conto impopular, “Míscaros”, em que o herói vive também uma situação kafkiana, necessitando pagar mais de uma vez pela mesma travessia de barco em função da dificuldade de comprovar o pagamento anterior. 218 Chamava-se talvez Maria269 — e assim ela será reconhecida no decorrer de todo o conto. Finalmente, o olhar que um personagem lançará sobre o outro e as diversas reações que isso implica auxiliarão o narrador a compor as multifacetas de L. e de Maria, porque a instabilidade de suas descrições passa em verdade pela volubilidade como um percebe o outro. Para o protagonista — cuja narração (in)define como um rapaz de aspecto não muito optimista, tímido ou talvez obcecado a ponto de parecer extravagante — ora a rapariga (também referida na narrativa como criança e adolescente), sem ser bela, exprimia certo tipo de harmonia exótica que pode impressionar até a fascinação, ora o faz experimentar um insidioso sentimento de desdém. Ela, por sua vez, ora seguia-o aparentemente de má vontade, ora se mantinha à parte sem qualquer indício de parcialidade, ora erguia para L. os olhos cheios de um ânimo afectuoso e quase tentador, ora novamente não escondia o desencanto que lhe causava L., ora era infatigável, duma actividade toda resoluta e até inconsciente, ora sonhava e esperava, a todo instante, o advento de alguma coisa definitiva, deslumbrante. Esta indefinição que assinala as características psicológicas de L. e de Maria270 entra em franco contraste com a artificial precisão que limita as descrições da Pousada — o que, afinal, pode ser a grande causa da impossibilidade de adequação dos dois personagens à sociedade hipócrita e pretensamente exata na qual almejam em vão penetrar. Mas esta incapacidade de penetração parece refletir a própria relação que se funda entre L. e Maria. L. não penetra a Pousada assim como Maria (ou mesmo nós, leitores) não penetra o incomunicável coração do protagonista e assim como também não há a consumação da evidente tensão sexual criada entre os dois no decorrer da narrativa. L. e Maria são mais um exemplo do que Eduardo Prado Coelho constatou ao dizer que “em Agustina não há nunca amor que não seja amor do ódio ou ódio do amor 269 E a teoria de que Agustina faria com o uso da inicial L. uma autorreferência poética ganha força sob o batismo da personagem feminina, já que o nome completo da autora era Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa-Luís. O nome, aliás, também reincidirá em outras obras, como em A Sibila (em que nomeia Maria da Encarnação, mãe da protagonista Quina) e ainda em Os incuráveis, por exemplo. 270 Analisando os personagens agustinianos, António Quadros verifica que esta característica lhes é bastante peculiar: “Atribuir-lhes uma substância fixa, um caráter, ‘uma psicologia’, como fazem geralmente os romancistas, eis o que não pode esta ‘contadora de histórias’, possessa daquilo mesmo que escapa à introspecção, as ilusórias inclinações em que o ser se perde, ou as fugitivas intuições em que se reencontra.” [QUADROS, A. (1964), p. 171-2.] 219 — isto é, uma relação de proximidade que se faz através do obstáculo, do distanciamento, da incomodidade”271. Talvez não fosse difícil até mesmo imaginar a presença de Maria como decisiva para o fracasso de L., uma vez que, em oportunidades outras, supõe-se que sua tentativa de adesão não fora fracassada, conforme nos permitem deduzir os rótulos das hospedarias que conhecera no caminho que estão colados em sua maleta. Deste modo, L., ao pedir ajuda a Maria, teria cometido equívoco semelhante ao de K. em O Castelo. No romance de Kafka, o agrimensor inicia seu romance com Frieda, amante de um funcionário do governo local, crendo (todavia, segundo ele próprio, não por esse motivo) que o vínculo lhe poderia abrir as portas do Castelo, mas o noivado lhe causa mais dificuldades e impedimentos do que benefícios. Por outro lado, sem indícios concretos, fazer julgamentos desta natureza sobre Maria ultrapassaria os limites impostos pelas letras do conto. Pertinente mesmo será descobrir no seio das semelhanças entre os dois casais a diferença decisiva: ambos os protagonistas se aproximam de uma aldeã e de ambas esperam algum auxílio para alcançar seus desígnios, mas “o corpo miúdo [de Frieda] ardeu sob as mãos de K.”272, enquanto o mesmo não ocorrerá com Maria e L.. Verifica Catherine Dumas: “O amor sensual, o amor consumado, é um pacto jamais concluído. Encontramos numerosos exemplos de anticasais na obra agustiniana.”273 Assim, o contato físico mais íntimo que se alcança entre os personagens deste conto de Agustina Bessa-Luís ocorre, em via de mão única, em um abraço de despedida, cujos resultados são, além de tudo, improfícuos no tocante à reação de L.: entregando-se a uma expansão de ternura e de piedade, ela abraçou L. e ficou a soluçar brandamente sobre o seu peito. Ele tocou-lhe nos cabelos, que eram como penas negras e frisadas, e nem por um instante sentiu que se evadia da sua solidão. A consequência é o silêncio. Daí por diante o texto não poderá prosseguir a não ser por uma menção às palavras que não foram ditas, quando muito pensadas, como se verifica neste trecho: 271 COELHO, E. P. (1988), p. 163-4. KAFKA, F. (1969), p. 62. 273 DUMAS, C. (2002), p. 23. 272 220 Maria também nada lhe perguntara. Acompanhara-o, vivera a sua mesma adversidade e compreendera a sua angústia, vendo-o perdido e sem amigos nessa terra estranha e no turbilhão da feira. Mas não lhe dissera — “Qual é o segredo da tua vida? Foi longo o teu caminho, deves estar cansado, amargurado porque a Pousada te repeliu, e é inutilmente que estás aqui. Mas podes falar-me das raras e novas coisas que decerto trouxeste contigo.” Mas ela, com a monstruosa indiferença de todos os mais, nada lhe perguntara. Sentia contra o seu peito a ressonância dos soluços de Maria, e isso não o impedia de pensar: “Amanhã, ela voltará à Pousada.” Aquilo magoava-o e, ao mesmo tempo, era-lhe grato. Fazia-o experimentar uma espécie de alívio, porque assim sabia que poderia definitivamente tornar pelos caminhos abruptos e solitários, e descer a montanha. Ela não o seguiria.274 A incapacidade de se relacionar (socialmente, amorosamente...) parece-nos a temática central de “A Pousada” e a mais marcante característica do protagonista, cujo desejo de liberdade, cuja inadaptação às convenções sócio-humanas, o condenaram ao isolamento — como aconteceu ao Amorim de “O Anjo”, que não encontrou estratégias como as do José Rotativo para circular socialmente. Mas L. não é Amorim porque, ao contrário deste que opta por seu exílio social, cônscio da solidão que já existe mesmo na multidão, o personagem agustiniano procura reverter esta opção, todavia sem sucesso. O seu desejo é ser reintegrado à massa, o seu desejo é ser um homem da multidão como os da cidade conquistada pelos inimigos de “O jardim voador”, é fazer parte da sociedade artificial que dita os movimentos do cidadão, teleguiando-os como em “Verde”, é ser peça da engrenagem social, sem aparentemente possuir todavia uma clarividência do fato como o tinha personagem de Mário Saa, que se integra reconhecendo a artificialidade dos caminhos por que opta. Sua capacidade de flanar está arruinada, de modo que não representa perigo que seja abandonado nessa só aparente flânerie, porque afinal não a deseja executar, como fica claro. A própria narrativa o descreve como uma espécie de antípoda do flâneur, a julgar pelo seu afastamento da observação da vitrine e da figura do vagabundo que a sociedade capitalista imputara àquele personagem oitocentista: L. não era, portanto, um vagabundo; tão-pouco um forasteiro vulgar, desses que se veem de noite defronte das vitrinas, cotejando os preços dos artigos. Entra e sai da cidade sem que ninguém dele 274 BESSA-LUÍS, A. (2004), p. 44. 221 se ocupe, sem que lhe perguntem o conteúdo de sua mala. Na contramão de Cris, que trazia consigo a lua — significante absurdo que representa o excesso de conhecimento que o personagem comporta — L. provavelmente traz de fato uma mala vazia como vazia estava a comemoração do conto de Jorge de Sena, como vazio estava o Livro Branco de João de Melo: vive talvez como um homem na multidão, porque (como aliás se observa em todos os [anti-]heróis kafkianos) não pertence ao mundo, mas possui, mesmo nessa sua excentricidade, o espírito frustrado do homem da multidão. Por tudo isso, no momento em que precipitava sua partida, nada mais aspirava que romper ainda mais os débeis laços da curiosidade, do interesse, do medo; nada mais desejava, para estar livre, que descer a montanha; por isso também, nas linhas finais da narrativa, já portanto após deixar o vilarejo, o seu coração, antes definido como incomunicável e fechado, é finalmente adjetivado em termos apreciativos: livre e cordial. E, logo após o desenlace com Maria, torna-se visível que a única e singular possibilidade de relação que L. pode constituir é egocêntrica, porque a resposta que recebe aos cumprimentos que arrisca emitir aos passantes no caminho de descida da montanha — mais uma tentativa de adesão — é a do eco de sua própria voz, provocando um (mono)diálogo consigo mesmo, quando saudava as gentes, de longe, com um brado arrogante e jovial, e o eco devolvia-lhe os gritos em tom velado e misterioso. Quanto à postura pedante e à ideia superior que faz de si próprio (marca, muito a propósito, reconhecida em todos os protagonistas kafkianos275), sinalizados pelo brado arrogante, já se manifestara no decorrer do conto, diante da recusa da Pousada em hospedá-lo, quando ele contestara a alegação do balconista de que oficialmente nenhuma vaga lhe havia sido prometida: Isso é resposta? Então a própria organização da Pousada, criada exclusivamente para casos como o meu, não é já um compromisso formal? Como posso cuidar outra coisa senão que me aceitem, que me recebam aqui e que a minha presença não corresponde a outra coisa que não seja o cumprimento da lei da própria Pousada? Ora, L. não entende porque é excluído: não pode perceber por que razão está abandonado àquela flânerie forçosa que não é mais capaz de compreender, que não cuida mais como realizar. E não intui que sua busca para 275 E Adorno reconhece nesse traço comportamental, exemplificando com O Castelo e O processo, justamente “o esnobismo como vontade de aclamar o medo do tabu pela aceitação entre os iniciados” [ADORNO, T. W. (1998), p. 246.], inegável objetivo final de L.. 222 alcançar o centro de controle — a Torre de Comando Teleguiadora do conto do Ruben A., impenetrável como o Castelo ou a Pousada — é infinito na repartição dos caminhos, escada a que sempre cabe a fragmentação de cada degrau em tantos outros de modo a impedir eternamente a chegada a um destino, como o paradoxo da tartaruga que nunca é alcançada por Aquiles, que marcha sem parar para um destino delimitado e contudo jamais alcançado. Reparemos que, entre L. e o quarto da Pousada, há a recepção e o empregado de registos, a secretaria e o secretário, o salão-restaurante e o mestre-sala, o elevador e o ascensorista, o gabinete vazio, o pavilhão de expositores e mesmo a própria feira e Maria. E essa estrutura é semelhante a que Deleuze e Guattari observam na obra de Kafka: O funcionamento do agenciamento só pode ser explicado se, ao desmontá-lo, considerarmos os elementos que o compõem e a natureza das suas ligações. As personagens do Processo aparecem numa grande série que prolifera continuamente. Com efeito, todas elas são ou funcionários ou auxiliares de justiça (e no Castelo estão todas relacionadas com o Castelo), não só os juízes, os advogados, os oficias de diligência, os polícias, até os acusados, mas também as mulheres, as rapariguinhas, o pintor Titorelli e o próprio K.. Em suma, a grande série subdivide-se em subséries. E cada uma dessas subséries tem por sua conta uma espécie de proliferação esquizofrênica ilimitada.276 A circunstância vivida por L., aliás, encontra par na primeira dificuldade encontrada por K. no romance O Castelo, dificuldade contudo logo vencida, servindo apenas de prenúncio de outras maiores, um obstáculo metonímico da impenetrabilidade maior da trama: no momento em que tenta hospedar-se na estalagem, ouve a primeira resposta do seu administrador: “Provavelmente estais admirado de tão exígua hospitalidade — disse o homem — mas a hospitalidade não é um uso entre nós; não precisamos de hóspedes.”277 Ora, do mesmo modo, a Pousada provavelmente também não precisava, tanto que nela não [havia] quartos. José Manuel Heleno igualmente entrevê em “A Pousada” uma sensação de desencontro, de inospitalidade e de estranheza que se prende também com a busca da identidade, marca reconhecidamente 276 277 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. (2003), p. 95. KAFKA, F. (1969), p. 31. 223 recorrente em personagens de Agustina Bessa-Luís278, o que faz intuir que L. provavelmente se conhece tão pouco quanto nós conseguimos distingui-lo. Esta constatação explicaria por fim a sensação (que nunca poderemos validar terminantemente) de que sua maleta estaria vazia: o fato é que nem mesmo L., em momento algum do conto, ainda que sem mostrá-la a mais ninguém do que a si próprio, abrira a sua bagagem. “A Pousada”, por fim, é um conto cuja conclusão não o conclui, no sentido pragmático do termo. Silvina Rodrigues Lopes, ao analisar os desfechos de algumas obras de Agustina, entendeu que “não são porém puramente inconclusivos, eles são uma espécie de conclusão da impossibilidade de concluir”279. Esta concepção claramente kafkiana, que permitiu a Ricardo Piglia definir o escritor tcheco como “um mestre na arte dos finais infinitos”280, é a mesma que leva a autora a criar a teoria do inacabado para analisar o romance Menina e moça, de Bernardim Ribeiro, onde, segundo ela, “tudo está sujeito a uma rotação sem desenlance e que é o discurso do inacabado”281. Mas não se trata de fazer da Agustina de Contos impopulares uma autora em sua “época mais niilista”282, como a descreve (para nós equivocadamente) Catherine Dumas. Agustina e Kafka não são exatamente niilistas porque afinal não fazem apologia ao vazio ou à ausência de sentido, mas, sobretudo, não permitem (porque não creem admissível) que haja possibilidade de verificar a existência ou não do vazio. “A Pousada” — tal qual outros escritos agustinianos — não é, portanto, um texto sem sentido, mas antes um conto cujos significados não são facilmente nem inteiramente descodificáveis; por isso mesmo, como lembra Dumas, “durante muito tempo Agustina Bessa-Luís foi vista pelo leitor português como uma escritora secreta, hermética, à margem da literatura em vigor”283. A comparação que Sartre realiza entre Kafka e Camus no artigo “Explicação de O estrangeiro” parece dar conta do que tentamos defender em relação à poética de Agustina: 278 Segundo Catherine Dumas, “ a grande originalidade dos romances de Agustina Bessa-Luís reside no tratamento dado à questão identidária” [DUMAS, C. (2002), p. 16]. 279 LOPES, S. R. (1992), p. 17. 280 PIGLIA, R. (2004), 99. 281 BESSA-LUÍS, A. (1984), p. 99. 282 DUMAS, C. (2002), p. 26. 283 DUMAS, C. (2002), p. 46. 224 Kafka é o romancista da transcendência impossível: o universo, para ele, é carregado de signos que não compreendemos; há um reverso do pano de fundo. Para Camus o drama humano é, ao contrário, a ausência de qualquer transcendência.284 No fim das contas, é possível então que não se adentre no Castelo ou na Pousada justamente porque, afinal, da mesma maneira, não se adentra nas causas ou nos fins que motivam os movimentos dos personagens do conto e do romance, assim como não se adentra na própria natureza destes personagens ou mesmo nos sentidos que regem esse mundo em que eles caminham, e que, aliás, não é outro senão o nosso. Desta forma, a intangibilidade desses locais herméticos representaria, metalinguisticamente, a intangibilidade do próprio texto fantástico contemporâneo, cujos sentidos (se os há) sempre nos escapam no exato instante em que se parecem abrir à legibilidade, do mesmo modo que os quartos da Pousada (se os há) oferecem-nos a imagem do conforto e, no entanto, se nos fecham antes de darmos o primeiro passo para o seu interior. Cercamos nós, leitores, deste modo “A Pousada” conto da mesma maneira que L. e Maria cercaram a Pousada espaço do desejo. E sentimos que, como os dois personagens, terminamos nós essa empreitada — que passa pela leitura desse e de outros contos que analisamos desde a nossa eleição de “O Anjo” de Branquinho da Fonseca, no capítulo II deste ensaio, até aqui — quase da mesma maneira que a iniciamos: perplexos e buscando em vão compreender e compreender-nos, presos em um labirinto cujo centro não podemos alcançar, cujo sentido de fato não podemos penetrar mas de cuja tentativa de penetração também não podemos jamais nos furtar. 6.3 Processo À guisa de encerramento, e para não deixarmos de citar as três principais obras de Franz Kafka nesse nosso percurso que busca algumas referências kafkianas na literatura portuguesa, faltava mencionar O processo, e vale a pena, nesse sentido, retomar rapidamente o conto “O Anjo”, leitura que abriu o segundo capítulo deste ensaio, aquando do início efetivo de nosso percurso pelas manifestações irrealistas da contística portuguesa do século XX. 284 SARTRE, J. P. (2005), p. 126. 225 Referimo-nos agora, mais precisamente, à cena em que o protagonista Amorim é despertado com a chegada da polícia, encaminhada até ele pela dona da casa que lhe alugava o aposento, sendo acusado de envolvimento em um crime que não lhe(nos) fica claro qual seja — nem para ele nem para o leitor — cena essa que recortamos novamente: Quando abriu os olhos, viu o sol que entrava pela janela do quarto e olhou ao longe as casas brancas e os telhados mais perto. Ouviu um bater com força na porta. Maquinalmente ergueu-se do sobrado e foi abrir. Eram dois homens. Um, magrinho, de expressão dura, cara escavada, olhar penetrante, que lhe apontou uma pistola; e outro, gordo, balofo, de sobrancelha carregada, com cara de pobre diabo, mas também com uma pistola na mão. Por detrás deles estava a dona da casa, a espreitar: uma velha pequena, mirrada, com pêlos no queixo, que ao ver que já não havia perigo, pois Amorim ficara imóvel, estendeu o braço por entre os dois homens e apontou-o com o dedo como um punhal, gritando numa voz aguda: — Cá está! A mim nunca me enganou!285 Parece conveniente que esta passagem se assemelhe àquela do capítulo inicial de O processo, em que o protagonista K. é detido em seu quarto de pensão por dois agentes ao amanhecer na presença da dona do estabelecimento no qual se hospeda. Também Amorim viverá situação semelhante àquela — e, afinal, podemos mesmo supor-lhe certa inocência, mas jamais se saberá com certeza de que crime precisamente o acusam, o que a narrativa não esclarece. Ora, O processo, versão mais urbana de O Castelo (Luiz Costa Lima, em oposto caminho, encara “O Castelo como face rural do momento de O processo”286), mantém com esta obra de Branquinho da Fonseca temáticas semelhantes. Ambas representam e discutem a exclusão do homem moderno do comando de suas ações e do desenvolvimento de sua existência como cidadão. Seus atos de entregas a tal sistema de funcionamento é que legariam a esse homem contemporâneo o seu lugar na turbamulta, cujos destinos testemunhamos: destruída em “O jardim voador”, teleguiada em “Verde”, já ausente / invisibilizada em “Trânsito”; por outro lado conferir-lhe-iam a imagem da sua inacessibilidade a um poder (normalmente, mas nem sempre) institucionalizado, que 285 286 FONSECA, B. da (1967), p. 16. LIMA, L. C. (1993), p. 153. 226 possui sobre ele o quase absoluto controle (e resgatamos aqui, especificamente, o termo foucaultiano / deleuziano). Amorim e Joseph K., portanto, estão diante de sociedades bastante semelhantes. Mas a indubitável tentativa de penetração desse personagem de Kafka, que encontrará eco nas atitudes de K. em O Castelo, não se reproduz inteiramente em Amorim, que não vai tentar provar a sua inocência, certo de que já lhe absolvera uma outra lógica, que não a da sociedade vigente do espaço urbano ocidental capitalista de onde emerge, lógica essa que ele em sua visão identifica com a divina. Nesse sentido, aliás, “O Anjo” poderia ser uma releitura (talvez mesmo intencional) de O processo, se se levassem em conta as interpretações teológicas de que as primeiras críticas kafkianas foram objeto. Diga-se a propósito disso que tal momento acontece jsutamente na altura da publicação do conto de Branquinho da Fonseca. Ora, tais especulações, surgidas via de regra nos anos seguintes à divulgação da obra de Kafka pelo amigo Max Brod, que é quem inaugura e, por consequência, orienta esse ensaísmo religioso, dão conta da impenetrabilidade kafkiana como representação de um Deus inacessível, ânsia essa que Amorim, transcendendo então K., teria sublimado. E se o protagonista do conto de Branquinho da Fonseca não busca penetração na sociedade (por isso não se relaciona com a prostituta, símbolo desta multidão citadina regida por ideais capitalistas, mas sim, como se pode supor, embora não seja possível afirmar, com o Anjo feminino que o visita), é porque, como dissemos, caminha de modo distinto a José Rotativo, que encontra mecanismos para alcançar e manter suas posições sociais, e a L., cujo fracasso contrário à realidade de José está simbolizado pela tensão sexual não consumada com Maria. Seria provavelmente tardio o momento, mas caberia mesmo assim dizer que outra leitura para a designação L — reduzindo o nome à inicial — reside no esvaziamento de suas características personalistas individuais, sob o exemplo de um José que se sobrenomeia ambiguamente Rotativo ou de sua companheira de jornada que se chamava talvez Maria, os quais com seus nomes comuníssimos ganham tal representatividade geral. Não será difícil perceber assim que a diferença entre o par mínimo fonológico /ele/, letra do alfabeto, e /εle/, pronome pessoal reto substituto de qualquer substantivo masculino, é apenas uma questão de timbre. Tal identificação é o que faria de L., e também de Joseph K. e de K., caso fossem por ela aceitos, um homem 227 da multidão, destino a que Amorim busca escapar porque, ao contrário de L., reconhece como impossível a real convivência humana no espaço urbano — nas cidades cada um vive como se estivesse sozinho, porque anda no meio da multidão, como na metáfora radical da deambulação de Benavente em “Trânsito” — livrando-se, ao menos em parte, desta angústia kafkiana, pesadelo que a realidade das cidades lega às suas multidões, que é a sua busca por aceitação. Assim é que Joseph K. não procura uma verdade para os fatos, um esclarecimento para as acusações que recebera; antes, quer apena garantir a sua liberdade arquivando o processo, adiando indefinidamente o seu veredicto. Os personagens de Kafka buscam “uma saída, e não a liberdade”287, como lembram Deleuze e Guattari. Liberdade, pelo contrário, é o objetivo maior de Amorim: Não sei porquê, comecei um dia a ter a sensação de que me faltava a liberdade. Em suma, reiteremos: caminhar com Joseph K. é como subir a Avenida da Liberdade, realizando no entanto tal percurso sob o teleguiamento dirigido por um ser abstrato e necessariamente profano, não se confundindo nunca com a esfera do sagrado, para onde Amorim escapara, e que possuirá sobre a multidão o controle que está (na mesma?) torre que é a primeira estrutura arquitetônica do Castelo que K. pôde avistar ao chegar à aldeia. A cidade aprisiona e por isso só é possível encontrar a liberdade “fora” dela, mesmo que esse externamento imprescindível seja apenas figurado, alegórico, sinalizando as variadas posturas de homem na multidão que é preciso adotar para buscar a compreensão do meio urbano. É necessário estar “fora” da urbe ainda que a intenção seja a ela retornar, para transformá-la em outra, como os oumis empreenderam em ”Coisas”. Trata-se da proposta que em “Verde” não é possível consumar. É a circunstância indubitável de “Embargo”, em que a liberdade somente foi possível além dos limites do perímetro urbano, a qual contudo também se frustra como já acontecera com a da multidão de “O jardim voador”. Porque a flânerie só é possível na multidão para quem não é a multidão, o que é verdade para Amorim, mas nunca o será para Joseph K. e outros homens da multidão que permearam muitos dos contos que elegemos para leitura neste ensaio. 287 DELEUZE, G.; GUATTARI, F. (2003), p. 68. 228 Podemos nós, leitores, contudo, chegar a todas essas conclusões, levados pela mão de narrativas como as que aqui foram trazidas. Incoerência? Exacerbar o espírito crítico através de personagens incapazes de tê-lo? O fato é que, através delas, abrimos o livro da cidade que, via de regra, permanece fechado mesmo quando nela circulamos. Ao contrário, então, das turbamultas presentes em muitos contos que lemos, desempenhamos nós, seus leitores, a flânerie imprescindível à compreensão do meio urbano contemporâneo e da sociedade moderna, libertados do teleguiamento pela força desta literatura irrealista que problematiza e nos revela uma segunda realidade, efetivamente mais passível de transformação e legibilidade. 229 REENTRADA ou O PERCURSO CIRCULAR PELO LABIRINTO Cá estivemos a executar a nossa flânerie de leitores críticos no labirinto da literatura irrealista portuguesa do século XX. E, é preciso lembrar, adentramos seus corredores em busca de um centro e não, o que se daria em sentido oposto, com alguma pretensão de encontrar uma saída. Por outro lado, pensemos: no conto “El jardín de senderos que se bifurcan”, de Jorge Luís Borges, o narrador afirma que “siempre doblar a la izquierda [...] era el procedimiento común para descubrir el patio central de ciertos laberintos”288. Ora, uma vez que qualquer leitura de um texto escrito é fisicamente realizada ao contrário, da esquerda para a direita, estaríamos nós, metaforicamente, sempre condenados à perdição e ao afastamento do centro, envolvidos pelas letras que nos ludibriam no jogo sempre ambíguo de relações que a arte promove entre um significante e os seus significados múltiplos e indefinidos? Quereria isso dizer que todo ato de leitura é dotado de uma energia centrífuga contra a qual necessariamente — mas em vão — lutamos permanentemente em nossos esforços ensaísticos, nesses espaços quadrilateramente delimitados em que a esférica arte nunca cabe inteiramente? A verdade é que, se não alcançamos aquele nuclear sentido definitivo para os contos que protagonizam esta tese — esforço que estaria já falido em sua origem — ao menos cremos ter cumprido a missão de evidenciar significados a partir da eleição de alguns exemplos de manifestações do gênero fantástico português do século XX, que se parecem manter, via de regra, mais ou menos em posições marginais, ex-cêntricas, para a crítica. Esforço possivelmente fundado num paradoxo originário, que seria o de partir em busca do que se sabe a priori vazio, do que é de certo modo intangível e inatingível, o fato é que ao mesmo tempo em que não nos interesse nenhuma saída, estamos condenados a deambular de modo indefinido pelo labirinto, sem nunca dele nos libertar. 288 BORGES, J. L. (1984), p. 106. 230 Será esta imagem a alegoria do que esta pesquisa almeja: contribuir para que as manifestações do fantástico na literatura portuguesa sejam enfrentadas com mais assiduidade, com mais atenção e mesmo com mais coragem por uma crítica que aceite esse convite para arriscar-se a pôr os pés em terreno deveras insólito, movediço até, de que não parece haver mesmo fuga possível, como se no labirinto caminhássemos fatalmente em círculos, os quais, para não serem apenas obsessivos e fatais, sonham com elipses ou antes espirais. E, quanto a isso, é significativo, aliás, que tenhamos iniciado e terminado nossa deambulação com o mesmo conto: “O Anjo”. Aponta-se assim para o fato de que o encerramento é sempre provisório e não denota o fim da pesquisa, mas apenas o da tese que descreve alguns dos seus resultados, indicando nessa circularidade estrutural que estaremos aprisionados pela matéria que levantamos, pelos pressupostos que coligimos, sendo necessário apontar para o planejamento, o vislumbre de novos caminhos que nos permitam continuar, o que, todavia, implicaria uma nova tese. Mais do que em círculo, portanto, seria aqui o lugar de defender, como sugeríamos, que mergulhamos na contística fantástica portuguesa do século XX em um movimento espiralado. Começamos a tratar primeiro de contos de suas décadas extremas (1920 e 1930 e, logo depois, 1990 e 1980) para, após dar a conhecer obras dos anos 1960 e 1970, cair, como que puxados por redemoinho, no meio do século, nos anos de 1950. Assim, se não chegamos ao centro dos textos fantásticos de que impetramos ensaiar uma compreensão, ao menos temos a suspeita de que tocamos o centro do século — e, portanto, seus significados — que esses contos portugueses vieram problematizar. E o fazem tanto no que diz respeito a uma cor local, descrevendo a sociedade portuguesa em um determinado período de tempo — suas idiossincrasias, seu espaço, sua História — como no que diz respeito à sua abrangência universal, apontando ou intuindo o comportamento do homem contemporâneo e as questões que lhe são pertinentes em escala mundial. Reiteremos ainda que as narrativas escolhidas receberam o cuidado de poderem ser necessariamente lidas na sua textualidade e em razão daquilo que, por intermédio do irreal, pudessem denunciar a respeito do real, desvelando facetas da cidade moderna que, embora concretas e mesmo habituais, tendem a permanecer invisíveis, encobertas pelo cotidiano da vida urbana. Desse modo, se “O Anjo” traz uma ambígua aparição 231 noturna para conduzir a uma observação crítica sobre os meandros da justiça (de Deus, dos homens...) e a respeito ainda da impossibilidade de integração do homem que não assina um contrato social no qual, fausticamente, abre mão da própria individualidade em prol de sua aceitação coletiva, em “O José Rotativo”, onde o protagonista não titubeia em deixar a tinta da caneta escorrer pelo mesmo documento, outra aparição desvela, no pacto que se finge estabelecer, a hipocrisia humana da sociedade contemporânea, como o farão também “O Solar dos Mágicos” e “A comemoração”, contos em que, por meio de expectativas que insolitamente se frustram, se evidencia a artificialidade de sentidos forjados a partir do fetichismo de espetáculos e objetos. Por outra via, “O jardim voador” e “Verde” dão conta da representação de sociedades cujas opiniões são manipuladas, levando, muitas vezes, à desumanização dos cidadãos, fato que é explicitamente delatado ainda em “Embargo”. A consequência disso é o isolamento do ser humano, sua expulsão das esferas decisórias dos rumos sociopolíticos, o que nos traz de volta ao último conto, “A Pousada”. Mas, certamente, o ápice dessa sociedade de relações urdidas artificialmente, na qual a influência mútua, a troca entre os seus membros, é incentivada tão somente até o limite de suas necessidades, no tocante à eficiência do seu funcionamento, estará revelado em “Trânsito”. Terá sido esse breve (e mesmo parco) resumo do caminho empreendido por nossa tese o que dá mostra de que, afinal, a ordem de análise desse corpus não seria necessariamente fixa, ela é sempre aleatória e passível de reordenação, segundo o amor tiverdes. O itinerário poderia então ser outro, tanto no que diz respeito à sua ordem quanto no tocante à escolha das estações nas quais poderíamos fazer paradas pelos capítulos do ensaio. Muitas obras se apresentaram para integrar o corpus e o percurso por que optamos nesse labirinto literário não permitiu que as convocássemos todas. Valeria, no entanto, mencionar rapidamente algumas, a fim de cortar o fio de Ariadne que nosso movimento poderia ter cristalizado para sugerir alternativas de trajeto que também se mostrariam férteis. Sem dúvida, Mário de Sá-Carneiro, próximo temporalmente e, algumas vezes, também semanticamente de Kafka, apresenta traços que lhe dariam lugar nessas discussões, sobretudo por conta da novela A confissão de Lúcio (de 1914) e seus modos de refletir sobre a perda da identidade do homem frente à sociedade do início dos 232 novecentos. Mas também poderíamos nos avizinhar do autor em razão de textos mais curtos, que por isso mais bem se adequariam aos nossos critérios, presentes esses em Céu em fogo (obra publicada no ano seguinte), em que encontramos, segundo Maria Aliete Galhoz, “uma dialética de nosso próprio possível absurdo”289 e “uma das melhores criações que dentro da moderna literatura portuguesa se aproximam autenticamente duma orientação surrealista”290, de que vale o exemplo de “O homem dos sonhos”, em que o personagem principal conhece em um café um indivíduo que viveria (segundo revela ao narrador) a realidade como se fosse sonho, para fazer do sonho a sua vida real: Se o homem dos sonhos era uma figura de sonho, mas, ao mesmo tempo, um a criatura real — havia de viver uma vida real. A nossa vida, a minha vida, a vida de todos nós? Impossível. A essa existência odiosa ele confessara-me não poder resistir. Demais, nessa existência, a sua atitude era duma figura de sonho. Sim, duma figura irreal, indecisa, de feições irreais e indecisas. Logo, o desconhecido maravilhoso não vivia a nossa vida. Mas se a não vivia e entretanto surgia vagamente nela, é porque a sonhava.291 Outra presença pertinente é a de José Gomes Ferreira. Seu discurso cronista faz do personagem que narra seus testemunhos da Lisboa em que passeia, no volume O irreal cotidiano (de 1971), uma manifestação, já raríssima em sua época, de algo que se aproximasse de uma efetiva flânerie. E, ao defini-lo como um “decifrador de lugares e violador de íntimos e máscaras da cidade, não sem a devida autoironia de quem se dá por psicólogo salvador da humanidade, quando afinal quer apenas esconder os seus próprios segredos”292, Carina Infante do Carmo não tardará a concluir que, “com todas as ressalvas que se possa aduzir, em Gomes Ferreira a cidade é ainda uma casa para o observador, descendente do flâneur baudelairiano”293. Mas a obra que certamente mais aproxima seu autor da estética que vislumbramos seria o romance O sabor das trevas (de 1976), em que Gomes Ferreira, a partir de um discurso produtor de certa atmosfera limítrofe entre o real e o onírico — uma realidade-sonho — para a qual se agregam 289 GALHOZ, M. A. (1956), p. 33. GALHOZ, M. A. (1956), p. 31. 291 SÁ-CARNEIRO, M. de (1956), p. 168. 292 CARMO, C. I, do (2002), p. 44. 293 CARMO, C. I, do (2002), p. 56. 290 233 estratégias tanto simbolistas quanto surrealistas, produz um manifesto político e social que justifica o seu subtítulo: romance-alegoria dos tempos modernos. Um fantástico familiar (muitas vezes pela crítica aproximado do realismo mágico), como o que se aprecia nas sempre concisas narrativas dos Casos do Beco das Sardinheiras, que Mário de Carvalho traz a público em 1982, pareceu também relevante para a nossa pesquisa, ainda que não tenha conquistado o seu lugar nesta tese. Exercício iniciado um ano antes pelo autor com os Contos da sétima esfera, a escritura fantástica de Carvalho, marcada por nunca abrir mão do humor, encontrará nesse volume seu mais apurado domínio técnico. A falta de espanto com que os personagens, residentes deste beco fictício, localizado todavia efetivamente na Lisboa mimética, lidam com episódios sobrenaturais (como, para citar o exemplo da primeira narrativa, um homem ter engolido a lua durante um grande bocejo) coloca o seu autor em uma posição evidente na linhagem kafkiana que anteriormente discutimos: “O aparecimento do estranho, sempre desvio, é integrado na simplicidade de um quotidiano onde há a desnecessidade de um sistema cognitivo que não ultrapasse o imediato e o empírico.”294 — reconhece então Maria da Glória Padrão. Viria ainda a calhar citar as discussões metafísicas promovidas pelos contos fantásticos que Natália Correia compila em Onde está o menino Jesus? (1987); ou o estilo borgiano que encontramos no volume de Luís Alves da Costa As cidades da abundância (1994); ou mesmo a fantasia emergida no cotidiano dos Contos Místicos publicados já em 2001 e escritos por Maria de Menezes; ou mesmo (e não é despiciendo também referir contos isolados) a telepatia provocada pela paixão presente em “A cigana” que, em 1935, Manuel Teixeira-Gomes publica dentre as suas Novelas eróticas; ou um dos mais acurados exercícios de prosa surrealística em Portugal, efetuado em “O comboio das onze”, uma das Andanças do Demónio de Jorge de Sena, autor no entanto renegado pelos dois principais movimentos dessa estética promovidos em Portugal; ou o tom de horror do conto “Ritinha” (1967), suposta exceção na carreira de José de Lemos, marcada pelas obras infantis que escrevia e ilustrava (mas não foi exatamente do horror que nasceram os contos de fadas maravilhosos e o próprio fantástico?). 294 PADRÃO, M. da G. (1984), p. 96. 234 Todas essas narrativas são (algumas) opções a nos sugerirem, nos convidarem para, nos seduzirem a outras deambulações, outra flânerie por essas letras (duplamente) fantásticas que escrevem e inscrevem o labirinto... ...e o labirinto é essa construção literária donde, destarte, uma vez que entremos, jamais encontraremos a saída... 235 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Obras literárias analisadas (bibliografia ativa): 1. A., Ruben. Cores. Lisboa: Assírio & Alvim, 1989. 2. BESSA-LUÍS, Agustina. Contos impopulares. Lisboa: Guimarães, 2004. 3. FONSECA, Branquinho da. Caminhos magnéticos. Lisboa: Portugália, 1967. 4. MELO, João de. Entre pássaro e anjo. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 5. PIRES, Isabel Cristina. A casa em espiral. Lisboa: Caminho, 1991. 6. RODRIGUES, Urbano Tavares. “Trânsito”. In: CASTRO, E. M. de Melo e (org.). Antologia do conto fantástico português. Lisboa: Edições Afrodite, 1974, p. 553-61. 7. SAA, Mário. “O José Rotativo (fragmento do meio)”. In: ------. Poesia e alguma prosa. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006, p. 258-65. 8. SARAMAGO, José. Objecto quase. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 9. SENA, Jorge de. Antigas e novas andanças do demónio. Lisboa: Edições 70, 1984. 236 Bibliografia passiva (ensaios sobre autores do corpus ativo): 1. BESSE, Maria Graciete. “João de Melo - O meu reino não é deste mundo”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 76, novembro de 1983, p. 80-5. 2. ------. “Urbano Tavares Rodrigues - Fuga imóvel”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 74, julho de 1983, p. 79-80. 3. COELHO, Eduardo Prado. “Agustina: uma paixão sem amor”. In: ------. A noite do mundo. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1988, p. 1614. 4. COELHO, Nelly Novaes. “O Barão e a dimensão mítica da realidade portuguesa”. In: FONSECA, Branquinho da. O Barão. Verbo: São Paulo: 1973, p. 105-74. 5. COSTA, Horácio. “A construção da personagem de ficção em Saramago - da Terra do pecado ao Memorial do convento”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 151/152, janeiro de 1999, p. 20516. 6. ------. “Alegorias da desconstrução urbana: The memoirs of a survivor, de Doris Lessing, e Ensaio sobre a cegueira, de José Saramago”. In: BERRINI, Beatriz. José Saramago - uma homenagem. São Paulo: Educ, 1999, p. 12748. 7. ------. José Saramago - o período formativo. Lisboa: Caminho, 1997. 8. CRUZ, Liberto. “À procura de Ruben A.”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 156/126, julho de 1992, p. 22731. 9. CUADRADO, Perfecto E.. “Objecto quase e o estatuto das obras menores”. In: MEDEIROS, Paulo de; ORNELAS, José N. (org.). Das possibilidades do impossível. Utrecht: Portuguese Studies Center, 2007, p. 41-9. 10. DUMAS, Catherine. Estética e personagens nos romances de Agustina Bessa-Luís: espelhismos. Porto: Campo das Letras, 2002. 11. FERREIRA, António Manuel. Arte maior: os contos de Branquinho da Fonseca. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2004. 237 12. GUIMARÃES, Fernando. “Linguagem e poesia em Mário Saa ou uma estranha hierarquia”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 3, setembro de 1971, p. 37-43. 13. GUNTERT, Georges. “Literatura como discurso terapêutico - ‘Eugénia e Silvina’ de Agustina Bessa-Luís”. Tradução: Maria Isabel de Azevedo. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 120, abril de 1991, p. 95-106. 14. HELENO, José Manuel. “Agustina Bessa-Luís ou a paixão da incerteza.” In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 143/144, janeiro de 1997, p. 95-143. 15. LIMA, Isabel Pires de. “Mário Saa - uma presença surrealizante na ‘Presença’”. In: MOURÃO-FERREIRA, David (org.). Afecto às letras homenagem da literatura portuguesa contemporânea a Jacinto do Prado Coelho. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984, p. 243-52. 16. LINHARES FILHO, José. “O Anjo, de Branquinho da Fonseca, numa perspectiva fantástica”. In: Revista de Letras. Fortaleza: UFC, no 1, vol. 1, 1978, p. 84-96. 17. LOPES, João Marques. Saramago - biografia. São Paulo: Leya, 2010. 18. LOPES, Óscar. “Os contos de Jorge de Sena (problemas de um assumido realismo)”. In: LISBOA, Eugénio (org.). Estudos sobre Jorge de Sena.Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1984, p. 319-37. 19. LOPES, Silvina Rodrigues. Agustina Bessa-Luís - as hipóteses do romance. Rio Tinto: Asa, 1992. 20. NEVES, Margarida Braga. “‘Nexos, temas e obsessões’ na ficção breve de José Saramago”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 151/152, janeiro de 1999, p. 117-41. 21. PIRES, Isabel Cristina. “Espirais e labirintos”. In: Revista Forma Breve. Aveiro: UA, no 1, 2003, p. 251-2. 22. REIS, Carlos. “Derivas: do conto ao romance em José Saramago”. In: GREENFIELD, John (org.). O gênero literário - norma e transgressão. Munchen: Martin Meidenbauer, 2006, p. 147-65. 23. ------. Diálogos com José Saramago. Lisboa: Caminho, 1998. 24. RODRIGUES, Isabel Cristina. “Como o fundo do mar: a descritura fantástica de Isabel Cristina Pires”. In: Revista Forma Breve. Aveiro: UA, no 1, 2003, p. 243-9. 238 25. SEIXO, Maria Alzira. “José Saramago - Objecto quase”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 49, maio de 1979, p. 77-9. 26. SERRA, Paulo. “O realismo mágico em O meu mundo não é deste reino, de João de Melo”. In: ------. O realismo mágico na literatura portuguesa - O dia dos prodígios, de Lídia Jorge e O meu mundo não é deste reino, de João de Melo. Lisboa: Colibri, 2008, p. 81-109. 27. SOUSA, João Rui de. “Mário Saa, um poeta do Modernismo”. In: SAA, Mário. Poesia e alguma prosa. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006, p. 11-62. 239 Outras obras literárias: 1. ANDRADE, Carlos Drummond de. “Inocentes do Leblon”. Sentimento do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. In: ------. 2. ANDREAE, Johann Valentin. Christianopolis. Tradução: Felix Emil Held. Nova York: Oxford University Press, 1916. 3. ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Rio de Janeiro: O Globo, 1997. 4. BANDEIRA, Manuel. “Consoada”. In: ------. Vou-me embora para Pasárgada e outros poemas. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 88. 5. ------. “Poética”. In: ------. Vou-me embora para Pasárgada e outros poemas. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997, p. 25-6. 6. BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução: Jamil Almansur Haddad. São Paulo: Editora Max Limonad Ltda., 1985. 1. BESSA-LUÍS, Agustina. A Brusca. Lisboa: Editorial Verbo, 1971. 2. ------. A sibila. Lisboa: Guimarães, 1991. 3. ------. O susto. Lisboa: Guimarães, 1958. 4. ------. Ordens menores. Lisboa: Guimarães, 1992. 7. ------. Os incuráveis. Lisboa: Guimarães, 1954. 8. BÍBLIA SAGRADA. Trad. Centro Bíblico Católico. São Paulo: Ave-Maria, 1996. 9. BLANCHOT, Maurice. Aminadab. Paris: Gallimard, 1942. 10. BORGES, Jorge Luis. Ficciones. Buenos Aires: Alianza, 1984. 11. BRANDÃO, Raul. Humús. Porto: Campo das Letras, 2000. 12. ------. O mistério da árvore. São Paulo: Larousse, s/d. 13. BRECHT, Bertold. Teatro completo. Tradução: Christine Röhrig; Milton Camargo Mota; Erlon José Paschoal; Ingrid Dormien Koudela. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 14. CALVINO, Italo. Le città invisibili. Milão: Arnoldo Mondadori, 1993. 240 15. CAMÕES, Luís Vaz de. “Enquanto quis Fortuna que tivesse”. In: ------. Lírica - redondilhas e sonetos. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p. 61. 16. ------. Os Lusíadas. São Paulo: Lep, 1962, 2v. 17. ------. “Sete anos de pastor Jacó servia”. In: ------. Lírica - redondilhas e sonetos. Rio de Janeiro: Ediouro, s/d, p. 62. 18. ------. “Verdade, Amor, Razão, Merecimento”. In: ------. Clássicos na Gulbenkian - Camões. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p. 48. 19. CAMPANELLA, Tommasso. A cidade do sol. Tradução: Ciro Mioranza. São Paulo: Escala, 2008. 20. CANTINHO, Maria João. Caligrafia da solidão. São Paulo: Escrituras, 2006. 21. CARPENTIER. Ajejo. O reino deste mundo. Tradução: João Olavo Saldanha. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. 22. CARROLL, Lewis. Alice no País das Maravilhas / Alice no País do Espelho. Tradução: Monteiro Lobato. São Paulo: Brasiliense, 1972. 23. CARVALHAL, Álvaro do. Contos. Lisboa: Relógio D’Água, 1990. 24. CARVALHO, Mário de. Contos da sétima esfera. Lisboa: Vega, 1981. 25. ------. Era uma vez um alferes e outras histórias. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 26. CESARINY, Mário. Antologia do cadáver esquisito. Lisboa: Assírio & Alvim, 1989. 27. COLLINS, Suzanne. The hunger games. Nem York: Scholastic Corporation, 2008. 28. CORREIA, Hélia. Contos. Lisboa: Relógio D’Água, 2008. 29. CORREIA, Natália. Onde está o menino Jesus? Lisboa: Rolim, 1987. 30. CORTÁZAR, Julio. Bestiario. Buenos Aires: Sudamericana, 1977. 31. COSTA, Luís Alves da. As cidades da abundância. Lisboa: Vega, 1994. 32. DÄNIKEN, Erich von. Eram os deuses astronautas? Tradução: E. G. Kalmus. São Paulo: Melhoramentos, 1971. 33. DIREITINHO, José Riço. A casa do fim. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008. 34. FERREIRA, José Gomes. O irreal cotidiano - histórias e invenções. Lisboa: Diabril, 1976. 241 35. ------. O sabor das trevas - romance-alegoria dos tempos modernos. Lisboa: Diabril, 1976. 36. FONSECA, Branquinho da. Bandeira preta. Lisboa: Portugália, 1966. 37. ------. O Barão. São Paulo: Verbo, 1973. 38. ------. Rio turvo. Lisboa: Verbo, 1945. 39. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Cem anos de solidão. Tradução: Eliane Zagury. Rio de Janeiro: O Globo, 2003. 40. GERSÃO, Teolinda. A mulher que prendeu a chuva e outras histórias. Lisboa: Sudoeste, 2007. 41. GUERRA, Álvaro. Memória. Lisboa: Editorial Estampa, 1971. 42. HELDER, Herberto. Os passos em volta. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005. 43. HERCULANO, Alexandre. Lendas e narrativas. Lisboa: Bertrand, 1970. 44. HOMERO. A odisseia. Tradução: Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011. 45. HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. Tradução: Vidal de Oliveira; Lino Vallandro. Porto Alegre: Globo, 1979. 46. JORGE, Lídia. O dia dos prodígios. Lisboa: Publicações Europa-América, 1990. 47. KAFKA, Franz. A metamorfose. Tradução: Marcelo Backes. Porto Alegre: L&PM, 2006. 48. ------. América. Tradução: Maria de Fátima Fonseca. Mem Martins: Europa-América, 1977. 49. ------. O Castelo. Tradução: Torrieri Guimarães. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 1969. 50. ------. O processo. Tradução: Álvaro Gonçalves. Lisboa: Assírio & Alvim, 2001. 51. LEIRIA, Mário-Henrique. Contos do Gin-Tonic. Lisboa: Editorial Estampa, 1999. 52. ------. Novos contos do gin. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. 53. LEMOS, José de. “Ritinha”. In: CASTRO, E. M. de Melo e (org.). Antologia do conto fantástico português. Lisboa: Edições Afrodite, 1974, p. 439-49. 242 54. LONDON, Jack. O tacão de ferro. Tradução: Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Boitempo, 2003. 55. MARGARIDO, Alfredo. A centopeia. Lisboa: Guimarães, 1961. 56. ------. No fundo deste canal. Lisboa: Arcádia, 1960. 57. MELO, João de. O meu mundo não é deste reino. Lisboa: Assírio & Alvim, 1983. 58. MENEZES, Maria de. Contos místicos. Lisboa: Hugin, 2001. 59. MORSELLI, Guido. Dissipatio H. G.. Tradução: Maurício Santana Dias. Cotia: Ateliê Editorial, 2001. 60. MORUS, Thomas. Utopia. Tradução: Paulo Neves. Porto Alegre: LPM, 1997. 61. MOURÃO-FERREIRA, David. Os amantes e outros contos. Lisboa: Editorial Presença, 1998. 62. ------. Um amor feliz. Lisboa: Editorial Presença, 2002. 63. NEGREIROS, Almada José de. Obras completas - Vol. IV - contos e novelas. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1989. 64. OLIVEIRA, José Osório. Tempo de exílio. Lisboa: Caminho, 1961. 65. ORWELL, George. 1984. Tradução: Alexandre Hubner; Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 66. OVÍDIO. Metamorfoses. Tradução: Paulo Farmhouse Alberto. Lisboa: Cotovia, 2007. 67. PASCOAES, Teixeira de. Obras completas. Lisboa: Livraria Bertrand, 1973. 68. PEREIRA, Ana Teresa. Contos. Lisboa: Relógio D’Água, 2003. 69. PESSOA, Fernando. “Lisbon revisited”. In: ------. Poemas escolhidos. Rio de Janeiro: O Globo, 1997, p. 116-21. 70. POE, Edgar Alan. “O corvo”. In: ------. Ficção completa, poesia & ensaios. Tradução: Oscar Mendes; Milton Amado. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 895-9. 71. ------. “O homem das multidões”. In: ------. Ficção completa, poesia & ensaios. Tradução: Oscar Mendes; Milton Amado. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 392-400. 72. QUEIRÓS, Eça de. A cidade e as serras. Lisboa: Livros do Brasil, s/d. 243 73. ------. Contos. Porto: Lella Irmão, s/d. 74. RÉGIO, José. Obras completas. Porto: Portugália, 1964. 75. RODRIGUES, Urbano Tavares. Fuga imóvel. Lisboa: Moraes Editores, 1982. 76. RUBIÃO, Murilo. Contos reunidos. São Paulo: Ática, 1999. 77. SÁ-CARNEIRO, Mário de. A confissão de Lúcio. Rio de Janeiro: Ediouro, 1991. 78. ------. Céu em fogo. Lisboa: Ática, 1959. 28. SACHER-MASOCH, Leopold. A Venus das peles. Tradução: Saulo Kreiger. São Paulo: Hedras, 2008. 29. SARAMAGO, José. A jangada de pedra. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 30. ------. “Calor”. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 8, julho de 1972, p. 56-8. 79. ------. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 80. ------. História do cerco de Lisboa. Rio de Janeiro: O Globo, 2003. 81. ------. Levantado do chão. São Paulo: Bertrand, 1989. 82. ------. Memorial do convento. São Paulo: Bertrand, 2002. 83. ------. O ano da morte de Ricardo Reis. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 84. ------. O ano de 1993. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 85. ------. O Evangelho segundo Jesus Cristo. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. 86. ------. Todos os nomes. São Paulo: Planeta de Agostini, 2003. 87. TEIXEIRA-GOMES, Manuel. Novelas eróticas. Venda Nova: Bertrand, 1989. 88. VERDE, Cesário. Obra completa. Lisboa: Livros Horizonte, 1992. 89. WELLS, H. G.. A modern utopia. Londres: Odhams Press, 1908. 90. YEVGENY, Zamyatin. We. Londres: Trafalgar Square, 2009. 244 Obras teóricas sobre fantástico: 1. ALAZRAKI, Jaime. Hacia Cortázar: aproximaciones a su obra. Barcelona: Antrophos, 1994. 2. ------. “¿Qué es lo neofantástico?” In: ROAS, David. Teorías de lo fantástico. Madrid: Arco/Libros, 2001, p. 265-82. 3. ARRIGUCCI JR., Davi. “O sequestro da surpresa” In: ------. Outros achados e perdidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 304-12. 4. BARRENECHEA, Ana Maria. “Ensayo de una tipologia de la literatura fantástica”. In: Revista Iberoamericana. Pittsburgh: University of Pittsburgh, no 80, julho-setembro de 1972, p. 391-403. 5. BESSIÈRE, Irène. Le récit fantastique. Paris: Librairie Larousse, 1974. 6. CAILLOIS, Roger. Au coeur du fantastique en France. Paris: Gallimard, 1965. 7. CALVINO, Italo. “Définitions de territoires: le fantastique”. In: ------. Le machine littérature. Paris: Seuil, 1993, p. 55-6. 8. CASTEX, Pierre George. Anthologie du conte fantastique français. Paris: José Corti, 1963. 9. CESERANI, Remo. O fantástico. Tradução: Nilton Cezar Tridapalli. Curitiba: Ed. UFPR, 2006. 10. FERRARA, Lucrécia D’Aléssio. O texto estranho. São Paulo: Perspectiva, 1978. 11. FREUD, Sigmund. “O estranho”. In: ------. História de uma neurose infantil e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago, 1976, p. 233-270. 12. FURTADO, Filipe. A construção do fantástico na narrativa. Lisboa: Livros Horizonte, 1980. 13. LINS, Ronaldo Lima. “O fantástico: a modernidade exorcizada”. In: Revista Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, Abril-Junho de 1982, p. 40-51. 14. MARINHO, Maria de Fátima. O Surrealismo em Portugal. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1987. 245 15. MONEGAL, Emir Rodríguez. “Para uma nova poética da narrativa”. In: ------. Borges: uma poética da leitura. Tradução: Irlemar Chiampi. São Paulo: Perspectiva, 1980. 16. PAES, José Paulo. “As dimensões do fantástico”. In: ------. Gregos & baianos - ensaios. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 184-92. 17. SARTRE, Jean-Paul. “Aminadab, ou o fantástico considerado como uma linguagem”. In: ------. Situações I - críticas literárias. Tradução: Cristina Prado. São Paulo: Casac Naify, 2005, p. 133-49. 18. SCHWARTZ, Jorge. “O universo fantástico”. In: ------. Murilo Rubião: a poética do Uroboro. São Paulo: Ática, 1981, p. 54-82. 19. SERRA, Paulo. O Realismo Mágico na Literatura Portuguesa. Lisboa: Colibri, 2008. 20. TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. Tradução: Maria Clara Correa Castello. São Paulo: Perspectiva, 2004. 21. VAX, Louis. Arte y literatura fantásticas. Tradução: Juan Merino. Buenos Aires: Editorail Universitaria de Buenos Aires, 1965. 246 Obras teóricas sobre cidades e sociedades contemporâneas: 1. BAUDELAIRE, Charles. “O pintor da vida moderna”. Tradução: Suely Cassal. In: COELHO, Teixeira (org.). A modernidade de Baudelaire. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p. 159-212. 2. BAUMAN, Zigmunt. Globalização: consequências humanas. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 2000. 3. ------. Modernidade e ambivalência. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. 4. ------. “Modernidade e clareza: a história de um romance fracassado”. In: ------. A sociedade individualizada - vidas contadas e histórias vividas. Tradução: José Gradel. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 5. ------. Modernidade líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 6. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas vol. III - Charles Baudelaire um lírico no auge do capitalismo. Tradução: José Carlos Martins Barbosa; Hemerson Alves Baptista. São Paulo: Brasiliense, 2000. 7. BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar - a aventura da modernidade. Tradução: Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 8. BOLLE, Willi. Fisiognomia da metrópole moderna. São Paulo: EdUSP, 2000. 9. CERDEIRA, Teresa Cristina. “Ficções de Lisboa”. In: Revista Semear. Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio, no3, 1999, p. 73-84. 10. COELHO, Eduardo Prado. “As formas do invisível ou a duplicidade das cidades”. In: ------. A noite do mundo. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1988, p. 193-201. 11. DE CERTEAU, Michel. “Andando na cidade”. Tradução: Anna Olga de Barros Barreto. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: EdIphan, no 23, 1994, p. 20-9. 12. DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo - comentários sobre a sociedade do espetáculo. Tradução: Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 247 13. DELEUZE, Gilles. “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”. In: ------. Conversações. Tradução: Peter Pál Pelbart. Rio de Janeiro: Editora 34, 2000, p. 219-26. 14. FERRARA, Lucrecia D’Aléssio. “As máscaras da cidade”. In: Revista USP. São Paulo: Edusp, Março-Maio de 1990, p. 3-10. 15. ------. Olhar periférico. São Paulo: EdUSP, 1993. 16. ------. Os significados urbanos. São Paulo: EdUSP, 2000. 17. ------. Ver a cidade. São Paulo: Nobel, 1988. 18. FOUCAULT, Michel. “O panoptismo”. In: ------. Vigiar e punir. Tradução: Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 2009, p. 186-214. 19. GOMES, Renato Cordeiro. Todas as cidades, a cidade - literatura e experiência urbana. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. 20. LABORIT, Henri. O homem e a cidade. Tradução: Alberto Paes Salvação. Lisboa: Europa-América, 1990. 21. LAUWE, Paul-Henry Chombart de. “A organização social no meio urbano”. Tradução: Moacir Palmeira. In: VELHO, Otávio Guilherme (org.). O fenômeno urbano Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 22. LOUREIRO, La Salette. A cidade em autores do Primeiro Modernismo Pessoa, Almada e Sá-Carneiro. Lisboa: Editorial Estampa, 1996. 23. LYNCH, Kevin. A imagem da cidade. Tradução: Maria Cristina Tavares Afonso. Lisboa: Edições 70, 1996. 24. ORTEGA Y GASSET, José. A rebelião das massas. Tradução: Marylene Pinto Michael. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 25. PEREIRA, Nuno Teotónio. “Lisboa ao longo de uma vida”. In: Revista Semear. Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio, no3, 1999, p. 9-21. 26. PRYSTHON, Angela (org.). Imagens da cidade - espaços urbanos na comunicação e cultura contemporâneas. Porto Alegre: Sulina, 2006. 27. ROUANET, Sergio Paulo. “É a cidade que habitam os homens ou são eles que moram nela?”. In: Revista USP - Dossiê Walter Benjamin. São Paulo: EdUsp, no 15, Setembro-Novembro de 1993, p. 48-72. 28. SILVA, Duarte Nuno Almeida Alves da. Estórias da arquitectura portuguesa - uma reflexão em torno de imagens que a arquitectura constrói, o cinema fixa e o povo ordena. Coimbra: UC, 2007. 248 29. SILVA, Luis Roberto do Nascimento e. “A escrita das cidades”. In: Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Rio de Janeiro: EdIphan, no 23, 1994, p. 7-10. 30. WOOD, James. “Flaubert e o surgimento do flâneur”. In: ------. Como funciona a ficção. Tradução: Denise Bottmann. São Paulo: Cosac Naify, 2011, p. 53-63. 249 Outras obras teóricas: 1. ADORNO, Theodor W.. “Anotações sobre Kafka”. In: ------. Prismas crítica cultural e sociedade. Tradução: Augustin Wernet; Jorge Mattos Brito de Almeida. São Paulo: Ática, 1998, p. 239-70. 2. ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. “No castelo da história só há processos e metamorfoses, sem veredicto final”. In: PASSETTI, Edson (org.). Kafka, Foucault: sem medos. Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p. 13-32. 3. ANDERS, Günter. Kafka: pró e contra - os autos do processo. Tradução: Modesto Carone. São Paulo: Perspectiva, 1993. 4. ARISTÓTELES. Arte poética. Tradução: Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1964. 5. ------. Retórica. Tradução: Manuel Alexandre Júnior. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2006. 6. ASSIS, Machado de. “O Primo Basílio”. In: ------. Crítica literária. Rio de Janeiro: W. M. Jackson Inc., 1937, p. 153-78. 7. BATAILLE, George. O erotismo. Tradução: João Bernard da Costa. Lisboa: Moraes, 1980. 8. BERARDINELLI, Cleonice. “Um Best-seller do século XVI”. In: ------. Estudos de literatura portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1985, p. 77-80. 9. BESSA-LUÍS, Agustina. Menina e moça e a teoria do inacabado. Lisboa: UNL, 1984. 10. BLANCHOT, Maurice. “A leitura de Kafka”. In: ------. A parte do fogo. Tradução: Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 2011, p. 9-19. 11. CAMUS, Albert. “A esperança e o absurdo na obra de Franz Kafa”. In: ------. O mito de sísifo. Tradução: Urbano Tavares Rodrigues. Lisboa: Livros do Brasil, 19--?, p. 118-30. 12. CARMO, Carina Infante do. “A cidade irreal de José Gomes Ferreira”. In: LIMA, Isabel Pires de; EIRAS, Pedro; MARTELO, Rosa Maria. Viagem do século XX em José Gomes Ferreira. Porto: Campo das Letras, 2002, p. 4360. 250 13. COELHO, Jacinto do Prado. A originalidade da literatura portuguesa. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1992. 14. CORTÁZAR, Julio. Valise de Cronópio. Tradução: Davi Arrigucci Jr.; João Alexandre Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2008. 15. DACANAL, José Hildebrando. “A realidade em Kafka”. In: CARVALHAL, Tania Franco; DACANAL, José Hildebrando; SCHULER, Donaldo; STOCK, Rudolf M.. A realidade em Kafka. Porto Alegre: Movimento, 1973, p. 43-68. 16. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Kafka - para uma literatura menor. Tradução: Rafael Godinho. Lisboa: Assírio & Alvim, 2003. 17. FARIA, Duarte. Metamorfoses do fantástico na obra de José Régio. Paris: Fundação Calouste Gulbenkian, 1977. 18. FROMM, Erich. “Posfácios - Erich Fromm (1961)”. In: ORWELL, George. 1984. Tradução: Alexandre Hubner; Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 365-79. 19. HELLER, Erich. Kafka. Tradução: James Amado. São Paulo: Cultrix, 1976. 20. HUSSERL, Edmund. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica: introdução geral à fenomenologia pura. Tradução: Márcio Suzuki. Aparecida: Ideias&Letras, 2006. 21. LIMA, Luiz Costa. Limites da voz: Kafka. Rio de Janeiro: Rocco, 1993. 22. LÖWI, Michael. Franz Kafka, sonhador insubmisso. Tradução: Gabriel Cohn. Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2005. 23. MANGUEL, Alberto. “Cassandra na Inglaterra: a visão profética de H. G. Wells”. In: ------. À mesa com o Chapeleiro Maluco - ensaios sobre corvos e escrivaninhas. Tradução: Josely Vianna Baptista. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 182-9. 24. MARX, Karl. Crítica da filosofia do direito de Hegel. São Paulo: Moraes, 1991. 25. MELO, João de. “Prólogo”. In: ------ (org.). Antologia do conto português. Lisboa: Dom Quixote, 2002, p. 11-7. 26. NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal - prelúdio a uma filosofia do futuro. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 27. PADRÃO, Maria da Glória. Mário de Carvalho - Caso do Beco das Sardinheiras. In: Revista Colóquio/Letras. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, no 77, janeiro de 1984, p. 95-.9 251 28. PASSETTI, Edson. “Kafka-Foucault, sem medos”. In: ------ (org.). Kafka, Foucault: sem medos. Cotia: Ateliê Editorial, 2004, p. 9-12. 29. PLATÃO. A República. Tradução: M. H. R. Pereira. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. 30. PIGLIA, Ricardo. Formas breves. Tradução: José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 31. PIZA, Daniel. “O infinito da dúvida (Kafka)”. In Mistérios da literatura: Poe, Machado, Conrad, Kafka. Rio de Janeiro: Mauad, 2005.REMÉDIOS, Maria Luiza Ritzel. “Viagem, identidade e nação em Almeida Garrett”. In: Revista Scripta. Belo Horizonte: Editora Puc Minas, no 5, 2o semestre de 1999, p. 134-41. 32. POE, Edgar Allan. “Filosofia da composição”. In: ------. Ficção completa, poesia & ensaios. Tradução: Oscar Mendes; Milton Amado. Rio de janeiro: Nova Aguilar, 1986, p. 911-20. 33. ------. “Review of Twice-told tales”. In: Graham’s Magazine. Philadelphia: Harvard College Library, no 20, Janeiro de 1842, p. 398-430. 34. QUADROS, António. Crítica e verdade - introdução à actual literatura portuguesa. Lisboa: Livraria Clássica, 1964. 35. RIBEIRO, Leo Gilson. “O mundo demoníaco de Kafka”. In: ------. Cronistas do absurdo - Kafka, Buchner, Brecht, Ionesco. Rio de Janeiro: José Álvaro Editor, 1967, p. 13-42. 36. ROSENFELD, Anatol. “Reflexões sobre o romance moderno”. In: ------. Reflexões/Contexto I. São Paulo: Perspectiva, 1996. 37. RUFFRA, Astrid. Salvador Dalí. Barcelona: Cuadernos - Arte, 2010. 38. SARTRE, Jean-Paul. “Explicação de O estrangeiro”. In: ------. Situações I críticas literárias. Tradução: Cristina Prado. São Paulo: Casac Naify, 2005, p. 115-32. 39. STOCK, Rudolf M.. “O herói e seu mundo nos romances de Kafka”. In: CARVALHAL, Tania Franco; DACANAL, José Hildebrando; SCHULER, Donaldo; STOCK, Rudolf M.. A realidade em Kafka. Porto Alegre: Movimento, 1973, p. 91-111. 40. ZAGURY, Eliane. “Murilo Rubião, o contista do absurdo”. In: ------. A palavra e os ecos. Petrópolis: Vozes, 1971. 252 Obras visuais e audiovisuais: 1. ALLEN, Woody. Purple rose of Caire. Estados Unidos: Orion Pictures, 1985 (filme). 2. ------. Sleeper. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1973 (filme). 3. AMENÁBAR, Alejandro. Abre los ojos. Espanha/Itália/França: Artisan Entertainment, 1997 (filme). 4. COHEN. Douglas J.. Life after people. Estados Unidos: A&E Television Networks, 2009 (programa de TV). 5. CROWE, Cameron. Vanilla Sky. Estados Unidos: Paramount Pictures, 2001 (filme). 6. DA VINCI, Leonardo. “Gioconda”. In: coleção Gênio da Arte - Leonardo da Vinci. Tradução: Mathias de Abreu Lima Filho. Barueri: Girassol, 2007, v. 1, p. 68 (pintura). 7. FERREIRA, António. Embargo. Portugal/Brasil/Espanha: Persona Non Grata Pictures, 2010 (filme). 8. GODARD, Jean-Luc. Alphaville. França/Itália: Athos Films, 1965 (filme). 9. KUBRICK, Stanley. 2001: a space odyssey. Estados Unidos/Reino Unido: Metro-Goldwyn-Mayer, 1968 (filme). 10. ------. A clockwork Orange. Reino Unido: Warner Bros. Pictures, 1971 (filme). 11. LANG, Fritz. Metropolis. Alemanha: Universum Film A. G., 1926 (filme). 12. MAGRITTE, René. “La reproduction interdite”. In: PAQUET, Marcel. René Magritte. Koln: Taschen, 2006, p. 79 (pintura). 13. MASAGÃO, Marcelo. 1,99 - um supermercado que vende palavras. Brasil: Califórnia Filmes, 2003 (filme). 14. MICHELANGELO. “Creazione di Adamo”. In: coleção Gênio da Arte Michelangelo. Tradução: Mathias de Abreu Lima Filho. Barueri: Girassol, 2007, v. 3, p. 29 (pintura). 15. ROSS, Gary. The hunger games. Estados Unidos: Lionsgate, 2012 (filme). 253 16. SCHAFFNER, Franklin J.. Planet of the apes. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1968 (filme). 17. SCOTT, Ridley. Blade Runner. Estados Unidos: Columbia Tristar/Warner Bros. Pictures, 1982 (filme). 18. SPIELBERG, Steven. E. T. - The extra-terrestrial. Estados Unidos: Universal Pictures, 1982 (filme). 19. TARANTINO, Quentin. Kill Bill. Estados Unidos/Japão: Miramax Films, 2003/2004 (filme). 20. TRUFFAUT, François. Fahrenheit 451. França/Reino Unido: Anglo Enterprises/Vineyard Film., 1966 (filme). 254 Resumo: É ponto pacífico entre os críticos que a literatura fantástica do século XX possui uma função de problematizar o real, processo que se concretiza a partir da revelação do que há na realidade mimética de insólito — ou, antes, do desmascaramento de uma segunda realidade. Podemos dizer que este gênero, em sua manifestação novecentista, motiva o olhar do leitor a voltar-se para elementos do cotidiano que, exatamente por serem habituais, são, com muita frequência, ignorados. Provocar uma mudança de paradigma na vivência do homem-leitor moderno significa então, em termos práticos, convidá-lo a abandonar a sua condição de ser apenas um homem da multidão — modo de ser que a modernidade lhe legou e a que a sociedade capitalista o condenou em função de sua absorção indiscriminada por um cotidiano que não permite a produção de questionamentos que o ponham em causa. Essa literatura, que nos suspende da tangibilidade do real, faz do leitor um convidado — ou, antes, convocado — a ler o contexto de estranhamento apresentado, seduzido que se torna pelo insólito que transforma o seu mundo mimético, tal qual ele o conhece, com um intuito muito evidente de obrigá-lo a olhar, no percurso da leitura empreendida, para si próprio e para o seu redor, resgatado que é desta forma de uma passiva cegueira que o impede de compreender-se na cidade contemporânea enquanto nela vive aprisionado pelo seu ritmo que é, ao mesmo tempo, frenético e burocrata, cíclico e entediante — por fim, alienante. O desafio de descodificar a narrativa fantástica intriga o leitor e o alicia a descodificar também o mundo mimético que ela estrategicamente transforma para representá-lo e questioná-lo. São manifestações destes temas sócio-urbanos instituídos sob construções textuais desta natureza fantástica o que esta pesquisa perscrutou em contos produzidos na literatura portuguesa do século XX. 255 Résumé: Il est bien évident, chez les critiques de la littérature fantastique du XXe siècle qu’elle garde une fonction de mettre en question le réel, ce qui prend forme à partir de la prise de conscience de ce qu’il y a d’insolite dans la réalité mimétique elle-même — ou, en d’autre termes, de dénonciation d’une deuxième réalité. Nous pouvons dire que ce genre, dans ses manifestations au cours du XXe siècle, invite le lecteur à se tourner vers des éléments du quotidien qui, étant pris justement comme habituels, deviennent par là-même fréquemment ignorés. Provoquer un changement de paradigme dans l’expérience humaine signifie alors, en termes pratiques, l’inviter à abandonner sa condition d’être tout simplement un homme de la multitude — état qui lui a été légué par la modernité et auquel la société capitaliste l’a condamné en fonction de son absorption indiscriminée par un quotidien qui ne lui permet pas de produire des remises en question capables de le mettre en cause. Cette littérature, qui nous suspend de la tangibilité du réel, invite — ou plutôt convoque — le lecteur à lire le contexte d’étrangeté qui lui est présenté, séduit qu’il sera par l’insolite qui métamorphose le monde mimétique auquel il est habitué et qu’il croit bien connaître, dans le but évident de le faire voir — dans le parcours de sa lecture — à soi-même et à son alentour. Il échappe ainsi à l’aveuglement passif qui l’empêche de se comprendre dans la métropole contemporaine tant qu’il y vit prisonnier de son rythme qui est en même temps frénétique et bureaucratique, cyclique et ennuyant, bref, aliénant. Le défi de décoder le récit fantastique intrigue le lecteur et l’invite à décoder d’autre part le monde mimétique qu’il est capable de transformer pour mieux le représenter et le mettre en question. Ce sont des manifestations de ces thèmes socio-urbains institués par des constructions textuelles de nature fantastique ce que cette recherche a voulu perscruter dans les contes produits par la littérature portugaise du XXe siècle. 256 Abstract: It is an undisputed point of view among the critics that the Fantastic Literature of the twentieth century plays a role of questioning the reality, process which is achieved from the revelation of what is there in the mimetic reality of the unusual — or, instead, the unmasking of a second reality. We can state that this genre, in its nineteenth century manifestation, motivates the reader’s eye to turn to elements of the daily life which, precisely for being habitual, are very often ignored. Making a change in the paradigm of the experience of the modern man reader means then, in practical terms, inviting him to abandon his condition of being only a man in the crowd — way of being which modern age has bequeathed him, and that the capitalist society has condemned him because of an indiscriminate absorption of a daily life which does not allow for the production of questions that will include him in the subject. This literature, which lifts us from the tangibility of the reality, makes the reader a guest — or rather — the reader was summoned, to read the context of the strangeness which was presented, and became seduced by the unusual which transforms his mimetic world, just as he knows it, with a very clear intention of forcing him to look, during the reading being done, at himself and at his surroundings, being this way rescued from a passive blindness which prevents him from visualizing himself in the contemporary city in which he lives imprisoned by its rhythm which is, at the same time, frantic and bureaucratic, cyclical and tedious — finally alienating. The challenge to decode the fantastic narrative intrigues the reader and persuades him to decode the mimetic world as well which is transformed strategically by the narrative in order to represent it and question it. Manifestations of such socio-urban themes established under textual constructions of this fantastic nature are what this research has examined in short stories written in the Portuguese literature of the twentieth century. 257 “Se ando por ruas quase escuras As ruas passam...” Música urbana (Flávio Lemos, Fê Lemos, Renato Russo, André Pretorios) 258
Download