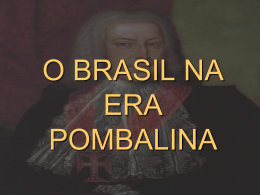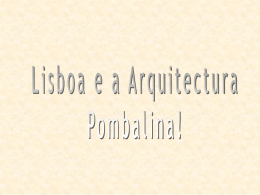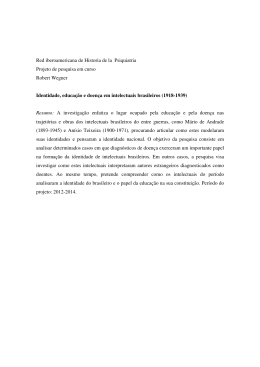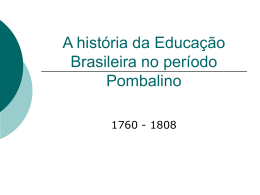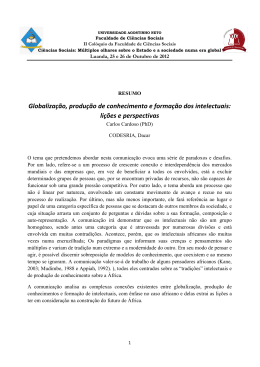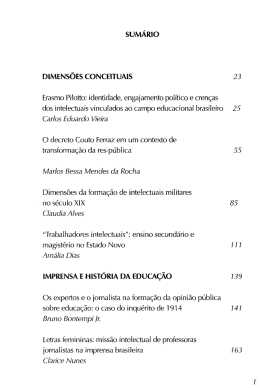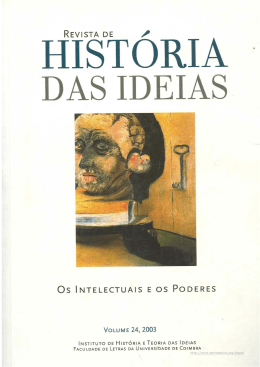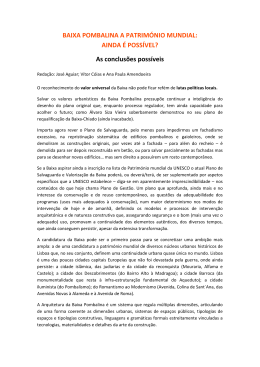A ESCOLA E A INVENÇÃO DAS IDENTIDADES NACIONAIS Luiz Eduardo Oliveira (UFS) [email protected] Palavras-chave: ensino das línguas; escola; identidade nacional; reformas pombalinas O nacionalismo, em função de uma língua e uma literatura nacional que apaga as diferenças étnicas, sociais, linguísticas e culturais que não se encaixam no projeto nacional de que o Estado e os homens de letras são os principais representantes, estabelece o padrão necessário para a produção de dicionários, gramáticas, antologias, parnasos e, principalmente, histórias literárias, os quais, institucionalizando-se nos sistemas de educação nacionais, serão uma instância preponderante, no século XIX, para a legitimação das identidades nacionais. Estas constituem-se discursivamente, em confronto com uma alteridade que pode ser representada pelo colonizador ou pelas nações concorrentes, em relação às quais, ou em decorrência das quais, suas narrativas vão sendo produzidas. Nesse sentido, o processo de institucionalização do ensino das línguas nacionais, seja como instância legitimadora do Estado-Nação, seja como disciplina escolar e acadêmica, encontra-se indissoluvelmente associado ao da configuração das identidades nacionais. A maioria dos preâmbulos das peças legislativas pombalinas assume um caráter de recuperação – econômica, política, literária etc. – de um tempo perdido, filiando-se assim à mitologia do eterno retorno da Idade de Ouro. Um tempo na verdade mítico, uma vez que perde suas origens nos próprios mitos do tempo. O período eleito é o século XVI: época, como se sabe, da formação dos Estados europeus, da revolução científica, das reformas religiosas, da colonização, da ascensão dos vernáculos, da gramatização e da escolarização. Não por acaso, é o período escolhido pela historiografia ocidental para demarcar e fundamentar o conceito de “modernidade”. A grande inovação da legislação pombalina, especialmente aquela voltada para a instrução pública, de modo geral, e ao ensino das línguas, em particular, foi a ênfase dada à institucionalização do ensino da língua portuguesa, desde então assumida como língua nacional. Embora as motivações da Lei do Diretório, de 1757, fossem de ordem muito mais político-econômica do que propriamente linguística, uma vez que visavam o aumento da Fazenda Real e o incremento do “commercio do Sertão”, tal documento foi de fundamental importância para a consolidação da língua portuguesa como língua nacional em Portugal e no Brasil, principalmente por consolidar o papel do catecismo como o dispositivo principal no processo de escolarização e como método do ensino das primeiras letras. Desse modo, se Luís Antônio Verney (1713-1792), já em 1747, mostrava-se preocupado com a valorização da “índole” da língua vernácula, e se em 1757 a Lei do Diretório enfatizava a necessidade da imposição da “Língua do Príncipe”, proibindo que meninos e meninas usassem “da língua própria das suas Nações”, já em 1827, alguns anos depois de o Brasil ter negociado, por intermédio da Inglaterra, sua independência, a Lei de 15 de outubro, mandando criar escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, estabelecia, em seu artigo sexto, a “gramática da língua nacional” – isto é, da língua portuguesa – entre as matérias a serem ensinadas pelos professores. O reinado de D. João V (1689-1750), em Portugal, foi marcado, dentre outras coisas, pelos efeitos do Tratado de Methuen, tendo Portugal adquirido, na memória histórica portuguesa, a imagem de um reino afastado tanto de seus vizinhos ibéricos – mesmo depois dos casamentos reais entre as duas Casas peninsulares – quanto da Europa ilustrada, sob a liderança de um rei tido por lúbrico e beato1. Todavia, do ponto de vista cultural, o período joanino caracteriza-se pela importação de artistas e intelectuais estrangeiros, especialmente de músicos italianos, bem como pela encomenda sistemática de pinturas e obras arquitetônicas, graças ao incremento financeiro advindo do ouro do Brasil. A construção do palácio e convento de Mafra, de 1713 a 1730, a fundação da Real Academia da História Portuguesa, que funcionou de 1720 a 1776, a tradução e impressão de obras portuguesas e estrangeiras, inclusive de periódicos, e a constituição da figura do homem de letras “estrangeirado”2, representado por escritores que tiveram experiências diplomáticas ou formativas internacionais, tais como o já referido D. Luís da Cunha, Alexandre de Gusmão (1695-1753), Martinho de Mendonça de Pina Proença (1693-1743), António Nunes Ribeiro Sanches (16991783), Luís António Verney (1713-1792) e Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), mais tarde Marquês de Pombal. Com relação à organização administrativa do reino português, há uma mudança importante depois da extinção virtual, por volta de 1720, do Conselho de Estado: a criação das Secretarias de Estado, sobretudo após a morte do conselheiro Diogo de Mendonça de Cortes Real (1658-1736). A partir de então, passou a existir uma Secretaria de Estado do Reino, uma da Guerra e Negócios Estrangeiros e outra do Ultramar. A estrutura social de Portugal, nesse período, é característica das formações sociais ibéricas durante o século XVIII, sendo constituída pelo clero, seu primeiro “braço”, pela 1 Voltaire (1694-1778), por exemplo, assim descrevia o monarca português: “Quando queria uma festa, ordenava Para Falcon (1993, p. 204; 320), “o fenômeno do ‘estrangeiramento’” pode ser definido como “o produto de uma cisão entre aqueles que, viajando e que vinham de fora, militares e diplomatas de outras nações, puderam mudar suas maneiras de ver e de sentir, e os demais que, insulados, ficaram impermeáveis a tudo que viesse do estrangeiro. Foi este o ponto de partida para a divisão ideológica entre os nacionais ou ‘castiços’ e os ‘estrangeiros’, questão magna da Ilustração portuguesa, [...]”. Desse modo, os estrangeirados podem sê-lo pelo sangue ou pela educação: “O sangue é hebraico, é o que une os judeus e cristãos-novos, separando-os dos castiços. A educação é a cultura absorvida no exterior, desnacionalizante, contrária à formação castiça”. 2 nobreza e pelo “terceiro estado”, onde se agrupavam várias gradações dos sectores rural e urbano. Vale ressaltar, em tal contexto, o crescimento das cidades, que passam a ser povoadas por oficiais mecânicos e empregados de oficinas, do comércio e de serviços domésticos, bem como por desocupados, mendigos, negros, ciganos e escravos, e o aumento dos funcionários públicos, o que favorece à burguesia – comerciantes e empresários manufatureiros – na competição pelos novos cargos criados pelo governo, em detrimento dos nobres e de membros do clero. Assim, testemunhamos a emergência do “homem de letras”, que se materializa na figura do novo tipo de “intelectual orgânico”, no sentido gramscinao do termo. Em seu texto clássico sobre os intelectuais e a organização da cultura, Gramsci (2006, p. 15; 18) afirma que, embora seja possível dizer que todos os homens são intelectuais, independentemente do tipo de atividade que desenvolvem, apenas alguns têm essa função na sociedade, uma vez que todo grupo social cria para si, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência de sua própria função, nos campos econômico, social e político. Para Bauman (2010, p. 15), na época em que foi cunhada – nos primeiros anos do século XX –, a palavra “intelectual” buscou recapturar e reafirmar a centralidade social e as preocupações globais em voga no Iluminismo, pois era aplicada indistintamente a uma série de romancistas, poetas, artistas, jornalistas, cientistas e outras figuras públicas que exerceram influência sobre as mentalidades da nação. Com efeito, a Encyclopédie, ao redefinir o mundo do conhecimento para os leitores modernos, identificou-o com os philosophes, de modo que a emergência de tais “homens de letras” como novo tipo social, e com força suficiente para interferir nos rumos políticos e culturais de determinadas formações sociais, coincide com as publicações e episódios históricos associados ao que se concebe como Iluminismo. Nesse sentido, o que hoje identificamos como intelectual corresponde ao philosophe, ou homem de letras do século XVIII (Darnton, 2005, p. 24-25). É justamente por derivar seu significado da “memória coletiva do Iluminismo”3 que a categoria “intelectual” é usada neste texto, embora reconheça, com o referido autor, que a palavra foi criada numa época em que os descendentes da República das Letras já tinham se dividido e especializado. Desse modo, se, por um lado, o uso da palavra, para nos referimos aos autores, diplomatadas, professores, poetas e políticos de finais do século XVIII e início do XIX, pode soar ahistórico, por outro pode evitar o anacronismo muito corrente de particularizar ou especializar funções ainda não especializadas ou suficientemente segregadas de outras de que faziam parte. Assim, optamos por não taxar 3 Z. Bauman, Op. Cit., p. 16. de “poetas”, “historiadores”, “gramáticos” ou “filólogos”, mas de intelectuais os “homens de letras” que, em seus respectivos contextos institucionais, contribuíram para o debate dos temas políticos, econômicos, sociais, linguísticos e literários em voga na época. No caso de Portugal, Falcon (1993, p. 229) identifica três tipos de intelectuais nesse período: os “intelectuais tradicionais eclesiásticos”, que representam a antiga ordem senhorial; os “intelectuais tradicionais não-eclesiásticos”, que são os integrantes do aparelho burocrático do Estado absolutista – juízes, conselheiros, diplomatas, administradores etc. –, e os “novos intelectuais”, que, embora fossem egressos dos tipos anteriores, são orgânicos em relação à burguesia em ascensão, constituindo, no século XVIII, o tipo consagrado do “homem de letras”. Nesse sentido, o período joanino pode ser entendido como um momento de transição, uma vez que precede a viragem política e ideológica da época pombalina. É um período de riqueza, ostentação e luxo, visível no esplendor barroco de sua arquitetura e de suas carruagens, vestimentas, procissões, autos-de-fé e festas populares, tudo patrocinado pelo fluxo aurífero. É também, segundo o mesmo autor, “a época de ouro dos freiráticos”, caracterizada pelo assédio dos nobres aos conventos, onde se encontravam belas moças das grandes famílias nobres que não encontravam casamento e para lá eram mandadas por imposição paterna. Para Saraiva e Lopes (1979, p. 595), o reinado de D. João V caracteriza-se por uma contradição fundamental: se, por um lado, o surto da mineração brasileira proporciona a ocasião ideal para o realinhamento da aristocracia e do clero ao trono absolutista, possibilitando assim o florescimento da cultura barroca, por outro o aparente isolamento de Portugal com relação à Europa começa a ser objeto de críticas dos estrangeirados, algo que vai servir de mote ao discurso da legislação pombalina, que vai buscar colocar Portugal em condições de igualdade com as “nações polidas da Europa”. É justamente sobre a defasagem cultural, política e econômica de Portugal com relação às demais potências da Europa que vai recair a crítica dos estrangeirados. O fluxo aurífero e diamantino fazia aflorar problemas monetários que colocavam em primeiro plano as questões econômicas, as quais encontravam expressão num discurso mercantilista de que são precursores o padre Antônio Vieira (1608-1697), cuja doutrina baseava-se na atividade mercantil, como se nota em sua defesa da Companhia das Índias Ocidentais, fundada em 1649 por D. João IV, e na Proposta que se fez ao sereníssimo rei D. João IV a favor da gente de nação pelo Padre Antonio Vieira sobre a mudança dos estilos do Santo Ofício e do fisco em 1646, na qual pede que se admitam os “judeus públicos” no reino de Portugal, pela sua aplicação ao comércio, e Duarte Ribeiro de Macedo (1618-1680), diplomata que propunha o desenvolvimento da atividade manufatureira do Estado, especialmente em seu Discurso sobre a introdução das artes no reino (1675), onde enfatiza a importância do comércio e o perigo da saída da moeda, considerada por ele “o sangue das monarquias”. Tais discursos encontraram expressão política em D. Luís de Meneses (1632-1690), terceiro conde de Ericeira, vedor da Fazenda que, a partir de 1675, passou a impulsionar a manufatura, tendo em vista o problema da balança comercial, mas irão consolidar-se com os intelectuais estrangeirados da geração seguinte, os quais, tendo a vantagem de observar a situação de outros países europeus, voltavam seu olhar distanciado para a situação de isolamento e decadência de Portugal, no intuito de diagnosticar as suas causas. A primeira fase da governação pombalina foi marcada por acontecimentos decisivos para o desdobramento das relações político-diplomáticas entre Portugal e Inglaterra: a implementação do Tratado de Madri (1750), o terremoto de Lisboa, em 1755, e a Guerra dos Sete Anos (1756-1763), que opôs a França, a Rússia e a Áustria à Prússia e à Inglaterra. A Espanha, inicialmente neutra no conflito, aliou-se à França em 1759, quando da subida ao trono de Carlos III (1716-1788), após a morte de Fernando VI (1713-1759), especialmente quando os ingleses começaram a atacar, no final de 1760, as colônias espanholas das Antilhas. A diplomacia portuguesa tentou, sem sucesso, casar o rei viúvo da Espanha e seu primogênito com infantas portuguesas, mas em 1761, com a formação do terceiro Pacto de Família entre os monarcas da Casa de Bourbon da França, da Espanha, de Nápoles e Parma, a França exigiu que Portugal fechasse os portos aos ingleses. Mantida a já histórica aliança, sacramentada que estava pelo Tratado de Methuen, os exércitos franceses e espanhóis atacaram Portugal em abril de 1762, declarando guerra posteriormente. Foi nesse período também que começou a manifestar-se de modo mais ostensivo o descontentamento dos sectores mercantis ingleses com relação às medidas protecionistas de Pombal, bem como as manobras de açambarcamento de trigo realizadas por comerciantes ingleses, burlando assim o Regimento do Terreiro do Trigo. A partir de 1762, as relações anglo-portuguesas passaram por uma série de atritos, os quais já vinham se manifestando através da reação dos comerciantes ingleses estabelecidos em Portugal contra a política econômica pombalina. Assim, quando ocorreu a invasão espanhola na província de Trás-os-Montes, o então conde de Oeiras se viu obrigado, a contragosto, a solicitar auxílio militar inglês, o que mais uma vez fazia ver a sua situação de dependência política e econômica com a antiga aliada. Na Inglaterra, contudo, a aliança era objeto de várias críticas. Em 11 de maio de 1762, por exemplo, quando foi apresentada na Câmara dos Comuns a mensagem do rei recomendando apoio a Portugal, o representante dos comerciantes de Londres, Mr. Clover, colocou-se contra a proposta, sendo sua oposição repercutida numa carta aberta dirigida ao monarca português e publicada no mesmo ano e na mesma cidade com o título de Punch’s pollitiks. Conforme o panfleto, o primeiro passo a ser dado pelo rei de Portugal seria “uma retirada imediata a bordo da frota britânica, com seus tesouros, toda a sua família e vassalos fiéis [...] para os Brasis”. Assim, os conquistadores seriam deixados com a “concha” enquanto o “núcleo” seria levado embora. Tal plano, descrito como o “sonho de fadas” de Mr. Punch, tinha o objetivo de alertar Pombal: “Se o comércio da Grã-Bretanha não for capaz de encorajar o da França e da Espanha, adieu à liberdade do vosso país”. Três anos depois, o ministro britânico em Lisboa, Mr. Hay, afirmava, num relatório enviado a Londres, que Pombal, ao mesmo tempo em que estabelecia o princípio de que era de interesse da Inglaterra ajudar Portugal em todas as suas emergências, tomava uma série de medidas comerciais que faziam com que tal interesse diminuísse (Maxwell, 1996, p. 120). Com efeito, para competir com os ingleses no comércio colonial, Pombal concedeu privilégios especiais de proteção aos grandes empresários portugueses da Companhia do Grão Pará e Maranhão, criada em 1755, assegurando-lhes o direito exclusivo do comércio e navegação das capitanias, o que fez com que fossem expulsos do Brasil todos os comissários volantes, principal elo de ligação entre os comerciantes estrangeiros e os produtores brasileiros, e banidos os pequenos comerciantes itinerantes. O mesmo havia acontecido com a criação, em 1756, da Companhia Geral da Agricultura dos Vinhas do Alto Douro, que teve o objetivo inicial de proteger os principais proprietários de vinhedos, incluindo ele próprio, em prejuízo dos pequenos produtores, que vendiam mais do que o dobro de vinho aos comerciantes ingleses. Estes não reagiram de imediato porque as companhias, além de não representarem ameaças abertas à hegemonia comercial inglesa em Portugal, não violavam nenhum dos tratados. Tudo leva a crer que se tratava de um plano camuflado de atacar os interesses ingleses, o que havia sido possibilitado pela sua habilidade política, adquirida depois de muitos anos vivendo no exterior como diplomata. Segundo Maxwell (1996, p. 67), a política econômica pombalina não pode ser confundida com o Mercantilismo em sentido restrito, em que o comércio é regulamentado, taxado e subsidiado pelo Estado, pois o seu intuito era fazer uso de técnicas mercantilistas para facilitar a acumulação de capital pelos comerciantes portugueses, individualmente. Com efeito, dada a importância, à época, do desenvolvimento do comércio para a prosperidade econômica de Portugal, o ministro de D. José I havia não somente legislado sobre questões consideradas emergenciais, como as referentes ao negócio do vinho e das matérias primas produzidas no Brasil, mas também sobre a formação de futuros comerciantes, o que só traria resultados a longo prazo. Assim, antes da reforma dos Estudos Menores, em 1759, Pombal buscou desenvolver, no campo da Instrução Pública, os setores relacionados com as tentativas de recuperação econômica da nação portuguesa, que, embora possuísse uma história de conquistas e riquezas, estava em decadência, especialmente na América do Sul, onde a sangria, causada pelos jesuítas, negociantes ingleses, colonos, escravos libertos bemsucedidos e contrabandistas, impedia um melhor aproveitamento do ouro e dos diamantes da colônia. Foi com esse intuito que foi criada, pela Junta do Comércio, a Aula do Comércio, cujos estatutos foram publicados com o Alvará de 19 de maio de 1759, em razão da falta de formalidade na distribuição e ordem dos Livros do Comércio, tida como uma das causas da decadência de muitos negociantes, bem como da ignorância da redução dos dinheiros, pesos e medidas, câmbios e outras matérias mercantis, o que causava grandes prejuízos a Portugal, sobretudo em suas negociações com as nações estrangeiras. Com os mesmos objetivos foi criada, pela Junta Administrativa da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, uma Aula de Náutica, com o Decreto de 30 de julho de 1762 (Oliveira, 2010, p. 49102). Um ponto recorrente no discurso da legislação pombalina relativa à instrução comercial diz respeito à necessidade de tornar esta profissão digna para os nobres e a nascente burguesia mercantil, deixando de relacionar-se, no imaginário popular, com as atividades plebeias. O governo português, nesse sentido, buscava formar um novo homem, apto a enfrentar os desafios que a modernidade impunha ao comércio: o “perfeito negociante”. Por mais que suas iniciativas tenham encontrado obstáculos políticos e econômicos, o que fez com que muitas vezes não saíssem do papel, o fato é que elas iniciaram um movimento sem precedentes de valorização e institucionalização das atividades comerciais em Portugal. Em 29 de julho de 1803, por exemplo, foi publicado um Alvará confirmando os Estatutos da recém-criada Academia Real de Marinha e Comércio da Cidade do Porto, assinados por Luís Pinto de Sousa Coutinho (1735-1804), primeiro visconde de Balsemão, conselheiro, ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Reino, os quais previam o ensino de “hum systema de Doutrinas Mathematicas, e Navegação, e huma Aula de Commercio, outra de Desenho, e duas das Linguas Ingleza e Franceza”, acrescentando “outra Aula para as lições de hum Curso de Filosofia Racional e Moral, assim como outra de agricultura”. A condição de ingresso para os discípulos, além da idade mínima de quatorze anos, era o conhecimento das quatro operações da Aritmética. As aulas das línguas francesa e inglesa são tratadas especificamente do Título XXIX ao XLIII, sendo possível verificar não apenas o seu papel como instrumento de acesso, pela tradução, aos conhecimentos adequados às matérias da academia, mas também um pouco do seu método de ensino, baseado principalmente na gramática e na tradução, com alguma ênfase na pronúncia, no intuito de apreender o “gênio”, o “caráter”, o “estilo” e “gosto” de cada uma delas nos “Authores dignos de se estudarem” (Oliveira, 2010, p. 61-63). A Academia Real de Marinha e Comércio da cidade do Porto era uma reivindicação antiga da Junta Administrativa da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto D’ouro, que em 1785 havia solicitado a El Rei a criação de Aulas de Matemática e Comércio. Sua Relação de 4 de janeiro de 1803, ao reforçar os argumentos em prol da criação da academia, é bastante esclarecedora a respeito da necessidade e utilidade do conhecimento das línguas estrangeiras para os marinheiros e comerciantes. As relações comerciais entre Portugal e Inglaterra provocaram também o incremento do ensino do inglês e do português como língua estrangeira. Esse era um discurso frequente nos prefácios das gramáticas e dicionários então publicados, desde A Portuguez Grammar, de 1662, escrita por um capitão francês chamado Monsieur de La Molliere e dedicada a Carlos II da Inglaterra, logo depois de seu casamento com Catarina de Bragança, passando por A Complete Account of the Portugueze Language, dicionário publicado em Londres em 1701 e composto por um certo A. J. – Alexander Justice, segundo Manuel Gomes da Torre (1996) –, até a Grammatica anglo-lusitanica & lusitano-anglica, cuja primeira edição data de 1731, de autoria de Jacob Castro. Com efeito, o objetivo principal da primeira gramática inglesa escrita em português de que se tem notícia, conforme as palavras do autor no prefácio, era o seu “great Use in Commerce”, isto é, sua grande utilidade no comércio. Na edição a que tivemos acesso – a terceira, datada de 1759 e impressa em Londres –, o título completo é Grammatica anglo-lusitanica & lusitano-anglica ou Gramatica Nova, Ingleza e Portugueza, e Portugueza e Ingleza; dividida em duas partes”, a primeira para a “instruição dos Inglezes que desejarem alcançar o conhecimento da Lingua Portugueza” e a segunda “para o uso dos Portuguezes que tiverem a mesma inclinação a Lingua Ingleza. Segundo informações da folha de rosto do livro, a primeira parte foi corrigida e emendada, e a segunda “executada por Methodo claro, familiar, e facil”. O autor, J. Castro, era “Mestre e Traductor de ambas as Linguas” e ensinava, tanto em sua casa quanto “por fora”, a “Ler, Escrever, Contar, e Livro de Caixa pello Modo Italiano e em pouco Tempo (sem as costumadas Regras, Taboadas, e impertinentes ou inutils Questoens) por um Methodo, claro, patente, e bem a provado no estilo Mercantil”, tendo já publicado um Tratado intitulado Hum presente para os mancebos em entrando ao Contor (Compting-House), como faz questão de frisar, numa “Advertência” escrita nas duas línguas (Castro, 1759, p. xii). Não sendo a preparação militar uma das prioridades do Conde de Oeiras e futuro Marquês de Pombal, os aliados ingleses reputavam como miserável o estado do exército português. Mesmo assim, devido à inconsistência e às dispersões das investidas francoespanholas, ao apoio de tropas inglesas e à chegada a Lisboa do conde Guilherme de Schaumburg-Lippe, que era senhor de um pequeno Estado germânico e havia se tornado marechal-general e diretor de todas as armas do exército português, o reino conseguiu sobreviver à invasão, sendo assinado no final de 1762 um armistício entre os exércitos peninsulares. Por outro lado, se os desdobramentos de tais conflitos denunciam a fragilidade militar de Portugal e de seus territórios, demonstrando que o exército era um reduto aristocrático difícil de ser controlado, isso não significava necessariamente que o governo não se preocupava com a formação e a organização das armas portuguesas. Em 1763, por exemplo, dando continuidade a uma série de medidas tendentes à organização dos Corpos da Milícia de Terra e Mar, D. José I decretou, no dia 10 de maio, que os Corpos de Artilharia fossem reduzidos a quatro regimentos de doze companhias cada um. Seu regulamento, expedido com o Alvará de 15 de julho, foi cometido ao “prudente exame, e madura consideração” do Conde Reinante de Schaumbourg Lippe, “Meu muito amado e presado primo, e Marechal General do Meus Exércitos”, segundo o soberano (Ribeiro, 1871, p. 303). Uma medida importante nesse sentido foi a Carta de Lei de 7 de março de 1761, publicando os Estatutos do Real Colégio dos Nobres – antigo Colégio das Artes dirigido pelos Jesuítas –, aberto oficialmente em 19 de março de 1766 e destinado à formação do “perfeito militar”. O Plano de Estudos da nova instituição trazia novidades, pois além das matérias usuais do ensino de Humanidades (latim, grego, retórica, filosofia, teologia), estavam presentes alguns elementos das matemáticas, astronomia e física, e se achava recomendado o estudo das línguas francesa, italiana e inglesa. Os Estatutos do Real Colégio dos Nobres foram recebidos com entusiasmo, principalmente pelo Diretor Geral dos Estudos D. Tomás de Almeida, que se envolveu muito no projeto e no mesmo ano da publicação dos estatutos enviou várias cópias para todos os governadores e comissários do Brasil (Andrade, 1978, p. 104-108). Ao que parece, as Cartas sobre a educação da mocidade (1760), do “estrangeirado” António Nunes Ribeiro Sanches (1699- 1783), com quem Pobal travou conhecimento na Áustria, originaram-se de suas correspondências com o Principal de Almeida, nas quais o médico e cristão-novo português propunha como modelo ideal que se podia imitar em Portugal: a Escola Real Militar de Paris, estabelecida em 1751. Assim, o Real Colégio dos Nobres teria sido inspirado em suas ideias (Braga, 1898, p. 348-351). No entanto, o funcionamento da instituição, pelo menos até 1772, quando, com a reforma da Universidade de Coimbra, foi abolido o ensino das matemáticas no colégio, parece ter sido marcado pelo fracasso, sendo os professores de francês e inglês contratados somente em 1785. Ao criticar a historiografia disponível à época da publicação de sua obra sobre As reformas pombalinas da instrução pública (1952), Laerte Ramos de Carvalho (1978, p. 186) afirma que é lastimável o fato de os historiadores apreciarem a ação do gabinete de D. José I como obra exclusiva de um só homem, uma vez que o “pombalismo” apresenta-se muito mais como um denominador comum de opiniões correntes, antes e durante os anos de seu governo, integradas no protagonismo de um ministro que buscou realizar, na prática, mediante o seu poder legiferante, os ideais e aspirações de caráter político, econômico, pedagógico e cultural de muitos intelectuais setecentistas, alguns deles portugueses, embora “estrangeirados”. Com efeito, o próprio discurso da legislação pombalina – que é redigida em primeira pessoa, em nome de “El Rei” – deixa claro em seus preâmbulos que as peças legislativas são elaboradas somente depois das consultas às “pessoas do Meu Conselho, e outros Ministros doutos, experimentados e zelosos no serviço de Deus”, como se lê no Alvará de 19 de maio de 1759, com o qual foram publicados os Estatutos da Aula do Comércio, ou dos pareceres dos “Homens mais doutos, e instruídos neste genero de erudições”, como é o caso do Alvará de 28 de junho de 1759. A questão da autoria das peças legislativas expedidas durante o período pombalino, nesse sentido, apresenta um problema de difícil solução para o historiador, uma vez que, mesmo levando em conta as diversas consultas, com suas consequentes alterações do texto da minuta de uma determinada lei, ou as intervenções de caráter ortográfico ou sintático dos tipógrafos, que também afetam o processo de construção de sentido dos textos, resta ainda o fato de que algumas peças legislativas dos séculos XVIII e XIX, tais como os Alvarás, Provisões e Decisões com força de lei sobre Instrução Pública, ao indicarem algum método ou compêndio de determinada matéria, ou regularem a remuneração de um ou mais professores, não são previsões legais, mas verdadeiras sentenças – no sentido jurídico do termo – proferidas, muitas vezes, sobre requerimento das partes interessadas, constituindo, portanto, representações bastante significativas de situações concretas, de “práticas” enfim (Oliveira, 2010, p. 13-15). No caso do Alvará de 28 de junho de 1759 – também conhecido como Lei Geral dos Estudos Menores –, por exemplo, é sabido que Sebastião José de Carvalho e Melo, em 9 de fevereiro daquele mesmo ano, dirigiu-se a Gaspar de Saldanha de Albuquerque, à época reitor da Universidade de Coimbra, solicitando informações e pareceres para a elaboração da determinação régia que iria proibir os jesuítas de ensinar e reformar o ensino de humanidades em Portugal e seus domínios. Em sua carta de resposta, o reitor juntou o parecer do lente António Denis de Araújo, o qual teria sugerido, dentre outras coisas, o estabelecimento do latim como “base para todas as sciencias” e a manutenção das línguas grega e hebraica, além da inserção do francês e do italiano, tal como propunha Verney, no “apêndice II” da “Carta Primeira” de seu Verdadeiro método de estudar (1746), algo que não foi acatado na redação final da lei, embora tenha sido aproveitado nos estatutos do Real Colégio dos Nobres, publicados com a Carta de Lei de 7 de março de 1761. Como Pombal, ao que parece, nunca parecia inclinado a contentar-se com apenas uma opinião, pode ter levado também em consideração as sugestões de outros intelectuais da época. Tal parece ser o caso de António Felix Mendes (1706-1790), que se intitulava “Mestre de letras humanas” e aos trinta e um anos de idade publicou uma Arte de grammatica latina, a qual foi adotada e indicada pelo Alvará de 1759, enviou para o ministro um parecer intitulado Memórias para a reforma dos Estudos de Humanidade que se deve fazer em Portugal sem despesa do Soberano, tendo ele sido composto, segundo as palavras do seu autor, “muyto antes de haver noticia da ruína dos Jesuítas” (Cruz, 1971, p. 8-12). Não é por acaso que muitos autores buscam relativizar o protagonismo de Pombal – e, consequentemente, o caráter inovador de sua governação – fazendo referência ao reinado de D. João V (1707-1750), que durante a primeira metade do século XVIII havia preparado o terreno para o fluxo das ideias ilustradas. António Cruz (1971, p. 2), por exemplo, chega a afirmar que reforma do ensino de humanidades foi determinada pela conjuntura sócio-cultural do período joanino, durante o qual se desenvolveram as atividades da Academia Portuguesa, fundada em sua própria casa por Francisco Xavier de Menezes, o 4.º Conde de Ericeira (1673-1743), entre 1717 e 1720. Para Banha de Andrade (1982, p. 642-643), o Iluminismo em Portugal não começou com o Verdadeiro método de estudar (1746), nem com a Teórica verdadeira das marés, conforme a philosophia do incomparável cavalheiro Isaac Newton (1737), do cristão-novo Jacob de Castro Sarmento (1691-1762), ou mesmo com os Elementos de geometria plana (1735), do jesuíta Manuel de Campos (1681-1758), as Gramáticas Francesa e Italiana (1710 e 1734), de D. Luís Caetano de Lima (1651-1757), ou os Apontamentos para a educação de um menino nobre (1734), de Martinho de Mendonça de Pina e Proença (1693-1743), mas com o padre teatino Rafael Bluteau (1638-1734), londrino de origem francesa, autor do Vocabulário português e latino, primeira obra importante da lexicografia portuguesa e fonte principal de onde procederam todos os demais dicionários portugueses modernos, publicada em dez volumes entre 1712 e 1728. No entanto, atualmente há um relativo consenso quanto ao caráter de ruptura das reformas pombalinas. Falcon (1993, p. 317-318), por exemplo, apoiado em A. Martins, autor do verbete “Luzes” do Dicionário de história de Portugal (1963), busca diferenciar as “luzes joaninas” das “luzes pombalinas”, afirmando que aquelas seriam marcadas pelo seu caráter ao mesmo tempo aristocrático – por conta dos Ericeiras – e religioso – dada a proteção de D. João V aos Oratorianos –, enquanto estas caracterizar-se-iam por uma ação governativa e despótica com vistas a uma transformação racional e pragmática do país. Nesse sentido, a governação pombalina impõe-se como uma ruptura sem precedentes na história portuguesa, uma vez que propôs mudanças estruturais, com destaque para sua reforma da instrução pública, que, ao estatizar o ensino e institucionalizar a profissão docente, teve um papel pioneiro na Europa (Nóvoa, 1991). Mesmo assim, não restam dúvidas de que a maior parte das ideias que seviram de suporte às reformas pombalinas, e até mesmo a postura anglofóbica de sua governação, encontra precursores durante o reinado de D. João V, como foi o caso do ensino de línguas modernas estrangeiras, entre elas o inglês. Da mesma forma, muitas outras ideias sugeridas pelos intelectuais estrangeirados do período joanino foram postas em prática durante a governação pombalina, desde a criação das companhias de comércio até as reformas dos Estudos Menores e da Universidade de Coimbra, passando pelas suas tentativas de aumento da população nas colônias, como aconselhava D. Luís da Cunha, através de uma política de mestiçagem, como a Lei do Diretório, de 1757, que, além de impor o uso e o ensino da língua portuguesa no Brasil, em substituição à “língua geral”, apresentava uma detalhada regulamentação da coleta dos dízimos e fomentava a introdução de brancos nas povoações do Estado do Grão-Pará e Maranhão, para a legitimação da mestiçagem – entre brancos e índios apenas – e aumento da população civil. Também na Índia a língua portuguesa era utilizada como um meio de integração das comunidades nativas, sendo encorajado o casamento entre indianos e portugueses, para aumentar a população, apesar dos obstáculos representados pela tradição e pelo preconceito. Foi por isso que ficou terminantemente proibida a alcunha de “negros” quando referida aos índios, como era costume no Brasil, pois a vileza de tal nome poderia persuadir-lhes de que “a natureza os tinha destinado para escravos dos Brancos, como regularmente se imagina a respeito dos Pretos da Costa da Africa”. Quanto às suas medidas protecionistas, ou anti-britânicas, a política econômica pombalina alcançou uma quase reciprocidade em seus negócios com a Inglaterra, causando bancarrotas a pequenos e grandes empresários estrangeiros e uma sensível diminuição do volume das exportações de produtos ingleses, bem como do contrabando da região do rio da Prata, o que provocou, como vimos, uma série de queixas manifestadas pelo parlamento inglês. Com efeito, o declínio da produção de minérios no Brasil fez com que se criasse em Portugal um ambiente favorável aos empreendimentos manufatureiros, uma vez que o Tratado de Methuen mencionava apenas os tecidos de lã, abrindo assim a possibilidade do desenvolvimento do setor do tecido de algodão. Entre 1777 e 1778, por exemplo, duzentas e trinta e seis novas fábricas, ou oficinas, foram instaladas. Assim, no longo século XVIII português, que para Maxwell (1996, p. 177) terminou somente em 1807, a governação pombalina foi um divisor de águas, uma vez que, mesmo não alcançando todos os seus objetivos imediatos, alterou irreversivelmente a estrutura jurídica e social do reino português. A preocupação do ministro com a colônia brasileira, que já ultrapassava o reino em população e riqueza, sempre foi uma constante, mesmo porque, durante a União Ibérica, foram os “brasileiros” que tinham defendido o rico domínio português da investida dos holandeses. Desse modo, se, por um lado, o modo radical com que reprimiu as revoltas e motins coloniais em Pernambuco e em Minas Gerais plantou as sementes de um sentimento nativista e autonomista que iria consolidar-se no século seguinte com a independência do Brasil, por outro lado sua habilidade política ajudou-o a cooptar os principais homens de letras do Arcadismo brasileiro, como Basílio da Gama (1741-1795), que compôs uma epopeia, O Uraguay (1769), em sua homenagem (Teixeira, 1999). Sua fama internacional alcançada em vida e sua importância histórica, sacramentada em Portugal em 1934, quando foi erguido uma monumental estátua em sua homenagem no centro de Lisboa, até hoje é objeto de polémica e controvérsias, nas universidades e nas mesas dos bares, onde disputam primazia, no decorrer da história, duas correntes, uma antipombalina, pela crueldade de suas punições, que não pouparam nem os nobres nem o clero, e outra filopombaina, pelas suas medidas econômicas e educacionais inovadoras, fazendo com que se configurasse, na cultura portuguesa, o mito do Marquês de Pombal. Referências ANDRADE, Antonio Alberto Banha de. A reforma pombalina dos estudos secundários no Brasil. São Paulo: Saraiva / EDUSP, 1978. ANDRADE, Antonio Alberto Banha de. Contributos para a história da mentalidade pedagógica portuguesa. Lisboa: Imprensa nacional / Casa da Moeda, 1982. BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes: sobre modernidade, pós-modernidade e intelectuais. Tradução: Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. BRAGA, Theophilo. Historia da Universidade de Coimbra nas suas relações com a instrucção publica portugueza. Lisboa: Na Typographia da Academia Real das Sciencias, tomo III (1700 a 1800), 1898. CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: Saraiva / Ed. da Universidade de São Paulo, 1978. CASTRO, J. Grammatica Anglo-Lusitanica & Lusitano-Anglica: ou, Gramatica Nova, Ingleza e Portugueza, e Portugueza e Ingleza; dividida em duas partes. A primeira para a instruição dos Inglezes que desejarem alcançar o conhecimento da Lingua Portugueza. A segunda, para o uso dos Portuguezes que tiverem a mesma inclinação a Lingua Ingleza. Das quaes a Primeira está corrigida e emendada, a segunda executada por Methodo claro, familiar, e facil. 3. ed. London: W. Meadows, 1759. CRUZ, António. “Nota sobre a reforma pombalina da instrução pública”. Revista da Faculdade de Letras. Porto, n. 02, 1971, pp. 1-64. DARNTON, Robert. Os dentes falsos de George Washington: um guia não convencional para o século XVIII. Tradução: José Geraldo Couto. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. FALCON, Francisco J. C. A época pombalina. 2. ed. São Paulo: Ática, 1993. GRAMSCI, Antonio. Cadernos do cárcere. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, v. 2, 2006. MAXWELL, Keneth. Marquês de Pombal: paradoxo do iluminismo. Tradução: Antônio de Pádua Danesi. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. NÓVOA, António. “Para o estudo sócio-histórico da gênese e desenvolvimento da profissão docente”. Tradução: Tomaz Tadeu da Silva. Teoria & Educação. Porto Alegre, nº. 4, 1991, pp. 240-270. OLIVEIRA, Luiz Eduardo Oliveira (org.). A legislação pombalina sobre o ensino de línguas: suas implicações na educação brasileira (1757-1827). Maceió: EDUFAL, 2010. RIBEIRO, José Silvestre. Historia dos estabelecimentos scientificos, literarios e artisticos de Portugal nos sucessivos reinados da monarchia. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, Tomo I, 1871. SARAIVA, António José e LOPES, Oscar. História da literatura portuguesa. 11. ed. Porto: Porto Editora Lda., 1979. TEIXEIRA, Ivan. Mecenato pombalino e poesia neoclássica: Basílio da Gama e a poértica do encômio. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999. TORRE, Manuel Gomes da. “Who wrote A Compleat Account of the Portuguese Language?”, Revista de Estudos Anglo-Portugueses. Lisboa: Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica / Centro de Estudos Comparados de Línguas e Literaturas Modernas da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, n. 5, 1996, pp. 33-47.
Baixar