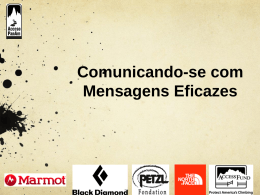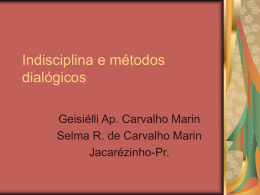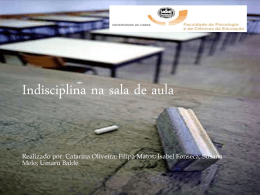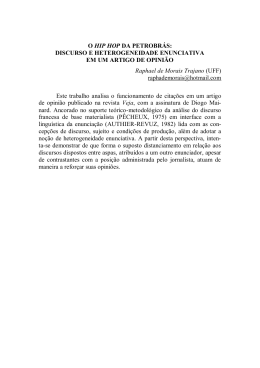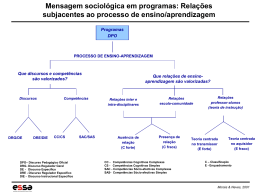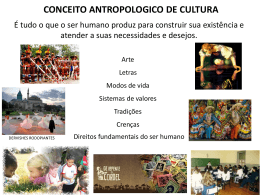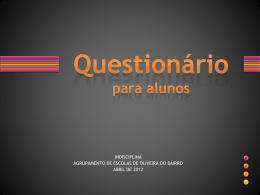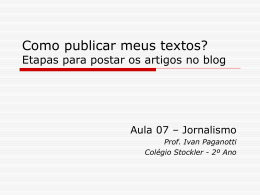CULTURA E IDENTIDADE: DISCURSOS II Marieta Prata de Lima Dias e Helenice Joviano Roque-Faria (Organizadoras) CULTURA E IDENTIDADE: DISCURSOS II ADRIANA LINS PRECIOSO • ALCEU ZOIA • HELENICE JOVIANO ROQUE-FARIA • HENRIQUE RORIZ AARESTRUP ALVES • IVONE JESUS ALEXANDRE • JOSEMAR PEDRO LORENZETTI • LUCIANA COSTA REPEZUK • MARIA CELESTE TOMMASELLO RAMOS • MARIETA PRATA DE LIMA DIAS • NEUSA INÊS PHILIPPSEN • ODIMAR J. PERIPOLLI • ROSANA RODRIGUES DA SILVA • ROSANE SALETE FREYTAG • TÂNIA PITOMBO-OLIVEIRA • WALNICE MATOS VILALVA Ensino Profissional E D I T O R A São Paulo — 2009 — Copyright 2009 by Jubela Livros Ltda Copyright 2009 by Marieta Prata de Lima Dias e © Copyright 2009 by Helenice Joviano Roque-Faria (Organizadoras) © © Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de Jubela Livros Ltda. Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza estas marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos. Novembro de 2009 Produção: Ensino Profissional Editora Editor Responsável: Fábio Luiz Dias Organização: Marieta Prata de Lima Dias e Helenice Joviano Roque-Faria Revisão: Maristela Cury Sarian Design da Capa: Leandro Oliveira Pinto Diagramação: Tarlei E. de Oliveira Direitos reservados por: Jubela Livros Ltda. Rua Borja Castro, 25 Cidade A. E. Carvalho - São Paulo - SP Cep: 08223-340 Telefone: (11) 2026-4053 Fax: (11) 2026-4051 Dias, Marieta Prata de Lima ; Roque-Faria, Helenice Joviano (Orgs.) Cultura e Identidade: discursos II / Marieta Prata de Lima Dias e Helenice Joviano Roque-Faria – São Paulo: Ensino Profissional, 2009. 268 p. 16 x 23 Vários autores Bibliografia ISBN 978-85-99823-13-2 1. Educação 2. Literatura 3. Linguagem 4. Cultura 5. Identidade 6. Discursos I. Título CDD: 370-800 401 301.2 869.04 E-mail da Editora: [email protected] Homepage: www.ensinoprofissional.com.br Atendimento ao Consumidor: [email protected] Contato com os autores: [email protected] Sumário PREFÁCIO ........................................................................................................... 7 Educação EDUCAÇÃO/ESCOLA NO/DO CAMPO: FRUTOS AMARGOS DO DESCASO ..................................................................................................... 11 Odimar J. Peripolli A INFÂNCIA INDÍGENA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A COMUNIDADE TERENA DO NORTE DE MATO GROSSO ................... 25 Alceu Zoia INTERAÇÕES ENTRE ALUNOS NEGROS E NÃO NEGROS EM UMA ESCOLA PÚBLICA .................................................................... 41 Ivone Jesus Alexandre (IN)DISCIPLINA: VISÃO DE ALUNOS ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA DA UNEMAT/SINOP ..... 53 Celma Ramos Evangelista PARA REPENSAR A CIDADANIA NO BRASIL ............................................ 71 Josemar Pedro Lorenzetti Linguística PORTUGUÊS BRASILEIRO: O IMAGINÁRIO POLÍTICO PORTUGUÊS CONSTITUINDO POSIÇÕES NO ALÉM-MAR PARA FALANTES ÍNDIOS ......................................................................... 89 Tânia Pitombo-Oliveira BLOG POLÍTICO – DIÁRIO OU PROPAGANDA POLÍTICA? ................... 105 Marieta Prata de Lima Dias NA TRAMA DE GESTOS DISCURSIVOS E IDEOLÓGICOS: O TECER DE SENTIDOS NO DIZER DE DONAS DE CASA ............... 123 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk 5 LEITURA E DISCURSO POLÍTICO .............................................................. 147 Helenice Joviano Roque-Faria Literatura AMORES E VALORES SOCIAIS COMO MERAS FORMALIDADES: A QUESTÃO DA IDENTIDADE EM MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS E A CONSCIÊNCIA DE ZENO ......................................... 161 Maria Celeste Tommasello Ramos GRANDE SERTÃO VEREDAS: AMOR E HOMOSSEXUALIDADE ......... 179 Walnice Aparecida Matos Vilalva TRÂNSITOS E TRANSGRESSÕES: OS ANDARILHOS NOS ESPAÇOS DAS CIDADES .............................. 193 Henrique Roriz Aarestrup Alves O SAGRADO NA POESIA: A IMAGEM POÉTICA E A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA ...................... 219 Rosana Rodrigues da Silva CONFIGURAÇÕES DO CORPO EM PEDRAS DE CALCUTÁ, DE CAIO FERNANDO ABREU................................................................ 237 Adriana Lins Precioso O FANTÁSTICO MUNDO DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE ZAROIA ......... 253 Rosane Salete Freytag OS AUTORES .................................................................................................. 269 6 Prefácio João Cabral de Melo Neto, num de seus poemas mais conhecidos, “Catar feijão”, publicado em 1966, no livro Educação pela pedra, faz uma das mais belas alusões ao ato de escrever: “Catar feijão se limita com escrever: / Jogam-se os grãos na água do alguidar / E as palavras na da folha de papel; / e depois, joga-se fora o que boiar.” (Poesias completas. 3.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979). Se por um lado, o autor pernambucano está claramente se referindo ao ato de criar, fazendo um exercício de metalinguagem poética, podemos ver em suas acepções o peso dos vocábulos. Indo mais adiante, e lembrando sempre que a intenção aqui não é nos atermos ao fazer poético, poderíamos praticar uma analogia com a responsabilidade do estudioso que necessita traçar uma rede de inter-relações lucidamente arquitetada para dar conta de seu objeto de estudo. Mas aí surge a questão do distanciamento crítico vislumbrado pelo estudioso, que se vê, com frequência, entre a necessidade da adoção de um método sedimentado por teorias e com resultados que possam se apoiar e as questões filosóficas que delimitam e/ou estruturam as aspirações deste que reconhece cientificamente os princípios e as teorias de uma construção artística, por exemplo. Este estudioso exerce, portanto, a concretude de suas acepções pela palavra. Desse ponto de vista, os estudos que compõem Discursos II harmonizam uma gama de aspectos relativos à percepção de um conjunto de processos mentais e, por que não dizer, de reconhecimento dos mecanismos que perfazem ou se somam num modo peculiar de chegar ao ato ou efeito do conhecimento. Em outras palavras ainda, a partir de um sistema de símbolos representativos, a sucessão de ideias, as argumentações, as teorias tomadas para sistematização das reflexões e, até mesmo, sensações que particularizam cada um dos textos reflete, de maneira peculiar, tendências que se coadunam para um fim único: a representação crítica por meio do discurso. 7 Aroldo José Abreu Pinto Analogamente a João Cabral de Melo Neto, talvez pudéssemos pensar os estudos reunidos neste trabalho de reflexão como uma maneira de “catar feijão” entre as diversas concepções que permeiam os estudos que aqui se apresentam, ou ainda, um jogar os grãos do conhecimento nas águas do leitor crítico para que se possa entrever, nas palavras da folha de papel, o que a pesquisa sistematizada faz brotar. No que tange mais especificamente aos conteúdos, esta publicação é encetada pelas ponderações de diferentes autores que, conforme anuncia o oportuno título da obra, tratam de questões próprias da atualidade a partir de diferentes domínios do conhecimento. Esta diversidade de enfoques, todavia, não significa divisão ou fragmentação de pontos de vista, mas ao contrário apenas desmembramentos de discussões que circulam no âmbito da Universidade do Estado de Mato Grosso e de outras Instituições de Ensino Superior que contribuem para a consecução desta obra. Objetivamente, a reunião de uma gama de textos de diferentes autores dialoga tanto com o leitor contumaz, quanto com aquele leitor dos cursos de graduação e pós-graduação, além de pesquisadores e estudiosos das áreas do conhecimento alcançadas por Discursos II. Trata-se, portanto, de uma extensa e robusta representação intelectual, a partir de um projeto norteador que privilegia análises, debates, questionamentos ou estudos pormenorizados de diferentes matérias, temas e problemas, formando um todo coeso e visando conhecer melhor a natureza, as funções, as relações ou as causas destes problemas. Enfim, os autores de cada capítulo de Discursos II, ao jogar “as palavras na folha de papel”, catam do feijão mais vigoroso, mais pesado e, por meio da palavra, concretizam suas concepções “por chumbo seu verbo”, conforme nos sugere a continuidade dos versos de João Cabral de Melo Neto na sequência de seu poema. DR. AROLDO JOSÉ ABREU PINTO [email protected] 8 E ducação EDUCAÇÃO/ESCOLA NO/DO CAMPO: FRUTOS AMARGOS DO DESCASO ODIMAR J. PERIPOLLI Existe um projeto neoliberal de sociedade e de educação que se consolida de formas específicas, desde os anos 70, como um projeto hegemônico, no Brasil, na América Latina e Caribe e no mundo, como elemento de um processo de mundialização do capital (MELO, 2004, p. 27). INTRODUÇÃO Este artigo tem como objetivo trazer algumas reflexões sobre a educação/escola e o projeto neoliberal, mais especificamente, sobre a escola no/do campo, o caso das escolas nos assentamentos de Reforma Agrária do Incra. A intenção é trazer para as análises dois temas, intimamente ligados, o da questão agrária e o da escola, ambos atravessados por uma mesma política, a do projeto implantado pela nova fase do capitalismo, o neoliberalismo. A relação entre um e outro está no fato de que ambos os projeto, agrário/agrícola e educacional, estão sendo construídos sob a vigilância e as regras impostas pelos organismos internacionais, mostrando, desta forma, a fragilidade do projeto nacional voltado para o campo, produção, e a forma de se fazer/lidar com a educação/escola. Mas, perguntam alguns, não estamos falando de uma realidade (assentamentos de Reforma Agrária e de escolinhas rurais) em meio a uma gigantesca floresta, distante de tudo e de todos, como é o caso onde estão estes assentamentos, o caso da região no norte de Mato Grosso? O que isto tem a ver com a questão da política neoliberal? Com a mundialização do capital? 11 Odimar J. Peripolli Quando abordamos a realidade Mato Grosso, região norte do Estado, assentamentos do Incra, escolas nos assentamentos, etc., – campo empírico de nossas pesquisas há bastante tempo – caracterizada pelas condições geográficas (isolamento), políticas (abandono), sociais (miséria), não estaríamos nos voltando sobre/para uma realidade à parte, ou um mundo à parte e que, portanto, não teria nada a ver com este projeto? Ledo engano. Vale lembrar que, para o capital, não existem fronteiras e os assentamentos, os sujeitos/parceleiros, a escola, estão inseridos/contidos neste contexto. Ou seja, como partes integrantes desta realidade, fazem parte de um todo maior. Portanto, não há como pensar esta realidade, os diferentes casos, separada de uma realidade maior. Estas “partes”, que constituem o todo, estão inseridas em um projeto (neoliberal) de sociedade e de educação que vem sendo imposto, a todo custo, e que se consolida de formas específicas, mas que traz como essência, o caráter mercantilizador das relações. Ou seja, tudo está e/ou passa a ser visto/pensado sob o olhar do mercado (a terra, a escola).1 Assim como as políticas agrária e agrícola, a política educacional também está sob a vigilância e as regras impostas pelo BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento). Segundo Melo (2004, p. 148), a globalização, ou mundialização do capital (que é o que se propõe o projeto neoliberal), [...] se dá de forma cada vez mais seletiva, atribuindo vocações comparativas aos países e, em conseqüência, às suas políticas educacionais, transformando os países subdesenvolvidos em mercados a serem explorados e em terceirizadores de mercadorias e serviços. Para o projeto neoliberal mundializado, sustentado pelo paradigma de acumulação flexível, os trabalhadores, tanto urbanos quanto do campo, precisam adquirir novas competências e habilidades individuais que irão substituir a antiga qualificação profissional. A este projeto interessa traba- 1. O projeto do capital caminha nesta perspectiva, qual seja: a mercantilização das coisas. Daí o conceito de Reforma Agrária de mercado; bem como da visão da escola na perspectiva de empresa. 12 Educação/Escola no/do campo: frutos amargos do descaso lhadores aptos, capazes, obedientes, mansos... Ou seja, que atendam aos interesses do capital. Cabe/ria, neste caso, à escola (projeto do capital) desenvolver estas aptidões, estas capacidades, estas “virtudes”. A escola mais pareceria (ou se parece), neste caso, com uma antessala de uma fábrica. Ao que nos parece, aquela escola que tinha/tem como preocupação os valores sociais, culturais e políticos (educação política), o Estado do BemEstar Social, passou a ter outra tarefa, qual seja, “a formação de caracteres adaptáveis às variações existenciais e profissionais em movimento” (LAVAL, 2004, p. 23). Ou seja, uma escola cada vez mais voltada a instrumentalizar os trabalhadores para que possam desempenhar melhor suas funções em uma economia orientada pela competitividade, lucro, destruição do outro e individualismo. Em suma, busca-se construir uma escola que esteja voltada a atender os interesses burgueses, cujo objetivo instrumental se resuma ao saber-fazer e aos “saberes úteis supostamente melhor adaptados aos jovens vindos das classes populares e correspondendo às necessidades das empresas” (LAVAL, 2004, p. 24). Qual o resultado desta política? Esta política de reformas educacionais conduzidas pelo FMI e pelo BM/UNESCO vem provocando, paulatinamente, um “desmonte” dos sistemas educacionais locais (MELO, 2004, p. 257). Esta política de destruição das escolas vem ocorrendo também nas escolas rurais, ou seja, nas poucas escolas que ainda restaram/restam, principalmente após os intensos processos migratórios dos trabalhadores do campo, principalmente depois das décadas de 1970 e de 1980, como foi o caso do Brasil, provocados pelos processos de “modernização da agricultura”. Processo agravado pela política neoliberal implantada no Brasil pelo governo FHC (Fernando H. Cardoso). Estas considerações não podem ser esquecidas quando nos propomos a trabalhar a educação/escola do campo, mais específicamente, a escola em assentamentos de Reforma Agrária, como é o caso das escola nos assentamentos do Incra. Ou corremos o risco, o que é mais provável, de produzir um discurso meramente político ou uma produção panfletária, algo tão comum, principalmente quando as discussões/análises fogem ao conhecimento científico. 13 Odimar J. Peripolli Neste sentido, ressaltam-se as palavras de Ponce (2001, p. 10) quando diz que “[...] os fatos educacionais só podem ser convenientemente entendidos quando expostos conjuntamente com uma análise sócio-econômica das sociedades em que têm lugar’’. Ou seja, não basta que se pense a educação simplesmente como prática. É preciso pensá-la sob uma perspectiva de globalidade, vista como prática inserida num processo políticosocial, não mecanicamente, mas articulada com intencionalidade de classe. Neste contexto as palavras de Marx e Engels (2002, p. 40), embora referidas há bastante tempo, ganham sentido ao dizerem que “a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes”. Portanto, enquanto professores/pesquisadores não podemos nos eximir da compreensão da realidade, nem mesmo das práticas reais e concretas em que vivem os sujeitos envolvidos nas investigações; nem mesmo da compreensão das formas de organização política da sociedade, visando manter a luta pela transformação das relações sociais estabelecidas pelo capital. 1. A FACE OCULTA/CLARA DO CAPITAL E A ESCOLA Com o advento da sociedade capitalista, a burguesia se constituiu como classe dominante e elegeu a escola como instituição com potência para fortalecer e consolidar seu projeto de organização social. Isto é, “a educação se concretiza como uma instituição privilegiada para a burguesia tornar seu projeto de mundo hegemônico, os conhecimentos, os valores transmitidos na escola são valores burgueses que têm o objetivo de difundir a ideologia burguesa” (FERNANDES, 2002a, p. 33). Nesta perspectiva houve, portanto, a necessidade da universalização da educação para todos. Ou seja, materializar a ideia de que todos tenham um mínimo de informação/instrução, sendo que esta venha, preferencialmente, ao encontro dos valores e do projeto burguês de sociedade. A educação/escola se passou a ser usada um instrumento capaz de difundir estes valores como sendo universais, ou seja, de todas as classes sociais. Importa ressaltar que este projeto de sociedade está voltado a todos os sujeitos, independente se trabalhadores do meio urbano (proletários) ou 14 Educação/Escola no/do campo: frutos amargos do descaso trabalhadores do campo (pequenos proprietários, trabalhadores assalariados, assentados, acampados, etc.). Daí a necessidade da educação escolar mínima para todos, até mesmo para os filhos dos trabalhadores do campo, dos assentados em um assentamento de Reforma Agrária, independente de lugar e/ ou da qualidade (educação compensatória). Mesmo que estes espaços/lugares estejam situados nos mais distantes rincões do país, como é o caso dos assentamentos na região da Amazônia norte de Mato Grosso. Neste contexto, embora marcado por interesses antagônicos/interesses de classe, a escola tem/vem servido/servindo como instrumento para que os sujeitos que ali vivem e trabalham tenham um mínimo de formação/instrução. Importa que esta venha atender os interesses do grande capital, projeto burguês de sociedade no campo/agronegócio. Basta que se observem os conteúdos dos livros/cartilhas quando o assunto/tema estiver voltado aos movimentos sociais, aos trabalhadores do campo, sem-terra, Reforma Agrária, quilombolas, ribeirinhos, caboclos. São nestes espaços escolares onde se produzem e se reproduzem estas visões de mundo, mundo burguês. Tanto que qualquer conhecimento adquirido fora da escola é desvalorizado, desprezado, deixado de lado. Com isso, se consolida, cada vez mais, o projeto burguês de sociedade, a considerar que à escola cabe transmitir os valores, os costumes relacionados a sua visão de mundo. Por que isso corre? Porque a escola é uma instituição burguesa (PONCE, 2001) e representa o estado que é um estado de classe, da classe burguesa: “comitê administrativo dos interesses comuns da burguesia” (MARX e ENGELS, 2002, p. 28). Ao não valorizar as diferenças regionais, as particularidades culturais, as especificidades próprias do meio, ou seja, do campo, a escola – que por meio das metodologias e dos conteúdos padroniza a cultura (burguesa/urbana) – contribui para que os filhos dos trabalhadores do campo, habituados a outros tempos e espaços, acabem sendo expulsos da escola. 2 2. Infelizmente estes alunos passam a fazer parte das estatísticas como alunos “evadidos”, ou seja, como se fossem os culpados pelo próprio “fracasso”, eximindo a escola/Estado da culpa. Há que se perguntar por que estas crianças “evadidas” ou as “repetentes” não têm conseguido acompanhar, aprender e/ou ter o mesmo desempenho que outras crianças, no caso, da classe dominante? 15 Odimar J. Peripolli A escola que temos, hoje, para aos trabalhadores (campo/cidade) não é uma escola dos trabalhadores. Isso se deve ao fato de que, considerando o conhecimento escolar como algo socialmente construído,3 ou seja, construído pela mente humana pela interação social com os outros, é extremamente dependente da cultura, do contexto, do costume e especificidade histórica. Portanto, estamos falando do conhecimento escolar como uma construção histórica e social. Mas, neste caso, há que se perguntar: por que só o conhecimento das elites, urbano/burguês, encontra espaço nos currículos escolares? Por que os currículos escolares, definidos pela elite dominante, pouco ou quase nada têm a dizer com o que é próprio dos trabalhadores, sua cultura, experiências? Por que a tentativa, a busca de um discurso, geralmente entre diretores, coordenadores, e até de professores, no sentido de transmitir a ideia de que a educação é neutra? São questões, dentre outras, que nos levam a entender melhor o porquê da escola, seu (duplo) papel em uma sociedade marcada fortemente pelas desigualdades sociais. Neste contexto, neste clima de insegurança, desemprego, etc., a educação escolar aparece como a solução para resolver os mais diferentes problemas, tornando-se um verdadeiro fetiche. Ora, o problema não está, necessariamente, na escola. A escola é construção, é fruto do meio. E o duplo papel? Primeiro, para as camadas pobres, trabalhadores, a escola, o estudo significa a possibilidade de futuro melhor; para a elite, que tem a educação escolar, formação profissional garantida na universidade, a escola serve de um instrumento capaz de dar sustentação ao projeto burguês de sociedade, ou seja, de base ideológica para fundamentar, legitimar e justificar seu projeto. Portanto, não há como negar que a escola na sociedade capitalista é seletiva e classista, vista como “recurso extra-econômico” para reproduzir as classes sociais. “Este caráter promotor da escola é mera ilusão ideológica cultivada pela burguesia como instrumento de dominação” (FARIA, 2002, p. 84). 3. O que não quer dizer e/ou significar, neste caso, que o “mundo é uma síntese de interações sociais e que não há especificidades culturais” (FERNANDES, 2002a, p. 36). Segundo o autor, “tal concepção de educação não pressupõe o conhecimento como, inevitavelmente, ligado à questão de poder, que o conhecimento está ligado diretamente ao poder e a serviço deste” (p. 36). O pior de tudo, ao que nos parece, são as afirmações de que a educação é neutra. 16 Educação/Escola no/do campo: frutos amargos do descaso 2. REFORMA AGRÁRIA E EDUCAÇÃO (...) ensinar a ler e a escrever pessoas que não necessitam mais que aprender a desenhar e a manejar o buril e a serra, mas que não querem continuar fazendo-o (...). O bem da sociedade exige que os conhecimentos do povo não se estendam além das suas ocupações;4 “Não precisamos de homens que pensem, mas de bois que trabalhem”5 Embora os anos, as décadas, os decênios, os séculos passam, esta maneira de pensar a educação para as massas, para os trabalhadores/pobres, parece se reproduzir, principalmente nos países latino-americanos pobres. Não são exatamente estas palavras (epígrafe) que aparecem nos documentos escritos pelos fazedores de políticas públicas educacionais, mas, na prática, isso se materializa de forma muito concreta. Segundo Arroyo (2000), esta visão (do pouco caso, do abandono) da “escola rural apenas das primeiras letras” poderia ser uma síntese da história do pensamento político e educacional, principalmente relativa aos filhos dos trabalhadores do campo. Segundo o autor, quando se defendia a ideia da necessidade de mudanças/ “renovação” dos currículos e dos métodos de ensino nas escolas, dadas as mudanças que vinham ocorrendo no campo econômico, social e político, havia a ressalva de que, para os (as) trabalhadores(as) do campo estas não eram necessárias, pois, “para o cultivo da terra, para mexer com a enxada e para cuidar do gado não são necessárias muitas letras...” (ARROYO, 2000, p. 9). 3. VOZES QUE VÊM DO CAMPO O que segue são relatos/falas de parceleiros de diferentes assentamentos e de diversas regiões do Estado/MT. Segundo matéria publicada6, existem 4. Charlot e Figeat (1985: 84, apud ENGUITA, 1989, p. 111). 5. Palavras atribuídas a Bravo Mutilo (educador espanhol), apud Enguita (1989, p. 112). 17 Odimar J. Peripolli em Mato Grosso 65.802 famílias assentadas, 349 assentamentos e 32 acampamentos. A grande maioria sem qualquer infraestrutura. Os relatos dos assentados são às vezes indignados, às vezes desesperançosos, às vezes tristes, observa a relatora. Os órgãos públicos não são poupados: acusa-se o Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), o Banco do Brasil, o governo do Estado. Há denúncias de que muitos assentamentos estão em áreas impróprias para a agricultura, bem como atos de violência, de desvio de recursos, de grilagem de terras e de que vários parceleiros possuem termo de posse de um mesmo terreno, de empreiteiras contratadas para construir poços artesianos e que não entregaram a obra. 3.1 Fala da relatora Segundo consta, boa parte dos parceleiros que vivem nos assentamentos de Reforma Agrária em Mato Grosso “têm, como banheiro, o meio do mato”. Ainda: “crianças subnutridas, mulheres doentes e homens envelhecidos formam um quadro que se configura nos relatos dos trabalhadores aos técnicos e conselheiros do mutirão de Reforma Agrária”. A cena que segue mostra o longo caminho até a escola e o perigo que as crianças correm ao longo do percurso: Quatro horas, plena madrugada. Crianças de 5 a 10 anos saem do assentamento e entram na estrada, por onde andarão até 13 Km. Após, a viagem não termina. Terão alcançado a rodovia e vão pegar o ônibus escolar. O percurso até a rodovia é dentro da mata, onde a onça ainda é realidade. 6. Relatório realizado por um grupo de pesquisadores em MT, a partir de um trabalho de campo, Mutirão da Reforma Agrária em MT, realizado em 2001 em 104 municípios do Estado. Fizeram parte do “mutirão” representantes de órgãos estaduais (Indea, Intermat e Empaer) e federais (Incra, BB, dentre outros). Esta matéria foi publicada no Informativo CREA/MT (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MT), Ano II – nº 06 – março de 2002, sob o título: Mutirão revela o abandono no campo (p. 10 e 11). 18 Educação/Escola no/do campo: frutos amargos do descaso Sobre o trabalhador da roça/do campo ainda é muito forte o estigma da desconfiança. Por que ninguém quer comprar seu produto? “A trabalhadora chega ao centro da cidade para vender os produtos que consegue no assentamento. Mas ninguém compra nada. Ela é vista como se mendiga fosse, com suspeita, com desprezo”. E conclui: “são histórias reais, de casos que ficam escondidos da população urbana, hoje imensa maioria no país. Casos verdadeiros que ficam escondidos no meio do mato. Problemas que a poucos interessam”. Há que se fazer justiça, porém estas histórias reais já não ficam tão “escondidas” e já começam a ser postas à luz, ao conhecimento da sociedade como um todo, graças ao trabalho de incansáveis pesquisadores comprometidos com as causas sociais, principalmente de instituições públicas. Mas a pergunta ainda é válida: até quando estas cenas serão comuns para muitos trabalhadores, jovens, crianças que vivem nos assentamentos de Reforma Agrária? 3.2 A fala dos assentados Seguem diferentes falas e de diferentes sujeitos/parceleiros/as É preciso dividir a água com porcos e galinhas; desde 11 de novembro de 97 estamos debaixo de lona; não temos estradas, não temos saúde, não temos escola; quero trabalhar e construir o futuro...; levamos a mercadoria no ônibus e temos que entregar pelo preço que encontramos; não temos energia, não temos água; Há três anos estamos no assentamento. As famílias nunca receberam crédito habitação ou cesta básica; bebo água de um pocinho que divido com porcos e galinhas; Meu filho anda 13 Km para estudar e corre o risco de ser mordido por cobra. Ele passa no meio do gado para chegar até a escola; É de cortar o coração a vida das crianças na escola. Na época de frio, acordam às 3h da manhã e a merenda é só bolachinha e um copo d’água; 19 Odimar J. Peripolli A cada eleição o governo vem e mente dizendo que vai entregar o documento de regularização pra gente; Há mais de dois anos, foi liberada a verba para construir casa. Mas, até hoje, não temos casa. Estamos há quatro anos e o assentamento não foi cortado ainda. Não morremos de fome porque temos um país vizinho chamado Bolívia; Aqui já aconteceu estupro, assassinato, roubo e a Justiça nada faz. Se a justiça nada fazer, eu não tenho medo de matar ou de morrer. Aqui não é lugar de ladrão, [...] têm gente armada entrando nos lotes. Duas turmas armadas já foram no meu barraco. Devem ser grileiros, com intenção de roubar madeira. [...]. Meu lote está sendo ocupado por um homem de serraria. Fui ameaçada de morte. Apresentei a carta de ocupação do Incra e me disseram que não vale nem como papel higiênico; Os parceiros estão indo embora porque estão passando fome. O fazendeiro vizinho jogou veneno na propriedade e o veneno trouxe para nossa área matando nossa plantação. Ao que se pode perceber, a política fundiária proposta pelo projeto neoliberal, financiada pelos organismos financeiros internacionais (BIRD, BM, FMI) impede a realização ou a efetivação de uma Reforma Agrária que venha, de fato, atender os interesses dos trabalhadores do campo. Ou seja, uma reforma Agrária que consiga promover uma transformação social no campo, uma Reforma Agrária que leve vida ao campo e não morte. Há que se perguntar: quem são os verdadeiros culpados desta situação? 4. É POSSÍVEL MUDAR A PARTIR DA ESCOLA (?) Como nos diz Enguita (1989, p. 131), a história é escrita pelos vencedores. A estes, enfatiza, não interessa que se mostre a 20 Educação/Escola no/do campo: frutos amargos do descaso roupa suja: sempre é mais convincente apresentar história da escola como um longo e frutífero caminho desde as mais presumidas misérias de ontem até as pressupostas glórias de hoje ou de amanhã que, por exemplo, como um processo de domesticação da humanidade a serviço dos poderosos. As ideias dominantes não são outra coisa que a expressão ideal das relações materiais dominantes, as mesmas relações materiais dominantes concebidas como ideias (MARX e ENGELS, 1972, p, 50). Tudo se resume ao mercado: “reforma agrária de mercado”; “educação/escola para o mercado”; nada foge ou é visto a não ser para o capital; nada além do capital...; temos um projeto neoliberal que reduz tudo ao mercado (LAVAL, 2004, p. 03). Diante destas constatações sentimo-nos, por vezes, numa situação de impotência. Há a sensação de que estamos numa situação sem saída, cercados pelo determinismo imposto pelo capital, em que nada pode ser mudado ou ser feito de maneira diferente. A impressão é que estamos fadados a sucumbir às regras impostas pelo capital. Ou seja, outras alternativas de sociedade, modo de produção, distribuição, uso da terra, de educação, de escola,7 etc., diferentes das que aí estão, seriam impossibilitadas. O que não é verdade. Conforme nos têm mostrado Marx e Engels (2002, p. 50), a burguesia “é incapaz de continuar desempenhando o papel de classe dominante e de impor à sociedade, como lei suprema, as condições de existência de sua classe”. Pois ela, ressaltam, “fornece aos proletários os elementos de sua própria educação política, isto é, armas contra ela própria” (p. 48). É neste sentido que caminham Ferraro e Ribeiro (2001, p. 122)8 quando afirmam que, a escola, “atravessada pelas contradições próprias das classes sociais que lhe dão vida e conteúdo, [...] nunca se conformou ao modelo, aproximando-se, às vezes mais, às vezes menos, do limite entre con- 7. O que não se quer aqui é negar a importância ou o peso das práticas sociais extraescolares especificamente, hoje, o mundo da informação/comunicação. Os meios de comunicação têm papel importante na difusão ideológica necessária à manutenção da hegemonia burguesa. No entanto, numa perspectiva de classe, a escola tem importante papel para as camadas populares. 21 Odimar J. Peripolli servação e a ruptura”. E acrescentam: “a escola que historicamente vem dando as costas a agricultores e agricultoras pode significar um instrumento de luta para permanecer na terra, de compreensão dos mecanismos de administração de recursos, de gestão da produção [...]” (p. 137). Em que pese todas as críticas à escola, quer da urbana/cidade, quer da rural/campo, com todos os limites, esta ainda se mostra como um espaço onde se produzem também as contradições sociais; um lugar de ação, de luta, de possibilidades e de conquista da cultura e da ciência como meios, como forma e instrumento de enfrentamento. Como diz Libâneo (2002, p. 07), não creio que haja outro lugar mais adequado para o desenvolvimento da razão crítica, formação de cidadãos participativos, críticos, à medida que lhes possibilite armas de luta contra o domínio cultural, intelectual, político e econômico, de que é vítima nesta sociedade capitalista do que a escola. Quando o autor diz não acreditar que “haja outro lugar mais adequado…”, não está negando e/ou querendo dizer que não há outros lugares. Apenas quer enfatizar este (a escola). Portanto, a importância da escola está no sentido de que esta venha a possibilitar às populações trabalhadoras/ pobres, da cidade e do campo, o acesso ao conhecimento. Conhecimento que lhes falta – conhecimento formal – capaz de fazê-las interpretar o mundo, diferente do seu, e atuar na sua transformação. Enfim, que as faça sujeitos capazes de participar das relações de poder na sociedade, de influir nas decisões que afetam sua própria existência e interferir criticamente nos espaços de construção da democracia.9 8. Em nota de rodapé. 9. Se não concordássemos não teria sentido nosso trabalho, nossas pesquisas, nossas discussões, enfim, ver a educação/escola como importante instrumento na mão dos trabalhadores. 22 Educação/Escola no/do campo: frutos amargos do descaso CONCLUSÃO A escola pode ser/é um lugar onde se produzem também as contradições sociais, isto é, um lugar de ação, de luta, de possibilidades e de conquista da cultura e da ciência como meios, como formas e instrumentos de enfrentamento. Esta assertiva vale também para a escola rural/do campo, mesmo com todas as suas limitações. Sabemos que a escola, mesmo aquela nos assentamentos, (mesmo) com todas as mazelas, ainda se constitui, para muitas crianças, como a única oportunidade para a busca da compreensão da realidade social e da natureza que a cerca.10 Daí a importância de se pensar esta escola como possibilidade de mudanças/transformações. Mas, para isso é preciso que se pense numa escola não apenas no, para, mas, necessariamente, do campo. Uma escola que venha ao encontro dos interesses/necessidades de quem vive/mora e trabalha na/da terra. Esse, parece-nos, é o grande desafio a ser enfrentado. Para sua concretização poderíamos/deveríamos esperar por uma mudança ampla (conquista do estado burguês), ou podemos ir cavando os espaços do possível, apostar em pequenas revoluções, numa pedagogia da revolução? O desafio está colocado. Por fim, acredito que mais do que respostas prontas, devemos construir, no coletivo, espaços de aprendizagens, de debates, de busca, de luta, sem atropelar a história (que não se faz ao ritmo das nossas impaciências). Mais: esta outra/nova história (dos sonhos, esperanças, utopias) já vem sendo misteriosamente construída. Basta olharmos para os movimentos sociais e os muitos projetos que vêm sendo construídos, principalmente para o campo e para a educação. 10. Não se quer aqui defender a ideia de que a escola sozinha muda a realidade. Mas que o espaço escolar possa se constituir como um lugar/instrumento capaz de tornar os sujeitos mais críticos e conscientes da realidade que os cerca. 23 Odimar J. Peripolli BIBLIOGRAFIA ARROYO, Miguel Gonzáles. Prefácio. In: CALDART, Roseli Salete. Pedagogia do Movimento Sem Terra: escola é mais do que escola. Petrópolis/RJ: Vozes, 2000. ENGUITA, Mariano Fernández. A Face Oculta da Escola: educação e trabalho no capitalismo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. FARIA, Ana L. D. de. Ideologia do Livro Didático. 14. ed. São Paulo: Cortez, 2002. FERNANDES, Ovil Bueno. Educação e Desintegração Camponesa: o papel da educação formal na desintegração do campesinato. In: VIEIRA, Renato Gomes; VIANA, Nildo. Educação, Cultura e Sociedade: abordagens críticas da escola. Goiânia – Goiás: Edições Germinal, 2002a. FERNANDES, Bernardo Mançano. Diretrizes de uma cartilha. In: CARLDART, Roseli Salete; CERIOLI, Paulo Ricardo; KOLLING, Edgar (org). Educação do Campo: identidade e políticas públicas. Brasília: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, 2002b. p. 89 – 101. (Coleção Por Uma Educação do Campo, 4). FERRARO, Alceu Ravanello; RIBEIRO, Marlene. Trabalho Educação Lazer: construindo políticas públicas. Pelotas: Educat, 2001. INFORMATIVO CREA/MT (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MT), Ano II – nº 06 – março de 2002. LAVAL Christian. A Escola não é uma Empresa. O neo-liberalismo em ataque ao ensino público. Londrina/PR: Editora Planta, 2004. LIBÂNEO, José Carlos. Prefácio. In: Educação, Cultura e Sociedade: abordagens críticas da escola. Goiânia – Goiás: Germinal, 2002. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo: Boitempo, 2002. MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. La Ideologia Alemana. Grijalbo: Barcelona, 1972. MELO, Adriana Almeida Sales de. A Mundalização da Educação: consolidação do projeto neoliberal na América Latina. Brasil e Venezuela . Maceió: EDUFAL, 2004. PONCE, Aníbal. Educação e lua de Classes. 18. ed. São Paulo: Cortez, 2001. 24 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso ALCEU ZOIA Falar sobre educação indígena no geral é algo extremamente complexo, pois estaríamos falando de um contexto multiétnico e as grandes diferenças presentes na diversidade de povos indígenas nos impõem a necessidade de desconstruir a ideia de índio genérico já na educação infantil, a fim de eliminar equívocos de que “índio” é tudo igual. Conforme afirma Maher (2006) esse preconceito em relação aos povos indígenas é fruto do tipo de educação que nos foi proposta, por meio da qual diluir as identidades indígenas aplicando o termo genérico “índios” tinha como objetivo tornálos menos visíveis para a sociedade não-índia. A autora complementa seu pensamento dizendo que “uma estratégia eficaz quando se quer dominar alguém é destituí-lo de qualquer singularidade, é emprestar-lhe invisibilidade” (MAHER, 2006, p. 15). Com base nesta perspectiva, foi entendido e difundido, durante muito tempo, a ideia de homogeneização da cultura indígena, de entendimento de que os conhecimentos e as tradições indígenas eram atrasados, fixados num passado distante, e que, portanto, deveriam ser deixadas neste passado e de que a formação da sociedade brasileira é produto de uma matriz eurocêntrica, ou seja, que não tem nada a ver com a cultura indígena. Esta visão se constituiu na história oficial que foi e é contada pelos vencedores e disseminada pelo aparato educacional de nosso país. A maioria dos trabalhos acadêmicos que tratam das sociedades indígenas apresenta a infância de forma genérica, apenas como um período em que o indivíduo está se preparando para a vida adulta. Embora haja grandes diferenças culturais entre os povos, a forma como são criadas as crianças em muito se assemelha entre os diversos povos, conforme observa Mandulão: 25 Alceu Zoia Quando a criança nasce, é uma extensão da mãe que a amamenta e a protege. A criança é socializada pela família e nas relações cotidianas da aldeia. Ela aprende fazendo, experimentando, imitando os adultos. As crianças acompanham os pais e os seus brinquedos são miniaturas dos instrumentos que posteriormente irão utilizar em sua vida de adulto. Neste sentido, podemos inferir que a forma de ensinar nas comunidades indígenas tem como princípios inseparáveis a construção do ser, pela observação, pelo fazer, testado dentro de um contexto real (MANDULÃO, 2006, p. 219) Ao tratar das crianças indígenas, Silva, Macedo e Nunes (2002) apresentam seis princípios que orientariam o novo paradigma para o estudo da infância. São eles: 1. A infância deve ser entendida como uma construção social, fornecendo assim um quadro interpretativo para os primeiros anos da vida humana. [...] 2. A infância deve ser considerada como variável de análise social, tal como gênero, classe ou etnicidade, [...] 3. As relações sociais e a cultura das crianças são merecedoras de estudos em si mesmas, independente da perspectiva e dos interesses dos adultos. 4. As crianças devem ser vistas como ativas na construção e determinação de sua própria vida social, na dos que as rodeiam, e na da sociedade na qual vivem. As crianças não são apenas sujeitos passivos de estruturas e processos sociais. 5. A etnografia é um método particularmente útil ao estudo da infância. [...] 6. A infância é um fenômeno em relação ao qual uma dupla hermenêutica das ciências sociais está presente, ou seja, a proclamação do novo paradigma da sociologia da infância também deve incluir e responder ao processo de reconstrução da infância na sociedade (SILVA, MACEDO e NUNES, 2002, p.18). 26 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso Com base nestes princípios é que buscamos desenvolver nossa pesquisa com as crianças da comunidade Terena e observamos que nesta comunidade, como também em outras comunidades indígenas, o processo de ensino e aprendizagem acontecem de forma ininterrupta, não se separa a vida em momentos específicos para a educação. Toda a atividade dever ser encarada como momento de realização de aprendizagens. Neste sentido, observamos que as crianças Terena se fizeram presentes nos momentos mais importantes da história deste povo. Embora haja grandes diferenças culturais entre os povos, a forma como são criadas as crianças em muito se assemelha entre os diversos povos indígenas. No estudo das crianças da sociedade Xavante, Maybury-Lewis (1984, p. 113) afirma que “há pouco que elas possam fazer e nada que elas tenham que aprender, ou melhor, nada que os adultos estejam ansiosos para lhes ensinar”. Isto também podemos aplicar aos Terena de nosso estudo. Não há grande preocupação em ensinar logo tudo às crianças, para eles, cada coisa tem seu tempo para acontecer. Ao questionarmos um dos caciques Terena sobre até que idade uma criança pode ser considerada criança, ele nos responde com firmeza que seria até os nove ou dez anos, pois daí em diante a criança já começa a ter malícia, então já pode ser considerado um rapazinho, porque na sua concepção ser criança é ser inocente; conceito que ouvimos muitas vezes nas conversas na aldeia. Toda vez que questionávamos alguém sobre o que é ser criança, as respostas que surgiam estavam ligadas à questão da inocência da criança e da liberdade para agir sem culpa, como é possível comprovar nas falas: Ser criança é ser inocente, inocente de tudo, né? Às vezes, a gente briga com a criança porque ele pega um objeto lá no vizinho e traz aqui pra cá, pra casa, a gente briga com ele, mas porque ele trouxe, por causa da inocência dele, ele não tem malícia ainda (Milton, Cacique da Aldeia Turipokú, entrevista em 03 de novembro de 2007). No meu ponto de vista eu acho que ser criança é ter liberdade, ter liberdade pra brincar, para estar junto com os amiguinhos. Eu vejo assim, durante a infância, quando a gente era criança, a gente via assim que estar junto com as pessoas, os amigos, tornava a gente mais feliz, 27 Alceu Zoia dava uma certa alegria para a gente poder estar conversando com um amigo, um parente, então acho que ser criança é ter essa liberdade de fazer, ter novos amigos (Alvanei, Aluno do curso de Enfermagem, membro da Aldeia Kopenoty, entrevista em 31 de agosto de 2007). Eu penso que ser criança é fazer parte do nosso próprio corpo, como por exemplo o espírito de alegria, de união. Um exemplo que vou citar: ser criança é diferente de ser adulto. Um adulto quando acontece alguma coisa de ruim, ou um desentendimento, um chega a ralhar com o outro, ou chamar a atenção, a pessoa não tem o bom senso de que aquilo é amigável e guarda rancor e a criança não, é como se o pai chamasse a atenção ou ralhasse, ou até mesmo desse uma surra só mesmo para corrigir, daqui um momento aquela criança volta pro colo do pai, da mãe sem rancor, sem mágoa nenhuma, isso eu definiria como criança. Aquela pessoa que sabe na imaginação que foi como se nada aconteceu e perdoasse (Matheus, professor da Aldeia Turipokú, entrevista em 31 de agosto de 2007). A concepção de infância ligada à ideia de liberdade é bastante forte nas populações indígenas em geral e está vinculada à maneira como as crianças são percebidas por toda comunidade como sendo alguém que tem o direito de permanecer em todos os lugares da aldeia, pois este é o seu momento de interagir e aprender com os demais membros do seu grupo de convívio. Neste sentido, afirmamos que a aprendizagem numa comunidade indígena acontece em todos os lugares, que sua pedagogia é regida pelo princípio de que todos educam todos. O processo educativo acontece comunitariamente em todas as atividades que são realizadas na aldeia. É de responsabilidade da comunidade toda a transmissão dos saberes tradicionais do povo para as futuras gerações e nesse processo todos estão cientes de que a escola não é o único espaço para a transmissão dos conhecimentos, para aprender, mas que o povo possui uma sabedoria que precisa ser repassada para as crianças e que os adultos são responsáveis pela formação da identidade de todos. As crianças indígenas dos mais variados grupos gozam de uma liberdade enorme. E, na comunidade Terena em que desenvolvemos a pesquisa, 28 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso isso não é diferente. Elas têm liberdade para circular por todos os espaços da aldeia e relacionar-se com todos, adultos e crianças. Isto permite que compreendam toda a teia de relações em que estão inseridas, sem que os adultos estejam muito preocupados se está ou não na hora de elas aprenderem isto ou aquilo. A partir do nascimento, a criança tem um contato mais intenso com a mãe e com a avó materna, que são as principais responsáveis pelas crianças neste início de vida. À medida que esta criança vai crescendo, este contato se estende para os demais membros da comunidade e, desde os primeiros anos de idade, a criança já começa a desempenhar algumas funções básicas, tais como levar recados, cuidar de animais, da casa, dos irmãos mais novos, entre outros. O contato intenso com toda a comunidade possibilita que o aprendizado das crianças indígenas vá acontecendo a todo o momento e em todas as situações sociais, fazendo de cada membro da comunidade um agente da educação indígena, mantendo vivo o princípio de que todos educam todos. Numa das entrevistas concedida por Alvanei, ele relatou sobre como foi a sua educação enquanto criança, ressaltando vários aspectos que julga serem importantes na formação da pessoa e que, mesmo com a entrada da TV, do rádio e outras tecnologias na aldeia, é necessário preservar. Eu vejo assim, durante a minha infância, eu via de maneira bem diferente no passado, tanto é que hoje, como já falamos na questão da influência das tecnologias dentro das comunidades indígenas, não podemos negar que as tecnologias estão invadindo as comunidades indígenas; e bem antes, na minha infância, isso não existia e a gente costumava participar de reuniões, hoje eu chamo de reuniões, mas na visão do meu avô eram uns minuto de aprendizagem que ele queria passar pra gente. Toda noite ao entardecer, antes de escurecer a primeira preocupação do meu avô era sair no mato, buscar umas lenhas já preparando para a noite, então ele trazia aquelas lenhas, até levava a gente pra ajudar a carregar gravetos; quando anoitecia, aquelas lenhas que ele trazia era justamente para clarear aquele momento de aprendizagem, então se fazia o fogo fora da casa e ali as histórias começa- 29 Alceu Zoia vam, eram várias histórias que na época a gente não dava muito valor, apesar de que, se a gente for relembrar hoje, foram várias as coisas que a gente aprendeu durante esses minutos de aprendizagem toda noite. Então ali eram contadas histórias que terminavam com conselhos, ensinando a gente a respeito do trabalho, da educação, respeitar os mais velhos, tudo isso a gente aprendia nesses minutos durantes todas as noites. Daí pra cá a influência das tecnologias, a energia chegou nas aldeias, e com isso veio a televisão, o rádio e isso começou a mudar o modo de ensinar as crianças. Hoje anoiteceu, liga a TV, o rádio e isso fica até a hora de dormir, muitas vezes o aprendizado fica pra trás, não digo que não se aprende vendo um jornal, ou alguma coisa, mas uma criança pode não entender o que está passando, as informações que estão sendo passadas num jornal, por exemplo, ela quer ver um desenho [...] existem todas essas questões que de certa forma preocupam a gente, porque a gente como professor, podemos dizer que todos nós como pais de famílias todos somos professor, essa preocupação tem que haver, e muito mais quando a gente assume a responsabilidade diante da comunidade pra ser um professor de todos; então a gente fica preocupado nesse sentido da questão do aprendizado dos nossos filhos porque a educação começa dentro de casa, e a gente procura estar conversando com a família para de uma certa forma estar ensinando os filhos da gente pra educação partir de dentro de casa. Todas essas questões existem uma preocupação neste sentido. A gente vê assim que, independente da TV, a gente tem que ter um minuto de aprendizagem e de ensino com os nossos filhos e que muitas vezes isso acaba não acontecendo, não digo que a gente não está ensinando as crianças quando você fala que tem que respeitar os mais velhos, que tem que dar benção para uma pessoa mais velha, de uma certa forma a gente está educando a criança então é uma coisa assim que queira ou não tem que iniciar dentro de casa e é uma preocupação que a gente vê hoje dentro das comunidades indígenas com o avanço das tecnologias e com a entrada das tecnologias nas aldeias, nós futuramente não tem como evitar isso, nós vamos estar sempre em contato. Só que aquilo que a gente aprendeu no passado, os métodos de educar 30 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso uma criança tem que permanecer. Às vezes, por causa do trabalho, a família estuda, então a gente tem deixado de ter aquele momento da família. Meu avô sempre fala que o tempo é nós que fazemos, então cabe a nós organizar o nosso tempo e pôr dentro do nosso planejamento um tempo para estar educando os filhos. (Alvanei, em entrevista no dia 04 de setembro de 2007). Alvanei ressalta que a entrada dos meios de comunicação nas aldeias tem influenciado profundamente na educação que é desenvolvida na família, pois a televisão acaba tirando o espaço das conversas em família, dos “minuto de aprendizagem” que ele cita que costumava ter com seu avô ao lado da fogueira que era preparada para “clarear aquele momento de aprendizagem” onde se “contavam várias histórias que terminavam com conselhos, ensinando a gente o respeito do trabalho, da educação, respeitar os mais velhos”; momentos que acabaram sendo substituídos pela televisão e pelo rádio, e que, segundo Alvanei, acabaram influenciando na forma de educar as crianças, mas que é necessário que cada família esteja atenta à educação de seus filhos. Na entrevista, percebemos que há uma preocupação muito grande com relação a estas questões e que é necessário que cada família reserve um tempo para estar educando seus filhos. Quando questionamos sobre as diferenças entre Infância Indígena e a Infância Urbana, observamos haver entre elas o que podemos chamar de “globalização das culturas”, uma interação entre elas. Pela proximidade que a aldeia Kopenoty se encontra do distrito de União do Norte e o constante contato com a população não-índia, é muito comum a entrada de brinquedos industrializados na aldeia, conforme já fora citado por alguns dos entrevistados. No entanto, quando questionamos sobre se há diferença na educação das crianças da cidade em relação à educação que é dada na aldeia, os entrevistados apontam para o que eles entendem como semelhanças e também para as diferenças. Vejamos algumas opiniões dos entrevistados: A infância da criança na aldeia nós podemos dizer que existe uma liberdade muito grande por parte das famílias, dos pais e mães, dá uma 31 Alceu Zoia liberdade. Essa liberdade é dada talvez pela certeza de que nada vai acontecer de errado com elas ali dentro da comunidade pela união que existe entre as crianças, talvez com isso o pai se sinta mais seguro com a liberdade que dá pra criança poder estar brincando com outras crianças; e uma coisa que a gente percebe ao longo desses anos é que na cidade a infância é um pouco diferente nesse sentido, porque a gente vê assim que a criança, se ela começar a ter muita liberdade pra sair fora de casa, ela pode ir pra um outro caminho. E essa é uma das grandes diferenças que a gente percebe entre as crianças da aldeia e as da cidade porque, se você dá muita liberdade para uma criança na cidade, ela pode tomar outro caminho e na aldeia essa liberdade se dá justamente pela confiança dos pais de que ela vai estar em boa companhia, porque há uma união muito grande na comunidade. Semelhanças: eu acho que semelhanças é assim, estão mais no sentido dos desejos das crianças, do tipo de alimentos, de querer o que a criança quer pela influência da mídia, as crianças vê isso e acha que é bom. Isso pode ser bom, mas por um outro lado também tem toda uma questão que deve se ter um cuidado. (Alvanei, entrevista em 4 de setembro de 2007) Tem diferença até por causa da criação. Tem famílias mais tradicionais que quer criar seus filhos da maneira tradicional, do jeito deles, mais tímidos. Tem diferença sim e, quando ele cria lá na cidade, ele já é mais vivo, mais esperto, ele tem mais visão, porque ele tá mais a par das coisas e aqui dentro das aldeias ele tá mais oculto das coisas; então a diferença é grande (Milton, entrevista em 3 de novembro de 2007). É tem algumas diferenças, mas tem também semelhanças. A diferença que eu posso notar é com relação ao modo de viver, a maioria hoje pensam que a criança indígena também é só começar a brincar pela arte que praticam, também eles pensam no modelo econômico atual, numa modernização, então há essas semelhanças. Há diferenças também neste aspecto, alguns já pensam sobre as crianças com ignorância, que a criança indígena deve ter só as brincadeiras, as 32 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso atividades do cotidiano como índio, sendo que essas coisas não existem mais, as diferenças não existem mais. De igual é que todos somos seres humanos, hábitos de alimentação, hoje não tem mais diferenças, o que a crianças da cidade vive de querer brincar, de alimentação, a criança da aldeia também tem. Por exemplo, a influência da mídia, uma criança quer chocolate por influência da TV, tanto para crianças da cidade como na aldeia. (Matheus, entrevista em 31 de agosto de 2007) As crianças também manifestaram opinião sobre a diferença entre a infância nas cidades e nas aldeias: Não, pode ser diferente, em várias danças, porque tipo, tem hip hop, dance, então índio não tem isso, índio tem a dança deles, a dança da ema. Tem diferença sim [...] mas muita diferença não tem porque aqui nós jogamos futebol, lá as crianças não-índias jogam futebol. A diferença é a dança, né? (Otoniel, 12 anos, 20 de abril de 2008) É diferente, na cidade as crianças ficam nas calçadas das ruas pedindo esmolas e aqui na aldeia não acontece isso. (Weverson, 06 anos, entrevista em 13 de novembro de 2007) É diferente, é que na cidade, na escola não tem assim uma atividade muito, muito assim legal, que dá pra gente assim brincar, correr. (Angélica, 12 anos, entrevista no dia 6 de novembro de 2007) Percebemos nas falas das crianças e dos adultos que uma das diferenças apontadas para a vida das crianças na aldeia e nas cidades está ligada diretamente à questão da liberdade e da segurança que as crianças na aldeia disponibilizam, enquanto nas cidades elas estão mais dispostas ao perigo e à violência. Outro aspecto que é bastante forte na conversa com as crianças é a questão da cultura, a exemplo da fala acima de Otoniel que aponta as diferenças entre as crianças índias e não-índias como estando no campo da cultura, das danças. Em sua fala, Matheus destaca ainda a influência que os 33 Alceu Zoia meios de comunicação têm exercido sobre as crianças, principalmente com relação aos hábitos alimentares. Lembrando dos espaços para a aprendizagem nas comunidades indígenas e não-indígenas, percebemos que a infância e o seu desenvolvimento estão conectados com a educação e com a sociedade na qual esta criança está inserida. Maher (2006), citando estes espaços, argumenta que esta educação acontece no cotidiano: Nas sociedades indígenas, o ensinar e o aprender são ações mescladas, incorporadas à rotina do dia a dia, ao trabalho e ao lazer e não estão restritas a nenhum espaço específico. A escola é todo espaço físico da comunidade. Ensina-se a pescar no rio, evidentemente. Ensina-se a plantar no roçado. Para aprender, para ensinar qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora... (MAHER, 2006, p. 17) Ao contrário da integridade de vivências no espaço indígena, para que ocorra a aprendizagem, as crianças não-índias da sociedade urbana acabam sendo isoladas em espaços e tempos específicos definidos pelos adultos que os julgam ser os mais adequados para que elas se desenvolvam nas mais variadas idades. Assim, são criados espaços nas cidades, tais como: as escolas, os parques de diversões ou de passeio, os shoppings e muitos outros, todos permeados de regras para a convivência que em vários momentos podem constranger e limitar a capacidade da criança de se desenvolver em plenitude e estabelecer relações com seus semelhantes, pois restringem a possibilidade de escolhas e autonomia à medida que fragmentam as relações sociais por seus espaços e fazeres. Entendemos com isso que não existe um desenvolvimento da infância que seja universal, único e natural. As condições culturais, econômicas, sociais e históricas tornam-se fatores decisivos no desenvolvimento de cada criança que vai construindo sua história e simultaneamente sendo por ela construída. Um dos aspectos mais contrastantes entre a infância das sociedades urbanas e indígenas é a liberdade que estas últimas usufruem no seu dia a dia, que engloba o acesso aos mais variados espaços e atividades, tanto educacionais, sociais, religiosos, enfim, a criança indígena tem a liberdade para participar de quase tudo o que se passa a sua volta na aldeia. 34 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso Nas sociedades não-índias é muito comum observarmos que há uma cisão entre os espaços das crianças e o espaço dos adultos, sendo que os espaços infantis estão sempre envoltos em proibições e controle exercido pelos mais velhos e que dificilmente as crianças têm espaço para externar sua opinião. Ao falar das desigualdades entre os homens, Leontiev (2004) afirma que estas não são biológicas, mas produzidas pelo contexto social, econômico, cultural, ou seja, do processo histórico que os envolve e faz a seguinte análise para expressar as enormes diferenças que facilmente encontramos em nossa sociedade: Se um ser inteligente vindo de outro planeta visitasse a Terra e descrevesse as aptidões físicas, mentais e estéticas, as qualidades morais e os traços de comportamento de homens pertencentes às classes e camadas sociais diferentes ou habitando regiões e países diferentes, dificilmente se admitiria tratar-se de representantes da mesma espécie. Mas esta desigualdade entre os homens não provém das suas diferenças biológicas naturais. Ela é produto da desigualdade econômica, da desigualdade de classes e da diversidade consecutiva das suas relações com as aquisições que encarnam todas as aptidões e faculdades da natureza humana, formadas no decurso de um processo sócio-histórico. (LEONTIEV, 2004, p.293) Todas estas desigualdades são possíveis observar entre as crianças de cada grupo social. Nas sociedades indígenas com as quais tivemos contato, verificamos também que as crianças gozam de mobilidade muito maior do que nas sociedades urbanas. A infância na aldeia é marcada por uma enorme liberdade na vivência do tempo e do espaço e também das relações que se estabelecem neste meio e que se estenderão até a passagem para a vida adulta. Tivemos a oportunidade de constatar, na comunidade indígena, que o universo infantil também se desenvolve num ambiente de maior tranquilidade e de quase onipresença das crianças em todas as áreas da aldeia. Todos os espaços são lugares possíveis para o desenvolvimento das mais variadas atividades infantis. Porém, percebemos que as crianças nunca estão 35 Alceu Zoia totalmente desacompanhadas, por se tratar de uma educação coletiva, sempre encontramos crianças maiores e pessoas mais velhas acompanhando os menores em suas brincadeiras e definindo os limites estabelecidos pela comunidade. Numa das conversas com o senhor Milton, cacique da aldeia Turipokú, ele nos fala dessa liberdade que as crianças possuem de poder se deslocar por todos os espaços da aldeia e que não há necessidade de proibi-las de frequentar alguns lugares considerados perigosos porque eles já não vão mesmo, ficam apenas observando de longe, conforme expressa o Sr. Milton Rondon: Quando é um lugar que eles não podem ir, eles já não vão mesmo. (Entrevista no dia 3 de novembro de 2007) Alvanei também frisa que a infância das crianças na aldeia possui maior liberdade porque, ali, os pais têm a certeza de que nada de mal possa acontecer aos seus filhos. Os pais se sentem seguros pelas crianças estarem brincando umas com as outras em clima de companheirismo: Há uma confiança de que ela vai estar em boa companhia porque há uma união muito grande na comunidade (Entrevista no dia 04 de setembro de 2007). Esta liberdade que é experimentada no período da infância permite às crianças indígenas uma melhor compreensão de seu mundo e também as habilitam para melhor partilha do social. Para compreender o modo como cada sociedade vive, é necessário compreender as condições geográficas, ambientais, culturais e, sobretudo, as relações sociais que se estabelecem entre os indivíduos desta sociedade, cientes de que os processos de conhecimento, de ensino e aprendizagem e as concepções de mundo são diversos e variam de uma etnia para a outra. Precisamos compreender estas relações para esboçar quais serão os referenciais que nortearão nossa compreensão do universo infantil desta comunidade. O relacionamento entre as crianças dentro da comunidade é muito bom. Não observamos a formação de grupinhos fechados, todos se tratam como se fossem irmãos ou, como eles mesmos dizem, como parentes. Até 36 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso mesmo os índios de outras etnias são por eles chamados de parentes. Há uma solidariedade muito grande entre todos, conforme nos relata Matheus sobre um momento em que uma de suas filhas adoeceu e ficou sem poder ir à escola por alguns dias, situação que gerou preocupação para as demais crianças: [...] na verdade é parente, mas muito próximo um do outro, quando alguém sofre de alguma doença, algum problema de saúde, até muitas vezes as outras crianças se preocupam com isso e isso acabou acontecendo com minha família, minha filha ficou doente e ficou uns dias sem ir na escola, então as próprias crianças, junto com a professora se incumbiram de ir na casa visitar a minha filha que estava lá um tempo sem ir na escola, dando incentivo e dizendo que a escola era muito boa e que ela deveria tornar a brincar novamente. Então há uma relação muito amorosa com o outro. (Matheus, entrevista em 4 de setembro de 2007) Pude observar em minhas visitas na aldeia o que foi relatado por Matheus. Inclusive em relação aos índios de outras etnias, que são tratados como parentes. Observamos ainda que o brincar está sempre presente entre as crianças. A infância é o período em que o brincar se manifesta de modo mais contundente e ela tem sido definida, muitas vezes, como estágios da maturidade biológica, naturalizados e descontextualizados, a-histórico, sem enxergar a criança como um ser que está inserido em uma comunidade, que faz parte de um contexto que é social, histórico e que este contexto também é cheio de contradições que não são exclusividade dos adultos. É preciso compreender que cada fase da vida é provisória, singular e um vir a ser permanente, para assim tratar cada período, respeitando o seu tempo de desenvolvimento e o seu tempo de amadurecimento. No universo indígena e no nosso caso específico, na comunidade Terena, a aprendizagem ocorre de diversas formas que vão desde o convívio com os adultos e se estende até as interações com as demais crianças da aldeia nos mais variados espaços, sejam eles nas caminhadas pela aldeia, sejam nas brincadeiras que se desenvolvem nos grupos, principalmente nos jogos 37 Alceu Zoia com bola ou subindo em árvores. Todos os espaços da aldeia são espaços de descobertas, experimentações e transmissões de conhecimentos. Outro fator que merece destaque e que comprovamos em nossas pesquisas é a noção de tempo que é dispensado para o aprendizado: para os povos indígenas é muito diverso da nossa noção imediatista de resultados. Para eles o tempo dispensado para o aprendizado da criança é muito valoroso. As crianças têm a liberdade de executar suas tarefas no seu tempo e os adultos não se cansam de repetir as atividades que estão ensinando e de aguardar que os pequenos consigam executar estas tarefas da melhor maneira possível. Observamos que não existe pressa para se terminar uma atividade, é preciso respeitar o tempo de aprendizagem da criança, uma vez que isso terá grande aplicabilidade na realização das demais tarefas do seu dia-a-dia. Desta forma, o povo Terena mantém suas tradições, sua maneira de ser, de aprender, de respeitar, de ouvir, de não individualizar a educação, demonstrando às crianças que são nas relações sociais que são elaborados e desenvolvidos os conhecimentos de que necessitam no cotidiano e que o processo de ensino-aprendizagem é um momento de vivenciar experiências novas para todos. Olhar para as crianças como uma categoria social é o ponto de partida para inverter a ordem da história que invariavelmente tem ignorado a sua existência e papel nas mais diversas sociedades. Voltar os olhos para a infância e sobre ela desenvolver estudos trará importantes contribuições para a compreensão dos processos históricos pelos quais as sociedades vêm passando e em especial as sociedades indígenas. Percebemos hoje que são sobre as crianças que estão depositadas as esperanças de transformá-las em atores sociais, agentes da produção e reprodução cultural destas comunidades por meio das atividades desenvolvidas, principalmente na escola; porém, cabe destacar que não somente na escola se busca manterem vivos os aspectos culturais da comunidade, recriando e adaptando para as novas formas de vida que passam a ser desenvolvidas na nova comunidade. A infância deve ser considerada como um construto social e que devemos ter em consideração todos os aspectos que a compõem. A criança é produto e produtora de influências sociohistóricas, culturais, políticas e educacionais do lugar que as cerca. 38 A infância indígena: algumas considerações sobre a comunidade Terena do norte de Mato Grosso Olhar a organização de uma sociedade a partir da ótica infantil é uma condição para a percepção das múltiplas determinações desta sociedade que se encontra em constante transformação, pois as crianças trazem em si as marcas da produção e da reprodução social, agem e se posicionam como agentes dessas manifestações culturais. O estudo sobre a infância traz um novo conhecimento sobre as relações existentes entre a cultura e a história, ressignificando-a e transformando-a. Entendemos que a formação do ser humano é um processo contínuo e se dá no decorrer de toda a vida. Isso é percebido com maior clareza ainda quando se trata de uma comunidade indígena, tudo é trabalhado de maneira que de cada ação resulte algum tipo de aprendizado. Desde a amamentação, alimentação, nos banhos de rio, na confecção e no uso dos artesanatos, enfim, tudo faz parte de um amplo processo educativo que se desenvolve pelo convívio na família, na aldeia, entre seus membros e também na escola. Todo lugar transforma-se num lugar de aprendizagem. Neste sentido, as crianças estão em constante processo de desenvolvimento, tanto no que diz respeito aos seus conhecimentos objetivos, quanto as suas atividades, comportamentos, atitudes, valores e ideias. A aprendizagem é vista como um elemento essencial para seu desenvolvimento. A infância Terena tem especificidades e se diferencia em alguns aspectos da infância não-índia. Entre estas especificidades podemos destacar, como ponto forte, a politização de suas ações. Há um envolvimento significativo nas lutas travadas pelos adultos que faz parte do modo de viver do povo Terena. As crianças são levadas às reuniões, protestos, reivindicações, enfim, faz parte da cultura desse povo incluir as crianças na vida política da comunidade, como sendo uma forma de demonstrar às autoridades a seriedade de sua causa, que ali são famílias que estão reivindicando e lutando para que seus direitos sejam respeitados e cumpridos. Desta forma, a participação nestes movimentos serve para elevar o orgulho de ser índio e formar a consciência do lugar histórico que ocupam nessa comunidade. O que buscamos trabalhar ao longo deste texto nos permite visualizar que, se percebemos muitos limites, percebemos também grandes possibilidades de avanço, de uma comunidade que está lutando para conquistar espaços, mesmo estando sujeita a inúmeras dificuldades. Podemos afirmar 39 Alceu Zoia que no norte do Estado de Mato Grosso está nascendo uma comunidade Terena forte, organizada e que preserva sua cultura como algo fundamental para a manutenção de sua identidade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS LEONTIEV, Aléxis. O Desenvolvimento do Psiquismo. 2 ed. São Paulo: Centauro, 2004. MAHER, Teresinha Machado. Formação de professores Indígenas: uma discussão introdutória. In: GRUPIONI, Luís Doniseti Benzi (org). Formação de professores indígenas: repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006. MAYBURY-LEWIS, David. A Sociedade Xavante. Rio de Janeiro: Francisco Alves Ed., 1984. MANDULÃO, Fausto da Silva. Educação na visão do professor indígena. In: GRUPIONI, Luís Doniseti Benzi (org). Formação de professores indígenas: repensando trajetórias. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2006. SILVA, Araci L. da; MACEDO, Ana V. L. da S. & NUNES, Ângela (org). Crianças Indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: Global, 2002. 40 Interações entre alunos negros e não negros em uma escola pública IVONE JESUS ALEXANDRE Ao discutir relações raciais1 no Brasil observa-se que o mito da democracia racial afirma que no Brasil há igualdade racial. O racismo se manifesta de forma cordial, as diferenças sociais na hierarquia da sociedade se justificam pela capacidade individual e não por oportunidades desiguais. No imaginário social, prevalece o pensamento de que a sociedade não é hierarquizada e discriminadora: “gravou no inconsciente coletivo a falsa convicção de inferioridade do negro, manifestada sob forma do preconceito à brasileira, ou seja, um preconceito sutil, disfarçado, com vergonha de ser preconceito” (CANDAU, 2003, p.21). Uma das características marcantes do racismo brasileiro é que a vitima é culpada pelo racismo que sofre. Se os negros não alcançam o sucesso é porque não se esforçam, as diferenças raciais na hierarquia da sociedade continuam justificadas pela capacidade individual e não por oportunidades desiguais. A relação na escola representa o pensamento social. Segundo pesquisas (ROSEMBERG, 1987; FAZZI, 2004; CARVALHO, 2005), as oportunidades de participação e evidência na escola é privilégio dos alunos brancos, não são todos os alunos que tendem a se sobressair. Para Candau (2003, p.24): 1. Sabemos que as recentes pesquisas concluíram que cientificamente raças não existem. No entanto, o termo raça neste trabalho é usado porque nas relações sociais as características fenotípicas e genotípicas têm justificado as desigualdades entre os diferentes grupos humanos (GUIMARÃES, 2002). 41 Ivone Jesus Alexandre A instituição escolar representa um microuniverso social que se caracteriza pela diversidade social e cultural e por, muitas vezes, reproduzir padrões de conduta que permeiam as relações sociais fora da escola. Desse modo as formas de se relacionar com o outro, na escola, refletem as práticas sociais, mais amplas. Podemos dizer que, ainda que valores como igualdade e solidariedade, respeito ao próximo e as diferenças estejam presentes no discurso da escola, outros mecanismos, talvez mais sutis, revelam que preconceitos e estereótipos também integram o cotidiano escolar. Dentro da escola, as formas de discriminação vão desde o currículo formal, que exclui a expressão cultural, transitando pela linguagem não verbal até comportamentos e práticas explícitas. A pesquisa teve por objetivo buscar compreender como ocorrem as interações entre crianças negras e não negras em uma turma de 4ª série do período vespertino dentro do espaço escolar. A intenção era compreender as manifestações racistas dentro da sala de aula em toda sua dimensão, buscando evidenciar a maneira pela qual os alunos de maioria negra pertencentes ao mesmo estrato social se percebem e são percebidos no cotidiano escolar. Buscou compreender os processos discriminatórios que marcam as relações entre alunos negros e não negros; identificar fatores que contribuem para a discriminação racial entre esses sujeitos de pesquisa; analisar de que forma a aparência são critérios para determinar a socialização entre os alunos e compreender os critérios de escolhas para uma interação mais afetiva entre os alunos negros e não negros. Esse recorte da pesquisa discute especificamente as interações entre os alunos negros e não negros. Utilizo a abordagem qualitativa a qual, para Minayo (1994, p.22), permite compreender com profundidade o “mundo dos significados das ações e relações humanas que é um lado não perceptível e captável em equações médias e estatísticas”. A técnica para coleta de dados foi a observação participante e entrevistas. Segundo Becker (1999), a observação participante aliada à entrevista permite acesso a uma gama de dados que, às vezes, nem foi 42 Interações entre alunos negros e não negros em uma escola pública previsto pelo pesquisador. A observação participante foi feita na sala de aula e as entrevistas foram com os professores e pais dos alunos pesquisados. Durante as duas primeiras semanas do mês de dezembro de 2005, realizei observações na escola buscando fazer o levantamento das questões de pesquisa. Em 2006, retornei à escola para a primeira fase da pesquisa, que consistia em observar os alunos em todos os espaços escolares: sala de aula, intervalo escolar quadra de Educação Física. Observei 32 alunos: nas aulas da professora titular, nas aulas dos professores que ministram as disciplinas de Educação Física, Inglês, Educação Artística e durante o intervalo escolar. A turma da 4a série era composta por 32 alunos, sendo 19 meninas e 13 meninos. Havia 7 pretos, 9 brancos, e 16 pardos, sendo uma aluna de cabelos crespos. O período de observação correspondeu a 4 h/aula, durante três meses em período integral. Para atender aos objetivos da pesquisa, o primeiro passo foi a classificação dos alunos segundo a cor. Classificar a cor constituiu tarefa muito complexa na escola campo, visto que a maioria é de origem negra, variando só a tonalidade da pele. Isto implica, também, na forma como se operam as discriminações raciais. No Brasil, o preconceito de raça se exerce em relação à aparência, assim é definido por Oracy Nogueira (1998) como de “marca”. Para esse autor, esse preconceito tem como pretexto os traços físicos dos indivíduos. Se a pele for clara, o cabelo liso e de estrato econômico elevado, menos discriminação racial a pessoa sofre. Neste trabalho, optei pela classificação racial de Teixeira (2003), que faz a partir das categorias de cor do IBGE. Para a referida pesquisadora, o maior problema da classificação racial é justamente atribuir cor ao contingente de afrodescendentes que estão situados entre a categoria branca e preta. Teixeira (2003) propõe uma categoria intermediária para as pessoas pardas. Dividiu em duas: mulatos e pardos, seguindo a tonalidade da pele; em que os mulatos seriam os que possuem a pele mais escura e os pardos a pele mais clara. Utilizei também a classificação de cor apontada por Oliveira (1999, p.48) que considera não somente a cor da pele, mas a textura do cabelo, a forma do nariz e a espessura dos lábios. 43 Ivone Jesus Alexandre Classifiquei a cor das crianças segundo a categoria do IBGE: pretos, brancos e pardos, considerando-se a aparência dos sujeitos, especificamente os traços fenotípicos. O momento da autoclassificação racial foi na fase de observação. O segundo momento foi por meio de perguntas abertas e conforme as opções de cor do IBGE. Os alunos pesquisados foram identificados nesse trabalho pelas primeira e segunda letra do nome próprio. CLASSIFICAÇÃO RACIAL DOS ALUNOS A classificação racial dos alunos pesquisados ocorreu em dois momentos, o primeiro foi na fase da observação participante em que a pesquisadora, aproveitando o contato diário com os alunos na sala de aula, classificou-os segundo cor/raça. O segundo ocorreu por meio de perguntas abertas em que os alunos atribuíam a si uma cor e uma pergunta fechada, na qual os alunos optavam para se autoclassificarem segundo as categorias de cor do IBGE.2 Os alunos eram, em sua maioria, de origem negra. Assim, agrego os alunos na categoria preta abrangendo os mulatos e pretos, aliados aos traços fenotípicos e textura do cabelo. A categoria parda abrange as diferentes nuances de cor e, por último, a categoria branca. Apresento a tabela com as respostas dos alunos em relação à classificação racial feita pela pesquisadora: Tabela 1: Classificação feita pela pesquisadora quanto à cor/raça dos alunos da 4ª série pesquisada no ano de 2006. Total de Alunos Brancos Pretos Pardos 32 9 7 16 2. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 44 Interações entre alunos negros e não negros em uma escola pública A partir dessa classificação por cor, os alunos ficaram divididos em: dos 9 alunos brancos, 4 meninas e 5 meninos; dos 7 alunos pretos, 2 meninas e 5 meninos; dos alunos 16 são pardos, sendo 13 meninas e 3 meninos. A pergunta aberta sobre cor causou espanto nas crianças, como se elas ouvissem pela primeira vez essa pergunta. Esse fato permitiu supor que as crianças jamais haviam parado para observar ou falar sobre sua cor e, principalmente, materializá-la escrevendo-a. Pela reação (olhar de espanto) dos alunos, a pergunta, pareceu tão sem propósito, que se entreolharam após escolherem a opção, parecendo querer a confirmação de que a cor que haviam escrito estava correta e também saber o que os outros alunos haviam escrito. Para Petruccelli (2001), isso ocorre porque, em nosso país, é recente o questionamento sobre a denominação e organização da cor de uma pessoa. Ao anunciar sua cor, alguns alunos pretos eram questionados pelos colegas, tendendo, conforme o grau de relação afetiva, a clarear ou escurecer a pele. A tabela a seguir demonstra as variáveis de cor percebidas pelos alunos quando se trata de se autoclassificar em uma pergunta aberta: Tabela 2: Autoclassificação dos alunos, segundo cor/raça, em pergunta aberta. Aluno 32 Branco Negro Pardo 6 1 Moreno claro Moreno Chocolate Cor da pele Loira Marrom 2 2 14 1 3 1 2 O resultado mostra diferentes denominações de cor diante da pergunta aberta, sendo elas: “moreno”, “moreno claro”, “pardo”, “chocolate”, “marrom”, “cor da pele”, “branco” e “negro”. A pesquisa de Clovis Moura (1988) constata o uso de 136 diferentes variáveis do brasileiro para se autoclassificar. Para Munanga (2004, p.133) esse resultado significa que: [...] esse total de cores demonstra como o brasileiro foge de sua realidade étnica, de sua identidade procurando, mediante simbolismo de fuga, situar-se o mais próximo possível do modelo tido como superior, isto é, o branco. 45 Ivone Jesus Alexandre Esse comportamento corresponde ao “ideal de branqueamento” defendido pelas elites brasileiras para a formação de uma identidade nacional idealizada como branca. Em relação à pergunta fechada os dados coletados sobre a cor/raça são os seguintes: Tabela 3: Classificação racial dos alunos segundo cor/raça-pergunta fechada Alunos Branca Preta Mulata Parda Indígena 32 8 1 7 15 1 Ao fazer a autoclassificação por meio de pergunta fechada, no segundo momento, os alunos pareceram-me mais cautelosos, devido a terem somente as opções branca, preta, mulata, parda e indígena. Percebi que, ao lerem as opções, pareciam estar procurando a palavra “moreno”. Os alunos perguntaram o que era “pardo”. Não houve tempo de responder, pois uma aluna se antecipou a mim e disse (num ímpeto) que era a cor dela, mostrando o braço. A maioria dos alunos assinalou, então, a cor parda. Alguns pareciam (pela expressão facial) aliviados por terem encontrado a denominação correta para sua cor. Observei que a aluna que se pronunciou dizendo ser parda, era muito bonita e presumi ser possível os alunos, por esse motivo, quererem se identificar com sua cor. A aluna foi classificada pela pesquisadora como parda. Muitos dos classificados pela pesquisadora como pretos colocaram a opção pardo. Somente um aluno manteve a denominação da cor preta. Os alunos questionaram sobre a cor mulata. Disse-lhes que “tinha essa cor quem fosse filho de pais pretos e brancos, e indígena quem fosse filho de pais índios”. Ao analisar as respostas das perguntas aberta e fechada, constatei que os alunos que antes se classificaram como pretos migraram, posteriormente para pardo. Esse fato demonstra tanto o desejo do branqueamento quanto a não-aceitação da cor, haja vista que também preferem o termo moreno. Acredito que isso ocorre em função da escola ainda ser centrada em padrões que valorizam a cor branca, cabelos lisos, enfim, modelos 46 Interações entre alunos negros e não negros em uma escola pública eurocêntricos que fazem que nossas crianças negras não se sintam queridas por sua descendência racial. Em relação a esse fato, Pizza e Rosemberg (2002) percebem que, para alguns, o termo moreno pode estar designando uma procura de branqueamento. Para as pesquisadoras, isso acontece devido aos significados sociais que a cor apresenta. Outro dado interessante foi encontrado na pergunta aberta, na qual uma aluna se classifica como negra. Na pergunta fechada, em que se utiliza o termo preto, ela se classifica como negra, escrevendo do lado da opção “preta” a palavra “negra”. Esta resposta pode: [...] indicar alguma politização e um esforço de recuperação de um sentimento positivo para a negritude. O termo negro vem sendo utilizado pelo movimento anti-racista brasileiro desde 1930, buscando reverter seu sentido pejorativo, e é empregado por aqueles que buscam desestigmatizar a negritude e diminuir ambigüidade de nossa classificação racial, ressaltando a polaridade entre brancos e negros (CARVALHO, 2005, p.82). Outro aluno, classificado pela pesquisadora de preto, classificou-se como marrom na pergunta aberta e preto na pergunta fechada. Chamou a atenção que num primeiro momento ele havia escrito marrom. Ao repetir que era para os alunos assinalarem uma das cores que constava nas opções, ele assinalou a cor preta. Essa atitude leva a concluir como é confuso para o aluno o ato de se classificar como preto em uma sociedade em que a referência de beleza é a cor branca. Para Pizza e Rosemberg (2002, p.111), isso ocorre em função de que: [...] não são apenas os valores sociais que os respondentes atribuem à cor ou à raça, mas a ambigüidades enfrentadas pelos sujeitos respondentes ao se inserirem num sistema de cores onde a cor, e apenas a cor, é responsável pela sua inserção nos grupos sociais. Um outro dado interessante foi um aluno que se identificou como moreno na pergunta aberta e, na fechada, identificou-se como indígena, e 47 Ivone Jesus Alexandre justificou sua resposta dizendo que o seu cabelo (liso) parecia de índio, o rosto também; provavelmente, ele deveria ter algum parente no passado que fosse índio. Outro dado observado foi o aumento de um aluno na categoria mulato e a redução de um aluno branco na pergunta fechada. Penso que, ao dizer ser o mulato filho de pessoas brancas e pretas, diferentemente da pergunta aberta na qual havia dito para olharem para si, acredito que propiciei ao aluno uma reflexão de sua própria cor, uma vez que assumiu verbalmente ser o seu pai “preto”. Penso as respostas dos alunos em relação à pergunta fechada também influenciou, pois comparando os dados das respostas dos alunos com os dados da pesquisadora, estes mostram que os alunos que se declararam como mulatos na pergunta fechada estão na mesma proporção que os alunos classificados como pretos pela pesquisadora. Para Munanga (2004, p.140), o mestiço brasileiro simboliza a ambiguidade, e sua consequência se dá na própria definição, pois num país onde ele é indefinido, ele é “um e outro”, “o mesmo e o diferente”, “nem um nem outro”, “ser e não ser”, “pertencer e não pertencer” essa indefinição dificulta tanto sua identidade como mestiço quanto sua opção pela identidade negra”. Pizza e Rosemberg (2002) questionam sobre a objetividade de atribuição de cor a alguém no Brasil; para as pesquisadoras, a cor é uma abstração definida pela multiplicidade de traços físicos (cor e textura da pele, formato dos olhos, nariz, olho, boca, corpo, tipo de cabelo) e posição social. Os alunos, em sua maioria, demonstraram perceber que a classificação da cor implica muito mais que uma simples definição da cor da pele, o que permite precisar que assumir a origem racial pode ser doloroso para esses alunos. Acredito que isso se deve ao fato de que, a todo momento, eles têm demonstrações do que a cor representa no espaço social em que se inserem, motivando exclusão e desigualdades de oportunidades. 48 Interações entre alunos negros e não negros em uma escola pública A INTERAÇÃO ENTRE ALUNOS NEGROS E NÃO NEGROS EM UMA ESCOLA PÚBLICA As relações dos alunos dentro do ambiente escolar apresentam características semelhantes numa primeira impressão, comportamentos e atitudes normais próprias da faixa etária, permeadas de risos, falas, brincadeiras, briguinhas corriqueiras. Para Haidt (2003, p.15), a convivência escolar permite que os alunos assimilem conhecimentos, pois é “no contexto de sala de aula, no convívio diário com o professor e com os colegas que o aluno vai paulatinamente exercitando hábitos, desenvolvendo atitudes, assimilando valores.” Segundo a autora, através do processo de interação, o aluno constrói ainda, conhecimentos, crenças, exercita formas de expressar, sentir e ver o mundo, forma ideia, conceitos e preconceitos. Souza (2001) dia que a escola é um lócus privilegiado para a emergência de embates que envolvem a problemática racial; pois nela se encontram crianças e adolescentes pertencentes a diferentes grupos fenotípicos. Oliveira (1999) defende que o ensino fundamental é lugar privilegiado, que tem por função oferecer, a todo e qualquer brasileiro, oportunidade de incorporar os conteúdos mínimos que lhe garantam usufruir de seus direitos de cidadão. É nesse momento que a criança tem oportunidade de vivenciar situações de respeito e convivência solidária com os diferentes. A coleta de dados realizada na dinâmica da sala de aula, nas diferentes áreas do conhecimento, mostrou que tanto as práticas pedagógicas quanto o material didático continuam a manter a invisibilidade da população negra; os materiais utilizados, devido às severas críticas, têm tido certo cuidado em não mostrar as pessoas negras somente em situação de desprestígio social, mas também tão pouco as mostram em situação de prestígio. Na escola, durante os três meses em que observei as aulas, os alunos em diferentes momentos demonstraram explicitamente serem racistas. Não vi, no entanto, nenhum professor abordar o problema profundamente. Falou-se do Dia da Abolição da Escravatura remetendo apenas à data comemorativa, isso porque uma aluna trouxe uma poesia solicitada pela professora e que recitaria no mês de maio, no dia em que se comemoraria a Abolição da Escravatura: 49 Ivone Jesus Alexandre [...] por falta de preparo ou por preconceitos neles introjetados, não sabem lançar mão das situações flagantes de discriminação no espaço escolar e na sala como momento pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz a nossa cultura e a nossa identidade nacional (MUNANGA, 2005, p.15). As interações no espaço da sala de aula nos diferentes momentos pedagógicos são perpassadas por práticas discriminatórias que se apresentam em alguns momentos explicitamente e em outros sutilmente, veladas. É perceptível observar, intrínseco aos comportamentos e ações, um imaginário social perpetuado por ideias racistas. Nas interações escolares, os alunos pretos vivenciam um sofrimento em relação a sua pertença racial, são expostos às situações cotidianas de violência, o que acaba por dificultar a construção de uma identidade positiva. CONSIDERAÇÕES FINAIS O racismo, desde tenra idade, está sendo internalizado e reproduzido no seio das relações sociais. As cenas observadas nos diferentes espaços da sala de aula evidenciaram que os alunos percebem o colega que possui a pele mais escura como “diferente” e essas diferenças passam a justificar tratamentos desiguais. As observações demonstraram que os alunos negros são vítimas de estigmas e estereótipos dentro do espaço escolar, isto influencia sobremaneira a própria identidade, pois a autoaceitação também depende das representações que os outros têm de si; nesta perspectiva, o ambiente escolar é conflituoso para esses alunos, pois são rejeitados pelos colegas. As preferências explícitas dos alunos pela companhia do outro que possuíam a pele mais clara (como os sentimentos de afeição e solidariedade destinados a estes) permitiu supor o quanto é doloroso para o aluno negro ser constantemente exposto a humilhações e pequenos gestos de evitação racial. 50 Interações entre alunos negros e não negros em uma escola pública O preconceito, discriminação racial e racismo são problemas de todos os que fazem parte da socialização primária quanto secundária; isto é, dos professores, pais, e comunidade. As situações de discriminação racial a que são expostas as crianças negras têm aniquilado sua autoestima e comprometido sua identidade. Os professores de maneira geral têm colaborado, seja consciente ou inconsciente, nos processos de exclusão e violência contra os alunos negros. Os rituais pedagógicos têm punido a criança negra à medida que dificulta sua participação, não considera sua especificidade e a homogeneiza num padrão em que não as favorece. Nesse sentido, ela não integra o aluno negro no processo escolar. Para romper com a discriminação racial no espaço escolar, é preciso investir no professor, porque tais práticas podem não iniciar na escola, porém conta com esse ambiente para o reforço. Os professores têm sido convocados na sociedade emergente a enfrentar novos desafios escolares. Com o processo de globalização, as fronteiras das diferenças têm sido evidenciadas e chamadas à discussão. Não é possível ficar omisso diante de situações sociais que apresentam as múltiplas faces da alteridade. Giroux (apud CANDAU, 1997, p.247) afirma que não se pode ignorar, no século XXI, as difíceis questões, do multiculturalismo, da raça e da identidade, do poder, do conhecimento, da ética e do trabalho. Na verdade, as escolas já estão tendo de enfrentar essas questões, exercendo um papel importante na definição do significado proposto pela escolarização. No significado de ensinar e na maneira pela qual os estudantes devem ser ensinados a viver em um mundo amplamente mais globalizado e racialmente diverso que em qualquer outra época da história. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Editora Hucitec, 1999. CANDAU, Vera Maria (Coord.). Somos tod@s iguais? Escola, discriminação e educação em direitos humanos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. 51 Ivone Jesus Alexandre CARVALHO, Marília. Quem é negro, quem é branco: Desempenho escolar e classificação racial de alunos. In. Anped, jan/fev/mar/abr, 2005, n°28. FAZZI, Rita de Cássia. O drama racial de crianças brasileiras: socialização entre pares e preconceito. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. GUIMARÃES, Antonio S.Alfredo. Classes, raças, e democracia. São Paulo: Fundação de Apoio a universidade de São Paulo: Ed.34, 2002. HAIDT, Regina Célia. Curso de didática Geral. São Paulo: Ática, 2003. MINAYO, Maria Cecília de Souza (org). Pesquisa Social-Teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. MOURA, Clovis. “Estratégias de imobilismo social contra negros no mercado de trabalho”, in: São Paulo em Perspectiva, 2(2): 64-8. São Paulo, abr./jun. 1988. MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: Identidade nacional versus identidade negra. -Belo Horizonte: Autêntica, 2004. NOGUEIRA, Oracy. Preconceito de marca: As relações raciais em Itapetininga. Apresentação e edição: Maria L.V. de C. Cavalcanti. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. OLIVEIRA, Iolanda. Desigualdades raciais: construções da infância e da juventude. Niterói: Intertexto, 1999. PETRUCCELLI, José Luis. A cor denominada. Estudos das informações do suplemento da PME, julho de 98. 2001. PIZZA, Edith. ROSEMBERG, Fúlvia. Cor nos censos brasileiros. In. CARONE, Iray. BENTO, Maria A. S. Psicologia Social do Racismo: Estudos sobre branquitude e branqueamento no Brasil. Petrópolis-RJ: Vozes, 2002. ROSEMBERG, Fúlvia. Relações raciais e rendimento escolar. In PINTO, Regina Pahim. Raça Negra e Educação. Cadernos de Pesquisas. São Paulo, N°63. Novembro, 1987. SILVA, Ana Célia. A desconstrução da discriminação no livro didático. In. MUNANGA, Kabengele (Org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação / Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005, p.21-34. SOUZA, Elisabeth Fernandes de. Repercussões do discurso pedagógico sobre relações raciais nos PCNs. In CAVALLEIRO. Eliane. Racismo e anti-racismo na educação - repensando nossa escola. São Paulo: Summus, 2001. TEIXEIRA, Moema de Poli. “Negros e Universidade”. Identidade e trajetórias de ascensão social no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Pallas, 1998. 52 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena em Matemática da UNEMAT/SINOP CELMA RAMOS EVANGELISTA INTRODUÇÃO O artigo é um recorte da pesquisa, intitulada “A (in) disciplina na visão de estagiários do Curso de Matemática da Unemat (Sinop-MT)”, desenvolvida no Curso de Mestrado, realizado na Universidade Federal de Mato Grosso – Instituto de Educação –, e orientada por Prof. Dr.Sérgio Roberto de Paulo. Teve como objetivo principal investigar a visão, dos estagiários do Curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Campus de Sinop, sobre o tema (in) disciplina durante os estágios de Prática de Ensino no decorrer dos semestres 2002/2 e 2003/1. Procurou-se constatar as causas atribuídas ao fenômeno pelos alunos estagiários, bem como suas formas de intervenção. Optou-se por uma investigação de caráter qualitativo interpretativo. No processo de coleta de dados, utilizaram-se como instrumentos: entrevistas semi-estruturadas, conversas informais, avaliação (mesaredonda), textos redigidos por alunos estagiários sobre o tema e observações diretas em sala de aula. Considerou-se, para efeito da pesquisa, o período de estágio curricular que compreende as fases de Observação e Prática de Ensino, realizadas em escolas da rede pública estadual de Sinop, escolhidas pelos alunos estagiários, restringindo-se a turmas do Ensino Médio, conforme o previsto na matriz curricular do Curso. Participaram da investigação nove alunos estagiários, pertencentes a duas turmas distintas, do oitavo semestre do Curso de Licenciatura Plena em Matemática. 53 Celma Ramos Evangelista Para que não houvesse constrangimento entre os alunos estagiários foram-lhes atribuídos nomes fictícios, bem como às escolas onde foram realizados os respectivos estágios curriculares, no Ensino Médio, mantendo apenas o nome verdadeiro da Universidade. Assim, os alunos estagiários passaram, para efeito deste trabalho, a ser identificados pelos nomes Iara, Lisa, Iran, Malu, Igor, Luiz, Rita, Fred e Caio. Na dissertação, apresentou-se a análise dos resultados em duas fases. A primeira fase consistiu nas análises dos resultados preliminares do material colhido, organizados e sistematizados em quadros-resumos com o objetivo de buscar pistas e aumentar a compreensão dos aspectos pós-categorizados. Os quadros possuem a seguinte estrutura: caracterização de disciplina e indisciplina; formas de enfrentamento da indisciplina; os cursos de licenciatura preparam o professor para essa realidade; o que se deve incluir nos Cursos de licenciatura (na visão do estagiário); observações. Para cada instrumento de coleta de dados utilizado na pesquisa (entrevistas semiestruturadas, conversas informais, avaliação/mesa-redonda, textos, observação direta em sala de aula) e colaborador foi sistematizado um quadro, enfatizando os tópicos supracitados, possibilitando o cruzamento de informações. A segunda fase referiu-se às análises dos resultados pós-categorizados das entrevistas apresentadas individualmente cujas narrativas foram intermediadas com comentários interpretativos, seguidos de fragmentos de depoimentos, procurando estabelecer um diálogo entre os relatos dos alunos estagiários. No artigo apresento a análise dos resultados preliminares da primeira fase, cujo objetivo foi de refletir sobre as concepções de disciplina e indisciplina dos alunos estagiários, tomando como parâmetro os debates de diferentes autores, como: Estrela (1994), Passos (1996), Rego (1996), De La Taille (1996), entre outros, que tratam a problemática sob diferentes aspectos teóricos. As informações desses autores nos forneceram pistas para compreensão de âmbito geral das visões e interpretações acerca do tema em discussão, visto que o binômio disciplina e indisciplina pode assumir diferentes significados no âmbito educacional, e assim contribuiu para definição das categorias de análise que norteou o trabalho investigação. 54 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... C ONCEPÇÕES DE DISCIPLINA E INDISCIPLINA PRESENTES NO DEBATE SOBRE O TEMA O problema da indisciplina é antigo, mas ainda hoje são poucos os estudos e investigações que contemplam essa problemática, haja vista a escassez de pesquisas. Nos dias atuais, o problema tem surgido com elevada frequência dentre os conflitos educacionais, o que traz à tona a preocupação crescente de toda população escolar. Ao longo do tempo, depara-se com questões de indisciplina e disciplina. Ambas assumem diferentes significados no âmbito educacional. Revendo a história da educação, encontram-se dados que indicam que o processo disciplinar tem uma relação estreita e íntima com o contexto social, cultural, político e econômico. Pode-se também refletir sobre as formas de enfrentamento no manejo da indisciplina que carecem de novas estratégias e mais estudos. A questão reúne informações interessantes para o entendimento das visões e interpretações que se instalam nas escolas nos dias atuais. Estrela (1994) pondera que existem fatores inerentes às situações pedagógicas que são responsáveis pela disciplina ou indisciplina. Ao fazer essa leitura, a autora propõe rever os respectivos conceitos subentendidos nas principais correntes pedagógicas contemporâneas. Argumenta com propriedade sobre a relação existente entre a questão de disciplina e a educação. De acordo com suas palavras, toda educação visa à inserção do indivíduo numa sociedade que se pretende ordenada e harmônica. Por isso, a disciplina social transforma-se num fim educativo de caráter mediato e a disciplina educativa assume simultaneamente o caráter de fim imediato e de meio da educação. Com efeito, se a aprendizagem e a interiorização de regras prescritas socialmente se apresentam como um fim educativo, essa aprendizagem constitui, ao mesmo tempo, uma condição de exercício da ação educativa e, em especial, da ação pedagógica ligada às aprendizagens institucionalmente organizadas. A postura do professor em sala de aula revela a concepção idealizada por ele diante do fenômeno da disciplina e indisciplina, o que possivelmente pode traduzir a forma como lida com essas manifestações em suas práticas 55 Celma Ramos Evangelista de ensino. Essas formas de enfrentamentos, na maioria das vezes, têm por fim evitar o comprometimento do processo de ensino e de aprendizagem. Por essa temática se constituir interesse de quem milita no ensino, buscaramse autores que escrevem sobre as formas de conceber a disciplina e a indisciplina no meio escolar. Os conceitos de disciplina e indisciplina são concebidos sob vários pontos de vista. Convém salientar, entretanto, que o contexto social prescreve de forma direta as questões referentes à sociedade, entre elas, suas regras, normas e costumes, que terminam por influenciar as questões disciplinares de sala de aula, até porque cada professor tem sua própria história de vida e, consequentemente, isso pode ser retratado em sua vida profissional. O contexto é visto como responsável para as diferentes formas de conceber a indisciplina e certamente o determinante para remediá-lo. Rego (1996) parte do princípio de que o contexto de cada um é fundamental para identificar a forma de conceber e tratar a indisciplina. Para ela, o conceito de indisciplina não é estático, uniforme ou universal, isto porque está relacionado ao conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da história, entre as diferentes culturas numa mesma sociedade. A autora afirma que, no plano individual, a palavra indisciplina pode assumir diferentes sentidos que dependerão das vivências de cada sujeito e do contexto em que forem aplicadas. Como consequência, os padrões de disciplina da educação das crianças e jovens e os critérios adotados para identificar um comportamento indisciplinado se transformaram e se diferenciaram no interior da dinâmica social. Compreende-se que tanto na sociedade como no sistema escolar há necessidade de elaboração de regras e normas, não no sentido de regra pela regra, mas como forma de organização, de convivência social e de desenvolvimento de trabalho. Elas devem existir não como algo estático, inflexível, mas para manter uma convivência respeitosa e democrática em que todos tenham direitos e deveres, reflitam sobre o porquê de tais normas e caminhem para a autodisciplina. Prosseguindo com o raciocínio, Rego (1996) compreende que a convivência na sociedade pressupõe a criação e o cumprimento de regras e preceitos capazes de nortear as relações, possibilitando o diálogo, a cooperação 56 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... e a troca entre membros de um determinado grupo social e, na escola, não deveria ser diferente. Considerando este contexto, as regras passam a ser compreendidas como condição necessária ao convívio social. A internalização e a obediência a determinadas regras podem levar o indivíduo a uma atitude autônoma. A disciplina muitas vezes é compreendida como algo que o aluno já deva ter adquirido quando se chega à escola, o que parece estranho. A escola que tem como um dos objetivos inserir o aluno na sociedade deveria trabalhar no sentido de ensinar que as regras e as normas existem e têm um fim e não foram simplesmente criadas, mas que fazem parte de todo um processo de convivência na sociedade. Em síntese, Rego (1996) diz que a disciplina é vista como resultado da prática educativa realizada na escola e não como pré-requisito para o aproveitamento escolar. Conclui dizendo que a maneira como se interpreta estes termos pode sugerir importantes aspectos que merecem ser discutidos sobre a indisciplina na sala de aula, bem como as implicações que acarretam à prática de ensino. De La Taille (1996) parte da tese de que a indisciplina em sala de aula é consequência do enfraquecimento do vínculo entre moralidade e sentimento de vergonha, embora não rejeite outras decorrências. Trata da disciplina/indisciplina em sala de aula sob a dimensão psicológica, ou seja, sentimento de vergonha relacionada a características gerais da sociedade. O autor inicia sua discussão lembrando, por exemplo, que nos tempos de hoje a criança não tem limites, os pais não os impõem, a escola não os ensina, a sociedade não os exige, a televisão os sabota. Propõe uma discussão à medida que toma a questão de limite como parâmetro, “limite” tão questionado pelos professores, pais e pela própria escola. A propósito, De La Taille (1996) ressalta a existência de um vínculo entre disciplina em sala de aula e moral. Faz questão de enfatizar que toda moral pede disciplina, mas toda disciplina não é moral. Aponta dois pontos de intersecção entre disciplina e moral: o primeiro coloca o problema da relação do indivíduo com um conjunto de normas e o segundo enfatiza que vários atos de indisciplina traduzem-se pelo desrespeito, seja do colega, seja do professor, seja da própria instituição escolar. Observa que educadores 57 Celma Ramos Evangelista se preocupam com os comportamentos desrespeitosos dos discentes e que muitos educadores têm medo de entrar na sala de aula por temerem não receber tratamento digno por parte de seus alunos. Os alunos, por vez, sofrem quando humilhados, injustiçados e demonstram sua indignação, revoltandose contra professores e/ou instituição. Desta forma, a indisciplina é sentida como humilhante. Por fim, o referido autor salienta que a indisciplina em sala de aula não manifesta essencialmente as falhas psicopedagógicas, mas é importante pensar o lugar que a escola ocupa nos dias atuais na sociedade e da mesma forma as crianças, os jovens e a moral. Tem como prerrogativa que o trabalho pedagógico pode reforçar no aluno o sentimento de dignidade como ser moral. Segundo ele, cabe à escola lembrar aos seus alunos e à sociedade como um todo que sua finalidade principal é de preparar o aluno para o exercício da cidadania. Para tanto, acrescenta que para ser cidadão são necessários vários conhecimentos, inclusive, sobre normas mínimas de relações interpessoais. Ao falar em indisciplina, vêm as questões: Que papel a escola tem para o aluno? O que os alunos esperam da escola, dos professores? Estas reflexões muitos educadores externam em momentos de desabafos ou em discussões em meios acadêmicos, como em seminários e outros, na tentativa de associar o valor dado à escola pelos alunos e pais com a manifestação de indisciplina dos alunos. Nesta instância, a indisciplina fica presa a questões de valores pautados em regras que a própria sociedade aceita como certo ou errado. Araújo (1996) relaciona a moralidade e indisciplina, tema central de seu trabalho, recorrendo à obra clássica de Jean Piaget, O juízo moral na criança, na qual o autor afirma que ao se falar em indisciplina logo se pensa em desrespeito às regras estabelecidas. Araújo (1996, p. 110) inicia a discussão comentando que “ [...] apesar de a moralidade estar relacionada às regras nem todas as regras têm vínculos com a moralidade [...]”. Argumenta que se a regra estabelecida não for justa, então ela é imoral, fato que o leva a concluir que o aluno indisciplinado não seja necessariamente imoral. Explica que neste caso a indisciplina poderá pautar na autonomia. Chama a atenção para a forma como as regras são estabelecidas – em 58 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... princípios democráticos ou baseados em posturas autoritárias; no último caso, o sujeito não se sente na obrigação de cumprir as regras e a indisciplina pode surgir como um protesto em relação à autoridade. Esclarece que as instituições assumem métodos dicotômicos para enfrentar o problema da indisciplina, ora optando pela postura autoritária e repressiva com a qual utiliza instrumentos de coação, postos à disposição dos professores pela sociedade, e ora adotando postura de “liberdade” na tentativa de romper com a postura autoritária. Ambos os métodos não trazem os resultados esperados por não conseguir obrigar a consciência dos sujeitos em agir autonomamente (heteronomia) ou não levam à autonomia da consciência (anomia). O autor acredita que a alternativa é romper com a dicotomia entre autoridade e liberdade, adotando uma postura democrática na qual prevalece o respeito mútuo e reciprocidade, que tendem a modificar a visão sobre como as regras devem ser estabelecidas nas instituições, para que os sujeitos possam agir conscientemente baseados na autonomia do pensamento. Na interpretação de Aquino (1996), a questão da indisciplina está associada a dois olhares distintos – um sócio-histórico, apoiado nos condicionantes culturais e outro psicológico, atrelando a influência das relações familiares na escola –, os quais propõem análise transversal ao âmbito didático-pedagógico. O autor esclarece que o fenômeno da indisciplina é um velho conhecido de todos, mas observa que a relevância teórica deixa a desejar. Considera a indisciplina, mediante as várias indagações, como sintoma de outra ordem não a estritamente escolar, mas que surge no interior da relação educativa, não como um evento pedagógico particular. Explica que a indisciplina ultrapassa o âmbito estritamente didático-pedagógico, imprevisto ou até insuspeito no ideário das diferentes teorias pedagógicas. E lembra que é possível constatar que se configura como uma herança pedagógica guardada alheia aos dias atuais, que, segundo o autor, confirma-se com as próprias teorias psicológicas e suas derivações pedagógicas, nas quais o “sujeito universal” é pensado como se todos fossem iguais em essência e em possibilidades. Fala que formou-se uma nova geração, com a crescente democratização política do país, em tese a desmilitarização das relações sociais. Passos (1996) toma como certo refletir a respeito de qual indisciplina se fala e de que forma ela pode adquirir um significado de ousadia, de 59 Celma Ramos Evangelista criatividade, de inconformismo e de resistência. Prioriza a aprendizagem e a relação que ela pode gerar como o saber e coloca num plano inferior a disciplina, mesmo não negando sua necessidade. O ato pedagógico, de acordo com suas colocações, é o momento do emergir das falas, do movimento, da rebeldia, da oposição, da ânsia de descobrir e construir juntos, professores e alunos; não carece ser um ato silenciado, que coloque o professor na condição daquele que ensina e o aluno na posição de sujeito que aprende. Sobre isso, Passos (1996) defende uma pedagogia crítica para o tratamento pedagógico da prática de sala de aula, especificamente das questões disciplinares. Argumenta que as relações de autoridade e hierarquia sustentadas pelas instituições escolares direcionam uma educação para a docilidade, desenvolvendo nos indivíduos uma dependência quase infantil, que não os deixar crescer como sujeitos autossuficientes e automotivos. Essas, segundo o autor, são condições favoráveis para o exercício da criatividade, do raciocínio e para o amadurecimento das relações. Por trás da relação entre autoridade e manutenção da ordem, pode estar escondida uma questão complexa: a do poder disciplinar no ato pedagógico. Desta forma, expressa sua inquietação no que se refere à dicotomização relacionada aos processos pedagógicos, uma vez que são classificados como tradicionais ou novos. Afirma que situações como essas ocorrem pela priorização de conteúdos sobre métodos (vice-versa), ou a disciplina sobre a indisciplina, entre outras classificações que terminam por fragmentar o ato pedagógico. Passos revela que o perigo consiste em não conseguir desvelar a heterogeneidade e a singularidade que o cotidiano da escola pode proporcionar, submetendo a prática dos professores ao universo reduzido de classificações ou tipificações rígidas. Passos (1996) também assinala a importância de tornar o pedagógico mais político e o político mais pedagógico, o que o impele a defender o ato pedagógico como processo de produção de conhecimento, envolvendo os aspectos da prática educacional, como conteúdos, métodos, técnicas didáticas, disciplina, avaliação, enfatiza também nas questões social e cultural subjacentes à educação institucionalizada. A valorização dos conhecimentos adquiridos pelos alunos e professores fora da sala de aula, 60 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... os quais abrange as experiências, culturas, formas de sentir e ver o mundo, desejos, valores e necessidades, é aspecto que sugere uma educação efetiva e contribui para emancipação dos indivíduos; além de privilegiar os modos de ensinar e aprender, determinados pelas relações que acontecem na sala de aula, o que significa perceber e deixar entrar na escola uma outra realidade. Tal ação, para este autor, implica em dizer que o cotidiano escolar revela uma cultura da “disciplinarização”. Os autores mencionados trabalham com diferentes aspectos da disciplina e indisciplina e estruturam cada uma com a respectiva teoria: em herança pedagógica, social, cultural, de valores. É importante destacar que são vários os fatores associados ao ato de disciplina e indisciplina no contexto escolar, o que abre um leque de focos de pesquisas entre os estudiosos mencionados. São visões distintas, mas convergem, quando não trata a indisciplina como na obra de Foucault (1991), em termos de corpos e docilidade. Tomando como referência a evolução da educação no que diz respeito ao desenvolvimento do mundo moderno, é notória a importância de repensar o tema aqui empregado. Ressalta neste texto a diversidade de significados que os pesquisadores atribuem à disciplina e à indisciplina escolar ou em sala de aula, o que naturalmente conduz a diferentes visões. É importante atentar para o processo dinâmico de formação e transformação do conceito sobre disciplina e indisciplina na história da sociedade contemporânea e, principalmente, da educação escolar. É no mínimo intrigante e certamente relevante o modo como se interpreta a indisciplina no contexto escolar. Isso sem dúvida acarreta uma série de implicações à prática pedagógica e fornece dados capazes de interferir tanto nas interações estabelecidas entre alunos e professores, quanto na forma de conduzir a sala aula, os conteúdos e os processos avaliativos. VISÃO DE INDISCIPLINA DOS ALUNOS ESTAGIÁRIOS Com o embasamento teórico acima brevemente exposto, buscou-se saber dos estagiários de que forma eles viam a disciplina e indisciplina na 61 Celma Ramos Evangelista sala de aula e quais alunos eram considerados disciplinados e indisciplinados. Pelas entrevistas, pretendeu-se investigar o que os alunos estagiários pensavam acerca da (in)disciplina, suas causas e como lidavam com a indisciplina. Sob esta ótica, buscou-se saber dos estagiários se os Cursos de Licenciatura preparavam o professor para essa realidade e o que poderia ser incluído nos Cursos de formação para dar tal preparação. Nos quadrosresumos foi sintetizado o conteúdo das falas, preservando as palavras ou expressões utilizadas pelos estagiários ao responderem às perguntas. Foi possível observar que palavras e frases pronunciadas pelos colaboradores, quase sempre, expressaram a mesma ideia. Os dados coletados, mediante as avaliações (mesa-redonda) e diário de campo, foram sistematizados nos quadros-resumos de forma concisa. Foram agrupados e sistematizados de forma que se identificassem com acontecimentos, ações e atitudes referentes ao tema em estudo, observados ou comentados pelos estagiários, que evidenciam ou revelam as respostas às perguntas formalizadas na entrevista. Para observar fatos, empregaramse características que retratassem a coerência ou não dos pensamentos acerca de disciplina e indisciplina. Nos diários de campo, os dados foram agrupados em torno das questões contidas nas entrevistas: como os alunos (escola) se comportam durante as aulas do estagiário; quando o estagiário chama atenção do aluno (intervenção); como o estagiário trabalha a regência em sala de aula e como avalia os alunos no período de observação e regência específica do estágio supervisionado de cada estagiário. Os resumos dos dados contidos na mesa-redonda (avaliação) destacaram questões que reforçaram as respostas às perguntas da entrevista: como o estagiário descreve seus alunos; formas de trabalho em sala; forma de avaliar os alunos durante o estágio; quando e como o estagiário chama a atenção de seus alunos. Prossegue-se com análise dos resultados abstraídos dos quadrosresumos entrelaçados com alguns depoimentos que ilustram os dados coletados. Na caracterização de disciplina e indisciplina, os estagiários mostraram-se inseguros ou tímidos no início das entrevistas, justificando ser a 62 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... questão interessante, complexa e difícil, porém concordaram com sua relevância. Segue-se, como exemplo, uma fala da estagiária: É uma questão, para mim eu acho um tanto complicado. Porque você fala: De repente, indisciplina é aquele aluno que bagunça, ou sei lá aquele que não dá sossego na aula. Mas não sei se seria isso, né? Disciplina, aquele que você vê quietinho, senta lá no seu canto, mas não faz nada. Não sei é difícil caracterizar a questão de disciplina. Eu acho complicado o [...] (indisciplina?) Acho que é a mesma coisa, né?, na questão de você...vai dizer indisciplinado porque ele chega tarde, porque tumultua a aula, porque é...ele não faz o que você pede, eu até ia assim, ...isso gente vê muito.[...] (MULU). Ficou evidenciado que a caracterização sobre disciplina e indisciplina feita pelos estagiários pesquisados envolveu questões de aprendizagem, respeito, participação e não somente comportamento (físico), como barulho, conversas, silêncio, movimentos do corpo, entre outros. Assim disse o estagiário: Acho que disciplina é participação do aluno, a vontade de aprender. Acho que isso que é disciplina. (Indisciplina?) Deve ser inverso (risos)! (FRED). Foi constatada, em alguns depoimentos, a dificuldade para esses estagiários caracterizarem os alunos disciplinados ou indisciplinados, baseando-se somente nos comportamentos indesejáveis manifestados por eles, como: quietinho, que chega atrasado, que não faz o que o professor pede, os que são “aéreos” ou turmas que não apresentam problemas sérios de disciplina (fácil de contornar); os estagiários preferiram nesses casos atribuir outros termos, como: descompromissados, deficiência na aprendizagem, desinteressados, momentos de indisciplinas, conforme mostram os quadros. O extrato seguinte ilustra: Para mim tem vários lados aí, que a gente pode estar colocando, né?. [...] E primeiramente um aluno ser um tanto...um pouco conversador 63 Celma Ramos Evangelista em sala, mas,... sabendo respeitar na hora da explicação...[...] É no caso alunos indisciplinados, né?. Esses que no caso estão conversando na hora da explicação. Eu não diria indisciplinados justamente os alunos que ficam aéreos, né? Ficam olhando assim. Falam que não entendem, mas você explica tudo de novo para eles, de repente você vê... está olhando assim.. pra nada. [...] Esses não são indisciplinados, mas por um lado têm deficiência. [...]. (IGOR) Outros termos utilizados com muita frequência pelos estagiários foram o respeito, a tolerância, o limite; aparentemente, foram empregados nas falas dos estagiários como fatos que delimitam comportamentos e ações, segundo eles, adequados dos alunos, e que se fundamentam no respeito mútuo entre alunos e professores que também apareceu como recorrente. O respeito mencionado nos depoimentos apareceu com duas faces: uma pelo ser humano – neste caso é natural e necessário que se exija –; e outra pelo profissional – respeito que deve ser conquistado. Os estagiários utilizaram-se de expressões, prefixos, termo de negação “não” para designar a indisciplina como o oposto da disciplina. No entanto, a maioria deles afirmou categoricamente que a indisciplina é o inverso, o contrário, o oposto da disciplina. O extrato ilustra: Ah! disciplina? Indisciplina é mais fácil. Indisciplina é bagunça, conversa ou mesmo, falta de respeito com a gente. Gritaria. Mas... disciplina? bom! Disciplina seria o aluno prestar atenção e o mesmo ter respeito com os colegas, com professores. (LISA). Dois dos estudantes caracterizaram a indisciplina como “ser meio liberal”, “caos total”, “clima intolerável, que atrapalha os colegas” e “de patamar elevado dentro da sala de aula”. Assim se expressou um deles: Eu vejo a indisciplina como um caos total. Não aquela algazarra que aconteceu várias vezes no meu estágio. Isso se dá assim, desordenado. O professor ficar perdido, desorientado então você pode saber que ele está com uma sala indisciplinada. Eu vejo assim, (disciplina) tudo 64 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... que estiver dentro de um determinado padrão, onde se possa produzir dentro da sala de aula, eu acho que a sala está disciplinada. Pode ser com conversa, pode ser com o que for. [...] (IRAN). Outro aspecto observado foi que os estagiários tenderam a idealizar o perfil dos alunos que esperavam encontrar nas salas de aulas, que possuíssem algumas características negadas pelo ensino tradicional, ao mesmo tempo em que procuraram estipular limites para assegurar o processo de ensino e aprendizagem e não fossem interpretados como falta de compromisso do professor com o ensino. O relevo dado nesse contexto por alguns dos estagiários foi mudança de comportamento dos alunos, tomando como parâmetro o início da regência (estágio) e o final dela. Contaram que, no começo do estágio, os alunos foram mais resistentes à proposta de trabalho do professor, provocando conflitos e desarranjos comportamentais. Observou-se que nessas situações os estagiários se sentiram desafiados e procuraram agir diante do imprevisto, evitando o comprometimento de todo processo pedagógico. Neste momento, evidenciaram o caráter dessa prática de ensino, que surgiu como uma reação imediata a esses impasses pedagógicos, ou mesmo como manifestação de um caráter definitivo de sua prática pedagógica. Alguns estagiários teceram comentários contrários aos pensamentos dos professores regentes quanto aos comportamentos de alunos ou turmas, configurando divergências de visão quanto a rótulos e preconceitos estabelecidos no cotidiano escolar. A divergência indicou duas possibilidades: a primeira que os critérios para definir a indisciplina ou disciplina diferiram entre professores regentes para os estagiários; a segunda que os alunos (escola) mudavam de comportamento de acordo com o professor, neste caso, de estagiário para o professor. Para muitos colaboradores, a condição de estagiário apareceu como indicador de mudança de comportamento do aluno, justificado pelo preconceito dos alunos das escolas, do qual resultou a resistência ao trabalho do estagiário. Nas aulas de seis estagiários a que se teve acesso, observou-se que eles aceitaram, implicitamente, os comportamentos adotados pelos alunos 65 Celma Ramos Evangelista das escolas ao adentrarem nas salas de aulas, em termos de organização das carteiras dentro do espaço, movimentos de entrada nas salas e saída destas pelos alunos, conversas moderadas, cuidando para que as conversas não descaracterizassem o ambiente de trabalho e levassem a turma a se dispersar das atividades e mostrando-se atentos com as atitudes de alunos ou grupos que não se envolvessem com as aulas, ou alunos que se distraíssem com facilidade das atividades. Pelo que foi possível detectar, de acordo com os depoimentos, houve um número significativo de estagiários que deixou explícito o perfil do aluno que esperavam encontrar na sala de aula. O perfil descrito desse aluno coincidiu com aqueles alunos que dentro da sala de aula respeitam os professores e colegas, que participam das atividades, que têm liberdade de conversar, de se expressar, perguntando, questionando, enfim, os considerados participativos durante as aulas. Os futuros professores não demonstraram preferência pelos alunos quietos, calados, argumentaram que não saberiam se eles estariam ou não aprendendo. O perfil traçado pelos estagiários para os alunos não correspondeu ao aluno passivo, encontrado no ensino tradicional. Não se pretendeu com esse pensamento negar a existência de indícios desse ensino nas falas. Importa evidenciar o aparecimento de tendências de outras abordagens de ensino. O seguinte extrato serve para ilustrar: [...] por exemplo: se...é questão simples que já vem de tempo, de respeitar o professor quando ele está falando. Não que o aluno não ...vai ficar quietinho só ouvindo o professor. Não quer dizer que isso seja disciplina, pelo contrário, eu acho que sim, o aluno deve participar, deve expor suas idéias, achar que a aula está boa, valiosa para ele, né? [...]. (RITA). Notoriamente os estagiários Rita, Iran e Caio idealizaram um ambiente de trabalho em sala de aula, no qual os alunos pudessem produzir conhecimentos. Segundo eles, professores e alunos podem juntos estabelecer regras de convivências. Concordaram que um clima de aparente indisciplina seja necessário para que o aluno aprenda, caso se considerem os padrões 66 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... pré-estabelecidos pela educação tradicional (conversar com o colega, questionar). Argumentaram ser importante não inibir algumas ações dos alunos, pois fazem parte do aprendizado, de sua formação como cidadão. Diante dos relatos e das observações realizadas nas salas de aula (diário de campo), acredita-se que os estagiários estabeleceram uma escala de “tolerância” em relação aos comportamentos dos alunos em suas salas de aulas. Mostraram não ser rígidos ou inflexíveis com os movimentos, os gestos dos alunos na sala de aula, na distribuição das carteiras no espaço físico, com o emergir das falas, da rebeldia, da oposição de pensamentos, com as manifestações de desejos e vontade de participarem das aulas, de aprenderem e com a falta de respeito (professor e aluno). Essa escala descortinou no primeiro momento a subjetividade do professor, diante das forças sociais, políticas e econômicas dos dias atuais e inconscientes das epistemologias subjacentes à prática pedagógica desse estagiário, dentro de um contexto educacional (sala de aula). Desta forma, a escala de “tolerância” sinalizou que os alunos estagiários não tiveram uma visão conservadora quanto à disciplina e indisciplina, postura esta que certamente contraria o modelo tradicional e que é imprescindível para que novas dimensões de disciplina e indisciplina se efetivem no âmbito da sala de aula. O fragmento ilustra: Então eu acredito que, o aluno tem que ter a liberdade às vezes de conversar com o colega dele, mas, também não pode, esta liberdade dele conversar às vezes com o colega, atrapalhar a liberdade de outro colega dele, que também está aprendendo, e quer aprender. A partir do momento, que este barulho chega no patamar elevado, eles atrapalham também os outros colegas, né? Então indisciplina para mim é a partir do momento que se torna intolerável dentro de uma sala. (CAIO) Os dados atestam indícios significativos de pressupostos epistemológicos que ajudam a identificar as tendências filosóficas e pedagógicas que influenciam a caracterização dos conceitos de disciplina e indisciplina dos futuros professores. Este estudo nos permitiu definir as categorias de 67 Celma Ramos Evangelista análise (pós-categorizados) como sendo as epistemologias filosóficas: empirismo, apriorismo e construtivismo as quais, de acordo com Becker (2001), correspondem às tendências pedagógicas diretivas, não-diretivas, e relacional (modelo criado por ele). A teoria, de acordo com Becker (2001), permite estabelecer comparações entre os modelos epistemológicos e pedagógicos, dos quais o referido autor subtrai a relação existente entre o sujeito e objeto, aluno e professor dos respectivos modelos. Por acreditar na relevância do tema e para que pudesse compreender os termos disciplina e indisciplina na visão dos estagiários da Unemat/Sinop, foi proposto ampliar o conhecimento sobre (in)disciplina e repensá-lo e discuti-lo correlacionando aos modelos epistemológicos e pedagógicos de Becker: pedagogia não-diretiva, diretiva e relacional e seus pressupostos epistemológicos. Procurou-se buscar nos dados empíricos dos alunos estagiários indícios de tais categorias. Os pressupostos teóricos empirista, apriorista e construtivista e as respectivas tendências pedagógicas diretiva, não-diretiva e relacional possibilitam compreender de que forma os futuros professores de Matemática da Unemat, campus de Sinop, constroem suas visões a respeito da disciplina e indisciplina em sala de aula. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AQUINO, J. R. G. A desordem na relação professor-aluno: indisciplina, moralidade e conhecimento. In: AQUINO, J. G. (Org.) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 3.ed. São Paulo: Summus,1996. p. 39-55. AQUINO, J. R. G. Normas disciplinares: a que será que se destinam? Revista de Educação, ACE -119, 2001. p. 35-41. AQUINO, J. R. G. Confronto na sala de aula: uma leitura institucional da relação professor-aluno. 3. ed. São Paulo: Summus, 1996. p.160. ARAÚJO, U. F. de. Respeito e autoridade na escola In: AQUINO, J. G. (Org.) Autoridade e autonomia na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1999. p. 31-48. 68 (In)Disciplina: visão de alunos estagiários do Curso de Licenciatura Plena ... ARAÚJO, U. F. de. Moralidade e Indisciplina: uma leitura possível a partir do referencial piagetiano. In: AQUINO, J. G. (Org.) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 3.ed. São Paulo: Summus,1996. p.102 -115. BECKER, F. O que é construtivismo? Revista de Educação/AEC, n. 83, ano 21, Abril/Junho, 1992. BECKER, F. Modelos pedagógicos e modelos epistemológicos. Educação e realidade, Porto alegre, 19 (1): 89, jan/jun. 1994, p.89-96. BECKER, F. Da ação à operação: o caminho da aprendizagem em J. Piaget e P. Freire. 2 ed. Rio de Janeiro: DP&A e Palmarinca, 1997. p.11-30. BECKER, F. Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed, 2001. 125p. BECKER, F. A epistemologia do professor: o cotidiano da escola. 10. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 344p. BECKER, F. Origem do conhecimento e a aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2003. 115p. DE LA TAILLE, Y. A indisciplina e o sentimento de vergonha. In: AQUINO, J. G. (Org.) Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 3. ed. São Paulo: Summus, 1996. p.9-23. ESTRELA, M. T. Relação Pedagógica, disciplina e indisciplina na aula. Portugal: Porto, 1994. 123p. FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Historia da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 1991. p. 125 – 199. PASSOS, Laurizete Ferragut. A indisciplina e o cotidiano escolar: novas abordagens, novos significados. In: AQUINO, J.G. (Org.). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. 3. ed. São Paulo: Summus, 1996. p. 117-128. REGO, T.C.R. A indisciplina e o processo educativo: uma análise na perspectiva vygotskiana. In: AQUINO, J. G. (Org.) Indiscip\lina na escola: alternativas teóricas e práticas. 3.ed.. São Paulo: Summus.1996. p.83-101. VASCONCELLOS, S. Celso. Disciplina: construção da disciplina consciente e interativa em sala de aula e na escola. 12. ed. São Paulo: Libertad, 2000.110p. VASCONCELOS CARVALHO, M. L. M. A pesquisa como princípio pedagógico: discutindo a (in)disciplina na escola contemporânea. In: (MARIA LUCIA M. CARVALHO VASCONCELOS. (Org). (In) disciplina, escola e contemporaneidade. Niterói: Intertexto; São Paulo: editora Mackenzie, 2001. v.4 p. 926. 69 Para repensar a cidadania no Brasil JOSEMAR PEDRO LORENZETTI Objetivamos abordar a cidadania por esta ser reflexão necessária para a sociedade brasileira na atualidade, uma vez que o direito à proteção social ainda é incipiente neste país. Pretendemos problematizar este tema tomando por base nossa percepção a respeito do contexto social existente e das contribuições teóricas sobre o Estado Moderno, pautadas nas descobertas das Ciências Humanas e Sociais na contemporaneidade. Entenderemos a cidadania da forma como é geralmente definida,1 ou seja, um conjunto de direitos e deveres assumidos por um sujeito na convivência com outros, aceitos como seus semelhantes, sob a estrutura administrativa estatal. Pensar a ação e a tarefa do Estado é uma questão especialmente difícil no Brasil, dadas as condições históricas das políticas sociais praticadas e as características do comportamento da população frente ao poder econômico e político, das quais trataremos adiante. A consolidação da cidadania no Brasil exige, na relação das pessoas com o poder, a superação das velhas práticas paternalistas e do messianismo, com suas promessas de salvação. Estas, muito embora já não recebam tanto crédito, continuam a ser as práticas comuns na ação política de grupos, como a oligarquia agrária e a elite industrial, detentoras do controle sobre a oferta de alguns serviços, como a internação em hospitais particulares no Mato Grosso ou o abastecimento de água no Semiárido Nordestino, e da oferta de trabalho assalariado em todo o país, vistos, ainda em muitos casos, pela população, como dádivas. 1. Definição do termo com base nos autores Costa (1997), Demo (2002) e Chauí (2002). 71 Josemar Pedro Lorenzetti Desta forma, a participação, em nível decisório, sobre os bens e serviços produzidos com a união solidária dos indivíduos pode ser pensada como meio para superar o desalento e o descrédito em relação a tudo o que é público neste país, se houver uma nova postura quanto a esses direitos, ao não identificá-los como favores prestados. Assim, teorizamos em torno da possibilidade e da necessidade de repensar os conceitos sobre a prática da política e da maneira como o poder é percebido no imaginário popular, sendo este um dos caminhos para a reconstrução da cidadania. Duas são as premissas básicas, a primeira versa sobre a nãoparticipação do sujeito brasileiro na esfera das decisões do Estado, e a segunda sobre a responsabilização da coletividade como premissa positiva para a criação de espaços de ação cidadã, uma vez que não é o ativismo do Estado que procuramos teorizar, mas a ação dos sujeitos na consolidação dos benefícios sociais. Ater-nos-emos a evidenciar as possibilidades para mudanças e por isso faremos uma abordagem axiológica, uma vez que as ciências sociais não apenas apresentam as evidências sobre a natureza, mas também a possibilidade de repensar o ambiente em que as teorias foram colhidas em favor de um projeto que se mostra melhor. Assim, negando a postura ingênua de imaginar a possibilidade de que as ações paternalistas do Estado sejam a única alternativa para este país, ainda esperamos que a ação coletiva, quando consciente de sua capacidade, possa orientar o acesso à riqueza e, consequentemente, à justiça social, através da Solidariedade. Para isso acontecer, propomos que o foco das ações estatais não seja mais o favorecimento de um ou outro indivíduo, mas a apresentação de projetos coletivos que integrem uma variedade diferente de sujeitos, com base no envolvimento dos cidadãos em projetos por eles gerenciados sob a tutela dos direitos e deveres criados na organização do Poder Estatal. 1. A cidadania enquanto utopia Se atentarmos para a perspectiva da ativa participação dos cidadãos brasileiros na constituição do poder e na luta por melhorias coletivas, veremos que convivemos com um imaginário popular bastante reduzido de 72 Para repensar a cidadania no Brasil expectativas quanto à real possibilidade de êxito de qualquer política pública que visa ao bem comum. Portanto, mesmo existindo as utopias no desejo das pessoas que anseiam por dias melhores, há pouca esperança de que estas possam se concretizar. Desta forma, elas tornaram-se coisas que não existem em nenhum lugar (ou apenas lá nos países distantes), sendo um imaginário social utópico negativo. Este imobilismo presente em expressões populares como “as coisas são assim mesmo”, lugar comum na sociedade brasileira, associa-se à ideia de paternidade para o provimento coletivo. O poder público é personificado, criando-se no imaginário coletivo o ideal de que ele é capaz de atender a todos se possuir caridade ou boa vontade. Em todo o caso, a ação social torna-se um exercício de paciência, no qual não há construção, mas inércia, pois sempre houve alguns atores sociais de prontidão de quem se pode esperar auxílio, como o prefeito, o vereador, o empresário (…). Quando uma obra pública é construída, logo surgem aqueles que se consideram devedores de um favor prestado, e esperam poder retribuir no voto das próximas eleições. Nas Ciências Humanas e Sociais, há um posicionamento que se assemelha nesta desconfiança em relação às políticas sociais da mesma forma como existe no senso comum acima citado. Para a perspectiva marxista, toda e qualquer ação do Estado, que na mesma acepção é ação dos poderosos contra os trabalhadores, é uma ação interesseira, motivada apenas pela tentativa de manutenção do poder ao calar a voz de possíveis opositores, como nos relatam os autores Abranches, Santos e Coimbra: Trata-se portanto de uma variante que explica as políticas sociais como fenômenos políticos, enquanto meios através dos quais o Estado burguês ganha a adesão da classe trabalhadora a um sistema social onde ela é necessariamente e sempre prejudicada. Esta variante pode ser mais facilmente identificada por uma ideia que lhe é central, a de cooptação, nome do processo pelo qual se daria essa absorção do potencial transformador e revolucionário dos trabalhadores, que embainham suas armas na luta de classes ao receberem as migalhas que os poderosos lhes destinam. Metaforicamente, o que a hipótese 73 Josemar Pedro Lorenzetti agora procura caracterizar é um processo onde o trabalhador, para preservar seus dedos, cede possíveis futuros anéis e, fazendo-o, tornase prisioneiro do dilema de ter de manter uma ordem desfavorável para ele em última instancia, trocando um róseo futuro remoto, o da libertação, por um dia seguinte apenas menos negro que o de hoje e o de ontem. (1987, p. 112). O Estado e a assistência social tiveram, nas obras de Karl Marx, um papel negativo no sentido de serem instrumentos nas mãos das classes dominantes para conseguir o controle e o apoio das classes subalternas. Contudo, temos que ressaltar que sua crítica se refere não à assistência social em geral, mas especificamente àquela existente no modo de produção capitalista em que o Estado assume este papel, como cita Miliband: ...De uma forma ou de outra, o conceito ali contido aparece muitas e muitas vezes na obra tanto de Marx como de Engels e, apesar dos refinamentos e das qualificações por eles ocasionalmente introduzidas em sua discussão sobre o Estado – em particular para admitir um certo grau de independência que acreditavam o Estado poderia dispor em circunstancias excepcionais –, jamais abandonaram o ponto de vista de que, na sociedade capitalista, o Estado era, acima de tudo, o instrumento coercitivo de uma classe dominante, ela própria definida em termos de sua propriedade e de seu controle sobre os meios de produção (1972, p.16) De alguma forma poderíamos argumentar que esta visão se consolidou no senso comum dos brasileiros através do ativismo dos partidos de esquerda que, sob a influência do pensamento de Marx, buscavam a defesa de seus ideais a partir da denúncia de determinados serviços sociais como engodo. Sem adentrar a discussões de validade ou inverdade de tais argumentos, o que precisamos sublinhar neste texto é que houve uma propaganda de certos grupos sociais, ligados ao ideal marxista, em torno de certas ações praticadas pelos governantes, gerando uma negatividade na percepção dos benefícios sociais. Assim, foi consolidada no senso comum 74 Para repensar a cidadania no Brasil a noção de que as ações são sempre interesseiras e possuem o objetivo de dominar a população. Por isso entendemos que ainda se sobressai, no imaginário coletivo, o sentimento de que a cidadania ainda não foi conquistada, que não existem de fato, instituídos, direitos e deveres para a ampla maioria da população. Dessa feita, a cidadania, no contexto da sociedade brasileira, precisa ser repensada porque os direitos e deveres somente surgem a partir do envolvimento coletivo. Um dos fatores para o sujeito não participar ativamente das decisões na esfera política é que ele não se percebe como portador de direitos. Por não se perceber portador de direitos, todas as ações que criam benefícios sociais são percebidas como favores. Assim se delineia a corrupção na política e em outras esferas da sociedade. Se não há direitos sociais, o que resta é o oportunismo, como acontece na participação do indivíduo na politicagem fraudulenta das eleições, momento em que este, agindo sob um direito socialmente reconhecido como necessário para a expressão da vontade coletiva, é corrompido e se deixa corromper com o argumento de que deve ganhar alguma coisa. Se aceita o suborno como prova material de que está se favorecendo imediatamente por sua participação, é porque não se reconhece nos interesses da esfera pública, enquanto cidadão, para além dos seus interesses imediatos. Esses indivíduos não reconhecem que a democracia representativa é historicamente um direito adquirido, pois hodiernamente foi convertido em privilégio particularizado, sem qualquer vínculo com o passado e poucas expectativas quanto ao futuro. Desconsiderando as transformações que poderiam ocorrer, caso as suas expectativas, exigidas como direito coletivo ao invés de vendidas como mercadoria, fossem reconhecidas pela coletividade e oficializadas pela ação do poder público. A gênese da cidadania não é pensada neste processo e os direitos aparecem como privilégios a serem usufruídos da melhor forma que convém, uma vez que o direito não é tomado na coletividade. Não há, nessa fruição, a tentativa de projetar o direito como instrumento de atualização da cidadania e de inserção do sujeito no processo das lutas pelo acesso, ampliação e melhorias dos benefícios sociais coletivos. 75 Josemar Pedro Lorenzetti Contudo, ao considerarmos os fatores históricos que consolidaram estas práticas instituídas na conduta neste país, compreendemos um pouco melhor esta visão negativa da cidadania, pois os direitos sempre foram associados às práticas virtuosas de reconhecidos cidadãos, generosos no ato de doar benefícios. De acordo com Cardoso Jr. in Jaccoud: Assim, no Brasil, e não só aqui, a história de intervenção social em prol dos pobres teve início em ações e instituições de caráter assistencial não-estatal, movidas pelas idéias de caridade e de solidariedade (in JACCOUD [org], 2005, p. 190). Ainda segundo os autores, os primeiros benefícios a serem considerados como direito outorgado pelo Estado brasileiro foi a saúde, em primeiro lugar ainda no final do século XIX; e a educação básica a partir da industrialização dos anos 1930. Efetivamente, somente a partir da década de oitenta do século XX, é que um sistema de proteção social se instala no Brasil, sendo esses dois direitos a base para a cidadania social porque são os instrumentos de combate das desigualdades entre os cidadãos e, posteriormente, passam a ser a direitos garantidos pelo Estado. De fato, os anos 1980 significaram, para um conjunto de políticas sociais como as da saúde e da assistência social, um período de ampla reformulação, com impactos importantes na própria organização da SBPS. A relevância da década advém da forte agenda reformista que então se constitui tanto no que se refere às políticas sociais quanto à própria questão social. Esta agenda foi impulsionada, de um lado, pelo movimento político em prol da redemocratização do país, em torno do qual mobilizavam-se demandas sociais reprimidas desde 1964. De outro lado, a crise do milagre econômico fazia-se sentir, expondo os limites do modelo de desenvolvimento nacional no que tange à dinâmica de inclusão dos setores mais desfavorecidos e contribuindo para a legitimação de um novo projeto social. (in JACCOUD (org), 2005, p.192). 76 Para repensar a cidadania no Brasil Desta feita, a iniciativa de proteção social, enquanto reconhecimento das necessidades básicas, tem sido planejada unicamente como ação do Estado e executada na ação de alguns governos que, ora ampliando benefícios, ora modificando o foco da ação, esperam obter a sua justificação e aprovação perante a moral da sociedade. Na realidade, as ações de governo somente se tornam ação de Estado quando concretizadas na destinação de fontes fixas de arrecadação para o financiamento de determinada ação de proteção social, quer dizer, quando um sistema jurídico-político (força, lei e recursos) reconhece um determinado serviço e formula medidas de constante atualização para que este benefício se mantenha. Contudo, ao lado de tais ações de Estado, sempre tivemos no país a ação eleitoreira-clientelista que transforma o serviço público em benevolência social. Consequentemente, o acesso a esses bens exige em troca o reconhecimento do poder de determinados grupos político-econômicos, e do pagamento com o voto. Outro aspecto a respeito da falta de interesse nas ações coletivas, organizadas ou não pelo Estado, em relação aos serviços públicos existentes, é que estes sempre foram desvalorizados, tidos como de pior qualidade, frente aos particulares. Desta forma, no Brasil, com poucas exceções como é o caso das universidades públicas federais, o privilégio consiste exatamente em não necessitar dos serviços públicos destinados a todos os cidadãos, havendo um reconhecido status para o indivíduo que não necessitar de um direito social, como provam todos os serviços particulares na área da saúde e da educação básica, sempre de melhor qualidade frente aos públicos. Não objetivando o esgotamento do assunto e com apoio no estarrecimento perante esta situação de imobilismo do imaginário coletivo a respeito da ação cidadã, é que podemos confrontar novas ideias. Já está bastante claro que a perspectiva negativa em relação à participação na política está baseada mais na expectativa paternalista em relação a estes serviços, do que a possíveis engodos aceitos ou ilusões existentes entre a população e por isso nos questionamos como ainda essas práticas são verificadas. A cidadania, por isso, é uma utopia, porque a atual atenção dos indivíduos na sociedade brasileira está tão somente voltada para o atendimento de necessidades imediatas ou para realização de direitos esvaziados 77 Josemar Pedro Lorenzetti totalmente de deveres e não vinculados à ação de construção dos processos sociais por meio de embates e divergências entre os diferentes grupos ou interesses sociais. 2. A cidadania e a democracia Certamente que o advento da prática democrática, especialmente da democracia ideal, delineada pelo povo grego de Atenas, como possibilidade de intervenção direta do cidadão nos níveis decisórios da prática estatal, não considerando os problemas já levantados da prática existente na democracia representativa, possa ser um seguro fundamento, uma sólida base para consideramos a questão da luta pelo poder e consequente reconhecimento da cidadania. Abordaremos então os desafios dessa participação. Ao explorarmos a utopia das políticas de proteção social existentes, acenamos com a possibilidade de que falta o reconhecimento de que há direitos sociais. Abordemos então os deveres. Será que as políticas sociais implantadas nos últimos anos nesse país conduziram a conscientização de que isso foi resultado de mobilização, de embate de interesses opostos, que foi uma conquista? Sabemos que as vozes continuam silenciadas e as vontades adormecidas. A proteção social no Brasil ainda está em vias de construção e por isso há a necessidade de repensar a construção da cidadania no Estado democrático existente. Somente o cidadão, pela responsabilização e participação nos processos político-democráticos, possui o poder de modificar as ações produzidas pelo Estado. A democracia é um sistema que permite ao cidadão o acesso ao poder. Encontramos essa explicação em um texto de Norberto Bobbio, quando define a relação de Estado, governo e poder: Aquilo que Estado e Política têm em comum (e é inclusive a razão de sua intercambialidade) é a referência ao fenômeno do Poder... Não há teoria política que não parta de alguma maneira, direta ou indiretamente, de uma definição de poder e de uma análise do fenômeno do poder (1987 p. 76-77). 78 Para repensar a cidadania no Brasil Se Estado e política fazem referência ao poder e dele assumam o controle através de suas decisões, parece ser exatamente esse um fator que o imaginário popular desconhece ou minimiza em sua ação. Se a construção das políticas de proteção social se dá no duplo caminho da luta pelo poder, em oposição à conquista de privilégios para os cidadãos, percebemos uma falha nos processos de definição dos parâmetros do poder na prática da participação política, e entendemos outra causa para a não-efetivação de muitos benefícios sociais. Uma vez que a perspectiva do cidadão é simplesmente consolidar privilégios quando da participação nos processos eleitoral-democráticos, é evidente que tal postura, relativizando a política, não objetiva o poder do Estado e dele o sujeito é excluído ao adotar esta prática. Quando os sujeitos se eximem da participação na política, livram-se também do poder. E não há como suas necessidades e anseios se tornarem projetos coletivos. Vejamos o que diz Duguit a esse respeito: ...Portanto, não há nem pode haver pessoa colectiva de que os governantes sejam representantes ou órgãos: existe apenas a vontade individual dos governantes. Nada mais. Quando num país um Parlamento ou um chefe de Estado exprime a sua vontade não se deve nem se pode dizer que exprimam a vontade do Estado, pois ela não passa de uma abstração; tão pouco se pode dizer que exprimam a vontade nacional, que não passa de ficção: exprimem a própria vontade. Eis o facto, eis a realidade (1964, p.32). Por isso, há ainda um padrão de participação direta, a ser definido, a fim de que um maior número de pessoas, não simplesmente esperando serviços sociais, queiram o poder! No entanto, tal construção exige a superação dialética da situação de pessimismo. Neste sentido, ressaltamos o feliz argumento trazido por Bresser-Pereira, de que benefícios sociais possuem custos e que deve haver alguém que os assuma: ... Os direitos sociais têm um custo. Portanto, Um Estado Republicano é um Estado que está democraticamente apto a taxar os cidadãos...Um 79 Josemar Pedro Lorenzetti Estado que é incapaz de taxar seus cidadãos adequadamente, enquanto que esses mesmos cidadãos exigem dele lei, ordem e serviços sociais, é o Estado fraco: falta-lhe legitimidade política, e ele tenderá a entrar em crise fiscal. (Revista Lua Nova nº62, 2004, p.147-148). Assim, frente a um imobilismo que percebe a política e o poder como fenômenos negativos, há a possibilidade de inserção democrática do sujeito a fim de, no exercício da cidadania e no ato de assumir deveres, se fazer a construção gradativa de um Estado, voltado ao bem estar social por que a participação da coletividade definiu o que seria necessário emergencialmente. A democracia representativa, vinculada a um novo sentimento de compromisso, oferece um amplo espaço para o embate dos diversos interesses, bem como a seleção de prioridades oriudas dos debates entre as diversas forças, base para a composição dos representantes. O modelo ideal do que propomos para a democracia é o que a tradição grega clássica nos relegou a respeito da cidadania praticada na praça pública da cidade de Atenas, mesmo que para isso tenhamos que superar as limitações daquele sistema. É claro que a democracia Ateniense não incluía as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Entretanto, a despeito dos tempos atuais, período em que a escravidão foi oficialmente abolida e as mulheres, graças a vigorosos movimentos, conseguiram seu reconhecimento, as propostas de que todos possam exercer livremente e responsavelmente, em seu país, a cidadania, é uma realidade plenamente plausível. Existiram até recentemente escravos entre nós e seus descendentes sofrem com o preconceito, assim como há os estrangeiros com seus problemas. Mas não é a parte negativa da democracia grega que exaltamos, pelo contrário. O que nos propomos resgatar da democracia grega é o ideal de compromisso relativo à cidade, sendo que gostaríamos que isso se traduzisse no comprometimento com os mecanismos do Estado brasileiro. Havia, naquela democracia ideal, o sentimento de reciprocidade entre os cidadãos que, inclusive, não permitia o individualismo, uma vez que o cidadão grego não admitia a possibilidade de ser excluído da cidade porque isso fazia parte 80 Para repensar a cidadania no Brasil de seu ser, era a sua vida. Havia alguns privilégios, inclusive, disponíveis apenas aos cidadãos, na clara demonstração do seu poder, pois eram eles quem constituíam as leis e definiam as prioridades! Quanta diferença com o sujeito brasileiro que se exclui voluntariamente da vida coletiva! Se a democracia é liberdade para a participação de todos os sujeitos a fim de que, neste pertencimento a um Estado, tornem-se cidadãos, como não esperar, que nesta mútua necessidade, todos os anseios pessoais possam ser, no processo, atendidos? Como projetar esta necessária participação, baseando-se na compreensão de que a ausência dos sujeitos possa ser um dos fatores de comprometimento das possibilidades da construção dos benefícios sociais? 3. A cidadania e o “terceiro setor” Não nos propomos no presente texto a fazer uma lista de quais seriam as prioridades dos serviços ou dos direitos mais urgentemente necessários para reconhecimento e implementação por parte do poder público brasileiro, uma vez que nosso foco é a ação do sujeito na efetivação da cidadania. Como vimos nas assertivas anteriores, a participação e a responsabilização dos indivíduos foram, na prática social existente, insuficientes para repensar a construção da cidadania. Para isso nos propomos a um exercício de repensar a cidadania, que faça com que exista a participação dos sujeitos nas ações coletivas. O poder em geral e a participação na política deste país, possuindo uma imagem muito negativa na sociedade, não estimulam os sujeitos a se colocarem na perspectiva de assumir uma luta política; gera-se; assim; uma desobrigação formal de que o sujeito deva participar nos processos democráticos. Obviamente que o sistema político-democrático é defensável moralmente frente ao problema do individualismo oportunista. Contudo, as práticas existentes têm efetivado apenas a exclusão de uma parcela da população e de seus respectivos interesses nas decisões da esfera poder-política. 81 Josemar Pedro Lorenzetti Esta deficiência atualmente poderia ser superada com o advento de novos movimentos sociais, chamados por Boaventura de Sousa Santos de ‘Terceiro Setor’. ‘Terceiro Sector’ é uma designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo conjunto de organizações sociais que não são nem estatais, nem mercantis, ou seja, organizações sociais que, por um lado, sendo privadas não visam fins lucrativos e, por outro lado, sendo animadas por objectivos sociais, públicos ou coletivos, não são Estatais. Entre tais organizações podem mencionar-se cooperativas, associações mutualistas, associações não lucrativas, organizações não governamentais, organizações quasi-nao governamentais, organizações de voluntariados, organizações comunitárias ou de base, etc (2006, p. 249-250). Trata-se de um novo movimento da sociedade que, não sendo ação de governo, não está atrelado às antigas práticas de politicagem, que tradicionalmente tem representado os interesses e ditado as políticas públicas no Brasil. Estes movimentos, também não sendo financiados por recursos particulares, não dependem de retribuição dos favores ofertados. Esta perspectiva afasta-se, portanto, das velhas práticas clientelistas de elites historicamente ligadas ao domínio do acesso aos benefícios sociais e da oferta de emprego, sempre baseadas na corrupção que beneficiam apenas alguns, em detrimento dos interesses da maioria, e da prática do paternalismo relativa aos miseráveis. Isso porque o foco das ações desenvolvidas pelo terceiro setor não mais se concentram nos benefícios já consolidados através do Estado nem em práticas paternalistas de alguns grupos quando estão no governo, sendo, portanto, capazes de pensar a ampliação dos benefícios sociais. Sua força está na multiplicidade de sujeitos organizados, conscientes do seu poder de ação e interessados nessa participação, como escreve Boaventura Sousa Santos: Subjacente a todo esse movimento, em que boa parte do operariado e das classes populares se reviram durante algum tempo, estava o 82 Para repensar a cidadania no Brasil propósito de combater o isolamento do indivíduo face ao Estado e à organização capitalista da produção e da sociedade. A idéia de autonomia associativa é, pois, matricial neste movimento. É ela que organiza e articula os outros vectores normativos do movimento como sejam a ajuda mútua, a cooperação, a solidariedade, a confiança, a educação para formas alternativas de produção, de consumo e, afinal, de vida (2006, p. 350). Esses novos movimentos sociais, reunidos sob o nome de ‘Terceiro Setor’, revelam-se assim uma nova estrutura de poder que se apoia inteiramente na ativa participação dos indivíduos, exigindo a superação do imobilismo desanimado como tem sido a conduta dos brasileiros, sendo capaz de unificar o indivíduo isolado com o poder da organização. O foco do poder não é mais tão somente o Estado, como era visto anteriormente, está ancorado na estrutura associativa e na capacidade de produzi-la. Surge assim o sujeito tornado cidadão, que tomou para si a tarefa de produzir, na coletividade, seus projetos de ampliação de direitos ao mesmo tempo em que necessita assumir as responsabilidades sobre as decisões tomadas e arcar com os custos de manutenção dos serviços sociais. Esse novo cidadão, ativo, não é o sujeito queixoso da política e do poder visto anteriormente, porque tomou para si a tarefa de inserir-se nos espaços de poder ao envolver-se nas organizações da sociedade. No Brasil, as novas organizações estão principalmente centralizadas em associações comunitárias ou nas organizações sem fins lucrativos (ONGs), podem atrair os indivíduos pela afinidade na proposição de objetivos comuns, nas tarefas vistas como prioritárias, em capacidades ou talentos percebidos como úteis aos outros e nas necessidades comuns que podem ser alcançadas com a coletividade. Frente aos interesses não percebidos como seus, um dos grandes problemas atuais da participação política e um dos fatores da atual corrupção do sistema democrático, e frente à necessidade de que os sujeitos assumam compromissos, a agenda de propostas das entidades e associações do terceiro setor, que tem conseguido reunir um grande número de pessoas, é uma das mais atualizadas formas para a cidadania ser construída. 83 Josemar Pedro Lorenzetti Esta adesão livre e voluntária é fator de fortalecimento da democracia compromissada com o bem público. Este perde a negatividade porque os benefícios não mais são dever de outros, dádivas oferecidas por um ser mais poderoso, mas resultado de ação cooperada entre pessoas, convivendo no sistema democrático e, por isso, estas se consideram iguais. Assim, diante das possibilidades de favorecimento subjetivo, as propostas do terceiro setor pensam a mobilização para a construção de benefícios coletivos, e ampliam serviços sociais sob os princípios da solidariedade. A prática da cidadania é estimulada pela ação conjunta, e deste desenvolvimento resulta uma contraposição ao individualismo. O Estado, nesta nova estrutura, seria o organizador, para o qual confluem os movimentos do terceiro setor, não mais o doador de benefícios. Tais benefícios podem ser ampliados com base na organização dos indivíduos, não mais como promessa de redenção salvacionista e sim como concretização da ação. Práticas responsáveis de educadores comprometidos com a nova concepção de cidadania que ora emerge poderiam atuar como fontes criativas das novas proposições. Experiências das associações da Economia Solidária são práticas concretas dessas novas concepções. O Estado continua sendo o grande controlador das políticas públicas mas, como bem assinala Boaventura de Sousa Santos (2006), não mais é centro para se repensar a cidadania. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABRANCHES, Sérgio Henrique; SANTOS, Wanderley Guilherme dos; COIMBRA, Marcos Antônio. Política Social e Combate a Pobreza. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987. BOBBIO, Norberto. Estado, Governo e Sociedade; por uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. O surgimento do Estado Republicano. Revista Lua Nova nº 62, 2004. CHAUÍ, Marilena. Convite a Filosofia. São Paulo: Ática, 2002. COSTA, Cristina. Sociologia. São Paulo: Moderna, 1997. 84 Para repensar a cidadania no Brasil DEMO, Pedro. Sociologia. São Paulo: Atlas, 2002. DUGUIT, Léon. Os elementos do Estado. Trad. Eduardo Salgueiro. 2ª Edição. Lisboa: Inquérito, 1964. JACCOUD, Luciana (org). Questão social e políticas sociais no Brasil Contemporâneo. Brasília: IPEA, 2005. MILIBAND, Ralph. O Estado na sociedade capitalista. Trad. Fanny Tabak. 2ª edição. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1972. SANTOS, Boaventura Sousa. A gramática do tempo: para uma nova cultura política. São Paulo: Cortez, 2006. 85 Linguística Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições no além-mar para falantes índios TÂNIA PITOMBO-OLIVEIRA As nações transformadas, quando puderam, em Estados, estes vão fazer da aprendizagem e do uso de uma língua oficial uma obrigação para os cidadãos. (SYLVAIN AUROUX, 1992) INTRODUÇÃO Nesta reflexão, proponho uma análise do acontecimento discursivo que se apresenta no texto do Diretório dos Índios e uma leitura que procura fugir da evidência da necessidade de civilização do indígena nativo. Esse procedimento possibilita focalizar interesses de territorialização dos colonizadores portugueses e interpretações já postas da história do país, leitura esta que se dá considerando o contexto sócio-histórico e político das relações à época do Brasil colônia. Colônia. E colônia de Portugal que, como país colonizador, luta pelas relações de domínio e pertencimento das coisas da colônia. Para Auroux (1992, p. 49), “a expansão das nações acarreta indiscutivelmente uma situação de luta entre elas, o que se traduz, ao final, por uma concorrência, reforçada porque institucionalizada, entre as línguas”. Assim, como em toda conquista, desde os primórdios, os homens lutam pela posse de terras e o domínio dos povos conquistados. E para que se quebre a espinha dorsal de um povo e os faça dobrar sob o jugo de “uma nova cultura”, é preciso destituir esse povo de seus valores, suas crenças e 89 Tânia Pitombo-Oliveira identidade frente a novos valores agora impostos. E este trabalho cabe não só, mas também à língua. Importa ressaltar os sentidos de “uma nova cultura”, conforme afirmam Gadet e Pêcheux (2004), nas diferenças das relações linguísticas européias e americanas. O lado europeu privilegia principalmente “a letra” e o “espírito” dos textos greco-latinos, constituídos dos escritos religiosos e profanos e o universo ideal e fictício dos manuais escolares em que gramática e retórica moldam um “conveniente” tempo formal, moral e social, emoldurado pelo latim, que realça e embeleza a língua materna, proporcionando reconhecimento social. Dominar essa sequência permite o acesso às carreiras de eloquência, às carreiras jurídicas e à política burguesa, em um jogo social estruturado na escola, em que o ensino da gramática da língua materna desfocada do latim oferece armadilhas na soletração, silabação, pronúncia, ortografia e concordância. Diferentemente, nos Estados Unidos, ocorre uma cultura que se dá de forma diversa. Os primeiros mercadores a se instalarem não eram humanistas eruditos, nem religiosos, e a relação que tinham com a bíblia era mais um modo de vida do que uma leitura erudita das escrituras. Era necessária uma outra relação com o mundo exterior que exigia inteligência prática adaptada a objetivos de sobrevivência e expansão – que propicia, conforme os autores, “uma outra significação para a palavra cultura”. Para os autores, diferem nesse contexto, o espaço europeu do adestramento – repetição, interpretação e comentário – do órgão-instrumento do sujeito norte-americano, explicando porque o ensino da língua materna americana se apresenta como um ensino sem gramática, focado no uso oral da língua (elocução, dicção, leitura), organizado nos debates escolares. A um jovem americano é normal dar conta de uma leitura desenhando um quadro, escrevendo um pequeno roteiro ou representando-o. A criança americana aprende o uso de sua língua materna sem que lhe tenha sido propriamente ensinada. Na maneira americana, a língua é um órgão funcional integrado ao sistema corporal, (órgão-instrumento do sujeito), considerado um dos meios pelo qual o sujeito se exprime, comunica-se com os que o cercam e age sobre 90 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... eles, inserido na percepção de uma inteligência prática adaptada a objetivos de sobrevivência e expansão. Assim, ao pensar sobre “uma outra significação para a palavra cultura” (GADET, F. & PÊCHEUX, M. 2004, p.185), proposta pelos autores, percebo como excludentes as relações linguísticas européias e norte-americanas. De um lado, as relações entre a língua e o espírito – do espaço europeu de adestramento e que opõe, desde a escola, a letra e o espírito, o corpo e a alma, o sensível e o inteligível – e, de outro lado, o corpo – órgão-instrumento do sujeito na concepção americana. Refletindo sobre as considerações de Gadet e Pêcheux (2004, p.185), relaciono o processo de colonização do Brasil pelos portugueses ao projeto cultural europeu do “velho imperialismo cultural greco-romano”. Considero, então, como um dos marcos desta afirmação, que se dá na ordem do acontecimento,1 e, portanto, instaura um novo fato, o alvará com força de Lei de junho de 1755, instituído pelo Marquês de Pombal, primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777, e implantado pelo governador do Grão Pará e Maranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, irmão de Pombal, que estabelece o que se deve observar nas povoações dos Índios do Pará e Maranhão, constante no Diretório dos Índios. Sempre foi maxima inalteravelmente praticada em todas as Naçoens, * que conquistáraõ novos Dominios, introduzir logo nos Póvos conquistados o seu proprio idiôma, * por ser indisputavel, * que este he hum dos meios mais efficazes para desterrar dos Póvos rusticos a barbaridade dos seus antigos costumes; * e ter mostrado a experiencia, * que ao mesmo passo, que se introduz nelles o uso da lingua do Principe, * que os conquistou, * se lhes radîca tambem o affecto, a veneraçaõ, e a obediencia ao mesmo Principe. 1. A noção de acontecimento discursivo proposta pela Análise de Discurso pensa o encontro da língua, enquanto estrutura, com a história, como acontecimento, em um determinado contexto. 91 Tânia Pitombo-Oliveira Ao fazer essa afirmação, é preciso pensar a era pombalina e a sua relação com o discurso histórico.2 Em 1750, Sebastião de Carvalho, o Conde de Oeiras, mais tarde Marquês de Pombal, torna-se primeiro ministro do reino de Portugal e boa parte da historiografia o classifica como déspota esclarecido que, durante 27 anos, praticou a maior concentração de poder, por parte do Estado, que Portugal até então conheceu. Era-lhe insuportável a existência de uma casta aristocrática independente da vontade do rei e uma poderosa ordem religiosa como a Companhia de Jesus, completamente autônoma, vivendo como um Estado dentro de um Estado. Para dar um fim a tal situação, em 03 de setembro de 1759, expulsa os jesuítas do Brasil, sequestrando-lhes os bens, fechando-lhes os colégios e as missões, prendendo ou expulsando a maioria dos padres. Assim, era preciso interferir na constituição da Nação Brasileira, que já se dava sem a participação do Estado português. No final do século XVI, já se falava uma língua, chamada geral, diferente da de Portugal e que constituía uma identidade, mas como o Estado brasileiro ainda não estava consolidado, o que somente veio a ocorrer em 1822, não houve possibilidade de sustentação deste lugar nativo para o sujeito brasileiro. A utilização de uma língua constitui-se em um instrumento de dominação para determinada situação ou conflito específicos correspondentes a uma época. Conforme Borges (2001, p.202), ao analisar o processo histórico instituído pela colonização, fortemente marcado por interesses religiosos e voltados para catequese que predominavam no Brasil colônia antes da instituição do Diretório dos Índios pelo Marquês de Pombal, “o que discursivamente interessa dessas práticas coloniais é o fato de que o que estava 2. Eni Orlandi (1990, p.124-125) estabelece uma distinção entre discurso da História e discurso histórico. No discurso da História observam-se acentuadas características de instituição e uma temporalidade cronológica. No discurso histórico, o homem elabora sua relação com o tempo e com a memória. Para a autora, o discurso histórico abrange outros discursos que não o da História, trabalhados como práticas constitutivas da cultura da época e do que hoje chamamos “memória nacional”. O estudo do Diretório não é apenas o estudo de um documento, “mas a própria matéria de constituição dos sentidos que vão definindo (configurando, con-formando) a nação brasileira”. 92 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... em jogo era a domesticação da realidade local, em face da necessidade de ocupação e produção da terra”. A política no discurso missionário era a uniformização da língua nativa na língua chamada de geral, correlata à política da homogeneização do discurso missionário e da interpretação controlada dos textos sagrados. Os instrumentos linguísticos do período colonial assentavam sobre um tríplice suporte: gramática/vocabulário – catecismo, que perdura, em nossos dias, nas missões amazônicas, em que à política jesuítica interessava aprender a língua nativa dos nativos a converter. Deste modo, é possível dizer que a presença missionária colonial instala e sustenta um processo contínuo de desterritorialização/reterritorialização da língua chamada geral, uma vez que esta passa a funcionar numa ordem discursiva diferente da tribal, como língua supraétnica, no espaço discursivo de uma hiperlíngua (AUROUX, 1992). A preocupação demonstrada com a questão linguística, em que pese a necessidade de ordem prática (administrativa/catequética) de converter a população nativa ao domínio do Cristianismo e de Portugal, evidencia igualmente a importância do fator linguagem como um dos objetivos simbólicos que desempenham, no imaginário e nos processos discursivos, papel relevante na formação de uma sociedade (ORLANDI, 1996). O período de uso oficial das línguas gerais pelos missionários estendese de 1547 a 1759, respectivamente à chegada e à expulsão da Companhia de Jesus ao Brasil. A uma política linguística corresponde uma prática ideológica, considerando que uma língua é um elemento simbólico de poder. Assim, a instituição do Diretório estabelece uma nova ordem discursiva, que, doravante, é sustentada pelo Estado. Vejamos o que afirma o diretório: Para desterrar este perniciosissimo abuso,* será hum dos principáes cuidados dos Directores, estabelecer nas suas respectivas Povoaçoens o uso da Lingua Portugueza, * naõ consentindo por modo algum, que os Meninos, e Meninas, * que pertencerem ás Escólas, e todos aquelles Indios, * que forem capazes de instrucçaõ nesta materia, * usem da 93 Tânia Pitombo-Oliveira Lingua propria das suas Naçoens, ou da chamada geral; * mas unicamente da Portugueza, na forma, que Sua Magestade tem recõmendado em repetidas ordens, * que até agora se naõ observáraõ com total ruina Espiritual, e Temporal do Estado. Ao firmar a obrigatoriedade do uso da língua do príncipe no Brasil – a Língua Portuguesa –, o Diretório procura silenciar a absorção negociada da diversidade e instaurar a igualdade juridicamente autorizada em um jogo de manutenção tanto da língua (portuguesa) como do Estado (português). Para Mariani (2004, p.72), “nessa relação equívoca entre língua/línguas, a questão da língua é uma questão do Estado, com suas políticas de invasão, de absorção das diferenças e de sua anulação, que supõe, antes de tudo, que essas diferenças sejam reconhecidas”. E, ainda, conforme Auroux (1992, p.49), “as nações transformadas, quando puderam, em Estados, estes vão fazer da aprendizagem e do uso de uma língua oficial uma obrigação para os cidadãos”. O Diretório se apóia em uma política linguística (ORLANDI, 1998) como razão do Estado, que prioriza a questão da unidade como valor (princípio ético) e como razões que regem as relações entre os povos, entre nações, entre Estados: a questão da dominação como valor (princípio ético). Ao impor a obrigatoriedade do uso da Língua Portuguesa nas povoações da colônia e não consentir que, por modo algum, que os Meninos, e Meninas, * que pertencerem ás Escólas, e todos aquelles Indios, * que forem capazes de instrucçaõ nesta materia, * usem da Lingua propria das suas Naçoens, ou da chamada geral, o Diretório promove um deslocamento jurídico de sentidos na relação de dominação Portugal/Brasil, reorganizando a organização social da colônia e, ao mesmo tempo, sendo determinado pelo jogo de interesses de Portugal como país colonizador, preocupado com relações de poder e força com outras nações conquistadoras. Conforme as reflexões de Lagazzi-Rodrigues (1998), o político é o domínio de possibilidades na relação entre posições sujeito. Essa instância jurídica se mostra pela (des)historização das relações sociais, negando as diferentes posições do sujeito e impedindo, nas relações imaginárias, a relação com o social. 94 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... Para a autora, na medida em que o funcionamento jurídico se sustenta pelo apagamento do social por meio da generalização da forma abstrata da norma e da pessoa, a defesa de uma ordem de razões necessariamente silencia a outra. Nesta medida, os interesses de Portugal como país colonizador, calçados pelo funcionamento jurídico imposto pelo diretório, produzem, em suas relações imaginárias, um apagamento da posição sujeito branco/índio da colônia. Ao afirmar * naõ consentindo por modo algum, que os Meninos, e Meninas, *, e todos aquelles Indios, * usem da Lingua propria das suas Naçoens, ou da chamada geral; * mas unicamente da Portugueza, o Diretório relaciona diretamente língua/nação. Ao se destituir o uso da língua, destitui-se uma nação. Destituem-se sujeitos índios de suas línguas, na tentativa de se impor um lugar de sujeitos portugueses. UMA LÍNGUA POR DECRETO Em uma relação língua/Estado, o Diretório afirma que a não-observância do uso da língua Portuguesa que sua majestade tem recomendado em repetidas ordens que até agora não se observaram é a causadora da ruína espiritual e temporal do Estado. São 275 anos de colonização (1500-1775) e o não-uso da língua portuguesa em terras conquistadas é uma ruína temporal para o Estado; são anos que precisam ser recuperados, além da ruína espiritual, pois encontramos portugueses e índios do Brasil e não sujeitos portugueses de Portugal. Conforme Mariani (2004, p.152), o projeto português está se inserindo na trajetória histórica das demais nações européias, na passagem da ordem religiosa para a jurídica. Marquês de Pombal, ao expulsar os jesuítas, ao promover uma reforma educacional e ao instituir o ensino da Língua Portuguesa nas escolas da metrópole e da colônia, deflagra uma institucionalização e uma homogeneização dos sentidos na colônia, sob o jugo absoluto do poder real – doravante sem a influência jesuítica – e a uma organização jurídicoadministrativa dos interesses do Estado Português. 95 Tânia Pitombo-Oliveira Para a autora, a língua se constitui em um lugar crucial na inter-relação da lei, instrumento real de distribuição de direitos e deveres com os vassalos, constituindo laços de união dos diferentes sujeitos numa nação organizada juridicamente. Assim, permito-me pensar que o Estado Português pretendia clareza nas relações e no entendimento dos sentidos entre portugueses colonizadores e nativos indígenas para a materialização de uma nação, mesmo que supostamente. UMA CONQUISTA AO CONTRÁRIO O Diretório dos Índios de Pombal se apresenta como que um conserto, uma correção a uma situação de conquista em andamento e considerada pelo Estado português como inadequada, que se apresentava no Brasil do século XVIII, 250 anos após o início oficial do domínio português em terras brasílicas, como podemos observar no texto do Diretório: Observando pois todas as Naçoens polîdas do Mundo este prudente, e solido systema, * nesta Conquista se praticou tanto pelo contrário, * que só cuidáraõ os primeiros Conquistadores estabelecer nella o uso da Lingua, * que chamaráõ geral; * invençaõ verdadeiramente abominavel, e diabólica, para que privados os Indios de todos aquelles meios, que os podiaõ civilizar, * permanecessem na rustica, e barbara sujeiçaõ, * em que até agora se conservávaõ. Ao incluir a parte (colonização do Brasil) no todo (todas as nações polidas do mundo) – observando pois todas as Naçoens polîdas do Mundo este prudente, e solido systema, * nesta Conquista se praticou tanto pelo contrário, o Diretório se encarrega, juridicamente, de estabelecer uma nova política de civilidade aos indígenas, que perpassa pela língua, e uma severa crítica ao domínio jesuítico que se mantinha até então – que só cuidáraõ os primeiros Conquistadores estabelecer nella o uso da Lingua, * que chamaráõ geral; * invençaõ verdadeiramente abominavel, e diabólica, para 96 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... que privados os Indios de todos aquelles meios, que os podiaõ civilizar, * permanecessem na rustica, e barbara sujeiçaõ, * em que até agora se conservávaõ. Essa afirmação se encontra reforçada na introdução do Diretório, que se apresenta para abolir a administração temporal que os regulares exercitavam nos índios, em uma clara alusão ao domínio jesuíta que até então se estabelecera no Brasil e lhe tecendo uma crítica pela lastimosa rusticidade e ignorância com que até agora foram educados. Vejamos esta afirmação no recorte abaixo: SENDO Sua Magestade servido pelo alvará com força de Ley de 7 de Junho de 1755. abolir a administração Temporal, * que os Regulares exercitavaõ nos Indios das Aldeas deste Estado; * mandando-as governar pelos seus respectivos Principáes, * como estes pela lastimosa rusticidade, e ignorancia, com que até agora foraõ educados, * naõ tenhaõ a necessaria aptidaõ, * que se requer para o Governo, * sem que haja * quem os possa dirigir, * propondo-lhes naõ só os meios da civilidade, mas da conveniencia, * e persuadindolhes os proprios dictames da racionalidade, * de que viviaõ privados. Para se compreender a instituição desse decreto, é necessário conhecer o contexto à época do Brasil colônia. Silva Neto (1963), em seu livro Introdução aos estudos da língua portuguesa no Brasil, afirma que a Língua Portuguesa trazida pelos descobridores e colonos lusos não conseguiu pronta vantagem sobre a língua geral falada na colônia. Contribuiu grandemente para esse fato o elemento europeu domiciliado na colônia que tinha filhos com mulheres índias. Ocupados estes nos afazeres agrícolas ou comerciais, deixavam a educação dos filhos para as companheiras, que iniciavam o manejo da língua nativa. Época houve em que se observou certa predileção para com o tupi, sobretudo nas famílias paulistas, conforme testemunho do Padre Vieira em sua obra Sermões (1690), quando afirma que “é certo que as famílias dos portugueses e índios de São Paulo estão ligadas hoje umas com as outras, que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente, e a língua 97 Tânia Pitombo-Oliveira que nas ditas famílias se fala é a dos índios e a portuguesa à vão os meninos aprender à escola [...]”. Esse estado de coisas era ainda agravado pela ação dos missionários jesuítas, que interessados na catequese dos selvagens, eram forçados a estudar-lhes a língua e chegaram a compor-lhes a gramática e o dicionário. Além disso, os colégios administrados pela Ordem Jesuíta mantinham o ensino do idioma tupi, cujas lições eram ministradas aos filhos dos colonos com a mesma intensidade que o ensino da língua portuguesa. Também as bandeiras, em suas entradas pelo sertão brasileiro, possuíam como condutores índios que faziam de sua língua o instrumento de comunicação diária. Nesse Brasil que se apresentava ao início do século XVIII, de quatro pessoas encontravam-se três que se exprimiam em tupi. Foi esse o contexto que levou o governo da metrópole a expedir ordens régias para que se ensinasse aos índios a Língua Portuguesa, acontecimento este que se materializou no texto do Diretório dos Índios, deu seus primeiros passos após a expulsão dos jesuítas e se concretizou com a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Assim, no século XVIII, este alvará com força de lei, de 07 de junho de 1775, determina que se introduza neles o uso da língua do príncipe, a língua do conquistador, a oficial e a ainda também chamada Língua Portuguesa culta ou padrão no Brasil. NECESSIDADE DE CIDADANIA PORTUGUESA PARA OS INDÍGENAS: OS TRATADOS DE MADRI (175) E SANTO IDELFONSO (1777) Civilizar os indígenas era preciso. Ao fazer esta afirmação, o que pretendia o Diretório? Várias são as referências no texto do Diretório que exprimem a necessidade de civilizar os indígenas. Vejamos: – * naõ tenhaõ a necessaria aptidaõ, * que se requer para o Governo, * sem que haja * quem os possa dirigir, * propondo-lhes naõ só os 98 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... meios da civilidade, mas da conveniencia, * e persuadindo-lhes os proprios dictames da racionalidade, * de que viviaõ privados, * – * naõ só privados do verdadeiro conhecimento dos adoraveis mysterios da nossa Sagrada Religiaõ, mas até das mesmas conveniencias Temporáes, * que só se podem conseguir pelos meios da civilidade, da Cultura, e do Commercio: * E sendo evidente, * que as parternáes providencias do Nosso Augusto Soberano, se dirigem unicamente a christianizar, e civilizar estes até agora infelices, e miseraveis Póvos, – Em quanto porém á civilidade dos Indios, * a que se reduz a principal obrigaçaõ dos Directores, * por ser propria do seu ministerio; – E como esta determinaçaõ he base fundamental da Civilidade, * que se pertende – E porque, além de ser prejudicialissimo á civilidade dos mesmos Indios este abominavel abûso, * seria indecoroso ás Reáes Leys de Sua Magestade * chamar NEGROS a huns homens, A seguir, focalizo dois recortes e chamo a atenção para o complemento da oração principal, sendo o primeiro: E sendo evidente, * que as parternáes providencias do Nosso Augusto Soberano, se dirigem unicamente a christianizar, e civilizar estes até agora infelices, e miseraveis Póvos, * para que sahindo da ignorancia, e rusticidade, * a que se achaõ reduzidos, * possaõ ser úteis a si, aos moradores, e ao Estado: * Estes dous virtuosos, e importantes fins, * que sempre foi a heroica empreza do incomparavel zelo dos nossos Catholicos, e Fidelissimos Monarcas,* seráõ o principal objecto da reflexaõ, e cuidado dos Directores. E, o segundo: Em quanto porém á civilidade dos Indios, * a que se reduz a principal obrigaçaõ dos Directores, * por ser propria do seu ministerio; empregaráõ estes hum especialissimo cuidado * em lhes persuadir 99 Tânia Pitombo-Oliveira todos aquelles meios, * que possaõ ser conducentes a taõ util, e interessante fim, *. Na repetição – possaõ ser úteis a si, aos moradores, e ao Estado: * Estes dous virtuosos, e importantes fins, * , e, que possaõ ser conducentes a taõ util, e interessante fim, *. – fica exposto que o alvará, ao reafirmar a necessidade de civilidade aos índios, ampara esta afirmação como um útil e interessante fim em que os indígenas possam ser úteis a si, aos moradores e ao Estado. A pergunta que fica é: como ser útil e a quem ser útil? Talvez a resposta seja: ser útil possibilitando civilizar o índio, tornando-o cidadão português e sendo útil, portanto, à coroa portuguesa. Resta-nos pensar qual a utilidade de tal fato. Para nos auxiliar em tal reflexão, considero importante pensar sobre as condições de produção do texto do Diretório, extrapolando o contexto já anteriormente citado da colônia e ampliando para o contexto dos conflitos portugueses em sua relação de força e poder com outros Estados pela posse de territórios e expansão de divisas. Situo o Alvará de Lei de 07 de junho de 1775, que autoriza valer o Diretório dos Índios como um marco nessa luta, que se dá logo após o divisor de águas, que foi a metade cronológica do século XVIII. O ano de 1750 marcou a revisão do Tratado de Tordesilhas que, desde o século XV, legislou sobre os territórios de Portugal e Espanha no alémmar. Essa revisão deu-se pela assinatura, em janeiro de 1750, do Tratado de Madri, mais tarde retomado, revisado e aperfeiçoado pelo tratado de Santo Ildefonso de 1777. Um acontecimento importante surge nesta época. O Visconde de Cerveira, instruído pelo secretário do rei D. João V, o brasileiro Alexandre de Gusmão, propôs que um novo critério fosse adotado para a delimitação das fronteiras entre os dois impérios. Esqueceram a questão do Meridiano de Tordesilhas, que ninguém mais obedecia, e resolveram buscar, dentro das modernas normas do direito internacional, limites concretos, acidentes geográficos facilmente identificáveis, como são a origem do curso dos rios e os montes mais notáveis. 100 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... Mais importante ainda, concordaram em seguir o princípio chamado utis possidetis, em que se reconhecia como parte integrante do reino que já estivesse ocupado majoritariamente por alguns de seus súditos. E essa é a função do Diretório. Uma lei para civilizar os índios, garantindo-lhes a cidadania e, efetivamente, tornando-os cidadãos portugueses. Essa reflexão orienta a análise no sentido de passar da necessidade de civilizar os nativos na proposta do Diretório para, sim, torná-los cidadãos portugueses, senão de fato, pelo menos juridicamente, o que garantiu, conforme visualização do mapa brasileiro, uma extensa proporção territorial, que se acentua para oeste nas regiões do território nacional, que especifica o referido alvará com força de lei, logo em seu início: Vejamos: DIRECTORIO, que se deve observar nas Povoaçoens dos Indios do Pará, e Maranhaõ em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario. E como os índios já andavam por todo o território e também no interior das matas do Pará e Maranhão, já ocupavam majoritariamente o território e passaram a ser considerados, após o Diretório, sujeitos índios cidadãos portugueses, assim, todo o território ocupado por indígenas era de domínio da coroa portuguesa, conforme o princípio previamente adotado utis possidetis. Para Orlandi (1990, p. 165), a língua, como idioma oficial, está vinculada à ideia de país, de pátria, de povo. E, assim, quer a tradição que a língua seja critério para se ter reconhecida uma identidade nacional e cultural. Para a autora, como toda arma, esta pode ter muitos gumes, principalmente quando ter/pertencer a uma língua, como no caso dos índios, é ter direito à sua própria terra. No jogo imposto pelo colonizador, há um deslocamento de sentidos em que é necessário, por um alvará de lei que se apresenta no Diretório, que o nativo aprenda a língua do colonizador para garantir terras já suas ao domínio do colonizador português, fato esse necessário na ordem jurídica de luta pela terra entre Portugal e Espanha. Esse movimento permite-me refletir que, de um lado, temos a luta por um território – ou pelo menos a busca pela garantia dele, e, por outro, temos 101 Tânia Pitombo-Oliveira sujeitos índios, usados para a garantia do território, mas que não ocupam o lugar de “donos da terra”. CONSIDERAÇÕES FINAIS O Diretório dos Índios, que em princípio se mostra como uma proposta de civilidade e posterior direito à cidadania e o respeito à diversidade étnica e cultural do índio, na tentativa de se marcar uma posição para o sujeito índio cidadão português, após esta reflexão se desnuda como uma tentativa de ocupar espaços e garantir fronteiras. Os sujeitos índios cidadãos portugueses já habitavam o litoral e o interior do país, garantindo, assim, majoritariamente, a ocupação da terra na disputa entre Portugal e Espanha. Reafirma esse propósito ao apresentar seu aspecto temporal logo em sua abertura: DIRECTORIO, que se deve observar nas Povoaçoens dos Indios do Pará, e Maranhaõ em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario. É um alvará de lei para o tempo presente em que se dá o Diretório, para resolver questões políticas territoriais portuguesas, já apresentando sua possibilidade de revogação ao finalizar seu título: em quanto Sua Magestade naõ mandar o contrario. O Diretório dos Índios do Marquês de Pombal, de 07 de junho de 1755 do século XVIII, que em seu texto reafirma por diversas vezes a necessidade de civilidade dos indígenas, nesta análise se afirma não como uma preocupação social com os índios da até então colônia de Portugal, mas, muito mais fortemente, como um interesse político na demarcação e expansão territorial portuguesa, quando confrontado com seu contexto político sóciohistórico. O Diretório trabalha no jogo de tentativas para demarcar posições para índios (cidadãos portugueses) que atendessem aos interesses da coroa portuguesa, mas como decretos não alteram culturas, a luta por lugares – cidadãos livres – portugueses, índios e negros – mantém-se na contemporaneidade. 102 Português brasileiro: o imaginário político português constituindo posições ... Ao impor o uso obrigatório da Língua Portuguesa a colonos portugueses e índios, tece clara relação entre Língua e cidadania. Todo falante da Língua Portuguesa é um cidadão português, independente de sua origem. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUROUX, S. A revolução tecnológica da gramatização. Campinas: Editora da UNICAMP, 1992. BORGES, L. C. A instituição de línguas gerais no Brasil. In: ORLANDI, E. (Org.). História das idéias linguísticas: construção do saber metalinguístico e constituição da língua nacional. Campinas: Pontes; Cáceres: UNEMAT Editora, 2001, p.199-222. CONTRERAS, R. Política econômica. In: SIMONSEN, Roberto. História econômica do Brasil (1500 – 1820). 6. ed. São Paulo: Editora Nacional, 1969, p. 35-49. GADET, F; PÊCHEUX, M. A língua inatingível: ensinar gramática ou não? Campinas: Pontes, 2004. LAGAZZI-RODRIGUES, S. A discussão do sujeito no movimento do discurso. 1998. Tese (Doutorado em Lingüística). Campinas: Instituto de Estudos da Linguagem, UNICAMP, 1998, 119 folhas. MARIANI, B. A institucionalização da língua, história e cidadania no Brasil do Século XVIII: o papel das academias literárias e da política do Marquês de Pombal. In: ORLANDI, E. (Org.). História das idéias linguísticas: construção do saber metalinguístico e constituição da língua nacional. Campinas: Pontes, 2001, p. 99- 124. MARIANI, B. Colonização Linguística. Línguas, política e religião no Brasil (séculos XVI a XVIII) e nos Estados Unidos da América (século XVIII). Campinas, SP: Pontes, 2004. ORLANDI, E. Terra à vista. Discurso do confronto: velho e novo mundo. São Paulo: Cortez, 1990. ORLANDI, E. Ética e política linguística. Línguas e Instrumentos Linguísticos nº. 1. Revista do Projeto das Histórias Linguísticas. Campinas: Pontes, 1996, p. 09-15. SILVA NETO, S. Introdução aos estudos da língua portuguesa no Brasil. 2ª. Edição, Publicação do MEC – Ministério da Educação e Cultura/INL, RJ, 1963. VIEIRA, Pe. Antônio. Sermões – 1690. Edição das Edaméricas. Reimpressa pela Edelbra, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro – Volumes I-IV, 1998. 103 Blog político – diário ou propaganda política? MARIETA PRATA DE LIMA DIAS No momento atual em que se discute no Brasil o livre uso da Internet em campanhas políticas, nova lei eleitoral a ser sancionada dentro em breve para valer para a eleição do ano que vem (2010), o presente texto observa o Blog do Planalto, proposta governamental de uso da web como ferramenta institucional de comunicação e de interatividade com cidadãos internautas e reflete sobre este gênero como instrumento de propaganda política. Forma simplificada de weblog (web – página na internet e log – diário íntimo na internet) criado por Jorn Barger, em 1997, a facilidade de uso tornou-o popular, no Brasil, após 2000. Constitui uma forma hipertextual de apresentar temas de interesse público de modo mais informal que a imprensa propriamente dita. Neste breve estudo, após rever um pequeno histórico, retomam-se alguns conceitos e pesquisas feitas acerca do tema e, posteriormente, enfoca-se o blog proposto. Podemos dizer que o hipertexto é somente um formato midiático que abriga vários textos. No hipertexto virtual, há vários textos dispostos formando UM hiper, cuja leitura requer comportamento diferente daquele do texto impresso. Trata-se de uma questão de adaptação do texto ao suporte informático e reformulação dos princípios reguladores da comunicação textual (eficiência, eficácia e adequação). Acatamos o conceito de Marcuschi (2008:174), para quem suporte de um gênero é “um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto”. Este autor diz haver casos em que o suporte determina a distinção que o gênero recebe e exemplifica com “Paulo, te amo, me ligue o mais rápido que puder. Te espero no fone 55 44 33 22. Verônica”. O autor lembra que, se escrito em papel e colocado na mesa, seria um bilhete; se passado pela secretária telefônica, recado; e, por formulário próprio dos correios, telegrama. 105 Marieta Prata de Lima Dias 1. O QUE É MESMO BLOG? O gênero blog tem similaridade (quanto à remissão a datas, por exemplo) com autobiografia, diário íntimo, diário, memórias e biografia. Para Calligaris (1998:5), no gênero autobiografia, o indivíduo assume distanciamento da sociedade e situa sua vida como uma aventura fora das regras e tradição de sua comunidade. No diário íntimo (journal), “afastado dos eventos externos, meditativo, desenvolve uma imagem da vida interior”. Por sua vez, o diário (diary) consiste em “anotações do dia-a-dia sem a ambição de estabelecer ou propor um pattern” e memória, em “anotações dos fatos, sobretudo os acontecimentos externos, como para se lembrar e lembrar o que aconteceu”. Por outro lado, a biografia “aparece como gênero quando, para cada um em nossa cultura, as erlebnisse (experiência pontual, isolada) esparsas do cotidiano passam a encontrar uma dimensão de erfahurung (experiência global, geralmente orientada ou organizada em um sentido), não em uma cosmologia, não no destino da comunidade, mas na narração orientada da história de uma vida. A biografia vem existir como gênero quando a vida de cada um, a experiência de vida já é uma autobiografia, antes mesmo que seja escrita ou não”. Santos e Silva assim conceituam blog: “Um blog é um site que tem a forma de um registro ou um relato, de uma agenda datada e organizada em ordem cronológica invertida, posto em dia regularmente, que é recheado de links e que convida os leitores a fazer seus comentários sobre o que aí encontram. Diferentemente de outras publicações na rede em que, por conta da inexorável atualização, todo conteúdo novo vem se substituir ao similar existente que acaba de caducar, nos blogs não há substituição: cada novo material <postado> é acrescentado ao já presente, independentemente ao seu conteúdo. (SANTOS e SILVA, 2005, p. 4 apud FERREIRA, 2006) “Blog, muitas vezes chamado de diário virtual, é uma espécie de página pronta na internet, na qual o autor pode publicar livremente qualquer tipo de texto.” (SILVA, 2009) 106 Blog político – diário ou propaganda política? “O blog pode ser definido, portanto, como uma página web, composta de parágrafos dispostos em ordem cronológica (dos mais aos menos atuais colocados em circulação na rede), atualizada com freqüência pelo usuário. O dispositivo permite a qualquer usuário a produção de textos verbais (escritos) e não-verbais (com fotos, desenhos, animações, arquivos de som), a ação de copiar e colar um link e sua publicação na web, de maneira rápida e eficaz, às vezes, praticamente simultânea ao acontecimento que se pretende narrar.” (KOMESU, 2006:92) 2. CONHECENDO ALGUNS ENFOQUES DE BLOGS Parece interessante “dar uma olhadela” por algumas pesquisas cujo tema central seja blog, para conhecer alguns enfoques pelos quais esse gênero já foi abordado. Ferreira (2006), em sua dissertação de mestrado, intitulada “COMUNICAÇÃO VIRTUAL: Uma análise contrastiva da linguagem de blogs de adolescentes e de adultos à luz da Teoria Semiolingüística”, investiga o surgimento ou não de uma nova forma de comunicação virtual e adota como material de análise uma comparação entre os blogs de adolescentes e de adultos. Para tal análise, observa o modo de organização enunciativo, o comportamento socioletal e a temática de cada blog. Entre as diferenças observadas, Ferreira constatou que os adolescentes preocupam-se mais em expressar a subjetividade e os adultos, em interpelar o outro. Naquele tipo, há, portanto, textos descontínuos tematicamente, uso de pontuação que enfatiza entonação e sentimentos, não preocupação com regras de acentuação e ortográficas, uso de abreviaturas não usuais – traços de desempenho linguístico que caracterizam o propósito de expressão da subjetividade e corroborativos de um contrato de comunicação deste grupo socioletal. Nos blogs de adultos, esses traços encontram-se em pequena relevância; portanto, há menos gírias, palavrões, discurso direto, falta de concordância verbal, interjeições, marcadores conversacionais, colocação pronominal não padrão e mais uso de estrangeirismos e termos técnicos. Silva (2009), no artigo Leitor de Blog – configurações modal e enunciativa, apoiado na semiótica francesa, dedica-se à análise do leitor 107 Marieta Prata de Lima Dias virtual, pressuposto, de blog. Para este estudioso, na busca de legitimação de si mesmo no outro, o blogueiro (para Silva, leitor e produtor de blog) caracterizado pelo narcisismo, pseudoliberdade e ludicidade. Castro (2007), na dissertação de mestrado Características do tráfego e padrões de comunicação de um serviço de blogs, observa, por um lado, os padrões de acesso e de interação relativamente aos blogs pelos usuários, por outro lado, como os blogs são acessados. Constatando diferenças entre os blogs e outros serviços estáticos da Web, advindos da interatividade entre dono do blog e leitores, e com base nisso, o pesquisador classificou os blogs em broadcast (recebem muitos visitantes que somente leem e não enviam comentários), livro de visitas (recebem visitantes que, em geral, enviam comentários) e fórum (por favorecerem a interatividade, recebem quantidade razoável de visitas e comentários). Os mais visitados são os blogs do tipo broadcast, fórum são os mais frequentes e recebem mais sessões com escrita e o tipo livro de visitas não é muito comum na blogosfera. Rodrigues (2005), no artigo Blogues: entre a opinião e a participação, percebe os blogs como um jornalismo participativo à medida que complementam e se apresentam como uma alternativa aos media tradicionais, com características especiais de interatividade, humor, polêmica e ideias marginais, sem a obrigatoriedade de serem publicados por jornalistas. Portanto, não há a exigência do rigor de pesquisa, seleção de dados e confirmação antes da redação, processos requisitados aos jornalistas. Além disso, não se levam em conta as formas de acesso às fontes, a imparcialidade e o estado de impunidade de seus autores. Komesu (2005), na tese de doutorado Entre o público e o privado: um jogo enunciativo na constituição do escrevente de blogs da internet, tem entre seus objetivos discutir o paradoxo entre intimidade e publicidade presente em blogs e considera muito válida a hipótese da falta de limites entre o domínio público e o privado na sociedade contemporânea, o que faz surgir “um jogo entre a publicização de si e a intimidade construída na escrita dos blogueiros”. 108 Blog político – diário ou propaganda política? 3. LENDO O BLOG DO PLANALTO Pedimos a dois jornalistas brasileiros a citação de cinco blogs bastante conhecidos. Houve repetição e tivemos um total de sete blogs sugeridos, a saber: www.noblat.com.br , www.folha.com.br/josias , www.reinaldoazevedo.com.br , http://www.zedirceu.com.br/, http:// blog.estadao.com.br/blog/cruz/, http://www.whitehouse.gov/blog/ e http:// blog.planalto.gov.br/. Optamos pelo último por dois motivos – o recente surgimento do blog e a discussão atual na pauta legislativa brasileira acerca da liberação ou não do uso da internet nas eleições de 2010; acresce-se a esses critérios, o fato de, como cidadãos brasileiros, podermos efetuar reflexões sobre esta ferramenta de acesso e utilidade pública. O Blog Planalto estreou em 31 de agosto de 2009 e é hospedado na Dataprev, empresa pública de Tecnologia e Informações da Previdência Social. Foi inspirado no do presidente norte-americano, Barack Obama, e no do primeiro ministro inglês, Gordon Brown, e deve se concentrar na rotina e agenda presidencial. O Blog Planalto tem, ao lado do título, a imagem do Palácio do Planalto (Gabinete do Presidente do Brasil e, portanto, sede do Poder Executivo do Governo Federal Brasileiro) e é composto por três páginas principais (além dos links): Sobre o blog, Perguntas & Respostas e Críticas & Sugestões; além de possibilitar três trocas de visual da página. Estruturado em formato de hipertexto, a “ grosso modo, um texto que traz conexões, chamadas links, com outros textos que, por sua vez, se conectam a outros, e assim por diante, formando uma grande rede de textos.” (...) “um ‘formato’ que vai acolher diferentes gêneros ...” (Coscarelli, 2006:73 e 80), o Blog Planalto traz textos, fotos, vídeos, áudios e infográficos para ilustrar suas mensagens. Cavalcante (2004) diferencia nó e link. Link seria o ponto de referência que delineia, no espaço textual, outros espaços, ou seja, os nós. 109 Marieta Prata de Lima Dias 3.1 Comentando alguns aspectos Para este estudo, optamos por comentar três aspectos relativamente ao objeto Blog do Planalto: interatividade, escrevente e temática. 3.1.1 Interatividade Koch (2008) elenca dez características do hipertexto: 1. Nãolinearidade ou não-sequencialidade ; no dizer de Marcuschi, segundo Koch (2008), o texto tem constituição plurinearizada, condicionada pelos conhecimentos e interesses do leitor. 2. Volatilidade, proporcionada pela própria natureza do suporte. 3. Espacialidade topográfica, ou seja, espaço de limites indefinidos. 4. Fragmentariedade, pela ausência de centro regulador. 5. Multissemiose, com diferentes expressões sígnicas. 6. Descentração ou multicentramento, por estar ao mesmo tempo não-linear, mas com textos diversos centrados em uma temática. 7. Interatividade, proporcionada pelo próprio suporte informático. 8. Intertextualidade, caracterizada em seu grau máximo devido à possibilidade do simultâneo acesso. 9. Conectividade, possibilitada pela conexão múltipla de blocos semânticos. 10. Virtualidade, por ser matriz de textos possíveis. Neste momento, queremos abordar a oitava característica acima citada, ou seja, a interatividade – “interface entre o usuário e a máquina, mas também da possibilidade de contato entre o usuário e outros usuários, na utilização de ferramentas que impulsionam a comunicação de maneira veloz, com a eliminação de barreiras geográficas” (KOMESU, 2004:117). Marcuschi (2008:208) cita a relevância da construção de identidades sociais nas interações entre indivíduos no contexto discursivo da mídia virtual. O autor classifica a interação ocorrida entre as pessoas envolvidas em diferentes gêneros: pessoas conhecidas (e-mails, bate-papos agendados, videoconferência, lista de discussão etc.), desconhecidas (lista de discussão, e-mails, entrevistas, etc.), anônimos (bate-papos abertos, bate-papos em salas privadas) e irreais (MUDs – Multi-User-Dungeon, tipo de jogo de combate, que opera no mundo imaginário). Nesta classificação, segundo ainda o autor, 110 Blog político – diário ou propaganda política? não se dispõe o blog, por ser escrito em geral em duplas ou em mais participantes e por estar em constante evolução. Na página inicial do Blog do Planalto, após cada informação há a pergunta “Gostou?”, seguida da sugestão de que: 1. imprima-se; 2. envie para o twitter, algum portal, facebook, MSN, MySpace, FriendFeed, Netvibes, Sign in Del.icio.us (abrir uma conta em bookmarking), arquivar em StumbleUpon ou por e-mail – e para todos são abertas novas páginas, em geral em inglês –; sugere-se também que se crie um blog gratuito e é deixado um espaço para a redação. Neste último caso, é deixado um espaço abaixo do qual consta “Não perca o raciocínio. Rascunhe aqui seu post” e “depois basta copiar e colar no seu blog”; mas, quando se abre a página sugerida, lê-se tudo em inglês. Portanto, provavelmente, não são todos do “público”alvo que se manifestarão por escrito. Em resposta a esta atitude governamental, e até para mostrar a fragilidade do sistema WEB no sistema político, a jornalista Daniela Silva e o consultor de internet Pedro Markun, segundo o jornal Folha de S.Paulo (4/9/2009), clonaram o Blog do Planalto (http://planalto.blog.br), dando espaço para opinião dos usuários e alegando ser esta uma forma de “governo aberto”, com relevância para pessoas e não para partidos – atitude não contestada pela assessoria de imprensa governamental. Os blogueiros esclarecem: “Atenção – este não é o Blog do Planalto original. É uma cópia que permite comentários. Todo o conteúdo é retirado automaticamente e sem interferências de lá e esta licenciado sob CC-by-sa-2.5” Na classificação apresentada por Castro (2007), quanto à interatividade, este blog seria broadcast, pois há apenas uma resposta em blog e, curiosamente, não se consegue acessar nem saber em que blog consta. No item Críticas e Sugestões, consta a obrigatoriedade do nome e email, menção do assunto e espaço para a mensagem; ao final, tecla de enviar e agradecimento, expresso por “muito obrigado”. O uso do masculino, deixaria implícito o agradecimento de um homem, o que nos levaria a pensar em sua excelência, o Presidente da República, contudo, em Perguntas e Respostas podemos ler: 111 Marieta Prata de Lima Dias Pergunta e resposta 1 “O Blog do Planalto é do Presidente da República? Não, o Blog do Planalto é um canal de comunicação da Presidência da República com a sociedade.” Esta negação da situação de escrevente do Presidente é reforçada na resposta seguinte: Pergunta e resposta 3 “O presidente vai escrever no Blog do Planalto? O presidente vai se manifestar no Blog do Planalto, por meio de textos, áudios e vídeos, mas a administração do Blog não será feita por ele pessoalmente.” Um outro aspecto que foge à interatividade comum aos blogs é bem posta em duas respostas: Pergunta e resposta 2 “Qual o objetivo do Blog do Planalto? Produzir e disponibilizar informações do cotidiano da Presidência diretamente a um público que cada vez mais vem se informando pelas novas mídias que gravitam em torno da internet. Acompanhar de perto os eventos e atos da Presidência e a agenda do Presidente da República, oferecendo aos internautas a melhor informação e maior agilidade possíveis. Divulgar informações que ajudem a compreender melhor as ações, programas e políticas governamentais.” (grifos nossos) A presença de três vezes o vocábulo informação esclarece a mão única de interação – da equipe de redação do blog para os leitores. Sentido único que é reforçado pela resposta abaixo. Pergunta e resposta 8 – “Como se dará a interação entre o público e o Blog do Planalto? Estamos estudando algumas formas, como enquetes e relacionamento com outros blogs, e vamos implementar na medida em que o projeto for se consolidando.” 112 Blog político – diário ou propaganda política? Na página CRÍTICAS E SUGESTÕES, há espaço para preenchimento de “Seu nome (obrigatório) E-mail (obrigatório) Assunto Sua mensagem ENVIAR Muito obrigado!” Não se sabe como tem sido o procedimento acerca dessa interação, já que não ficam constando para o público. O remetente recebe algum tipo de resposta? Experimentalmente acessado, apesar de todos os dados terem sido completados adequadamente, surgiu a resposta “ Falha ao enviar sua mensagem. Por favor tente mais tarde ou contacte o administrador de outra forma”. Portanto, o cidadão fica ciente de que seu interlocutor não é o Presidente da República atual; além disso, embora seja blog – gênero que se caracteriza pela interatividade –, o internauta é apenas leitor. Lembrando Marcuschi (2008), acima mencionado, teria a identidade social desse leitorcidadão realmente oportunidade de construção? 3.1.2 Afinal, quem é o blogueiro, autor, escrevente, diarista? Na primeira página, que consiste num tipo de prefácio, lemos: Car@s leitor@s, Bem vind@s ao Blog do Planalto, o novo canal de comunicação do governo com a sociedade! Estamos aqui para compartilhar com vocês informações sobre o cotidiano da Presidência da República. A equipe do Blog (ver foto) vai acompanhar de perto os eventos, atos e a agenda do Presidente para que você, seus amigos, familiares e companheiros de navegação na internet possam compreender melhor as ações, programas e políticas do governo. Vamos usar textos, fotos, vídeos, áudios e infográficos para ilustrar 113 Marieta Prata de Lima Dias nossas mensagens. Sempre buscando a melhor sintonia com o público que está cada vez mais plugado nas novas mídias digitais. Acreditamos que este é apenas um primeiro passo para estabelecermos um diálogo cada vez mais próximo e informal entre governo e sociedade. Aproveite e boa leitura! Observamos o uso de nós, mas não sabemos de quem se trata por não haver assinatura ao final. O enunciador do texto refere-se à “equipe do Blog” e nos remete a uma foto dos participantes: o programador Marcos Machado; o webdesigner Daniel Pádua; Mayana Diniz, da equipe do Planalto; o Presidente Lula; o coordenador, ex-Globo, JB, ex-assessor da prefeitura de São Paulo, Jorge Cordeiro; o secretário de imprensa da Presidência da República, Nelson Breve, o redator Daniel Carvalho (ex-Global Voz) e o Ministro da Comunicação Social, Franklin Martins. O dados profissionais da equipe corrobora o dito de Quadros e Sponholz (2006) de que muitas vezes por trás de blogs há jornalistas famosos. Contudo, a não consideração de que seja jornal on-line permite que a seleção das notícias seja feita com bastante atenção ao valor-notícia de interesse da equipe. Na Pergunta e Resposta 3, constatamos que ele irá se “manifestar”: O presidente vai escrever no Blog do Planalto? O presidente vai se manifestar no Blog do Planalto, por meio de textos, áudios e vídeos, mas a administração do Blog não será feita por ele pessoalmente. Formalmente, a autoria é “assinada” e o blog hospedado e licenciado conforme lemos ao final da página 1, “PRODUZIDO POR HOSPEDADO POR 114 SOBRE O CONTEÚDO Blog político – diário ou propaganda política? Dataprev PLATAFORMA Wordpress Todo o conteúdo de Blog do Planalto está licenciado sob a CC-by-sa-2.5, exceto quando especificado em contrário e nos conteúdos replicados de outras fontes.” O uso do apelido do Presidente da República – Lula – coaduna com o propósito informal de um blog, contudo, ao mesmo tempo, sua posição na foto e inserção pela citação na ordem de posição o inserem na equipe do Blog. Portanto, podemos passar a considerá-lo também como um dos redatores deste discurso. Em “É importante que vocês deem sugestões, é importante que vocês critiquem, porque a gente vai aprendendo com as sugestões, a gente vai aprendendo com as críticas.(…) Continuem sendo verdadeiros como vocês são, porque é isso que contribui para o Brasil democrático que nós queremos construir.”, o uso de “a gente” e a forma analítica verbal “vai aprendendo” – comumente mais considerados da linguagem informal – e a repetição de ambas duas vezes em um mesmo parágrafo tentam descaracterizar a formalidade de discursos institucionais. Mas as mencionadas “ críticas” não são possíveis de acontecer, conforme podemos constatar na resposta 2 acima; portanto, o cidadão-leitor “continuará sendo verdadeiro ao ficar silencioso”. 3.1.3 A temática Neste item consideramos os temas ou tópicos discursivos presentes no blog, que se propõem a “disponibilizar informações do cotidiano da Presidência diretamente a um público (...) Acompanhar de perto os eventos e atos (...) e a agenda do Presidente da República, oferecendo aos internautas a melhor informação e maior agilidade possíveis. Divulgar informações que ajudem a compreender melhor as ações, programas e políticas governamentais.” (Pergunta e resposta/Blog). Pelas fases dos blogs, descritas por Alves (2006, apud Quadros e Sponholz:2006:8) – menosprezados pela mídia convencional, temidos e modelos de diários digitais –, o Blog do Planalto insere-se na última 115 Marieta Prata de Lima Dias classificação. Na realidade, o objetivo de falar de si é mesclado com o de formar opinião (positiva, logicamente) do cidadão acerca do governo executivo. Considerando com Komesu (2005:28), público como tema “sem caráter secreto, relativos ou pertencentes à coletividade” e privado como “temas restritos à individualidade do sujeito, como a família; determinados hábitos e costumes; o estado de saúde da pessoa”, afirmamos que este blog classifica-se como público. No lado direito, em vertical, na primeira página, há vários links que remetem a diferentes textos. Por exemplo, no dia 19 de setembro de 2009, constavam: “Em Destaque; Imagens (A agenda do presidente em Pernambuco – com 10 galerias compostas de 10 fotos em cada – um total de 100 fotos!); Vídeos (Vídeo institucional da EMBRAPA sobre Zoneamento Agroecológico da Cana de Açúcar); Áudios (Pimenta e Dulci anunciam boas novas aos aposentados); Assuntos (chamadas para Bolsa-Família, desenvolvimento, economia, educação, habitação, investimentos, obras, PAC, petróleo, pré-sal),; Discreta Lente – “As curiosidades do dia-a-dia da Presidência da República” (com vídeos de A história de Ademir, “Jura?”, Independência turbinada); Opine (“Os recursos do pré-sal devem ser investidos prioritamente em: combate à pobreza, Ciência e Tecnologia, Educação, Cultura e Meio Ambiente”, como opções de voto em escolha única; Mais Acessados (Dores do parto, Até Lula ganhou uma casa em Goiânia, O petróleo no Brasil, Pré-sal e o futuro do País, Pré-sal é fruto da mão invisível do Povo Brasileiro). Links (Caderno Destaques, Portal da Transparência, Marco Regulatório do Pré-sal, PAC, Gripe Influenza A (H1N1), Bolsa Família e TV NBR ao vivo).” O link Discreta Lente – “As curiosidades do dia-a-dia da Presidência da República” – sugere informações mais próximas de um diário. Abrindo 116 Blog político – diário ou propaganda política? cada texto, constatamos tratarem de parte da agenda recente do Presidente da República, com vídeos (de pequena duração) em que há, por exemplo, em “A história de Ademir” entrevista, com o Presidente discursando em segundo plano e com um formando agradecido pela oportunidade do estudo e, que incitado pelo entrevistador, compara sua história de vida à do Presidente; em “Jura?”, no palco, o Presidente entrega, a uma formanda do Programa Próximo Passo / Camareira, a carteira assinada com salário de R$1.200,00; em “Independência turbinada”, um microempresário conta a história de sua microempresa e agradece ao Presidente o apoio ao setor. Portanto, em todos temos o povo agradecendo ao Presidente! O eu, Luís Inácio, é sempre relembrado em discursos públicos e passa até a servir de exemplo de ascensão sociopolítica às pessoas presentes no auditório – fato inclusive repetido por esses ouvintes. Julgam-se fatos públicos pela biografia do Presidente da República. Entre a disponibilidade de informar e de se dispor como diário digital da agenda presidencial, comparamos temas do blog e de um jornal diário que também acompanhou o dia a dia do Presidente da República: No dia 19/9, por exemplo, o jornal Folha de S.Paulo, traz as seguintes notícias 1. A indicação de Toffoli ao Supremo Tribunal do país Indicado ao Supremo “Ao se manifestar publicamente contra o sistema, o presidente da AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros), Mozart Valadares Pires, diz que não quer questionar a competência de Toffoli, mas criticar o fato de a indicação depender exclusivamente do presidente, o que pode gerar ‘questionamentos’.” 2. “Apesar de receita em queda, governo eleva gasto de novo Mais R$ 5,6 bi são liberados para o Orçamento e podem atender à base aliada” 3. “Lula enfrenta protesto de carteiros no RS Confrontado por um protesto de grevistas dos Correios durante assinatura de ordem de serviço para construção de estrada em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre (RS), o presidente 117 Marieta Prata de Lima Dias Luiz Inácio Lula da Silva atacou sindicalistas e defendeu a proposta de reajuste salarial oferecida pelo governo. Durante a solenidade, um grupo de cerca de 40 trabalhadores exibia faixas da greve e, em gritos de ordem, comparava Lula ao expresidente e hoje senador José Sarney (PMDB). O grupo era ligado à Conlutas. “Conheço lideranças covardes que são capazes de gritar greve e não são capazes de dizer ‘está na hora de a gente voltar a trabalhar’ ”, afirmou Lula em discurso. No Sul, Lula também enfrentou protesto de quilombolas pedindo a titulação de áreas de comunidades de descendentes de escravos.” 4. “55 instituições do ProUni têm notas ruins MEC pode cortar do programa, que dá incentivos fiscais em troca de bolsas de estudos, os cursos superiores mal avaliados Das 55 universidades e faculdades reprovadas no 1º ciclo de avaliação, 23 mantêm desempenho insuficiente na 1ª etapa do 2º ciclo” No Blog do Planalto não há menção a nenhum dos fatos acima e eles constaram na vivência presidencial. Wittgenstein (1999) filosofa sobre a aprendizagem de conceitos das palavras e exemplifica com o que ele chama de “jogos de linguagem”, forma pela qual aprendemos como as palavras funcionam. Este filósofo exemplifica com o fato de alguém que saiu às compras com um pedaço de papel escrito “cinco maçãs vermelhas”. Entregue ao negociante, este irá abrir o pacote do signo “maçãs” ; em seguida, recorrendo a uma espécie de tabela de cores, encontra a palavra “vermelho”; sabendo a cor, enuncia a série dos numerais e tira do caixote maçã por maçã da cor do modelo da tabela até chegar no cinco. Este é um exemplo simplificado de um jogo de linguagem pelo qual se procede o “ensino ostensivo das palavras”, processo pelo qual se estabelece a relação entre a palavra e a coisa. Nesta repetição de aprendizagem, quando se ouve a palavra, surge mentalmente a imagem da coisa. Sabemos com Bakhtin (2000:310), que “ao escolher as palavras de um enunciado, deixamo-nos justamente guiar pelo tom emocional inerente 118 Blog político – diário ou propaganda política? à palavra considerada isoladamente: adotaríamos aquelas que, por seu tom, correspondem à expressão do nosso enunciado, rejeitando as outras palavras”. Com isso queremos dizer que a escolha léxico-temática neste blog, nos dias 19 e 20/9 denominaram parte das ações vivenciadas pelo Presidente da República; portanto, o “jogo de linguagem” por ela proposto tende a produzir um “ensino ostensivo” somente positivo das decisões políticas. O cidadão, se informado só pelo blog, nunca ficaria sabendo, por exemplo, que a indicação de determinado Ministro ao STF foi questionada, que o orçamento governamental foi elevado para atender aliados, que o Presidente foi comparado ao ex-presidente Sarney (recentemente alvo de denúncias de desvio de verbas) e que enfrentou protestos de carteiros e quilombolas, assim como há muitas universidades que recebem verbas públicas e foram mal avaliadas. Em outras palavras, está havendo partidarismo na escolha temática do Blog. ALGUMAS PALAVRAS FINAIS Como o texto final legal, até o momento, “aponta para duas direções distintas. Ao mesmo tempo em que estabelece regra para os debates na internet, assegura, em outro trecho, que ‘é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores – internet –, assegurado o direito de resposta’ (Folha de S.Paulo, 16 9 09), certamente estamos presenciando ao surgimento de uma nova face do gênero blog – o blog político-eleitoral. Tendo em vista a liberação da Internet para campanha eleitoral, concordamos com Clóvis Rossi (17/9/2009), quando diz “Acho que a legislação e até a Declaração Universal dos Direitos do Homem (e da Mulher) deveria incorporar o seguinte artigo: “Todo ser humano tem o direito inalienável a escolher ele próprio quais blogs quer ler. Quem impuser seu blog à caixa postal alheia cometerá crime de lesa-humanidade” (...) “Na campanha eleitoral, tudo isso será multiplicado por mil ou mais.” 119 Marieta Prata de Lima Dias O professor de Direito, Joaquim Falcão (17/9/2009), alerta para o lado positivo e, ao mesmo tempo jurídico da questão, entre outros questionamentos “E, como o projeto não estabeleceu qualquer restrição às redes sociais – Orkut, Facebook, MySpace, UolK, Twitter –, nessas redes a campanha já começou. (...) Aumentarão as mentiras e os desmentidos. (...) Para os casos de injúria, calúnia e difamação haverá sempre o recurso da ida à Justiça. (...) A disputa ocorrerá na própria internet. De blogs contra blogs. De site contra site. De rede contra rede. A internet é uma arena. Um longo aprendizado da cidadania responsável está apenas começando. Sem falar que será difícil a Justiça controlar a interferência ilegal de sites localizados em outros países. A internet é global. O risco, pequeno talvez, é de exportar a campanha eleitoral, para sites globais onde a lei brasileira não chega”. Faz parte de nossa função, enquanto cientistas da linguagem, apontar as finalidades que os gêneros discursivos da WEB estão adquirindo – sabemos, com Bakhtin (1992) que todo gênero é historicamente construído e relativamente estável. Este é um gênero relativamente novo, e que merece ser pensado quanto à invasão domiciliar e do local de trabalho (afinal, a net hoje é um deles!). Em se tratando de uma página da web que filtra as notícias e temáticas mais convenientes ao conhecimento público, vemos que se distancia muito do diário, diário íntimo, memórias e autobiografia; configurase melhor como relato de agenda “positiva” do governo executivo publicado na web. Os futuros candidatos a cargos políticos certamente serão inspirados pelo Blog Planalto e a versão pessoal de seus feitos e história de vida será cada vez mais reforçada e tornada pública de forma mais veloz com o uso autorizado da web. Espera-se ao menos que, na busca de legitimação de si mesmo no outro, no blog político ocorra menos narcisismo e mais verdade. 120 Blog político – diário ou propaganda política? BIBLIOGRAFIA BAKHTIN. M. M. (1895-1975). Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN. M. Estética da criação verbal. Tradução: Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Martins Fontes, 1992. CALLIGARIS, Contardo. Verdades de autobiografias e diários íntimos. Revista Estudos Históricos, v. 11, no 21, Rio de Janeiro: Cpdoc/FGV, 1998, disponível em http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/236.pdf, acesso em 12 de set. 2009. CASTRO, Fernando Duarte Oliveira. Características do tráfego e padrões de comunicação de um serviço de blogs. Dissertação de mestrado em Ciências da Computação, Instituto de Ciências Exatas, UFMG, 2007. Disponível no portal PGCC - Pós-Graduação do Departamento de Ciência da Computação / UFMG, http://www.dcc.ufmg.br/pos/cursos/defesas/897M.PDF, acesso em 14 de set. 2009. CAVALCANTE, Marianne Carvalho Bezerra. Mapeamento e produção de sentido: os links no hipertexto. In MARCUSCHI, Luiz Antôno e XAVIER, Antônio Carlos. Hipertexto E_Gêneros_Digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. COSCARELLI, Carla Viana. Entre textos e hipertextos In COSCARELLI (org.), Carla Viana. Novas tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. 3ª. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. FALCÃO, Joaquim. Internet e eleições. Jornal Folha de S.Paulo – Opinião. 17 de set. 2009. Gordon Brown Primer Minister Blog. Disponível em http://gordonbrown.blogspot.com/, acesso em 19 de set. de 2009. FERREIRA, Fernanda Borges. COMUNICAÇÃO VIRTUAL: Uma análise contrastiva da linguagem de blogs de adolescentes e de adultos à luz da Teoria Semiolingüística. Dissertação de Mestrado em Estudos Linguísticos, Letras / UFMG, 2006. Disponível em www.bibliotecadigital.ufmg.br, acesso em 14 de set. de 2009. Jornal Meio e Mensagem on-line. Disponível em http://www.proxxima.com.br/ portal/noticia/Blog_do_Planalto_estreia_com_acessos_alem_do_previsto, acesso em 19 de set. de 2009. KOCK, Ingedore G. Villaça. As Tramas do Texto. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. KOMESU, Fabiana Cristina. Entre o público e o privado: um jogo enunciativo na constituição do escrevente de blogs da internet. Tese de doutorado, UNICAMP, Instituto de Estudos da Linguagem, Campinas, 2005. Disponível no portal SBU 121 Marieta Prata de Lima Dias – Biblioteca Digital da UNICAMP, em http://libdigi.unicamp.br/document/ ?code=vtls000358660m, acesso em 14 set. 2009. KOMESU, Fabiana Cristina. Blogs e as práticas da escrita sobre si na Internet. In MARCUSCHI, Luiz Antônio e XAVIER, Antônio Carlos. Hipertexto E_Gêneros _Digitais. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. LÉVY, Pierre. Entrevista no Ciclo da Era Digital – A Sociedade em Rede e as Transformações do Mundo Contemporâneo, disponível no portal do evento em http://www.cicloeradigital.com.br/interna.php?secao=videos, acesso em 9 de setembro de 2009. MORENO, Emílio. Blog Liberdade Digital. Para quem gosta de ser livre. Disponível em http://liberdade.blogueisso.com/, acesso em 19 de setembro de 2009. OBAMA, Barack. Organizing For America Blog. Disponível em http:// my.barackobama.com/page/content/hqblog, acesso em 19 de set. de 2009. QUADROS, Claudia Irene de e SPONHOLZ, Liriam. Deu no blog jornalístico: é notícia. Revista Intexto, vol. 2, 2006, disponível em http://www.seer.ufrgs.br/ index.php/intexto/article/view/4262/4424, acesso em 12 de setembro de 2009. ISSN 1807-8583 RODRIGUES, Catarina. Blogues: entre a opinião e a participação. Livro de Actas – 4o SOPCOM – 4o Congresso Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, Aveio, Portugal, 2005. Disponível em www.bocc.ubi.pt/.../ rodrigues-catarina-blogues-opiniao-participacao.pdf, acesso em 12 de set. de 2009. ROSSI, Clóvis. Como me livro da internet livre? Jornal Folha de S.Paulo – Opinião. 17 de set. 2009. SILVA, Fernando Moreno da. O leitor de blog: configurações modal e enuciativa. Revista Signo. Santa Cruz do Sulv, v. 34, n. 56, p. 184-197, jan.-jun, 2009. Disponível em http://online.unisc.br/seer/index.php/signo/index, acesso em 13 de set. 2009. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Trad. José Carlos Bruni. São Paulo: Nova Cultura, 1999. 122 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa NEUSA INÊS PHILIPPSEN LUCIANA COSTA REPEZUK O propósito maior desse artigo é ressaltar a importância do sujeito mulher na sociedade atual, sendo ela um ser integrante e ativamente participante de todo o processo social, político e econômico em todas as instâncias da esfera humana. Desse modo, procuramos identificar como são construídos os discursos sócio-ideológico-culturais femininos no contexto contemporâneo, que identifica o lugar social do sujeito mulher dona de casa. Nossa pesquisa de campo foi efetuada no município de Sinop/MT, com dois grupos de mulheres, um residente no bairro denominado Jardim Maringá e outro no bairro São Cristóvão. Realizamos entrevistas semiestruturadas com duas mulheres de cada bairro e analisamos os efeitos de sentido apreendidos nesse corpus. O estudo de campo teve o intuito de coletar a materialidade linguística para verificar como se manifestam as construções discursivas imaginárias do sujeito mulher, que se dispõe a ser mãe, esposa e dona de casa, identificando marcas discursivas que revelem o que elas pensam a respeito do mundo que as envolve e como agem e interagem em seu ambiente familiar. Os aportes teóricos utilizados para as reflexões analíticas e a apreensão dos gestos finalizadores foram a Análise de Discurso francesa e o sociointeracionismo bakhtiniano. Por serem áreas do saber que trabalham a relação entre discurso e enunciadores, estas teorias permitiram-nos analisar as marcas deixadas nos discursos das mulheres entrevistadas, ou seja, amparados nesses aportes, analisamos, nas formulações discursivas, como se apresenta o discurso da dona de casa no ambiente familiar, com base em marcas ideológicas que as fazem pensar e agir sempre para a realização do Outro. 123 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk O DESENVOLVIMENTO DAS TEORIAS LINGUÍSTICAS : A A NÁLISE DO DISCURSO FRANCESA A humanidade sempre tentou desvendar os segredos que envolvem a língua e a linguagem. Durante toda a História encontramos pesquisadores buscando compreender a ligação que há entre signo e significado e esclarecer os mistérios relacionados à comunicação do homem. Alguns desses mistérios começaram a ser esclarecidos a partir do final do século XIX, quando os estudos linguísticos ganharam força e tiveram lugar central nas mesas de discussão de diversos pensadores. Foi através de Ferdinand Saussure (1857- 1913) que a língua começou a ser analisada enquanto estrutura, ou seja, cada palavra que falamos ocupa um determinado lugar no processo de significação da comunicação. Saussure é o responsável pela instituição da linguística como ciência, mas foi muito criticado por ter privilegiado apenas a língua e ter deixado de lado a fala. Sobre isto, Martins afirma que: Saussure atribui à língua concebida um sistema, o estatuto de objeto dos estudos lingüísticos, excluindo a fala desse campo. A língua se opõe a fala, sendo a primeira sistêmica e objetiva e a segunda concreta, variável de acordo com cada falante e, por isso, subjetiva (MARTINS, 2004, p. 03). Com base nessa discussão, iniciaram-se as reflexões sobre as teorias do discurso e do texto. Um dos primeiros pensadores a fazer críticas ao caráter estruturalista e descritivo de Saussure foi Mikhail Bakhtin (1895- 1975), pensador russo, que tratava do diálogo entre textos e a interação entre interlocutores. Castilho afirma que: Para Bakhtin todo discurso é povoado de “já ditos” (...). Em cada época, cada sociedade tem seus valores explicitados e confrontados. As palavras carregam uma carga ideológica que se concretiza como signos no movimento de interação (...) Os sentidos não estão só nas palavras, nos textos, mas na relação com a exterioridade, nas 124 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa condições em que eles são produzidos e que não dependem só das intenções dos sujeitos (CASTILHO, 2003, p.11). Apesar de Bakhtin ter tratado de assuntos relacionados ao discurso e ao texto, foi somente em 1969, com a publicação do livro Análise Automática do Discurso, de Michel Pêcheux, que acontece o marco inaugural da Análise do Discurso, doravante AD. É a partir daí que começou a se pensar o sujeito como um elemento gerador do objeto em si e o próprio objeto do discurso. Por isso, na perspectiva da AD, “o sujeito da linguagem não é o sujeito em si, mas tal como existe socialmente, interpelado pela ideologia. Dessa forma, o sujeito não é a origem, a fonte absoluta do sentido porque em sua fala outras falas se dizem”. (BRANDÃO, 1998, p. 92) A língua, portanto, não é apenas estrutura, conforme afirmava Saussure, mas sim um acontecimento, pois, a partir do momento em que produzimos um enunciado, ele deixa de ser apenas estrutural e passa a ser social, visto que aquele enunciado pode ter diferentes significados dependendo do ambiente em que é dito, ou dos valores que uma determinada sociedade tem em contraste com outra, bem como depende também das formações ideológicas que nos constituem enquanto indivíduos. Para Orlandi (2000), a AD é uma disciplina de entremeio que se estrutura no espaço que há entre a linguística e as ciências das formações sociais. Sabemos que tudo que produz linguagem pode ser considerado discurso; compreendendo essa amplitude, a AD toma como objeto de estudo o discurso, é através do discurso que o homem transmite seus conhecimentos e suas intencionalidades para outros sujeitos da linguagem. Segundo Orlandi (2000), a AD concebe a linguagem como mediação necessária entre o homem e a realidade natural e social. A AD vê na língua uma forma de significação da vida do homem na sociedade, seja como sujeito enunciador seja em qualquer posição de sujeito da linguagem em que se encontra, terá sempre uma significação do seu discurso entre os sujeitos falantes, levando em consideração também a exterioridade. Levando em conta o homem na sua história, a AD considera os processos e as condições de produção de linguagem, pela análise da 125 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk relação estabelecida pela língua com os sujeitos que as falam e as situações em que ela se produz. Para encontrar as regularidades de linguagem em sua produção, o analista de discurso relaciona a língua com a sua exterioridade (ORLANDI, ibidem, p. 16). Desse modo, para nosso estudo, levamos em consideração as condições de produção e a situacionalidade em que se manifestaram as construções discursivas imaginárias do sujeito mulher dona de casa com base nas marcas enunciativas apreendidas nas formulações do corpus. IDEOLOGIA: NOÇÕES DISCURSIVAS E SOCIOINTERACIONISTAS Segundo Miotello (2008), Ideologia é um conceito fundamental abordado nos trabalhos de pesquisa de M. Bakhtin e do seu Círculo. Para esse autor, o sociointeracionismo bakhtiniano já define nos anos 30 do século passado um conceito para ideologia. “Por ideologia entendemos todo o conjunto dos reflexos e das interpretações da realidade social e natural que tem lugar no cérebro do homem e se expressa por meio de palavras [...] ou outras formas sígnicas” (BAKHTIN apud MIOTELLO, 2008, p. 160). De acordo com esses pressupostos teóricos, adotados como centrais em nossa pesquisa, o sujeito significa-se por suas relações sociais e históricas, já que seu discurso é constituído nas interações com outros sujeitos, o que determinará sua forma de pensar e agir na sociedade. Para Bakhtin e seu Círculo, a ideologia não deve ser vista como algo já dado e pronto e muito menos ser pensada individualmente. Segundo esse autor, a ideologia é construída “na concretude do acontecimento, e não na perspectiva idealista” (Idem, 2008, p. 168). Portanto, a ideologia sedimenta-se, consolida-se no momento em que ela se torna “senso comum”, quando todos pensam da mesma maneira, espontaneamente, sem se darem conta dos interesses particulares ocultos. Populariza-se, tornando-se um conjunto de ideias e valores sistematizados, coerentes, aceitos por todos, inclusive os que supostamente se opõem à dominação existente e imaginam uma sociedade alternativa. Tal consolidação 126 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa social caracteriza-se pela interiorização das ideias e valores emergentes pela consciência de todos, até os que não pertencem a setores dominantes. Ainda conforme Miotello, “a ideologia é o sistema sempre atual de representação de sociedade e de mundo construído a partir das referências constituídas nas interações e nas trocas simbólicas desenvolvidas por determinados grupos sociais organizados” (MIOTELLO, ibidem, p. 176). Destacamos para esse contexto de pesquisa, que a ideologia dominante é patriarcal, pois o homem considera-se o princípio de poder na sociedade, na política e na religião. À mulher cabe o papel de dependência e obediência. A forma de pensar e agir da sociedade sobre a mulher como um ser “frágil e delicado” partiu de grupos sociais, políticos, econômicos, dominados pelo sexo masculino. A história mostra-nos que o homem em quase todos os modelos sociais tem papel de provedor. O homem estabeleceu as diferenças sexuais em que o sexo masculino qualifica-se como superior e o feminino como inferior. E, por ser superior, forte e provedor da casa, coube a ele acesso à ciência e ao conhecimento e deu à mulher o certificado de inferior por ser considerada dócil, frágil, e delicada. Para o homem, o único ambiente que a mulher estava realmente preparada para “comandar” era o lar, contudo, sob a supervisão masculina. B REVE CONTEXTO HISTÓRICO SOBRE A POSIÇÃO SUJEITO MULHER NA SOCIEDADE Para contextualizar a mulher moderna, é preciso voltar um pouco na história. Assim, desde a constituição da sociedade ocidental, construída com base em um modelo cristão, a figura feminina foi idealizada para ser mãe, frágil, amorosa, entre outras qualidades impressas na identidade da mulher no decorrer da história da civilização. Todas as concepções idealizadas para a mulher refletem diretamente na forma como as famílias educavam suas filhas, desenvolvendo uma cultura e valores que enfatizam a mulher como sexo frágil e inferior ao homem. Nesse contexto histórico, observa-se que a figura feminina brasileira do século XIX estava sempre em segundo plano em comparação ao 127 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk masculino, principalmente nas relações econômicas e políticas, em que a mulher não tinha participação direta e ficava à margem no plano social. As relações entre os homens e as mulheres e a conseqüente posição da mulher na família e na sociedade constituem parte de um sistema de dominação mais amplo. Por essa razão, a análise da posição social da mulher na ordem escravocrata senhorial (...) exige que se caracterize a forma pela qual se organizava e distribuía o poder na sociedade escravocrata brasileira, época em que se formaram certos complexos sociais justificados hoje em nome da tradição (CERDEIRA, 2009, p.2). Vista como um indivíduo inferior ao masculino, a figura feminina não participava das ações do marido na vida social, era somente como uma espécie de “enfeite”, “adorno” para os casos de encontros que requeriam sua presença. Essas características eram bastante evidentes na sociedade colonial, momento em que a organização familiar era basicamente patriarcal. Segundo Stein, era formada por “um núcleo central, legalizado, composto pelo casal branco e por seus filhos legítimos; e um núcleo periférico, constituído de escravos e agregados, índios, negros, mestiços, no qual estavam incluídos as concubinas dos chefes e seus filhos ilegítimos” (STEIN, 1984, p. 22). Toda a autoridade familiar ficava relegada estritamente ao homem que comandava tudo e todos. Dessa forma, o homem também controlava os casamentos de suas filhas, que se obrigavam a casar com maridos à escolha de seus pais. Muitas vezes ao nascerem já tinham um pretendente em vista e isso deveria ser seguido de forma muito rigorosa e sem escolha para a jovem mulher. Assim, o casamento consistia em um negócio em que o pai dava sua filha em troco de vantagens na política, no domínio das terras, para manter o poder e a dominação nas mãos de certas famílias. As mulheres, dentre elas destacamos as das classes sociais mais elevadas economicamente, estavam subordinadas ao poder do patriarca e, na maior parte das vezes, não recebiam educação escolar, sua educação res- 128 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa tringia-se ao cuidado com a casa. A mulher era educada única e exclusivamente para ser uma boa esposa, sem questionar, sem criticar e sem reagir aos costumes da época. Seu destino estava nas mãos dos pais e depois passava ao domínio do marido; assim, a mulher não possuía liberdade de escolha. Conforme Stein: No Brasil colonial, era comum que famílias enviassem suas filhas a instituições religiosas quando não encontrassem casamento condizente com sua posição social. Era uma maneira de preservar a honra da menina e oferecer-lhe uma vida considerada dignificante. Alguns pais e maridos usaram também o convento como uma espécie de casa de correção para mulheres de conduta moral indesejável (STEIN, Ibidem, p. 31). Desta forma, à jovem mulher cabia preparar-se para o casamento, momento em que passava a assumir a função de esposa, dona de casa e, em seguida, de mãe. Essas tarefas requeriam plena dedicação da mulher, que a partir do casamento não deveria exercer outra função. Assim, na sociedade brasileira, a instituição familiar deveria representar a base da preservação dos bons costumes, e isso foi disseminado largamente pela Igreja Católica, que compreende a família como o lugar da convivência conjugal, que precisa ser resguardada. A figura feminina, nesse processo de preservação, tem o dever de manter a harmonia e a estabilidade do lar, incluindo o bem-estar do esposo e filhos. Nesse contexto, na moral cristã, pregando a obediência, a segregação da mulher, relegava-se ao lar e à família, pelo casamento, ou destinavaa ao convento, únicas instâncias passíveis de oferecerem a ela a proteção necessária contra os vícios e os pecados mundanos e de preservarem-na de sua própria “natureza”. À mulher cabia a submissão, a obediência, o recato e ignorância (LUCENA, 2003, p.20). A figura feminina, portanto, era sinônima de fragilidade e não deveria possuir nenhum tipo de habilidade profissional, a única habilidade consen- 129 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk tida eram os cuidados com a família. Stein (1984) evidencia que o casamento era como uma “carreira” para a mulher, que desde muito jovem já visualizava sua vida tendo como único ideal o casamento. Segundo esta autora, não é exagero afirmar que o casamento para as mulheres era como se fosse uma carreira política ou a representação de status e riqueza, desse modo, ela deveria manter a harmonia no lar de tal forma que colocasse o homem em uma posição de bem-estar para que este tivesse sucesso, pois esse sucesso refletiria em conquista para si mesmo, a mulher se realizava com as conquistas do marido. Como destaque da imagem construída para a mulher, observa-se a fragilidade física da qual deveria decorrer a delicadeza e a moral. A inferioridade da mulher em relação ao homem, segundo Nascimento: (...) se manifestava pelo predomínio das faculdades afetivas. A fraqueza, a sensibilidade, a doçura, a castidade, o recato e a submissão eram considerados virtudes essenciais ao sexo feminino. A maternidade era vista como uma função natural que enaltecia a mulher, além de desenvolver seus sentimentos maternais tão importantes para a família e para a sociedade. Qualquer atividade feminina que não fosse a de mãe e esposa era vista como desviante (NASCIMENTO, 2009, p. 84). Da inferioridade resultava a submissão e, submetida aos ditames masculinos, a mulher não tinha direito, nem mesmo queria o direito de uma educação mais longa, senão apenas o aprender ler e escrever, alguns ensinamentos sobre piano, música, entre outras artes musicais que poderiam alegrar o convívio familiar, nada mais que isso. Lucena ressalta a falta de educação formal da mulher informando que: Sua formação cultural limita-se – no caso das famílias não ricas – a rudimentos de escrita e das operações fundamentais. Às meninas mais abastadas ensinavam também o francês, a música, as artes. A todas, porém, era destinado o casamento, o cuidado da casa e dos filhos, o silenciar da sua expressão (LUCENA, 2003, p. 83). 130 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa Voltada para os afazeres domésticos permaneceu a educação feminina durante décadas, o que prejudicou, sem dúvida, o desenvolvimento de anteriores concepções em busca da liberdade feminina. Sem uma expressão mais significativa na sociedade e sem poder expressar sua própria vontade, as mulheres “casavam-se, via de regra, tão jovens que aos vinte anos eram praticamente consideradas solteironas” (LUCENA, Ibidem, p. 85) Nesse processo histórico, a mulher somente começou a sentir o gosto pela liberdade quando passou a “frequentar a escola”. Embora hoje pareça natural ter comumente a mulher à frente das salas de aula, esse processo de conquista não foi tão fácil. Lucena ressalta que: As mulheres só entraram para o magistério no final do século XIX, com as escolas normais e com a formalização da própria preparação para o magistério. Foi o momento em que os homens abandonaram bastante a sala de aula e as mulheres passaram a ocupá-la. Alguns autores dizem que isso aconteceu porque a sociedade começou a viver o processo de industrialização e urbanização que abriu um leque de possibilidades de trabalho bem mais amplo e que fez com que esses trabalhos fossem assumidos pelos homens, já que às mulheres era destinado o lar (LUCENA, Ibidem, p. 114). Desse modo, instaurou-se, gradativamente, um novo processo de identificação feminina que possibilitou um avanço na busca por reconhecimento e participação na vida social. No decorrer da história e principalmente no atual contexto, percebese que a mulher tem desempenhado, simultaneamente, “vários papéis na sociedade: mãe, esposa, dona de casa, conselheira e, em muitos casos, a provedora do sustento familiar” (Idem, p. 107). Essa dinâmica multiplicidade de funções tornou-se mais evidente nos dias de hoje, pois a própria mulher se sente impelida a prestar todas essas atividades quando necessário; o foco da atividade feminina, portanto, não é mais apenas a família. De acordo com Kolontai: O tipo fundamental da mulher está em relação direta com o grau histórico do desenvolvimento econômico por que atravessa a huma- 131 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk nidade. Ao mesmo tempo em que se experimenta uma transformação das condições econômicas, simultaneamente à evolução das relações da produção, experimenta-se a mudança no aspecto psicológico da mulher (KOLONTAI, 2007, p. 15). Assim, a mulher se vê em meio a uma transformação espantosa da sua existência e isso a deixa confusa, tendo que rever seus conceitos de vida, sua moral, costumes e comportamentos. A nova mulher que surge na sociedade atual encontra um processo de transformação dos valores, que, contudo, podem ser abafados pela tradição e por uma série de pensamentos conservadores. Nesse contexto, a mulher ainda busca sua libertação, porque não é fácil se libertar de valores, crenças e moral que sempre estiveram ao seu redor e que a constituíram enquanto pessoa, enquanto herança de uma época em que a mulher era a sombra do homem. O TRABALHO NA VIDA DA MULHER MODERNA Constata-se que, atualmente, a maioria das mulheres exerce uma atividade profissional remunerada, todavia, a cultura de que o trabalho doméstico é estritamente feminino, permanece em vigor. Todos os estudiosos concordam com que, mesmo em estudos sugerindo que os maridos de mulheres empregadas fazem estatisticamente mais (trabalho doméstico), o aumento é pequeno na grandeza absoluta e as mulheres empregadas continuam a fazer o grosso trabalho familiar (PLECK apud GREER, 2001, p. 144). Segundo Greer, muitas pessoas ainda não reconhecem as atividades domésticas realizadas pela mulher como um trabalho, para essas pessoas o serviço doméstico é mera obrigação já que ela deixou seu ambiente familiar para exercer uma função extra e, ao escolher a vida profissional, ela deve estar ciente de suas funções como mãe, dona de casa, esposa e profissional, ou seja, precisa conciliar todas essas funções sem reclamar. 132 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa O trabalho feminino não remunerado pode ser comparado ao trabalho dos animais, pois este fica à margem das estatísticas e não é computado em dados numéricos, bem como não recebe o devido valor e remuneração. Ainda de acordo com Greer, “o trabalho não remunerado em todo o mundo é completamente feminino” (GREER, Ibidem, p. 145). Essa análise leva a crer que a mulher, principalmente a casada e com filhos, dedica pouquíssimas horas do seu tempo ao lazer, indicando que o lazer é um privilégio do homem, pois para eles os finais de semana são seus momentos de folga, enquanto que para as mulheres continua a rotina doméstica. Greer ressalta também que os homens utilizam os finais de semana para desenvolver, praticar ou assistir algum tipo de esporte, enquanto que para as mulheres esse tempo é utilizado para pôr em dia as atividades domésticas acumuladas durante a semana, “(...) as mulheres foram condicionadas a acreditar que o trabalho dos homens é mais duro e estressante que o delas, o que é uma balela” (Idem, p. 146). Todavia, para Masi: O trabalho pode ser um prazer se, justamente, for predominantemente intelectual, inteligente e livre. Junto com o cansaço pode provocar euforia. O cansaço psíquico obedece a outras leis, diferentes das que se aplicam ao cansaço físico. Quando é físico, traz prostração. Quando é psíquico, mental, se for unido a uma grande motivação, pode até nem ser percebido. (MASI, 2000, p.223) Vale ressaltar, portanto, que se o trabalho realizado pela mulher for prazeroso e a satisfizer, então ele não deve ser visto como algo opressor, desde que as mulheres gostem do que estão fazendo. A MULHER E A MATERNIDADE Assim como na maioria das relações humanas, a conexão entre a mulher e a vontade ou não de ser mãe é bastante complexa, e, optando pela 133 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk maternidade, torna-se ainda mais conflituosa quando passa a conviver com os filhos. Para Greer esta relação está baseada no sofrimento, pois: Assim que uma mulher tem um filho, sua capacidade para sofrer amplia-se e aprofunda-se além de qualquer coisa que já até então imaginara. Se as relações com o filho são boas ou más, se os filhos vão ser doentes ou saudáveis, eles a farão sofrer, porque ela é muito menos importante para eles do que eles para ela (GREER, 2001, p. 228). Atualmente, esta relação está cada vez mais difícil. Com a ida da mulher para o mercado de trabalho não há muito espaço para a maternidade, assim, as mulheres se veem num dilema: “ter ou não filhos”. Quando os têm a vida fica ainda mais difícil, pois é torturante deixar o filho em casa nas mãos de outras pessoas, mesmo sendo parentes. Diante dessas situações decisivas, a mulher, tortura-se psicologicamente, perguntando-se se dará ou não conta de conviver com essa situação. Por outro lado, existe ainda a cobrança da sociedade que não admite a vida conjugal sem filhos, dessa forma, a mulher se vê em meio a um monstruoso jogo de interesses que a deixa confusa, e, como se não bastasse, quando decide ser mãe, após a maternidade há a preocupação com a recuperação da forma física, pois a sociedade exige que a mulher se mantenha bela durante e após o parto. E, ainda, se ela tem apenas um filho a cobrança passa a ser ter dois, enfim, a mulher convive com essas cobranças diárias, o que faz que ela exija além do necessário de si mesma e acaba tornando a maternidade um ato penoso de anulação de suas vontades. CONTEXTO SOCIOIDEOLÓGICO DE PESQUISA: BAIRROS SELECIONADOS O espaço geográfico escolhido para a realização de nossa pesquisa foi a cidade de Sinop, um município brasileiro do Estado de Mato Grosso considerado polo do norte de Mato Grosso. A cidade situa-se a 503 quilômetros ao norte de Cuiabá, servida pela BR-163 (Cuiabá-Santarém) e conectada a todos os municípios com os quais faz fronteira por rodovias 134 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa estaduais. Sinop é considerada uma das quatro maiores cidades de Mato Grosso e sua principal atividade econômica é a madeireira, com grande destaque também para o setor agropecuário e para a soja, que fortalece a economia da cidade. Sinop, atualmente, é uma cidade planejada, 1 observando critérios urbanísticos modernos, com traçado regular e quadras interligadas por mais de 480 quilômetros de ruas e avenidas. As áreas residenciais são limitadas por avenidas de até 50 metros de largura, com calçadas que podem alcançar 7 metros. A maioria das ruas tem 20 metros de largura, com calçadas de aproximadamente 5 metros. Existem praças, reservas naturais e áreas de lazer. Muitas avenidas e ruas levam nomes de árvores e flores, como Acácias, Sibipirunas, Jequitibás, Tarumãs, Palmeiras, Orquídeas, Avencas, Azaleias, Lírios e Violetas. O desenvolvimento acelerado de Sinop nos últimos anos provocou a urbanização e o aumento de vários bairros. Esse breve resgate e apresentação sócio-histórica da cidade importa para o nosso estudo no sentido de mostrar dados condizentes à realidade econômico-cultural dos sujeitos da pesquisa, as donas de casa residentes nos bairros São Cristóvão e Jardim Maringá. Bairro Jardim Maringá O bairro Jardim Maringá2 foi um dos espaços geográficos em que realizamos a coleta de dados para o corpus discursivo, composto por entrevistas de donas de casa residentes nesse local. Para tanto, evidenciamos, muito brevemente, por falta de materialidade teórica consistente, o seu contexto sócio-histórico e econômico. Esse bairro foi lançado em 1997 pela Colonizadora Sinop. O loteamento é composto de infraestrutura completa: energia elétrica, água tratada, pavimentação asfáltica e arborização. Tudo isso reunido em excelente localização, próximo ao centro da cidade. O lotea1. Dados constantes no endereço eletrônico: www.camarasinop.mt.gov.br, acessado em 18 de junho de 2009. 2. Informações constantes no endereço eletrônico: www.sub100.com.br, acessado em 22 de junho de 2009. 135 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk mento é considerado o mais nobre da cidade de Sinop, o preço de um imóvel neste bairro custa aproximadamente R$ 200.000.00 (duzentos mil reais). A população desse bairro gira em torno de 1500 pessoas. O que o caracteriza como nobre não se restringe apenas à infraestrutura adequada que o bairro oferece, mas também pelo conjunto de pessoas que nele moram, sendo em sua maioria empresários, pecuaristas, agricultores e políticos da cidade. Bairro São Cristóvão O bairro São Cristóvão3 é outro espaço geográfico delimitado para a coleta de dados que compõem o corpus de entrevistas de donas de casa ali residentes. Esse bairro é considerado um dos pioneiros da cidade, cuja população apresenta em média 800 pessoas. Possui rede elétrica, água tratada e asfalto em quase toda a sua extensão. Sua população é considerada de classe baixa, e está localizado a 8 (oito) quilômetros do centro da cidade. O preço de um imóvel neste bairro custa aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Com base nas diferenças de valorização dos imóveis de cada bairro fica evidente a diferença social que queremos mostrar entre os dois. Portanto, o corpus de nossa pesquisa apresenta entrevistas realizadas com mulheres/ donas de casa, escolhidas aleatoriamente, residentes nesses dois bairros. O propósito das análises é evidenciar as ideologias que norteiam o discurso dessas donas de casa e se há inferências de sua classe social evidenciadas nos fios discursivos, bem como o que as levou a optar pelo trabalho doméstico. TECERES ANALÍTICOS Como vimos, o corpus de pesquisa de análise foi coletado nos dois bairros acima citados, nos quais entrevistamos duas mulheres de cada um, sendo que todas exerciam funções exclusivamente de donas de casa. As idades de 3. Informações obtidas com o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Sr. Mauri Rodrigues de Lima, no dia 26 de junho de 2009. 136 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa nossas entrevistadas variam entre 18 (dezoito) a 40 (quarenta) anos. Todas têm de um a dois filhos, sendo que as do bairro São Cristóvão têm filhos ainda bebês, de no máximo 1 (um) ano; já no Jardim Maringá os filhos de nossas entrevistadas têm entre 10 (dez) a 18 (dezoito) anos. Vale destacar que as mulheres dos dois bairros são todas casadas e vivem em seu primeiro casamento. A seguir, transcreveremos os resultados obtidos pelas marcas enunciativas trazidas nas formulações discursivas selecionadas. Nomeamos o grupo de mulheres do Bairro Jardim Maringá de M1 (M1a e M1b) e do bairro São Cristóvão de M2 (M2a e M2b), para assim identificar quem estamos apresentando. O DISCURSO DAS DONAS DE CASA DO BAIRRO JARDIM MARINGÁ O primeiro grupo a ser analisado é o das donas de casa do bairro Jardim Maringá, denominado de M1 (M1a e M1b). Com base nas entrevistas, conseguimos identificar que as donas de casa desse grupo possuem curso superior, vivem em seu primeiro casamento e ambas têm dois filhos. Com essas informações podemos afirmar que há um novo perfil de dona de casa, desconsiderando as hipóteses que retratam que a mulher que ocupa essa função é um sujeito sem conhecimento científico/formal, pelo contrário, verificamos que as donas de casa do Jardim Maringá são mulheres “cultas”. Assim, resta investigar o porquê dessa escolha em ser dona de casa. São a essas marcas que nos ativemos para dar continuidade ao nosso fio reflexivo. De acordo com essa linha de raciocínio, perguntamos às nossas entrevistadas quando elas optaram por ser donas de casa, e as duas responderam que foi quando se casaram, pois gostariam de cuidar de sua casa e de seu esposo, como podemos comprovar abaixo. Entrevistadora: Desde quando você optou por ser dona de casa? M1a: Eu sou dona de casa desde que me casei em 1996, quando casei quis cuidar da minha casa e do meu marido, porque ele disse que eu não precisava mais trabalhar, que podia ficar em casa e daí eu pensei e vi que não compensava deixar minha casa nas mãos de outras pessoas. 137 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk M1b: Ah! Sou dona de casa desde que casei. Meu marido não quis que trabalhasse fora e eu achei melhor cuidar eu mesma da minha casa. No início fazia tudo sozinha, depois comecei a ter empregada daí eu só comandava agora e orientava e é assim até hoje. Nas formulações discursivas apresentadas acima, podemos constatar que nossas entrevistadas tinham uma atividade profissional antes de se casarem. Após o casamento, de acordo com os fragmentos em destaque de M1a e M1b, o esposo teve uma influência indispensável para ambas escolherem ser donas de casa e para assim poderem cuidar da sua casa pessoalmente. O argumento do marido de que elas não precisavam trabalhar mais, supostamente, justifica a escolha de não deixar a casa nas mãos de outras pessoas, por isso elas teriam optado em ser do lar, como podemos ver nas marcas de M1a, “quis cuidar da minha casa”, e em M1b, “eu achei melhor cuidar eu mesma da minha casa”. A opção, contudo, reflete uma submissão aos desejos do marido, que quis que elas se dedicassem melhor à sua casa. Entrevistadora : Você sente-se realizada como mulher sendo dona de casa? M1a: Sim, claro que me sinto realizada, porque nem todas as mulheres podem cuidar da sua casa, do seu marido e dos seus filhos como eu. M1b: Sim, claro que me sinto realizada, porque depois que faço meu serviço, tomo meu banho, me arrumo e espero meu marido chegar. Nas formulações discursivas acima se verifica, novamente, a posição de servidão da mulher perante seu marido e filhos. A mulher com toda a sua dedicação anula-se completamente, seus desejos e vontades voltam-se para o bem estar e satisfação da família. M1b mostra, no fragmento “tomo meu banho, me arrumo e espero meu marido chegar”, a representação da mulher dócil, objeto masculino, sempre pronta a atender aos seus desejos. Ser mulher, conforme apresentado nos fragmentos, significa sempre doação, amor e dedicação ao outro. Como vemos, há uma reprodução do processo histórico-culturalideológico patriarcal no qual a mulher cresceu sendo educada para servir, a 138 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa ela foi determinada a responsabilidade pelo equilíbrio do seu ambiente familiar. Desse modo, concordamos com Kolontai (2007), quando diz que o processo de transformação de comportamento da mulher é lento não só no intelecto masculino, mas principalmente no intelecto feminino que se auto flagela ao tentar manter uma família feliz e ser bem sucedida, ou seja, os velhos arquétipos sociais confundem-se muito com os novos arquétipos da nova mulher, ela mesma não os compreende e, muitas vezes, a mulher tenta viver nesses dois mundos, sendo nem triste nem feliz, apenas confortável. “A mulher transforma-se gradualmente. E de objeto da tragédia masculina converte-se em sujeito da sua própria tragédia” (KOLONTAI, 2007, p. 26). Entrevistadora : Você pretende voltar ao mercado de trabalho? M1a: Com certeza, ainda este ano. M1b: Nunca digo nunca, mas no momento quero me dedicar à minha família mesmo, curtir meu marido, quem sabe no futuro. Essas últimas respostas reiteram o equívoco retratado por Orlandi (2000), pois o enunciado nessas formulações torna-se outro, ou seja, M1a, que até então se dizia feliz e realizada com o trabalho doméstico, responde enfaticamente que quer retornar ao mercado de trabalho e a mesma leitura pode ser feita quando M1b diz “quem sabe no futuro”. Esse equívoco reflete a posição sujeito mulher na sociedade atual, clivada, dividida ainda entre as suas “obrigações” de mãe e esposa e a realização profissional. Assim, caso ela consiga desvencilhar-se de toda essa carga cultural da mulher escravizada e oprimida talvez possa enquadrar-se no perfil de mulher moderna descrita por Kolontai: “O novo tipo da mulher, que é interiormente livre e independente (...) não quer mulheres sem personalidade, no matrimônio e no seio da família, nem mulheres que possuam as virtudes femininas – passividade e submissão. Necessita de companheiras com uma individualidade capaz de protestar contra qualquer servidão, que possam ser consideradas como um membro ativo, em pleno exercício dos seus direitos, 139 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk e, conseqüentemente, que sirvam à coletividade e à sua classe. (KOLONTAI, 2007, p. 20) Nesse contexto, é importante que a mulher pós-moderna crie novos valores morais, sociais e até sexuais. Faz-se necessário destruir os velhos princípios de submissão, pois, segundo Kolontai, as mulheres que exercitam sua vida profissional são as que dão ritmo à vida e determinam a figura da mulher que caracteriza uma determinada época. O DISCURSO DAS DONAS DE CASA DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO Depois de apresentarmos as reflexões analíticas do discurso das donas de casa do bairro Jardim Maringá, exporemos recortes do dizer das donas de casa do bairro São Cristóvão. As donas de casa desse contexto foram nomeadas como M2a e M2b. Verificamos que as duas entrevistadas possuem o ensino médio completo, é o primeiro casamento de ambas e cada uma tem um filho com no máximo um ano de idade. Ao perguntarmos quando elas optaram em ser donas de casa, M2a e M2b disseram, unanimemente, que foi quando tiveram filhos, pois queriam participar da maternidade e do crescimento do filho, conforme as formulações abaixo. Entrevistadora: Desde quando você optou por ser dona de casa? M2a: Eu sempre trabalhei fora, porque nunca gostei de fazer serviço de casa, mas quando eu decidi ter filho eu optei por ficar em casa e aproveitar minha gravidez, desde então sou dona de casa. Agora eu cuido da minha casa e do meu filho e estou muito feliz por poder participar da vida do meu filho. M2b: Sempre fui muito ativa, trabalhei fora desde meus 14 anos, depois me casei e continuei trabalhando, nunca pensei em ser dona de casa na verdade sempre tive aversão a isso, mais daí engravidei e resolvi parar de trabalhar para acompanhar minha gravidez e cuidar da minha filha, desde então passei a exercer todas as funções de uma verdadeira dona de casa. 140 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa Nos fragmentos acima observamos que M2a e M2b tinham uma vida profissional ativa antes de engravidarem e, ao contrário das donas de casa do bairro Jardim Maringá, negam a condição de dona de casa, pois, segundo M2b, “na verdade sempre tive aversão a isso” e, nas duas formulações, é a gravidez que as leva a optar por acompanhar a gestação, o nascimento e os primeiros anos dos filhos, adiando a vida profissional por pensarem que não compensaria sair de casa para trabalhar deixando seus filhos com outras pessoas. Percebemos, dessa forma, que as donas de casa entrevistadas nesse bairro passaram a ser donas de casa quando tiveram seus filhos, assim, temos nesses fragmentos uma acentuada ênfase às “obrigações” da mulher em relação à maternidade. Entrevistadora: Você sente-se realizada como mulher sendo donas de casa? M2a: Olha, eu meu sinto realizada sim por poder participar da criação da minha filha, que é primordial na minha vida. M2b: Claro que me sinto realizada, eu cuido da minha filha e do meu marido e da minha casa. Mas também acho que sentiria bem mais realizada se pudesse curtir mais minha filha fora de casa, pudesse passear mais com ela sem se preocupar com o serviço de casa, às vezes se tivesse uma empregada curtiria mais ainda ela e não estressaria limpando casa, lavando e passando, porque isso eu nunca gostei de fazer, falo que não nasci pra isso, estou fazendo porque não acho justo meu marido chegar em casa e estar tudo bagunçado, né. Nessas formulações discursivas podemos observar que elas dizem sentirem-se realizadas com a função de dona de casa em parte, sua satisfação está ligada ao fato de poderem participar ativamente da vida de seus filhos, mas, ao abordarem os afazeres domésticos, a satisfação diminui. M2b deixa claro em seu discurso que ela não nasceu para exercer essa função de passar, limpar e cozinhar e que a faz por obrigação e para agradar ao marido. Mais uma vez vemos que a mulher é submissa dentro do próprio ambiente ao qual a ela foi designado há milênios, “o lar”. Insatisfeita, ela não consegue dizer 141 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk não às suas “obrigações” domésticas e optar por fazer apenas o que lhe convém. A mulher pensa em primeiro lugar no outro (marido e filhos) e, assim, dá continuidade ao assujeitamento em que anula suas vontades. O continuum desses paradigmas impostos pela sociedade caracteriza-se pela servidão e anulação da mulher dona de casa. Para Kolontai, “já é hora de ensinar a mulher a não considerar o amor como base única de sua vida” (KOLONTAI, 2007, p. 25), faz mais que necessário a mulher compreender que o amor aos filhos e ao marido não pode ser superior ao seu próprio bem-estar, pois a vida vai muito além do ambiente familiar e é preciso que a mulher tome a iniciativa de mudar sua maneira de pensar e colocar essas mudanças em prática em suas atividades do dia-adia. Entrevistadora : Você pretende voltar ao mercado de trabalho? M2a: Claro que sim, é só meu filho crescer um pouco mais, quando ele for pra escola eu volto a trabalhar e quem sabe fazer uma faculdade também. M2b: Sim, com certeza quando minha filha tiver maior e for pra escola, daí vou trabalhar e terminar minha faculdade que está trancada. Segundo Miotello: O conjunto de signos de um determinado grupo social forma o que Bakhtin chama de universo de signos. E todo signo, além dessa dupla materialidade, no sentido físico-material e no sentido sócio-histórico, ainda recebe um “ponto de vista”, pois representa a realidade a partir de um lugar valorativo, revelando-a como verdadeira ou falsa, boa ou má, positiva ou negativa, o que faz o signo coincidir com o domínio do ideológico. Logo, todo signo é signo ideológico (MIOTELLO, 2008, p. 170) Com isso podemos evidenciar que as donas de casa do bairro São Cristóvão apresentam sentidos e marcas ideológicas semelhantes aos das donas de casa do bairro Jardim Maringá, trazem em seu discurso que a função 142 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa de donas de casa que executam é primordial para o bem estar e equilíbrio da sua família, elas sentem-se a “espinha dorsal” da sua casa. Os discursos, independentemente da classe social em que estão inseridos, não conseguem se desprender das marcas ideológicas patriarcais que constituíram essas mulheres como sujeitos sociais. Na prática, estão vinculadas às mesmas ideologias reproduzidas pelas mães e avós e não conseguem realizar mudanças de pensamento e comportamento, desse modo, raramente promoverão uma mudança de comportamento, normalmente elas desistem do enfrentamento, bem como de salientar seu posicionamento perante os valores “ultrapassados”. A ânsia de mudanças, contudo, está presente nos enunciados. Refletese, fundamentalmente, no momento em que elas demonstram vontade e disposição para retornarem ao mercado de trabalho e, no caso das donas de casa do bairro São Cristóvão, aos estudos. Enfatizam, dessa forma, que ser dona de casa é apenas uma condição provisória. CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS FINAIS Com base no que foi exposto nos fragmentos das entrevistas referentes aos dois grupos pesquisados, podemos identificar que tanto a dona de casa do bairro Jardim Maringá quanto a do bairro São Cristóvão carregam em seu discurso muito mais semelhanças do que diferenças, pois, independentemente da classe social, todas reproduzem nos fios discursivos que o primordial em suas vidas é o bem-estar de sua família e que se sentem como pilares indispensáveis para seu bom funcionamento. Cabe a elas, portanto, dedicarem-se a seu papel de dona de casa para manterem sua família harmoniosa, educarem seus filhos e estarem sempre à disposição do esposo. O discurso das mulheres pesquisadas carrega marcas ideológicas da mulher tradicional, que está na posição de servir, de submissão e de anulação de suas vontades para corresponder aos anseios e desejos de marido e filhos. A mulher, nesse contexto de pesquisa, ainda se comporta conforme os padrões impostos pelas famílias no século XIX e parte do século XX, mesmo depois de todo processo de mudança psicológica e comportamental, 143 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk constatamos que na pós-modernidade em que nos encontramos o discurso das mulheres donas-de-casa revela características comportamentais e discursivas do predomínio de uma sociedade ainda patriarcal, na qual os valores religiosos foram fundamentais para a instauração e manutenção dos valores que impõem à mulher a responsabilidade pelo bom funcionamento de sua família, ou seja, para que seu esposo alcance sucesso profissional e os filhos possam ter o acompanhamento da mãe em seu desenvolvimento. Contudo, o que elas não percebem é que há claramente uma anulação do Eu mulher. Nessa suposta “escolha” em ser dona de casa há sempre a necessidade de satisfazer o Outro. Mas, o que faz a mulher pensar dessa forma é todo o ambiente sociocultural e histórico no qual a mulher é educada e assujeitada. Mesmo a mulher mais jovem ainda se sente pressionada por uma sociedade em que homens e mulheres exigem da mulher a obrigação em dedicar-se ao marido e aos filhos e que, se escolher outro ambiente de satisfação pessoal, não pode esquecer seu lar, que deve estar sempre em primeiro lugar. Caso queira ter uma atividade profissional não deve se preocupar exclusivamente com isso, não pode esquecer que foi educada para manter a harmonia e a estabilidade do seu lar. Em nossas análises, verificamos que, “supostamente”, nossas donas de casa pesquisadas se sentem confortáveis e satisfeitas com a posição que ocupam na sociedade, contudo, reiteramos que essa é uma construção ideológica e cultural que faz que elas se sintam como agentes primordiais para o bom desempenho da família, sem perceber as marcas ideológicas que as levam a reproduzir esse posicionamento de mulher realizada e feliz, tal como o faziam as mulheres do passado e que foram repassados a elas por meio de ensinamentos religiosos e educação rudimentar, alienando-as de suas verdadeiras escolhas. Nesse contexto, a ideologia manifesta-se como o reflexo imposto pela sociedade ao sujeito. Este está propenso a acreditar que tudo que fala foi ele quem criou devido ao próprio meio lhe dar condições para tal análise, todavia, o sujeito é dominado e condicionado pela ideologia vigente. Enfim, consideramos que este trabalho de pesquisa sobre as ideologias que norteiam o discurso da dona de casa do bairro Jardim Maringá e do bairro 144 Na trama de gestos discursivos e ideológicos: o tecer de sentidos no dizer de donas de casa São Cristóvão apresentou-nos marcas discursivas que revelam que a mulher atual, dona de casa, não conseguiu se desvincular dos valores e princípios repassados a ela por seus antepassados em interações discursivas. Notamos que essa mulher, mesmo pensando de forma diferente, ainda carrega uma carga ideológica muito forte sobre a responsabilidade do lar, ela não conseguiu afastar-se do elo entre ela e o lar instituído pela sociedade patriarcal no decorrer da história. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à Análise do Discurso. 2ª reimpressão da 7ª edição – Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1998. CASTILHO, Maria Fátima. Análise do Discurso: elementos para uma nova abordagem da linguagem na escola. Sinop: UNEMAT, 2003. CERDEIRA, Cleide Maria Bocardo. Os primórdios da inserção sócio cultural da mulher brasileira. Disponível em: http:// unibero.edu.br/dowload/ revsitaeletronica/Marc04_Artigos/Cleide%20B%20Cerdeira.pdf. Acesso em 10 de maio de 2009. GREER, Germaine. A mulher inteira. Rio de Janeiro: Record, 2001. KOLONTAI, Alexandra. A nova mulher e a moral sexual. 3ª ed. São Paulo: Expressão Popular, 2007. LUCENA, Maria Inês Ghilardi (org). Representações do feminino. Campinas: Átomo, 2003. MARTINS, Antonio Carlos Soares. Linguagem, Subjetividade e História: a contribuição de Michel Pêcheux para a cosnstituição da Análise do Discurso. Unimontes Científica V.6 nº 1, Janeiro/junho de 2004. Disponível em: www.unimontes.br/unimontescientifica/revista/anexos/artigos/revista_v6_n1/ 1. Acesso em 22/10/2008. MASI, Domênico de. O ócio criativo. Traduçaõ Lea Manzi. Rio de Janeiro: Sextante. 2000. MIOTELLO, Valdemir. Ideologia. In: BRAIT, Beth (org.). Bakhtin: conceitoschave. 4. Ed., 1ª reimpressão. São Paulo: Contexto, 2008. 145 Neusa Inês Philippsen / Luciana Costa Repezuk NASCIMENTO, Kelly Cristina. Entre a mulher ideal e a mulher moderna: representações femininas na imprensa mineira - 1873 - 1932. Disponível em: http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/VCSA- 6X6LAR/ 1/disserta_o_completa_kelly_nascimento.pdf. Acesso em 15 de maio de 2009. ORLANDI, Eni P. Análise do Discurso: princípio e procedimento. Campinas, SP: Pontes, 2000. STEIN, Ingrid. Figuras Femininas de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984. 146 Leitura e Discurso Político HELENICE JOVIANO ROQUE-FARIA Objetivo, neste trabalho, apresentar o texto midiático, especialmente o gênero charge, como dispositivo que se tem para uma prática de produção de leitura e escrita em sala de aula. Persigo os caminhos que propiciam evidenciar a heterogeneidade mostrada na ótica de Authier-Revuz por meio de marcas explícitas de ironia; deslocado por Bonnafus (2003), o termo assume nova roupagem – derrisão –, por considerar que há condições de produção para a inscrição de tais discursos. Tomo como base teórica a Análise de Discurso, da linha francesa de Michel Pêcheux, matizada por cores bakhtinianas, que sinalizam o discurso entrelaçado por discursos outros. Em considerações iniciais, abordo como o discurso político pode ser trabalhado em sala de aula, vislumbrando a compreensão do aluno em verificar o caráter dialógico, a denegação de uma interpretação que muitas vezes apresenta-se de forma embalsamada e a consideração de que há diversas vozes que presentificam estes discursos. Trabalhar textos/discursos políticos em sala de aula é, a meu ver, uma maneira de tornar uma aula atraente, especialmente pela linguagem persuasiva e argumentativa que esse suporte traz. É como estabelecer uma ponte entre sala de aula – lugar de interpretação – e a realidade em que o aluno está inserido. Considero, ainda, que este é um gênero de ampla circulação em nossa sociedade e que se caracteriza pelas relações de argumentatividade instauradas entre enunciador e enunciatário, recorrendo sempre à memória discursiva e que propõe deslocamento de sentidos, que, por vezes, apresentam-se estabelecidos. Utilizar a diversidade discursiva que os suportes midiáticos impressos propõem – charges, gibis, blogs, e-mails, editoriais, tiras, dentre outros – não deixa de ser uma proposta para despertar nos alunos a capacidade de 147 Helenice Joviano Roque-Faria leitura e interpretação, levando-os não apenas a apreender uma formação discursiva no texto, mas a compreender as diversas Formações Discursivas que circulam na materialidade discursiva, pois, como alertam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998:37) em relação à prática de ensino de língua portuguesa, esses são dispositivos que permitem desenvolver habilidades de leitura e (...) que podem ser trabalhados em situações de reflexão sobre a língua, com o objetivo de conhecer e analisar criticamente os usos da língua como veículo de valores e preconceitos de classe, credo, gênero e etnia, explicitando, por exemplo, a forma tendenciosa com que certos textos tratam questões sociais e étnicas, as discriminações veiculadas por meio de campanhas de saúde, os valores e as concepções difundidos pela publicidade, etc. Ademais, evidencia-se que a mobilização do gênero em contexto de sala de aula estabelece relações dialógicas entre o sujeito, a língua e a história. 1. O APORTE TEÓRICO/O OBJETO Ao falar de discurso não se pode esquecer que o interesse por este estudo se acentuou no Ocidente com o advento da Linguística da Enunciação e teve como precursores Jakobson e Benveniste. Nesta perspectiva, a linguagem não é mais vista como instrumento externo de comunicação, transmissão de informação, mas necessidade interativa que se dá entre os protagonistas do discurso. A partir da Linguística da Enunciação, a língua, objeto de estudo da Linguística, sai de sua clausura, isto é, ela é posta em funcionamento. A Análise do Discurso, disciplina que toma o discurso como objeto de estudo, surge exatamente contestando tais ideias por considerar que a língua é uma instância de caráter histórico e social e que o sujeito da linguagem se inscreve na/ pela linguagem. 148 Leitura e Discurso Político Foucault (1971) dentro de uma teoria não subjetivista concebe o discurso como um “jogo estratégico de ação e reação, de pergunta e resposta, de dominação e esquiva, e também de luta: o espaço em que o saber e poder se articulam, pois quem fala, fala de algum lugar, a partir de um direito reconhecido institucionalmente”. Para Foucault, o discurso é atravessado não pela unidade do sujeito, mas pela sua dispersão. Sendo assim, encontramos um sujeito do discurso que não é dono do que fala, sequer matriz de seu discurso, mas sujeito que se divide em muitos, dada a sua constituição histórico-social. Preocupado com os “grandes discursos”, os discursos da instituição, Foucault funda a Análise de discurso de linha francesa no final da década de 60, com as contribuições de Michel Pêcheux, que visava a uma proposta interdisciplinar, unindo assim três áreas do conhecimento, a Linguística, o Materialismo Histórico e a Psicanálise. Explicitando melhor esta relação interdisciplinar, pactuo com ORLANDI para alertar que A AD produz um outro lugar de conhecimento com sua especificidade. Não é mera aplicação da lingüística com as ciências sociais ou viceversa. A AD se forma no lugar em que a linguagem tem de ser referida necessariamente à sua exterioridade, para que se aprenda seu funcionamento, enquanto processo significativo. (2004:24) Diferente de outras ciências, esta disciplina e aporte teórico que persigo, entende o texto não como algo fechado em si, mas objeto inacabado, complexo de significações, lugar onde se materializa a dispersão do sujeito atravessado por diversas formações discursivas. É este atravessamento que permite pensar o texto como opaco e aberto para os possíveis gestos interpretativos. Dito de outra forma, desde a constituição, formulação até a circulação, o material discursivo é reflexo do social/ histórico/ideológico, lugar em que sujeito e memória tomam corpo, e propiciam gestos de leitura a outrem. Ainda nos termos de ORLANDI A Análise do Discurso é a disciplina que vem ocupar o lugar dessa necessidade teórica, trabalhando a opacidade do texto e vendo nesta 149 Helenice Joviano Roque-Faria opacidade a presença do político, do simbólico, do ideológico, o próprio fato do funcionamento da linguagem: a inscrição da língua na história para que ela signifique. (2001:21) Do mesmo modo, e este não é meu trabalho pois falo da posição/ sujeito que analisa discursos, não se limita a leitura aqui, pelo linear ou por uma questão estrutural, mas sim, busca-se compreendê-la pelos processos de significação e pelo enfoque nos mecanismos que instauram tais discursividades. Penso a leitura na esteira da discursividade. E, como afirma CARDOSO, A prática de leitura, na sala de aula, pode ser um dos instrumentos desse encontro. Repetimos: em vez de treinamentos de habilidades de leitura (ler sem engasgar, ler mais alto, ler mais devagar etc), o que o professor deve privilegiar é a leitura produtiva, ou seja: privilegiar a construção de sentidos que sempre se renovam, por meio da interação com o outro, para que de fato se forme um leitor produtor de textos, conscientes do lugar que ocupa e de sua capacidade de intervir na ordem social. (CARDOSO, 2003, p.59) Desta forma, reafirmo ser a discursividade nosso objeto de atenção. Mas, ideologicamente, constituídos em um mundo em que ler redunda apenas em decodificar os elementos linguísticos do texto, pensamos na leitura numa perspectiva que ultrapassa os limites do já estabelecido, do já dado. Também consideramos que o texto é uma unidade de sentido em que os interlocutores estão inscritos numa dada formação discursivo-ideológica e que o enunciado é a exteriorização de que não existe sujeito ocupando uma única posição, e sim, sujeito que enuncia/representa os vários lugares ocupados de maneira sócio-histórica-ideológica. Para ORLANDI, o texto ...não é uma unidade fechada, embora, como unidade de análise, ele possa ser considerado como uma unidade inteira – pois ele tem relação com outros textos (existentes, possíveis, imaginários), com suas 150 Leitura e Discurso Político condições de produção (os sujeitos e a situação), com o que chamamos sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso: a memória do dizer). (2004, p.54) Fundamentar essas ideias dentro da visão de que a linguagem não é transparente, exige repensar a prática pedagógica, uma vez que em AD o texto é objeto de observação, mas o que se focaliza é a compreensão do que se considera discurso. Desta forma, não há um único sentido estabelecido, mas materialidade que evoca sentidos vários. Estreito meu olhar para o discurso midiático, charge. Ressalto, que pisamos em campo em que o ambíguo é a peça do jogo e a argumentatividade e o derrisório, recursos que o enunciador toma para estreitar sua relação/ aproximação com o enunciatário. Também observo, a priori, que o gênero recai sobre uma prática social que muitas vezes esmaece-se aos olhos do leitor: a artimanha ambígua/discursiva enreda o leitor para o desvelar/ desmascarar das intenções enunciativas que, por vezes, apresentam-se “ocultas” no discurso político. A essência enunciativa derrisória põe em movimento o “convite” para a leitura do linguístico-discursivo. Não há, na realidade, um convite, mas um imperativo de que o(s) sentido(s) não está (o) ali, no texto, produto empírico, mas na discursividade, nas relações que se estabelecem entre enunciador versus leitor. Para BONNAFOUS (2003:35), “o discurso político, há bastante tempo, faz grande uso da “derrisão”, isto é, da associação do humor e da agressividade que a caracteriza e a distingue da pura injúria”. Por outras palavras, o humor que muitas vezes é estabelecido a partir do gênero charge é uma tática que consiste em “subsidiar” satiricamente a ordem estabelecida e os efeitos são minimizados pela teia da zombaria que, no jogo do humor e do pré-construído, lança ao leitor os acontecimentos políticos, diária e socialmente aceitável e reiterável pelo Outro. Instaurada a trama, o jogo enunciativo perpassa no sentido de velar/ desvelar o já dito e “prepara” o leitor para as contradições que repousam em tais discursos. Como nos alerta ORLANDI (2001:68), “não é no texto em si em que estão (como conteúdos) as múltiplas possibilidades de sua leitura, 151 Helenice Joviano Roque-Faria é no espaço constituído pela relação do discurso e o texto, um entremeio, onde jogam os diferentes gestos de interpretação”. O dialógico estabelece-se no conflito da interdiscursividade derrisória. Ou seja, há provocação ao leitor de toda ordem para que “atente” aos sentidos já estabelecidos e sugestão(s) implícita ou explícita daqueles que “podem” ser estabelecidos, o que dependerá das condições de produção de cada sujeito leitor, pois sujeitos e sentidos são indissociáveis. Sobre o derrisório, Baronas (2008, p.148) afirma que os textos verbovisuais “trazem consigo uma dimensão de contestação da ordem estabelecida”. Entretanto, esse questionamento da ordem estabelecida é visualizado pelo efeito da violência verbal, do satírico, da zombaria. Uma espécie de discordância de um saber construído no mundo político. Diante do exposto, a materialidade discursiva das charges é terreno fértil para minha pesquisa. Tal escolha é por observar que textos como escolha é por observar que textos como estes, disposto pela mídia, ainda não tem sido alvo de atenção e investigação, no que se refere a leitura do político. Talvez seja demasiada e pretensiosa essa afirmativa, uma vez que a efervescência dos estudos linguísticos nos últimos anos debruça-se de forma significativa sobre estes fenômenos, embora não tenhamos encontrado ainda apontamentos específicos para o ensino. Enquanto isso, visualizo charges como materialidade discursiva que traz em seu bojo um material privilegiado para o ensino/aprendizagem. E analisar a linguagem com base no funcionamento deste suporte pode produzir efeitos em relação à leitura crítica em sala de aula. O discurso das charges traz ainda um caráter específico: a imperiosa necessidade da interdiscursividade. Por outras palavras, esse é um discurso regido por um conjunto de discursos que se cruzam em todo tempo. Assim, o processo de leitura deste recorte requer transcender a materialidade para fazer emergir os sentidos, uma vez que este discurso se constitui a partir dos já ditos de “outros”. GÊNERO DISCURSIVO: DISPOSITIVO PARA A PRÁTICA DE LEITURA 152 Leitura e Discurso Político Charge é um gênero amplamente produzido e de grande circulação na sociedade moderna. Em qualquer suporte midiático, impresso ou não, este é um texto comum mas singular, se se considerarem a persuasão e a argumentatividade que repousa em tais discursos. Ela surge no século XIX, precisamente na França, com a ideia de caricaturar personagens de maneira deformada ou exagerada. Honoré Daumier, desenhista francês que na época tomava este instrumento como recurso para criticar a política governamental, legou ao mundo moderno a possibilidade de ver a linguagem na fluidez em que coadunam imagético e palavra, e que pela memória discursiva desloca e/ou coloca sentidos . E só se faz tal gesto interpretativo pelo caráter dialógico. Na definição dicionarística da palavra “charge”, consta “representação pictórica, de caráter burlesco e caricatural, em que se satiriza um fato específico, em geral de caráter político e que é do conhecimento público” (FERREIRA, 2004). Neste sentido, há no gênero uma característica peculiar: o humor, a sátira, sobre um acontecimento de domínio público. O que reitero é que sua leitura dependerá das condições de produção de cada leitor, pois a discursividade recai na interdiscursividade. Ou seja, se o leitor não estiver contextualizado não poderá perceber que há uma “exigência” de aprofundamento e conhecimento do assunto. Para Piovezani Filho (2007:120), no discurso político, há a denúncia de fraquezas, mas também reiteração de suas forças mediante a ampla divulgação de seus atos e deliberações. Desta forma, os sentidos estão cerceados pelo gesto do riso, do hilariante. Isto é, pelo que reduz/embalsama determinados sentidos que circulam no mundo político. Para MACHADO (1998 123), esta é uma forma de “ introduzir o cômico numa situação séria. Logo, a de fazer rir. Este riso não é inocente e franco como seria o riso do humor sem ironia” . Isto não permite excluir nestes recortes, ou em qualquer outro, o princípio norteador da AD: não existe discurso sem ideologia. Baronas (2008:147) também aponta que, na derrisão, o locutor assume o que diz, contudo os efeitos do seu dizer são atenuados ora pelo efeito de escárnio que provoca, ora pela mobilização de um discurso Outro já 153 Helenice Joviano Roque-Faria legitimado na sociedade. TRANSPARENTE VERSUS OPACO Receio que até aqui só tenha levantado alguns pontos sobre a charge como materialidade dos acontecimentos políticos discursivos. Se assim o fiz, corroboro com a ideia de que ainda são pontos iniciais que traço. Ressalto que é na trama discursiva que a verve satírica, o jogo de palavras e a sedução têm lugar privilegiado. Ao atentar para a fundamentação da tese de Authier-Revuz(2004), a heterogeneidade é ponto fulcral. Para essa autora, há a heterogeneidade mostrada e a heterogeneidade constitutiva da linguagem. Sua formulação assenta-se no dialogismo de Bakhtin, para quem o discurso é diálogo estabelecido com o Outro. A pesquisadora também persegue o psicanalítico de Lacan e entende o sujeito como efeito de linguagem. Nestes moldes, o sujeito, atravessado por diversas formações discursivas, é heterogêneo e se apresenta numa luta pela autonomia discursiva. Com base na teoria de Authier-Revuz, apresento um recorte-charge do jornal impresso de grande circulação mato-grossense A Gazeta para um exercício analítico e possíveis considerações. O texto imagético data sua circulação de 05/03/2005 e rememora o período em que se preparava a reeleição do governador do Estado. A voz de Djamil, sujeito jornalista que enuncia de um lugar privilegiado, articula como dono da linguagem e como alguém que tem o poder de dizer e coloca em evidencia a imagem do político. O senhor Blairo Maggi é comumente conhecido como um dos maiores produtores de soja do mundo. Nesta altura (2006), a situação política em Mato Grosso parecia estabilizada/aprovada, uma vez que as pesquisas o apontavam como um bom governador. Mas, considerando que no campo político há surpresas, o jogo enunciativo recai sobre os termos correr x botina e, para isso, parto da ideia de que a corrida para o cargo de governador necessita tanto do preparo físico quanto do “corpo a corpo” com os eleitores. Quem corre precisa estar “adequadamente” calçado. Ou seja, além do preparo físico, os pés precisam de conforto e conforto é um sentido fecundo no campo 154 Leitura e Discurso Político político: correr com aqueles que estão descalços, com aqueles que estão desprovidos de qualquer calçado etc. A provocação ao leitor, especialmente por meio de texto verbo-visual, lembra que numa corrida política o conhecimento de um grupo restrito (agricultores) não dá a garantia de uma reeleição. Por isso, a ressalva do interlocutor: “De botina não dá.” Assim, a heterogeneidade mostrada, e nesse caso, derrisória, permite observar o polêmico estabelecido. Esperaria o candidato a governador vencer contando com a classe dos sujeitos agricultores? Qual classe elegeria um governador? Somente aquela que representa o poder econômico do estado em suas mãos? Fonte: Jornal A Gazeta, ed.nº.4909, publicada em 05/03/2005 – sábado – ano XV – caderno 2A. PRÁTICA PEDAGÓGICA E ACONTECIMENTO DISCURSO EM SALA DE AULA Evidentemente, não é tarefa fácil estabelecer diálogo em sala de aula com essa instância discursiva. Entretanto, o desafio de formar leitores críticos não se restringe a uma prática que contemple, apenas, livros didáticos. Ao contrário, vivemos em uma época em que a rapidez da linguagem limita-se ao fast food linguístico. Estamos em um mundo povoado por novas linguagens, novos gêneros e novos fatores que regulam a circulação dos eventos de linguagem. E em que espaço discursivo está o aluno? Diria, submetido ao “caos” 155 Helenice Joviano Roque-Faria midiático-linguístico, cujos gestos e movimentos ele tenta acompanhar por si só. A escola, lugar de interlocução, e a sala de aula – espaço que poderia erigir um lugar de debate/discussões e produção de sentidos – continua no processo de (re) produzir sujeitos (in)capazes de ver além texto. Diria até que esta é a realidade da leitura não só no contexto de escolas públicas em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. As aulas de língua portuguesa são reduzidas ao ensino epilinguístico. A gramática é a parte essencial das aulas e o livro didático, instrumento único de mediação entre professor e aluno. Os suportes midiáticos, aqueles de fácil acesso, estão marginalizados, à espera de sujeitos que possam compreendêlos como materialidade para estabelecer o dialógico em sala de aula. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal: introdução e tradução do russo Paulo Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2003. BARONAS. Roberto Leiser. Textualização derrisórias do político: notas sobre um caso de heterogeneidade dissimulada. In BARONAS, Roberto Leiser; COX, Maria Inês Pagliarini; DIAS, Marilda Fátima. Estudos em Ciências da Linguagem: diálogos, fronteiras, limites. Cáceres: Editora Unemat, 2008. BONNAFUS, Simone. Sobre o bom uso da derrisão em Jean-Marie Le Pen. In Discurso e mídia: a cultura do espetáculo. GREGOLIN,M.R.V. São Paulo: Claraluz, 2003. CARDOSO, Sílvia Helena Barbi. Discurso e ensino. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio Século XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2004. Jornal A Gazeta, ed. nº. 4909, publicada em 05/03/2005 – sábado – ano XV – caderno 2A. MACHADO, Ida Lucia. A Metáfora Irônica dos Cartuns. In: PAIVA, Vera Lúcia Menezes de Oliveira (org). Metáforas do Cotidiano. Belo Horizonte: Ed. do Autor, 1998. 156 Leitura e Discurso Político ORLANDI. Eni Puccinelli. O Discurso e Texto: formação e circulação dos sentidos. Campinas, SP: Pontes, 2001. ORLANDI. Eni Puccinelli. Autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico. Campinas: Pontes, 2004. PCN-PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS.MEC MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DESPORTO. V. 1, Brasília,1998. PIOVEZANI FILHO, Carlos. Metamorfoses do discurso político contemporâneo: por uma nova perspectiva de análise. Revista da ABRALIN, v. 6, n. 1, p. 25-42, jan./jun. 2007. 157 Literatura Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade em Memórias Póstumas de Brás Cubas e a consciência de Zeno MARIA CELESTE TOMMASELLO RAMOS Guardam entre si uma forte convergência dois romances importantes da Literatura Ocidental do período compreendido entre o final do século XIX e início do XX, momento no qual, segundo Berman (1986), o mundo ocidental se prepara e ingressa na terceira fase da era moderna, iniciada durante o Renascimento, tendo sua segunda fase com o advento do Iluminismo e sua última fase marcada pelo advento da Psicanálise. Esses romances são Memórias póstumas de Brás Cubas,1 do brasileiro Machado de Assis, publicado em capítulos, no jornal, em 1880, e, em um único volume, no ano seguinte, A consciência de Zeno2 (La coscienza di Zeno), do italiano Italo Svevo, aluno de inglês de James Joyce, publicado em 1923. Intrigada pelo fato de a leitura do romance italiano lembrar ou “soar” como a do brasileiro (ser consoante ou consonante a), ou seja, provocar uma espécie de “intertextualidade na recepção”, lancei-me a uma pesquisa (RAMOS, 2001) sobre a convergência nos níveis estrutural e temático que levou ao questionamento sobre quais “olhares” são propostos pelos dois romances e quais “olhares” os mesmos provocam para si. E uma das questões mais relevantes abordadas foi sobre a relação desenvolvida entre os narradores-protagonistas e a vida em sociedade, tocando, assim, na questão da identidade. Por meio do discurso dos dois narradores fica-se sabendo “por dentro” como é a “representação social” na classe burguesa, visto que os dois a ela pertencem e são seus dignos representantes – belos moços abastados e 1. Será abreviado por MPBC. 2. Será abreviado por ACZ. 161 Maria Celeste Tommasello Ramos ociosos, que passam a vida a desperdiçar o tempo em futilidades socialmente motivadas. Brás e Zeno vão, aos poucos, desvendando as máscaras da representação em sociedade e fazem com que o leitor perceba que não são somente eles que vivem voltados para si próprios, visando a construir uma imagem diferente daquela do ser real; além disso, toda a sociedade que circunda os protagonistas é assim. Desta forma, eles vão construindo sua identidade a partir da representação social, pensando-se que, segundo Bauman (2005), “as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a maneira como age – e a determinação de se manter firme a tudo isso – são fatores cruciais ... para a “identidade” (p. 17). O narrador Brás Cubas, livre dos laços da representação social, visto que está morto e fala do além-túmulo, pode expressar-se com sinceridade sobre a mediocridade da vida levada; desta forma, revela como a identidade do indivíduo dessa sociedade é construída: Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade; advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência; e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença! que desabafo! que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lentejuoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser! Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos; não há platéia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte; não digo que ele se não estenda para cá, e nos não examine e julgue; mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. (MPBC, p. 55). 162 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... E é com esse desdém dos finados que Brás descreve-se em vida como uma pessoa preocupada com as aparências, preocupação tão cultivada por todos em seu ambiente. Como narrador, afastado da representação social, ele pode denunciá-la sem ser condenado, visto que não pode mais ser julgado por suas faltas no local (está no além-túmulo). O motivo que acionava o fingimento constante, a eterna representação de uma vida de aparências deixou de existir, visto que não existe mais o “olhar do outro”, não existe mais a platéia que assistia à sua representação. Está também presente a confirmação da interpretação de Motta (1998, p. 290), pois, “a morte do personagem dá origem à vida do narrador e, com ele, o nascimento do livro”. Em ACZ, o narrador Zeno adquire, como Brás, um status diferente no último capítulo, no qual realmente é sincero: Empregarei o tempo que me resta livre para escrever. Por isso escreverei sinceramente a história de minha cura. Toda a sinceridade entre o doutor e eu havia desaparecido e hoje respiro aliviado. Nenhum esforço me é mais imposto. Não devo estar constrito a uma fé nem preciso simular que a tenha. Com o propósito de melhor ocultar meu pensamento, acreditava dever demonstrar-lhe um respeito servil, e ele se aproveitava disto [...] (ACZ, p. 372). O público de Zeno corresponde, em primeira instância, ao Dr. S., seu psicanalista. Foi para seu público que Zeno escreveu os capítulos anteriores do romance, como uma autobiografia que deveria ser sincera, mas que, no último capítulo, que está em forma de diário, fica-se sabendo que não foi nada sincera. Para o diário não há público; quem o escreve conta coisas para si mesmo, e, desta forma, mesmo estando vivo, e não morto, como Brás, no último capítulo do romance, Zeno não tem mais nenhum compromisso com o público e é sincero consigo mesmo, pois a “representação” teatral era completa enquanto se dirigia ao “outro”; a si mesmo ela não é mais necessária. Na verdade, se lembrarmos Grosser (1986), existe o pacto narrativo, e, por se tratar de obra de ficção, o autor implícito tem em mente, mesmo no pseudodiário, a figura do leitor implícito. Não somente os protagonistas vivem a preocupação com a opinião pública, com o outro, fingindo e dissimulando a maior parte do tempo, mas 163 Maria Celeste Tommasello Ramos também os mais escrupulosos e honestos tipos da sociedade são obrigados a viver o jogo das aparências, da representação, como um conhecido de Brás chamado Jacó: [...] Era a probidade em pessoa; podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo, não quis; deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns quatrocentos contos; tinha a probidade tão exemplar, que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós, em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o Doutor B., um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. – Não pega, bradou uma voz do corredor; cá estou de dentro. E, com efeito, era o Doutor B., que apareceu logo à porta da sala. Jacó foi recebê-lo, afirmando que cuidava ser outra pessoa, e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal, e isto mesmo, porque Jacó tirou o relógio; o Doutor B. perguntou-lhe então se ia sair. – Com minha mulher, disse Jacó. Retirou-se o Doutor B. e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir quatro vezes, em menos de duas horas: a primeira, negando-se; a segunda, alegrando-se com a presença do importuno; a terceira, dizendo que ia sair; a quarta, acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante, depois confessou a justeza da minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas... Ah! lembra-me agora; chamava-se Jacó Tavares. (MPBC, p. 118). Nem o mais probo dos componentes da sociedade representada por Brás Cubas está imune ao fingimento, à representação social. É o próprio Jacó Tavares que declara, por meio de Brás, como podemos comprovar acima, que “a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado”, isto é, as máscaras são fundamentais no desempenho social, já que ser autêntico e sincero é perigoso à própria sobrevivência no ambiente 164 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... de representação. Para se garantir a convivência tranquila em grupo, o próprio Jacó reconhece que o fingimento é essencial, pois “a paz das cidades só se pode obter à custa de embaçadelas recíprocas” (p. 118). Também Virgília é descrita em suas ações e falas como uma das mais dissimuladas personagens, em todas as situações que vive, seja ao esconder o adultério que comete por muito tempo do marido e dos outros, seja ao interessar-se pela herança do velho parente à beira da morte. Um trecho que exemplifica a “atuação” perfeita de Virgília na cena social é aquele da sua segunda visita, acompanhada do filho, ao velho Brás, adoentado, à beira da morte, narrada no início do romance: [...] Virgília estava serena e risonha, tinha o aspecto das vidas imaculadas. Nenhum olhar suspeito, nenhum gesto que pudesse denunciar nada; uma igualdade de palavra e de espírito, uma dominação de si mesma, ou pareciam e talvez fossem raras. Como tocássemos, casualmente, nuns amores ilegítimos, meio secretos, meio divulgados, vi-a falar com desdém e um pouco de indignação da mulher de que se tratava, aliás sua amiga. O filho sentia-se satisfeito, ouvindo aquela palavra digna e forte, e eu perguntava a mim mesmo o que diriam de nós os gaviões, se Buffon tivesse nascido gavião [...]. (MPBC, p. 24). Temos uma sutil reflexão no final do trecho, apresentada a partir da citação do nome de Georges-Louis Leclerc de Buffon, escritor e naturalista francês, que viveu entre 1707 e 1788 e possuía estilo pomposo a ponto de seus contemporâneos declararem que escrevia vestido de casaca de seda e punhos de renda, criador da polêmica frase: “O estilo é o próprio homem” (ver nota do editor, MPBC, p. 24). Virgília mantinha socialmente seu estilo, negando sempre seus defeitos e até condenando-os em outras pessoas de seu círculo de amizades. O que importa é a aparência que se transmite e não a essência do que se é, por isso o estilo é realmente a representação do próprio ser humano em sociedade, pois não se vive autenticamente, mas se cria para si uma aparência do que se imagina ser ou de como quer que os outros pensem que se é, falseando uma identidade social. 165 Maria Celeste Tommasello Ramos Até mesmo a retórica em sociedade é uma retórica vazia. No caso do pequeno discurso em homenagem ao morto proferido pelo “amigo” diante do caixão de Brás, temos um forte exemplo deste tipo de retórica: Vós, que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. (MPBC, p. 17) Aparentemente, as glórias que o amigo atribuiu a Brás podem soar como uma homenagem de um amigo devotado se o narrador-protagonista não somasse a elas o seguinte comentário: “Bom e fiel amigo! Não, não me arrependo das vinte apólices que lhe deixei” (MPBC, p. 17). Assim, nós leitores, ficamos sabendo que outro interesse, além da amizade, movia as palavras honrosas proferidas pelo amigo no enterro de quem lhe deixara algo em testamento. Sempre por trás das manifestações de amizade existe um interesse maior, e o discurso do autor-implícito aí assume um valor de autorreflexivo, pois revela a falsidade da retórica movida pelas regras sociais, pela construção das aparências, das máscaras sociais. É a ironia contida na observação de Brás que se lembra das apólices que lhe deixou e, com isso, dá oportunidade ao leitor de desvelar o caráter fingido e adulatório do discurso proferido pelo amigo, constituindo, assim, uma espécie de retórica vazia. A ironia aqui, mais uma vez, nega a retórica do fingimento para demonstrar as intenções pessoais de proveito próprio que movem os mais variados componentes da sociedade. Costa Lima, no capítulo “Sob a face de um bruxo”, do livro Dispersa demanda (1981, p.70), faz a seguinte afirmação quando discute o eixo tematizado nas memórias: [...] A sociedade que assim Machado apresenta é fundamentalmente exibitória. A palavra, os gestos, os locais são escolhidos em função 166 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... do efeito a causar. O exibitório implica o extremo cuidado com a aparência, com a expressão do corpo. Melhor seria dizer, com a máscara modelada sobre o corpo. Na sociedade descrita pelo narrador em MPBC, é exatamente o grupo de pessoas preocupadas com a imagem que os outros têm deles que aparece. Essas pessoas exibem-se para serem mais bem aceitas, possuem um discurso falso, simulador ou dissimulado, dependendo de seus interesses financeiros ou sociais, enfim, usam esta máscara citada por Costa Lima que não só mostra um outro rosto, mas também um comportamento diferente daquele que realmente elas têm. É o caso do encontro de Zeno com um antigo conhecido chamado Túlio, colega de escola que há muitos anos não encontrava e que sofria de um reumatismo que o deixara coxo: Apressei-me em sugerir-lhe vários remédios. É a melhor maneira de podermos simular uma viva participação sem que nos custe grande esforço. ... Depois, Túlio também fingiu interesse em saber de mim. Obstinavame em não contar-lhe sobre o meu amor infeliz, mas carecia de um desabafo. Falei com tal exagero dos meus males (que assim classifiquei, embora cônscio de serem leves) que acabei com lágrimas nos olhos, enquanto Túlio começava a sentir-se um tanto melhor, acreditando-me mais enfermo do que ele. Perguntou-me se eu trabalhava. Todos por aí diziam que eu não fazia nada e temi que ele me invejasse num momento em que eu tinha absoluta necessidade de comiseração. Menti! Contei-lhe que trabalhava em meu escritório, não muito, mas pelo menos seis horas por dia e que, além disso, os negócios muito embrulhados que herdara de meu pai e de minha mãe davam-me o que fazer por outras seis horas. – Doze horas por dia! – comentou Túlio e, com um sorriso satisfeito, concedeu-me aquilo que eu ambicionava, a sua comiseração: – Não o invejo, meu Caro! (ACZ, p. 99-100). 167 Maria Celeste Tommasello Ramos Mesmo não sendo um narrador onisciente, Zeno sabe o que se passa na mente do antigo colega: “fingiu interesse em saber de mim, começava a sentir-se um tanto melhor, acreditando-me mais enfermo do que ele”. Essas considerações sobre o que pensava Túlio são depois confirmadas pela declaração do mesmo: “ – Não o invejo, meu caro!”. Porém, temos que recordar que Zeno conta o que quer para o narratário, e, assim, a declaração final de Túlio poderia muito bem não ter sido assim. O que sobressai da cena descrita é realmente a questão da preocupação com as aparências: Zeno não quer ser invejado pelo amigo, que se mostra de antemão inferior a ele em estado de saúde, como aquele sente a necessidade de consciência de desabafar, inventa e representa uma história não verdadeira para o amigo, a fim de satisfazer-se duplamente (desafoga as mágoas, mostrando-se infeliz e não atrai a inveja de Túlio). Durante a “representação” da mentira, Zeno envolve-se tanto que chega até mesmo a chorar. Zeno é realmente um ator, e esse trecho na narrativa é um dos muitos que levam os leitores a desconfiar completamente dele, como narrador, e a perceber a frivolidade tanto das representações sociais em que ele está envolvido quanto da representação que ele mesmo faz de si em seu discurso. Em MPBC, também as aparências são declaradamente e literalmente “vendidas” por certas personagens: [...] Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. ... Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo, com simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade, guardava-a para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras, dois anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim; ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu, uma vez, de festas – Esta cruz... Dizia isto, metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina, de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. 168 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... – Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era teu pai que... Marcela abanou a cabeça e com um ar de lástima: – Não percebeste que era mentira, que eu dizia isso para te não molestar? Vem cá, chiquito, não sejas assim desconfiado comigo... Amei a outro; que importa, se acabou? Um dia, quando nos separarmos... – Não digas isso! bradei eu – Tudo cessa! Um dia... Não pôde acabar; um soluço estrangulou-lhe a voz; estendeu as mãos, tomou das minhas, conchegou-me ao seio, e sussurrou-me baixo ao ouvido: – Nunca, nunca, meu amor! Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte levei-lhe o colar que havia recusado. (MPBC, p. 42-43). No jogo entre mentira e verdade, Marcela armou uma cena, representando a amante ardente e despojada, que não precisava de mimos caros e persuadiu, com seu discurso às avessas, o jovem e ingênuo Brás, que, na distância provocada pelo tempo, foi então capaz de, após a morte, retornar pela lembrança ao momento vivido na juventude e construir um discurso que desvendou as verdadeiras intenções de Marcela. Ela almejava, na verdade, ganhar outra joia, mas, como percebeu que não seria possível conseguila do amante, provocou-lhe o ciúme com um discurso persuasivo e, com afirmações de que “vendera muita vez as aparências, mas a realidade, guardava-a para poucos” (p. 42), como vemos na citação acima, fez Brás entender que ele era um desses poucos. Na verdade, mais uma vez ela vendia as aparências, isto é, representava uma cena na qual, com um discurso persuasivo, levara Brás a comprar-lhe a joia almejada. Distanciado dos acontecimentos e a eles ligado somente pela recordação, afastado da brevidade dos séculos, Brás conta aos leitores como foi formada sua retórica vazia, preocupada com a forma: [...] Não digo que a Universidade não me tivesse ensinado alguma [filosofia]; mas eu decorei-lhe só as fórmulas, o vocabulário, o 169 Maria Celeste Tommasello Ramos esqueleto. Tratei-a como tratei o latim: embolsei três versos de Virgílio, dois de Horácio, uma dúzia de locuções morais e políticas, para as despesas da conversação. Tratei-os como tratei a história e a jurisprudência. Colhi de todas as coisas a fraseologia, a casca, a ornamentação... ... Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz à consciência; e o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. (MPBC, p. 55). Do discurso vazio, da retórica social à la Buffon, o locutor-enunciador Brás está agora afastado pela morte e pode, com franqueza, mostrar a preocupação com a casca, com a ornamentação na vida em sociedade. O indivíduo que joga o jogo da representação social é obrigado a disfarçar, dissimular e, com isso, engana aos outros e chega a ponto de enganar a si mesmo, ludibriando a própria consciência, como é o caso do pai de Brás, que, no capítulo XXVIII, ao tentar convencer o filho de seguir a carreira política e garantir-se com um bom casamento, mesmo sem conhecer a moça que deverá esposar, declara o seguinte: [...] Um Cubas! um galho da árvore ilustre dos Cubas! E dizia isto com tal convicção, que eu, já então informado da nossa tanoaria, esqueci um instante a volúvel dama, para só contemplar aquele fenômeno, não raro, mas curioso: uma imaginação graduada em consciência. – Um Cubas! repetia-me ele na seguinte manhã, ao almoço. (MPBC, p. 75). Seu pai chegou a utilizar a origem nobre da família, inventada por ele mesmo, e cuja invenção Brás Cubas sabia, para convencer o filho de que ele deveria seguir carreira política para honrar a família. Acostumado à 170 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... representação social, o pai acaba tendo o que Brás Cubas chama de “imaginação graduada em consciência”, isto é, o fingimento em mais alto grau, quando o próprio fingidor, acostumado à sua função, acaba acreditando na verdade de uma história inventada por ele mesmo. As lições que o pai lhe deu são de outra natureza que as costumeiras lições de moral e ética, que muitos pais procuram dar aos filhos: Teme a obscuridade, Brás; foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos, e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios [...] (MPBC, p. 60). A lição passada ao filho é a sede de nomeada, a preocupação com a avaliação que os outros fazem de si, o amor da nomeada ou o gosto de luzir que vai levá-lo à morte mais tarde, quando busca na invenção de um magnífico emplasto hipocondríaco o meio de conseguir para si todas as glórias sociais e se esquece de cuidar da própria saúde. Sua morte acontece após uma vida vazia, plena somente de fingimento, de ócio e tédio, que trazem consigo a volúpia do aborrecimento. Não existe ação e nem construção, somente manutenção de aparências, o que provoca uma vida de enfado, de vazio e a construção de uma identidade pessoal falseada pela preocupação das aparências na vida social. Também Zeno vive uma vida aborrecida, entediada, visto que até os negócios deixados pelo pai, como herança, são comandados por um procurador, por vontade própria do pai, que por sua vez, também não havia supervisionado os negócios. Tudo ficara sob o comando de um único procurador, o Sr. Olivi, o que pode ser comprovado pelo seguinte trecho: [...] É verdade que ninguém vai querer que eu trabalhe enquanto estiver vivo o meu procurador Olivi, mas de que modo explicar que uma pessoa como eu não saiba fazer outra coisa no mundo senão sonhar ou arranhar o violino, para o qual, aliás, não tenho a menor vocação? (ACZ, p. 21). 171 Maria Celeste Tommasello Ramos Até o amor faz parte do jogo representativo exigido pela sociedade. O que os dois sentem, Brás e Zeno, é o amor-vaidade, preocupado consigo mesmo. Como exemplo, há o amor de Brás por Virgília, nascido em público, um misto de amor e hipocrisia social: “[...] Vi que era impossível separar duas coisas que no espírito dela estavam inteiramente ligadas: o nosso amor e a consideração pública” (MPBC, p. 99). Outra personagem que se apresenta perfeita no papel que representa perante a sociedade é Virgília: diante do filho, ao lado de Brás, no seu leito de morte; diante do marido, que a vai buscar na casinha da Gamboa, na qual ela mantinha seus encontros secretos com o amante; diante dos parentes e amigos e até diante de Brás. Nenhum deles encarna o tipo latin lover, completamente dominado pela paixão, capaz de qualquer coisa para concretizá-la, até mesmo a maior loucura. Na verdade, o amor dos dois é mais uma dissimulação; ele nasce e sobrevive enquanto é interessante socialmente. Porém, no momento em que ameaça a imagem dos dois, eles terminam o caso, sem remorsos ou penas. O marido traído, Lobo Neves, que no início do adultério da esposa não desconfiava de nada, chega a convidar o amante de Virgília para ser seu secretário, já que ele havia sido nomeado governador de província (cargo que depois não assumiu por simples superstição). Mas, ao ter consciência da traição que sofria, desabafa com Brás sobre o fingimento na política e revela sua preocupação característica de um digno representante da sociedade preocupada com as aparências: Lembra-me que estava retraído, mas de um retraimento que forcejava por dissimular. Pareceu-me então (e peço perdão à crítica, se este meu juízo for temerário!) pareceu-me que ele tinha medo – não medo de mim, nem de si, nem do código nem da consciência; tinha medo da opinião.... Ele não podia mostrar-se ressentido comigo, sem igualmente buscar a separação conjugal; teve então de simular a mesma ignorância de outrora, [...] (MPBC, p. 140-141). Tanto Brás como Virgília e Lobo Neves estão sempre e primeiramente preocupados com a consideração pública, e até mesmo a dor e a raiva do 172 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... marido, por ter sido enganado, acabam sendo sufocadas em nome da consideração, visto que não soaria bem, para a figura do político, ter sido traído pela esposa. O caminho escolhido por Lobo Neves é também o da dissimulação, assim como foi também o escolhido por Virgília e Brás. Em questões de adultério, papel igual ao de Virgília desempenha Zeno. A dupla face do casamento feliz e dos encontros secretos com a amante é mantida pelos dois com muito fingimento, e, no caso de ACZ, sabemos que até com tranquilidade de consciência: Também com Augusta estive naquele dia em ótimas relações. Meu espírito estava tranqüilo como se houvesse regressado de um passeio e não da casa de Carla, assim como o pobre Copler devia sentir-se ao deixar aquela casa nos dias em que não lhe davam motivos para enfurecer-se. Aproveitei-me da ocasião como se tivesse chegado a um oásis. Para mim e para a minha saúde teria sido gravíssimo se meu longo relacionamento com Carla se desenvolvesse em meio a uma perene agitação. A partir desse dia, como resultado da beleza estética, as coisas se processaram mais calmas, com leves interrupções, necessárias para reanimar, tanto meu amor por Carla quanto por Augusta. (p. 220-221). No capítulo “A mulher e a amante”, Zeno conta com detalhes como traía a esposa sem remorsos, convencendo a própria consciência de que manter uma amante era o remédio seguro contra o tédio que sentia e que a relação amorosa extraconjugal até melhorava seu relacionamento com Augusta, a esposa dedicada. Porém, ao mesmo tempo em que acredita ser salutar para si o fato de cometer adultério, socialmente o condena, principalmente se for cometido pelo seu rival real Guido, de quem Zeno finge ser grande amigo: Antes de adormecer, Augusta sentiu necessidade de confidenciar-me um grande segredo: ela o soubera da mãe naquele mesmo dia. Dias antes Ada surpreendera Guido abraçando a criada. Ada quis bancar a orgulhosa; em seguida, porém, a doméstica mostrou-se insolente e Ada 173 Maria Celeste Tommasello Ramos acabou por despedi-la. No dia anterior estavam ansiosas para saber como Guido encararia o fato. Se se queixasse, Ada pediria separação. Mas Guido pôs-se a rir, protestando que Ada não vira bem; contudo, não se opunha a que, embora inocente, a criada, por quem dissera sentir verdadeira antipatia, fosse posta na rua. Parece que as coisas agora estavam em paz. A mim o que importava era saber se Ada realmente vira mal quando surpreendeu o marido em tal atitude. Havia alguma possibilidade de engano? Pois que é preciso recordar que, quando duas pessoas se abraçam, têm posições diversas de quando uma limpa os sapatos da outra. Eu estava de excelente humor. Sentia necessidade de mostrarme justo e sereno no julgamento de Guido. Ada era certamente de caráter ciumento e pode ser que tivesse, em função da distância, confundido as duas posições. Com voz triste Augusta disse estar certa de que Ada vira bem e que até então julgara mal por excesso de afeto. E acrescentou: – Antes tivesse casado com você! – Eu, que me sentia cada vez mais inocente, presenteei-a com a frase: – Resta saber se eu teria feito melhor negócio casando-me com ela e não com você! Depois, antes de adormecer, murmurei: – Grande safado! Manchar assim o próprio lar! Eu era bastante sincero ao reprovar-lhe exatamente aquela parte da ação que eu não tinha por que reprovar a mim mesmo. (ACZ, p. 238). Como Virgília, que reprovara a atitude de uma amiga adúltera frente ao filho para manter sua aparência de esposa fiel, também Zeno reage da mesma forma, reprovando a atitude do cunhado ao mesmo tempo em que declara ao leitor que não tinha motivos para reprovar a mesma ação cometida por ele próprio. Manteve sua aparência de marido fiel diante de Augusta e sua consciência tranquila, principalmente porque o casamento do rival tinha sofrido um abalo. 174 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... Enquanto romances como Primo Basílio, de Eça de Queiroz, e Madame Bovary, de Flaubert, trazem personagens femininas, da burguesia, que fogem ao tédio causado pelo ócio por meio de paixões românticas que as levam à morte, Machado e Svevo apresentam-nos tanto homens quanto mulheres utilizando-se da mesma estratégia para fugir ao tédio, buscando amores clandestinos como forma de passar o tempo e como mais uma representação social. Porém, como marca da modernidade dos dois romances, diferentemente das heroínas de Eça e Flaubert, Brás Cubas, Zeno e Virgília sabem muito bem que o amor-vaidade, o amor fingido que sentem pelas/os amantes não devem tirar-lhes o objetivo maior, que é o uso da grande máscara junto à sociedade. Nenhum deles enlouquece ou morre numa sociedade marcada pela hipocrisia e pelo fingimento. Tanto Brás quanto Zeno ou Virgília sabem muito bem usar as mais diversas máscaras a fim de obter sucesso. Além deles, várias outras personagens também se demonstram preocupadas com a opinião pública. Damasceno, o pretenso futuro sogro de Brás, após perder a única filha, morta subitamente pelo ataque da peste, tece o seguinte comentário com Brás: Três semanas depois tornou ao assunto, e então confessou-me que, no meio do desastre irreparável, quisera ter a consolação da presença dos amigos. Doze pessoas apenas, e três quartas partes amigos do Cotrim, acompanharam à cova o cadáver de sua querida filha. E ele fizera expedir oitenta convites. Ponderei-lhe que as perdas eram tão gerais que bem se podia desculpar essa desatenção aparente [...] ( MPBC, p. 152). Não é a morte da filha que o entristeceu, mas a falta de consideração daqueles que foram convidados por ele para o velório e enterro e não compareceram, o que demonstra a pouca consideração pública que ele, Damasceno, mereceu. A perda da filha foi dor menor, é o que o leitor pode inferir do episódio. Após o capítulo CXXVI, que dá contas ao leitor dos motivos da tristeza do pai Damasceno, temos o seguinte, intitulado “Formalidade”, que traz um interessante comentário do narrador-protagonista: 175 Maria Celeste Tommasello Ramos Amável Formalidade, tu és, sim, o bordão da vida, o bálsamo dos corações, a medianeira entre os homens, o vínculo da terra e do céu; tu enxugas as lágrimas de um pai, tu captas a indulgência de um Profeta. Se a dor adormece, e a consciência se acomoda, a que, senão a ti, devem esse imenso benefício? A estima que passa de chapéu na cabeça não diz nada à alma; mas a indiferença que corteja deixa-lhe uma deleitosa impressão. A razão é que, ao contrário de uma velha fórmula absurda, não é a letra que mata; a letra dá vida; o espírito é que é objeto de controvérsia, de dúvida, de interpretação, e conseguintemente de luta e de morte. Vive tu, amável Formalidade, para sossego do Damasceno [...] (MPBC, p.152-153). Brás Cubas denuncia o apego à nomeada, o amor das aparências tão cultivado na sociedade e chega a ponto de dirigir-se diretamente ao sentimento mais forte que sustenta o amor: a própria formalidade. A preocupação com o externo, com as aparências, com a consideração pública é maior que a saudade ou o sentimento de perda provocado pela morte da filha em Damasceno. O discurso, no trecho acima, é completamente irônico. À medida que enaltece a formalidade, desperta em nós a reflexão sobre os subterfúgios sociais que nos fazem, como seres preocupados com a consideração pública, sossegar a alma diante de perdas irreparáveis trazidas pela morte, preocupando-nos com frivolidades. Por todo o romance MPBC, essa crítica ao fingimento social está presente e é literalmente apontada. Já em ACZ, o fingimento aparece, de certa forma, mais implícito. Algumas cenas descritas e poucos comentários de Zeno a respeito despertam o leitor a fim de que se perceba esse fingimento latente; porém, o fingimento maior está no próprio ato de enunciação de Zeno como locutor. Ele, na verdade, finge durante a maior parte da narrativa para seu leitor implícito (o Dr. S.) e para tantas outras personagens, como as filhas Malfenti, às quais ele mente descaradamente. No capítulo “História de uma sociedade comercial”, Zeno declara que: Minha boa sorte impediu-me de ser arruinado por Guido, mas essa mesma boa sorte me impediu igualmente de tomar uma parte mais 176 Amores e valores sociais como meras formalidades: a questão da identidade ... ativa em seus negócios. Digo-o alto e bom som porque há muito gente em Trieste que não pensa assim [...] (ACZ, p. 259). Apesar de estar escrevendo somente para o psicanalista, Zeno quer que muita gente que desconfia dele em Trieste saiba que ele gostava de Guido; preocupa-se, portanto, com a opinião pública. Mas o que seu discurso contraditório nos mostra é que ele odiava o cunhado, tinha-no como um rival, tanto é que colaborou na ruína comercial e pessoal de Guido, praticamente induzindo-o ao suicídio real, uma vez que lhe indicou um veneno poderoso como fraco. Uma diferença considerável entre as atitudes de Brás Cubas e Zeno Cosini, em termos de fingimento diante da sociedade presente na representação narrativa, é que ao passo que Brás usa esse fingimento para mostrar-se como superior, sendo, assim, soberbo, Zeno mostra-se inferior, atrapalhado, durante todos os capítulos da pseudoautobiografia, para mostrar-se superior somente no final, no trecho do pseudodiário, no qual declara seu grande sucesso nos negócios e o abandono do tratamento psicanalítico. Durante os seis capítulos anteriores, nos quais ele é o locutor, vê-se claramente que ele sente prazer em fazer-se crer como um “Carlitos”, criando e contando episódios engraçados às outras personagens, fazendo coisas ridículas, que, ao mesmo tempo em que divertem o leitor, fazem-no desacreditar da seriedade do narrador. No último capítulo, o gozo em parecer inferior desaparece completamente, tanto no enredo (Zeno personagem) quanto no discurso (Zeno locutor). Zeno mostra-se superior a tudo: seu sucesso no comércio, seu abandono ao ócio e ao tédio que o primeiro o obrigava a viver e a própria guerra. Todo conjunto o faz confiante, seguro de si, a ponto de abandonar o tratamento, zombar da teoria psicanalítica e mostrar-se inatingível até mesmo pelo medo da doença, superior aos outros homens, soberbo. Brás Cubas apresenta-se assim desde o início da narrativa, eis uma diferença entre os dois. Porém, ao final do romance, ele volta a se sentir superior. Temos que lembrar que ele mentia nos capítulos anteriores. Naquele em que ele provavelmente diz a verdade, aí se mostra superior a todos, como Brás. O egoísmo e o sentimento de superioridade sobre todos os outros impera, de qualquer 177 Maria Celeste Tommasello Ramos forma, e é o grande estruturador da construção das identidades em cada um, “infladas e lançadas pelas pessoas em ... volta” (BAUMAN, 2005, p. 14). Assim, também o olhar para a construção da identidade é convergente na aproximação do romance brasileiro e do italiano estudados em análise contrastiva e apontam para a consonância da abordagem da identidade pelos discursos que estruturam os dois romances estudados. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASSIS, J. M. M. Memórias Póstumas de Brás Cubas. 24. ed. São Paulo: Ática, 1998. [Série Bom Livro]. BAUMAN, Z. Identidade. Tradução de Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. BERMAN, M. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução de Carlos Felipe Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. COSTA LIMA, J. Dispersa demanda. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1981. GROSSER, H. Narrativa: manuale/antologia. Milano: Principato, 1986. MOTTA, S. V. Engenho & arte da narrativa: invenção e reinvenção de uma linguagem nas variações dos paradigmas do ideal e do real. São José do Rio Preto, 1998. 725f. Tese (Doutorado em Letras/Área de Literatura Brasileira) – Instituto de Biociências Letras e Ciências Exatas – Universidade Estadual Paulista. RAMOS, M. C. T. A representação em Memórias póstumas de Brás Cubas e A consciência de Zeno. São José do Rio Preto, 2001. 280f. Tese (Doutorado em Letras/Área de Teoria da Literatura) – Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas – Universidade Estadual Paulista. SVEVO, I. A consciência de Zeno. 2 ed. (Tradução de Ivo Barroso). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. 178 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade WALNICE APARECIDA MATOS VILALVA “(...) Nego que gosto de você, no mal. Gosto, mas só como amigo!... Assaz mesmo me disse. De por diante, acostumei a me dizer isso sempre vezes, quando perto de Diadorim eu estava. E eu mesmo acreditei. Ah, meu senhor! – como se o obedecer do amor não fosse sempre o contrário (...)” (RIOBALDO) “(...) Aquele lugar, o ar. Primeiro, fiquei sabendo que gostava de Diadorim – de amor mesmo amor, mal encoberto em amizade. (...)” (RIOBALDO) O tema da homossexualidade em Grande Sertão: Veredas organizase sem que haja dúvida a respeito do sexo de Diadorim. Quando apresenta gradativamente sua relação com Reinaldo/Diadorim, tecendo em fios saudosistas o que foi a sinuosa relação com o amigo que o encantou, Riobaldo participa ao leitor (e ouvinte) as sutilezas de gostar de outro jagunço cada vez mais, afirmativamente, em todo seu despojamento e força. Essa composição é afirmativa, por excelência. Mesmo sabendo da verdadeira identidade de Diadorim, Riobaldo opta por apresentá-lo como jagunço. Essa opção intensifica, no discurso, o tema da homossexualidade, mas busca resgatar o percurso da descoberta da identidade de Diadorim, ao longo da narração. Essa é a baliza configural de Diadorim como donzela e guerreiro. Nessa reformulação, a identidade mulher de Diadorim não se constitui, uma vez que se fez jagunço em toda trajetória. Isso seria passivo de afirmação se a narração de Riobaldo não anunciasse que havia sutilezas de Diadorim no agir e enxergar o mundo; façanhas de ser ou parecer em alguns momentos 179 Walnice Aparecida Matos Vilalva quase que indefinidos, ou seria melhor dizer, duplo. Esse jogo discursivo entre não ser, sendo o tempo todo, é a afirmação conclusiva de Riobaldo sobre a neblina que foi seu amigo Reinaldo-Diadorim. Riobaldo articula em seu discurso essa cicatriz ao mostrar o amigo, jagunço e grande guerreiro, que conheceu em sua trajetória. A virgem morta já reconhecida pelo narrador, anunciada previamente, não anula o jagunço, nem mesmo o fato de que Riobaldo amou esse guerreiro tão intensamente, sem mesmo supor da identidade que esse guerreiro ocultava. Diadorim é configurado, por Riobaldo, duplamente afirmativo: ela é donzela e é guerreiro. Essa realização faz-se pela organização da imagem de Diadorim que se intensifica no guerreiro e se antecipa, construindo efeitos de sentidos de Diadorim mulher, espalhados por todo o texto. Exemplos disso são a cantiga de siruiz, a imagem de manuelzinho-dacroa, a beleza da natureza, o ciúme de Riobaldo com Otacília e Nhorinhá. O masculino, como sentido explícito, o amigo-jagunço, aparece como dado certo da personagem. À medida que a narrativa de Riobaldo se desenvolve, a sutileza do feminino, na pele alva delicada, nos olhos verdes, no jeito com as roupas, no cuidado com Riobaldo, contamina (e nodoa) o guerreiro. A imagem se duplica, sendo a seu tempo masculino e feminino. Nem só masculino nem feminino. Mas masculino e feminino duplamente. Esse efeito de contaminação, proposto pela imagem, cria o jogo da homossexualidade. Nas nuanças de Diadorim feminino, Riobaldo restaura sua imagem de jagunço macho. A identidade mulher não identificada por Riobaldo-personagem, no momento da trajetória ao lado do amigo, é reformulada pelo narrador-Riobaldo. É justamente nessa reformulação que o projeto narrativo sugere a “adivinhação” que seu corpo realiza do feminino ocultado pelo corpo jagunço do amigo. – Naquela meiguice, desigual que ele sabia esconder o mais de sempre. E em mim a vontade de chegar todo próximo, quase uma ânsia de sentir o cheiro do corpo dele, dos braços, que às vezes adivinhei insensatamente. / O corpo não translada, mas muito sabe, adivinha se não entende. (GSV, 125) 180 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade A imagem da virgem morta resgata Riobaldo desse impasse, e sua narrativa reconstrói, nesse amor conflituoso e proibido, o saber intuitivo de Riobaldo sobre a Maria Deodorina. Deixei meu corpo querer Diadorim; minha alma? Eu tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro, assim, eu tinha aquele fino das feições, que eu não podia divulgar, mas lembrava, referido na fantasia da idéia. Diadorim – mesmo o bravo guerreiro – ele era para tanto carinho: minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço: a lá, aonde se acabava e remansava a dureza do queijo, do rosto... Beleza – o que é? (GSV, p.510) Eu tinha súbitas outras minhas vontades, de passar devagar a mão na pele branca do corpo de Diadorim, que era um escondido. (... ) (GSV, p. 275) É nesse sentido que Riobaldo afirma ter amado outro homem, aceitando o engano como restituidor da sua condição de jagunço. A questão desdobra-se de amar um homem para amar uma mulher que se fez passar por homem. O recurso narrativo afirma a forte imagem que o disfarce alcançou, mas induz (o ouvinte) a crer que a identidade mulher de Diadorim sempre esteve presente. Para Adolfo Hansen (2000, p.34) O efeito metafísico do texto faz que Riobaldo teorize, em sua fala, a impossibilidade de se estar enganado mesmo no engano – como se, ao justificar-se pelo fato de ter amado a um homem, afirmasse que desde sempre sua intuição não o traíra, que o que houve foi ação da aparência. De Diadorim não me apertava. Cobiçasse de comer e beber os sobejos dele, queria pôr a mão onde ele tinha pegado. Pois, por quê? Eu estava calado, eu estava quieto. Eu estremecia sem tremer. Porque eu desconfiava mesmo de mim, não queria existir em tenção soez. Eu não dizia nada, não tinha coragem. O que tinha era uma esperança. (... ) (GSV, p. 277) 181 Walnice Aparecida Matos Vilalva Esse estatuto narrativo encontra o caminho contrário, por exemplo, da realização da personagem de Balzac, em Sarrasine, que traz na complexidade dos gêneros e da aparência uma discussão sobre a homossexualidade. O escultor Sarrasine busca incansavelmente a beleza feminina. Ao conhecer Zambinella, percebe-se inebriado por tamanha beleza e graça. Mas Zambinella não é senão um ator. A inversão realizada por Zambinella, a mulher que oculta o homem, mostra a ação da aparência e os equívocos que ela pode causar. A aparência trai Sarrasine que apaixonado pela beleza feminina se descobre ter amado um homem. O desespero de Sarrasine não concebe tamanha graça feminina pertencer a um homem. A proposta de Balzac traz para o palco, na figura do ator, a discussão dos papéis masculino e feminino. Zambinella é como é: apenas representação de um papel. Vestiu-se de feminino, cumprindo o ritual diário de mudar os trajes. Terminada a peça, Zambinella veste-se de masculino e passa a representar seu papel mais duradouro, o papel masculino. Assim também Diadorim representa o papel jagunço. Nas palavras de Virginia Woolf (1982, p.111) assim se pode sustentar a tese de que são as roupas que nos usam, e não nós que usamos as roupas; (...). Tanto Diadorim quanto Zambinella realizam, pelo duplo, a composição andrógina por excelência. A perfeição da forma, a beleza constante de encantamento: em sendo um (eu), continua sendo dois (outro). A beleza se dá como princípio de forma e sentimento, pela interposição de contrários, na metamorfose do híbrido... como conjunto das diferenças do ser homem e ser mulher duplamente... “Beleza – o que é? E o senhor me jure! Beleza, o formato do rosto de um: e que para o outro pode ser decreto, é, para destino destinar... E eu tinha de gostar tramadamente assim, de Diadorim, e calar qualquer palavra.” (GSV, p. 510) Para Virginia Woolf (Op.cit., p.111) a beleza está na diferença dos sexos e o vacilo constante que realizamos em ir de um sexo ao outro. Embora diferentes, os sexos se confundem. Em cada ser humano ocorre uma vacilação entre um sexo e outro; e às vezes só as roupas conservam a aparência masculina ou feminina, quando, interiormente, o sexo está em completa oposição com o que se encontra à vista. Essa reflexão da autora transfere a discussão sobre aparência para o registro histórico. É por esse código que Riobaldo enxerga o amigo jagunço: 182 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade Diadorim parece jagunço, por extensão, jagunço é. À luz dos relacionamentos, vejamos como Diadorim se apresenta. Diadorim, duro sério, tão bonito, no relume das brasas. Quase que a gente não abria a boca; mas era um delem que me tirava para ele – o irremediável extenso da vida. Por mim, não sei que tontura de vexame, com ele calado eu a ele estava obedecendo quieto. Quase que sem menos era assim: a gente chegava num lugar, ele falava para eu sentar; eu sentava. Não gosto de ficar em pé. Então, depois, ele vinha sentava, sua vez. Sempre mediante mais longe. Eu não tinha coragem de mudar para mais perto. (GSV, p.20) Benedito Nunes (1983,145), em sua análise sobre O amor na obra de Guimarães Rosa, observa que o jagunço Riobaldo “conhece três espécies diferentes de amor: o enlevo por Otacília, moça encontrada na Fazenda Santa Catarina, a flamejante e dúbia paixão pelo amigo Diadorim, e a recordação voluptuosa de Nhorinhá, prostituta, filha daquela Ana Duzuza, e versada em artes mágicas”. São três amores, três paixões qualitativamente diversas, que chegam por vezes a interpenetrar-se.1 Dos três amores, mencionados pelo crítico, enxergamos na paixão flamejante e dúbia, da relação com Diadorim, o sentimento intenso que alcança um processo ascensional decifrador da imagem de Diadorim. Como componente narrativo, o amor é o elo da amizade entre os dois jagunços, e funde, com base na relação com Riobaldo, a atitude reveladora de Diadorim. “(...) eu vinha tanto tempo me relutando, contra o querer gostar de Diadorim mais do que, a claro, de um amigo se pertence gostar; e, agora aquela hora, eu não apurava vergonha de se me entender um ciúme amargoso.” (GSV, 26). Tanto Otacília quanto Nhorinhá, a primeira como lembrança serena, imagem ideal colhida, de passagem, num pedaço de sertão (...), e a segunda, como recordação voluptuosa de Riobaldo, são retomadas pelo narrador em 1. Para o crítico, há relação entre essas três espécies de amor, diferentes formas ou estágios de um mesmo impulso erótico, que é primitivo e caótico em Diadorim, sensual em Nhorinhá e espiritual em Otacília. (p.145). NUNES, Benedito. O amor na obra de Guimarães Rosa. In: Guimarães Rosa: fortuna crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. 183 Walnice Aparecida Matos Vilalva momentos afirmativos de amor por Diadorim. Otacília e Nhorinhá potencializam os estágios de um mesmo relacionamento na sua dimensão afetiva e sexual. O que não ocorre com Rosa’duarda, outra presença feminina na trajetória de Riobaldo. (...) – me ensinou as primeiras bandalheiras, e as completas, que juntos fizemos, (...). Sempre me dizia uns carinhos turcos, e me chamava de: – ‘meus olhos’. Mas os dela era que brilhavam exaltados, e extraordinários pretos, duma formusura mesmo singular. (...) (GSV, p.97) As imagens de Otacília e Nhorinhá substituem o papel impossível de ser exercido pelo jagunço Diadorim. A aproximação de Riobaldo e Diadorim, o afastamento dos outros jagunços, e a intimidade de silêncio e reciprocidade de um querer orientam entre os dois um estado constante de ternura e sofrimento. Nesses momentos, Riobaldo se transporta à imagem de Nhorinhá ou Otacília, conclamando nessa condição a opção que não pode fazer pelo amigo Diadorim. A busca por essas duas imagens femininas se sobrepõe à presença de Diadorim. A amante e a esposa, duas condições desejadas, mas que Riobaldo reconhece não poder encontrar no amigo. Nesse aspecto, Diadorim configura-se também pela relação construída com essas duas personagens femininas. Da mesma maneira, Nhorinhá e Otacília restituem a Riobaldo a sua macheza, confirmando a opção heterossexual. Tudo turbulindo. Esperei o que vinha dele. De um aceso, de mim eu sabia: o que compunha minha opinião era que eu, às loucas, gostasse de Diadorim, e também, recesso dum modo, a raiva incerta, por ponto de mão ser possível dele gostar como queria, no honrado e no final. Ouvido meu retorcia a voz dele. Que mesmo, no fim de tanta exaltação, meu amor inchou, de em papar todas as folhagens, e eu ambicionando de pegar Diadorim, carregar Diadorim nos meus braços, beijar, as muitas demais vezes, sempre. (GSV, p.29) (grifo nosso) A apreensão do corpo e o toque, entre jagunços, aparecem enternecidos, suspensos pela impossibilidade. Esta remete ao encontro, à 184 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade exaltação do que está velado, daquilo que no dizer de Riobaldo é gostar dele como queria, no honrado... O amor impossível assim é, por ser amor entre jagunços, entre dois homens de armas. O sofrimento inevitável realiza o constante movimento entre negação e afirmação desse sentimento. Nas palavras de Suzi Sperber (1982, p. 95): Mais forte que tudo, Diadorim é impossível. Como filha de Joca Ramiro, representa a ordem social vigente; como mulher representa a liberação desta ordem. Tem consciência ao mesmo tempo do seu amor por Joca Ramiro e por Riobaldo; de seu desejo por ambos, tendo ciúmes das mulheres amadas por Riobaldo e inveja de Otacília. Tem consciência de seu ódio por Hermógenes, que representa ameaça constante de perda dupla: de um lado, a perda efetiva de Joca Ramiro; por outro, a perda em potencial de Riobaldo. (...) Mas os olhos sendo os de Diadorim. Meu amor de prata e meu amor de ouro. De doer, minhas vistas bestavam, se embaçavam de renuvem, e não achei para olhar para o céu. (GSV, p. 41) Imersas na imagem de Diadorim, no que dela se apreende da relação entre jagunços, a sensibilidade e a beleza dão forma e fluidez a sentidos que se mobilizam pelo silêncio: “ (...) mas a voz dele era tanto-tanto para o embalo de meu corpo. Noite essa, astúcia que tive uma sonhice: Diadorim passando por debaixo de um arcoíris. Ah, eu – pudesse mesmo gostar dele os gostares...” (GSV, p.41) Sentimento que se orienta entre vontade e recuo, entre impossível e a relação possível. A imagem de Diadorim, ao ser representada, traz cravada como compreensão e composição a singularidade bela e exacerbada do sentimento. Na voz de Riobaldo, de tudo que se diz, naquilo que não se diz afirmativamente, mas pelas interrogativas constantes, o narrador saudosista nos mostra Diadorim como puro sentimento e emoção. Mas, se você algum dia deixar de vir junto, como juro o seguinte: hei de ter a tristeza mortal... Disse. Tinha tornado a pôr a mão na minha mão, no começo de falar, e que depois tirou; e se espaçou de mim. Mas nunca eu senti que ele estivesse melhor e perto, pelo quanto da 185 Walnice Aparecida Matos Vilalva voz, duma voz mesmo repassada. Coração – isto é, estes pormenores todos. Foi um esclaro. O amor, já de si, é algum arrependimento. Abracei Diadorim, como as asas de todos os pássaros. Pelo nome de seu pai, Joca Ramiro, eu agora matava e morria, se bem. (GSV, p.31; grifo nosso). Afirmando e muitas vezes interrogando, seu discurso sinestésico simula o corpo, mas não a materialidade do corpo, nem mesmo a dimensão latente do desejo sexual. Isso não ocorre com a narrativa de Riobaldo, ao dar forma ao que foi seu relacionamento com o jagunço. Temos, sim, o corpo na esfera do sagrado, resguardado, conclamado em seu desconhecido segredo. O corpo fala pelos olhos verdes tão impossível. Os olhos, de jagunço forte e guerreiro, são os mesmos que embalam os sonhos de Riobaldo e mobilizam a perfeição, em todo seu esplendor. “(...) Que vontade era de pôr meus dedos, de leve, o leve, nos meigos olhos dele, ocultando, para não ter de tolerar de ver assim o chamado, até que ponto esses olhos, sempre havendo, aquela beleza verde, me adoecido, tão impossível.” (GSV, p. 36) A sinestesia, recurso alcançado pelo narrador em momentos em que fala sobre sua relação com Diadorim, aparece combinada a outros, na obtenção da materialidade da beleza. Quando vislumbramos o contorno da imagem de Diadorim, não raro encontramos, repetidas vezes, as expressões mais (do latim ‘magis’), muito, tanto-tanto, sempre, tudo, funcionando como componentes discursivos que intensificam o sentido do sentimento-Diadorim. Atrelada a essa questão, percebemos que não há uma única imagem de Diadorim que não seja composta pelas adversativas. A adversativa inaugura uma dinâmica dual, na voz do narrador Riobaldo. Há sempre um eixo entre a afirmativa e a negação, ou entre uma situação e outra, apontando a mobilidade interna da relação. Riobaldo apreende, nessa realização discursiva, essa metamorfose de sensações. Mais do que nunca, a relação com Diadorim leva ao limite essa condição. Só de mim era que Diadorim às vezes parecia ter um espevito de desconfiança; de mim, que era o amigo! Mas, essa ocasião, ele estava ali, mais vindo, a meia-mão de mim. E eu – mal de não me consentir 186 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade em nenhum afirmar das docemente coisas que são feias – eu me esquecia de tudo, num espairecer de contentamento, deixava de pensar. Mas sucedia uma duvidação, ranço de desgosto: eu versava aquilo em redondos e quadrados. Só que coração meu podia mais. O corpo não traslada, mas muito sabe, adivinha se não entende. Perto de muita água, tudo é feliz. (GSV, p.21; grifo nosso) O discurso de Riobaldo sobre Diadorim privilegia o instante, do latim instaus que significa o que aperta, persegue; quer o instante do olhar, o toque reprimido, quer os diálogos breves entre os dois jagunços. A estrutura interna do instante traz a temporalidade perene, exaustiva na qualidade de sentido retido, condensado do “eu”. Por isso, não raro, realiza pelo contraste, gerado entre afirmativa e adversativa, alternadamente, o choque entre um acontecimento e outro; mais: entre acontecimento e desejo, entre sonho e realidade, entre presença e ausência. O poço abria redondo, quase, ou ovalado. Como no recesso do mato, ali intrim, toda luz verdeja. Mas a água, mesma azul, dum azul que haja – que roxo logo mudava. A vai, coração meu forte. Sofismei: se Diadorim segurasse em mim com os olhos, me declarasse as todas as palavras? Reajo que repelia. Eu? Asco! (GSV, p.50) Na reformulação da trajetória ao lado do amigo jagunço, Riobaldo recria, para o ouvinte, o percurso de sua descoberta sobre a “identidade” de Diadorim: “E disse: eu conheci! Como em todo o tempo antes eu não contei ao senhor – e mercê peço: – mas para o senhor divuldar comigo, a par, justo o travo de tanto segredo, sabendo somente no átimo em que eu também soube...” (GSV, 530). Nessa ordem, o narrador constrói a disposição de acontecimentos, a exemplo do encontro na infância e do reencontro definitivo depois de adultos como motivados pelo destino. A tematização do destino obedece a um processo de re-interpretação de acontecimentos centrais na trajetória de Riobaldo. O destino, então, atinge a interiorização, no ato narrativo, de expressão da ação humana quer pela dor quer pela alegria e amor. Nessa 187 Walnice Aparecida Matos Vilalva subjetivação começa a aparecer o sentido vital do destino, a ideia de ação que busca integrar-se como saber e fim de si mesmo. Por que foi que eu precisei de encontrar aquele menino? (...) para que foi que eu tive de atravessar o rio, defronte com o Menino? (...) Sonhação – acho que eu tinha de aprender a estar alegre e triste juntamente, depois, nas vezes em que o Menino pensava, eu acho que. Mas para quê? Por quê? (...) (GSV, pp.92-93) / Ao que, digo ao senhor, pergunto: em sua vida é assim? Na minha, agora é que vejo, as coisas importantes, todas, em caso curto de acaso foi que se conseguiram. (...) ah, e se não fosse, cada acaso, não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte? Coisa vã, que não conforma resposta. (GSV, 107)/ Se eu não tivesse passado por um lugar, uma mulher, a combinação daquela mulher acender a fogueira, eu nunca mais, nesta vida, tinha topado com o Menino? (...) (GSV, 121) / Dizque-direi ao senhor o que nem tanto é sabido: sempre que se começa a ter amor a alguém, no ramerrão, o amor pega e cresce é porque, de certo jeito, a gente quer que isso seja, e vai, na idéia, querendo e ajudando; mas, quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço fatal, carecendo de querer, e é um só facear com as surpresas. Amor desse, cresce primeiro; brota é depois. (...) (GSV, p. 118; grifo nosso) O destino confere, enquanto compreensão de ação humana, a consciência de limite, escapando a possibilidade de intervenção humana, e por assim o ser a necessidade de compreensão: as circunstâncias não são suficientes para explicar os atos. Riobaldo afirma que foi o destino que o colocou diante de Reinaldo/Maria Deodorina, e por extensão, permitiu, a ele, amar outro jagunço. Cria-se, ao longo do romance, outro tom. Diria, mesmo, outro ritmo internamente interposto ao espaço da guerra, a ordem dos jagunços: Conforme pensei em Diadorim. Só pensava era nele. Um João-debarro cantou. Eu queria morrer pensando em meu amigo Diadorim, 188 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade mano-oh-mano, que estava na Serra do Pau-d’Arco, quase na divisa baiana, com nossa outra metade dos sô-calendários... Com meu amigo Diadorim me abraçava, sentimento meu ia-voava reto para ele...(GSV, p. 13) (grifo nosso) Nessa passagem, o discurso de Riobaldo instaura a dissonância entre sentimento – um pseudoanonimato do ponto de vista do comportamento de Riobaldo-personagem; e, a satisfação do narrar e o engrandecimento do amor por Diadorim nas palavras de Riobaldo narrador – e a relação possível que os envolvia. Sem nada saber sobre Diadorim, o ouvinte é guiado a um primeiro contato, ainda sem supor que se trata de uma narrativa de amor e morte. Esse mesmo ouvinte é conduzido à compreensão do enunciado que, em si, transborda sentimento e saudade. Na voz do narrador, re-elabora-se a experiência truncada e dolorida do recato da amizade: “tinha súbitas outras vontades, de passar devagar a mão na pele branca do corpo de Diadorim, que era um escondido” (GSV, p.275) Interessante se faz, sobretudo, a imagem a um só tempo de companheirismo entre ambos, mantendo dureza e distância dos demais jagunços: “porque jagunço não e muito de conversa continuada nem de amizades estreitas: a bem eles se misturam e desmisturam, de acaso, mas cada um é feito por si (GSV,p. 20) Há, segundo perspectiva de bando, a ruptura de comportamento, pensada à luz da relação entre Riobaldo e Diadorim que não chega a gerar conflito O narrador, logo no início, chama atenção para essa diferença estabelecida: “De nos dois juntos, ninguém nada não falava. Tinham a boa prudência. Dissesse um, caçoasse, digo – podia morrer. Se acostumavam de ver a gente parmente. Que nem mais maldavam” (GSV, p. 20) Riobaldo e Diadorim realizam a disposição do par, dentro do espaço da guerra; como jagunços apontam, pela proximidade que os envolve, a diferença. Segundo o ponto de vista interno, pensado aqui como a relação entre Riobaldo e Diadorim, há a reciprocidade – ainda que pelo antagonismo. Dissonância e reciprocidade conclamam os caminhos e descaminhos em que ambas as personagens estão envolvidas ao longo da trajetória. 189 Walnice Aparecida Matos Vilalva Par é como o narrador desde logo apresenta sua relação com Diadorim ao seu ouvinte. Par como sinônimo de parceria, parmente. Par como união verdadeira entre dois amigos que se querem junto em junto. Par como inseparáveis pela experiência vivenciada em extremo dois: “Diadorim e eu, nós dois. A gente dava passeios. Como assim, a gente se diferenciava dos outros.” A narrativa parece se encadear não apenas como expressão do euRiobaldo, mas como tentativa de apreensão de dois, das coisas vividas sempre juntas, lado a lado. Como dois, é um par. Nesse sentido, depreendemos expressões que articulam essa dimensão afetiva do Par como a gente (quase que a gente não abria a boca)/ eu versava/ ele sentia/ Esperei o que vinha dele/nós temos de voltar/vamos retornar(...)/ As vontades, de minha pessoa estavam entregues a Diadorim/ – Que você em sua vida toda toda por diante, tem de ficar para mim, Riobaldo, pegado em mim, sempre! ... – que era como se Diadorim estivesse dizendo. Montamos, viemos voltando. E, digo ao senhor como foi que eu gostava de Diadorim: que foi que, em hora nenhuma, vez nenhuma, eu nunca tive vontade de rir dele. (GSV, p. 252) Diadorim e Riobaldo pela diferença que se estabelece entre ambos realizam, pela cumplicidade, a harmonia. Uma harmonia (palavra grega que significa encaixe, união, acordo) que se desintegra e se re-estrutura constantemente, diante do impasse amoroso entre os dois jagunços. A noção de par, na consciente relação entre Riobaldo e Diadorim (“eu” e “tu”), instaura a polaridade pela dessemelhança e pela complementaridade. (- Riobaldo... Reinaldo.../... Dão par, os nomes de nóis dois.../ O Reinaldo comigo par a par (...). Essa relação impõe a evocação do conjunto, sem que, entretanto, se perca o matiz determinador de cada um dos elementos como forças conjugadas (maléficas ou benéficas); a sonância do par precipita e reforça, na ação, o sentido dos pólos. A representação faz-se, por isso mesmo, em desdobramentos paralelos do eu/tu: Riobaldo/Diadorim. Como no romance de cavalaria, a imagem do par implica na compreensão da complementaridade dos cavaleiros, evocando quase sempre dois elementos fundamentais e determinantes da ação. Diante dessa perspectiva, 190 Grande Sertão Veredas: Amor e homossexualidade podemos ponderar que esse mundo de compreensão medievo2 instaura-se como possibilidade de apreensão da relação entre Riobaldo e Diadorim. A relação que nasce da infância sugere a formação do par como reciprocidade antagônica e atrativa. Latente antagonismo que repousa na dialética do movimento e da descoberta do “eu” a partir do “tu”: a divisão, o embate entre a fraqueza de Riobaldo e a determinação de Diadorim. Ao abordarmos essa dupla, pela noção de parceria que se estabelece, somos levados a localizar a relação ímpar de Dom Quixote e Sancho. A combinação dessas duas personagens, em travessia assim como Riobaldo e Diadorim, realiza dois modos de vida, duas formas de enxergar a realidade. De um lado, a vontade idealística de ser e ver; de outro, a visão penetrante da realidade. Auerbach (2002, p. 314) salienta que “o mais variado suspense e a mais sábia alegria do livro mostram-se na relação em que Dom Quixote se encontra constantemente: a sua relação com Sancho Pança. (grifo nosso) Aproveitemos dessa afirmativa de Auerbach, localizando nela um aspecto central do par: “esse encontrar-se” constantemente na relação com o outro. Na parceria estabelecida entre Riobaldo e Diadorim, contudo, há o amor, sentimento que traz complexidade para a relação proibida entre dois jagunços. Nessa relação de parceria, Diadorim é aquele que conduz, levando Riobaldo à capacidade transformadora e inquietante da vida, sempre resignificando-a. Em Diadorim, a imagem retida da Natureza é apreensão lírica do mundo, como estado de contemplação; e, em um segundo estágio, sentido cifrado da sua relação com Riobaldo. Essa condição apresentada por Diadorim não se estende na compreensão e relação com os outros, ou melhor, não subtrai do mundo jagunço a bruteza, o ódio e a vingança. Essa dimensão da natureza transforma-se, pelos sentidos que fluem, em código restrito entre os dois jagunços. Em um discurso sempre articulado, assentado em Nós em um entrecruzamento entre eu e ele, meu e dele, não há a conclamação do Eu sem o Outro. O mundo- 2. Ver sobre essa perspectiva as pesquisas de Cavalcante Proença, M. Trilhas no Grande Sertão. Ministério da Educação e Cultura/ Serviço de documentação, s/d. e Antonio Candido. O homem dos avessos. Tese e antítese. 2 ed. São Paulo: Nacional, 1971. p.119-140 191 Walnice Aparecida Matos Vilalva sertão e a Natureza são apreensões feitas e compreendidas a partir de dois.3 O uno perde sua expressividade, aniquila-se como perspectiva abrangente. Essa configuração se dá pela esfera de entreposição, o “eu” e o outro, em que não se vê uma única face, pela semelhança, mas se reconhece a diferença como elemento integrante necessário: o outro não apenas como extensão de “eu”. Conforme observa Northrop Frye (1973, p.20) a semelhança implica uniformidade e monotonia. Não é possível falar de Riobaldo sem Diadorim, ou vice-versa. A experiência de um está, ou foi moldada, no outro. Contar a história de um é saber a história do outro: “o Reinaldo – que era Diadorim: sabendo deste o senhor sabe minha vida; (...).” (GSV, p. 279) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AUERBACH, Eric. A Dulcineia encantada. In: Mimesis. São Paulo: Perspectiva, 2002. BALZAC, H de. Sarrasine. In: A comédia humana. São Paulo: Globo, 1996. CANDIDO, Antonio. O homem dos avessos. Tese e Antítese. 2 ed. São Paulo, Nacional, 1971, p.119-140. FRYE, N. O caminho crítico. São Paulo: Perspectiva, 1973. GARBUGLIO, J. Carlos. O mundo movente de Guimarães Rosa. São Paulo. Ática, 1972. HANSEN, Adolfo. A ficção da literatura em Grande Sertão: Veredas. São Paulo: Hedra, 2000. NUNES, Benedito. O amor na obra de Guimarães Rosa. In: Guimarães Rosa: Fortuna crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1983. PROENÇA, C. Trilhas no Grande Sertão. Ministério da Educação e Cultura/ Serviço de documentação, s/d. SPERBER, S. F. Caos e cosmos. São Paulo: Duas Cidades, 1976. WOOLF, Virginia. Orlando. São Paulo: Abril, 1982. 3. Sobre essa questão, ainda ver: GARBUGLIO, J.C. O mundo dos duplos. In: O mundo movente de Guimarães Rosa, São Paulo: Ática, 1972. 192 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades HENRIQUE RORIZ AARESTRUP ALVES O único roteiro é o corpo. O corpo. João Gilberto Noll A esfera pública, na condição de instância que discute as normas gerenciadoras do funcionamento da própria vida social no âmbito “privado”, influencia diretamente nas relações entre corpo e cidade. Ao delimitar espaços específicos para a atuação do indivíduo, as sociedades tentam organizar suas ações e comportamentos, de acordo com classificações que os consideram como públicos ou privados. Em sistemas capitalistas modernos, a esfera do poder público, representado pelo Estado, trataria de questões coletivas em instituições sociais criadas para esse fim, enquanto o espaço privado estaria situado nas relações industriais e comerciais de trabalho, e também na intimidade da família burguesa e suas posses. Habermas afirma que “a compreensão que o tirocínio público tem de si mesmo é dirigido especificamente por tais experiências privadas que se originam da subjetividade, em relação ao público, na esfera íntima da pequena-família.” (2003: 43). O setor público estaria, em princípio, intimamente ligado ao privado, mas separado por fronteiras determinadas pelas normas que gerenciam suas instituições em suas especificidades sociais. Nesse sentido, a esfera pública funcionaria como uma dimensão negociadora entre o poder público e os interesses do capital privado, formulando, então, as regras gerenciadoras não só do funcionamento da sociedade civil, mas do âmbito social como um todo. Karl Marx já criticava essa esfera pública burguesa, considerando que assumiria uma condição de classe em seu processo de formação, o que deveria ser combatido pela inclusão das outras no espaço público: na medida em que 193 Henrique Roriz Aarestrup Alves essas classes não seriam consideradas proprietárias, não haveria o interesse em manter a sociedade civil enquanto esfera privada, ocasionando uma mudança estrutural da esfera pública burguesa. Dessa forma, a esfera pública assumiria um caráter mais democrático ao deliberar e administrar publicamente a vida social, tendo em vista a socialização dos meios de produção. De qualquer maneira, nesse processo de estabelecer as fronteiras entre o público e o privado, tanto as sociedades capitalistas quanto as socialistas instituem seus significados simbólicos ao “imprimi-los” nas dimensões corporais e espaciais dos indivíduos e das cidades, dando sentido a eles. Aliás, ao privilegiarem o campo do público em detrimento do privado, as sociedades socialistas apresentariam algumas particularidades na demarcação de corpos e cidades, em relação às sociedades capitalistas. De qualquer maneira, os corpos e os ambientes urbanos adquirem sentidos diante das próprias relações firmadas entre essas instâncias, à medida que são formatados para serem reconhecidos em sua materialidade e “corporeidade” social. Na modernidade capitalista, a moral burguesa e suas práticas encontravam respaldo na própria ciência iluminista, a qual sempre procurou racionalizar o funcionamento do corpo no intuito de classificá-lo e, consequentemente, direcioná-lo para a dinâmica do trabalho e da circulação de mercadorias nos ambientes urbanos. Tendo em vista as relações entre corpo e cidade, Richard Sennett, em sua obra intitulada Carne e pedra, reflete sobre a influência das descobertas científicas, como a da circulação sanguínea do corpo humano, na reestruturação sofrida pelas cidades, apontando para a necessidade de maior espaço para a circulação dos transeuntes: Construtores e reformadores passaram a dar mais ênfase a tudo que facilitasse a liberdade do trânsito das pessoas e seu consumo de oxigênio, imaginando uma cidade de artérias e veias contínuas, através das quais os habitantes pudessem se transportar tais quais hemácias e leucócitos no plasma saudável (SENNETT, 1997, p. 214). Dessa maneira, o teórico indica as profundas transformações, operadas no “corpo” da cidade, com base na metáfora da circulação sanguínea e dos movimentos respiratórios. Contraditoriamente, esse projeto moderno de 194 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades desenvolvimento das vias de circulação para promover a “saúde” da própria cidade será contaminado pela heterogeneidade cultural, pelo desequilíbrio social e descontrole arquitetural do próprio “corpo” urbano, que se vê descentrado e fragmentado em sua pretensão de estabilidade. Dessa forma, os habitantes em deslocamento nesse “sistema circulatório”, “tais quais hemácias e leucócitos no plasma saudável”, se veem inseridos muito mais em um contexto de septicemia do que de assepsia, à medida que os projetos higienistas fracassam ao perderem o controle sobre o funcionamento e estruturação dos espaços urbanos. A modernidade de cunho positivista, centrada na “ordem e progresso”, mostrar-se-ia, pois, comprometida em suas próprias pretensões civilizatórias ao caminhar para a desordem e retrocesso de suas propostas. Essa “marcha” da modernidade rumaria para os contextos mais conturbados da pós-modernidade, os quais evidenciariam, definitivamente, a impossibilidade de se maquiarem suas contradições. Nesse processo, o centro homogêneo das cidades esfacela-se diante do deslocamento provocado pelas influências de outros espaços, muitas vezes periféricos, que se impõem como tópicos. Dessa maneira, o sujeito pós-moderno, ao fazer interagir seus corpos com os espaços citadinos, dilui e fragmenta a nitidez de suas diversas fronteiras, inclusive a de sua identidade, a qual se mostra extremamente fluida e instável. Sendo assim, os indivíduos inseridos nas sociedades contemporâneas sofrem um processo de constante descentramento, e se veem forçados a redimensionarem a percepção de suas identidades, dos espaços urbanos, e de seus próprios corpos. Esses deslocamentos diversos têm relação direta com a atual crise de instituições sociais e sua “(in)capacidade” de gerenciar a relação entre corpos e ambientes urbanos. Consequentemente, a delimitação dos espaços específicos para a atuação do indivíduo mostra-se comprometida em sua pretensão de estabelecer as fronteiras entre o público e o privado, em consonância com negociações inerentes à esfera pública. Em sociedades capitalistas, o processo de universalização dos valores do capital parece ter sido levado ao extremo, pois se percebe uma tendência à invasão do espaço público pelo privado, à medida que o poder público incorpora interesses particulares de determinados grupos privados ao invés de fiscalizá-los em nome da coletividade. Na prática das relações sociais, bens públicos são apro- 195 Henrique Roriz Aarestrup Alves priados por interesses particulares, espaços e objetos privados são tomados ou utilizados como se fossem públicos. Nesse contexto de inversões de fronteiras, a esfera pública minimiza seu caráter de embate, já que tanto o Estado quanto os donos do capital convergem seus interesses e ações para o próprio capital como o valor maior. A opinião pública também se mostra envolvida por essas confluências, à medida que os conflitos são banalizados e reflexões críticas se tornam controladas por um turbilhão de discursos que apenas tentam camuflar o fato de que as sociedades pós-modernas se alimentam de suas próprias contradições. Na narrativa de A fúria do corpo, de João Gilberto Noll, esse processo de deslocamento de fronteiras entre o público e o privado insere-se no conjunto de inversões diversas realizadas pelos personagens, que levam a um grau extremo o processo de se misturarem às misérias dos ambientes citadinos, chegando, consequentemente, ao limiar do desmanche de seus corpos. No texto, a cidade do Rio de Janeiro é apresentada por frequentes visitas a diferentes espaços urbanos, como as ruas de Copacabana e outros bairros, o centro, a favela, etc. Ao circular, o narrador-personagem se depara com lugares e situações que interagem intensamente com seu corpo, como os morros cheios de leprosos, armas e drogas; hospitais e enfermarias; apartamentos conjugados; abrigos, boates infernais, cinemas, calçadas e locais de prostituição. Nesse perambular, corpos e espaços urbanos diluem suas fronteiras ao tornarem suas degradações, fragmentações e mazelas miscíveis, desconsiderando, inclusive, as demarcações simbólicas que separam público de privado. Se as ruas e praças da cidade carioca podem ser consideradas como pertencentes ao poder público, servindo para a sociedade civil estabelecer relações sociais específicas, como as comerciais e de trabalho, ao misturarem seus corpos às degradações e fazerem sexo nesses espaços, os personagens problematizam as instituições em suas funções de demarcar a sociedade e, consequentemente, de separar as instâncias pública e privada. Uma passagem do texto de Noll pode metaforizar algumas dessas inversões que ocorrem nas cidades contemporâneas, assim como suas crises institucionais. Na cena, as vias de circulação dos moradores do morro servem tanto para a satisfação das necessidades fisiológicas do narrador-protagonista 196 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades quanto para a relação sexual de um casal de leprosos. Nesse contexto, a exposição de relações íntimas entre corpos subverte normas instituídas socialmente, deslocando fronteiras: (...) começo a mijar e vejo um grito vindo de baixo dois leprosos um em cima do outro e eu tava mijando em cima deles o debaixo devia ser mulher porque tinha umas sobras pelancudas onde outrora devia ser o seio o de cima vinha uma bunda carcomida por crateras e os dois olharam pro meu pau e riram um riso doido e o debaixo que deveria ser mulher pediu que mijasse mais (...). (NOLL, 1989, p. 52). A cidade do Rio de Janeiro encontra-se inserida no contexto capitalista das sociedades ocidentais modernas e, portanto, as relações entre público e privado obedeceriam às determinações de uma “esfera pública” de origem burguesa. Nesse contexto, à instância privada pertenceriam práticas pessoais definidas, como higiene corporal, relações sexuais, além de outros comportamentos domésticos mais subjetivos e realizados no âmbito das residências particulares. Sendo assim, os personagens da narrativa de Noll subverteriam as relações entre público e privado ao fazerem sexo nas ruas da cidade e misturarem seus corpos com os espaços urbanos degradados, colocando em questão os padrões de comportamento instituídos na cidade carioca contemporânea. A rua, espaço público determinado para o trânsito das pessoas e relações sociais específicas, é ocupada pelos personagens como se fosse propriedade privada, ou seja, pertencente à esfera íntima de práticas pessoais, ao passo que seus corpos, ao executarem atividades típicas da vida privada, como o sexo, tornam-se públicos. Essa inversão parece evidenciar a desestabilização que sofrem as próprias instituições no contexto pósmoderno da sociedade brasileira, à medida que se encontram comprometidas em suas funções de gerenciar a vida social de acordo com suas normas e demarcações de fronteiras diversas. Dessa forma, o controle dos corpos pelas instituições sociais é abolido, mesmo que em regiões periféricas da cidade, como no espaço da favela do texto de Noll. Nesse processo, ao exteriorizar e misturar seus fluidos internos, como urina e sangue, os corpos se superficializam e tornam explícitas suas próprias entranhas, subvertendo não 197 Henrique Roriz Aarestrup Alves só a compartimentação dos espaços urbanos, mas também dos orgânicos, à medida que apresentam pouco nítidas as divisas que permitem identificar e diferenciar seus gêneros e partes anatômicas. É interessante observar que os elementos intersticiais do corpo, como orifícios, excrementos, secreções e demais líquidos orgânicos representariam a possibilidade de invasão de um compartimento corporal por outro, como se a mistura entre eles significasse algum perigo em potencial. Materiais produzidos pelo corpo, como saliva, catarro, pus e sangue, por exemplo, por apresentarem consistência “pastosa”, fluida ou de contornos não fixos, podem significar um incômodo, um mal-estar simbólico causado, justamente, pela dificuldade de controle sobre eles. Nesse sentido, esses componentes do corpo devem ocupar espaços específicos não somente devido ao próprio funcionamento orgânico, mas principalmente por questões culturais, tornando-se alvo da organização social por meio de práticas higiênicas que funcionam muito mais como “rituais” de limpeza. Dessa forma, a dimensão “natural” do corpo tende a ser culturalizada, adquirindo sentido aos olhos da sociedade. De acordo com José Carlos Rodrigues, em Tabu do corpo, o sentimento de nojo significaria a própria subversão da ordem social “impressa” no corpo: A reação de nojo é uma reação de respeito pelas convenções que classificam e separam. Assim como o ato de purificar é um ato de retirar as manchas que borram as linhas de demarcação dos limites de cada categoria – porque é necessário haver separação para haver comunicação e haver sentido para a poluição ter sentido. Uma coisa nojenta é sempre uma coisa que cruza indevidamente uma linha demarcatória, estabelecendo-se em um lugar impróprio e deslocado do sistema de ordenação. A reação do nojo é uma reação de proteção contra a transgressão da ordem (RODRIGUES, 2006, p. 125). Dessa maneira, a passagem do texto de Noll transgride a organização social que pretende delimitar o corpo e os espaços urbanos. Importante observar que a própria favela em que se passa a cena poderia ser considerada como uma parte do “corpo” urbano sobre a qual a sociedade não conseguiria exercer pleno controle. Com o processo de relativização de fronteiras entre “cen- 198 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades tro” e “periferia” que ocorre nas cidades pós-modernas, muitas vezes alguns grupos considerados como “intersticiais” são vistos como portadores de elementos poluígenos capazes de “contaminar” o tecido social, pois representariam uma ameaça de “mistura” ao não mais se fixarem em espaços urbanos socialmente determinados para eles, como a favela ou o subúrbio. De qualquer maneira, o espaço da favela, na narrativa, remete à ideia de total falta de controle das regras instituídas sobre os corpos e os territórios da cidade. Na passagem, os leprosos estabelecem contatos físicos com a urina do personagem narrador sem esboçar o menor sinal de nojo ou aversão. Aliás, eles riem e pedem que o narrador urine mais em cima deles, subvertendo as normas sociais que determinam locais apropriados para a satisfação das necessidades fisiológicas e sexuais. O riso expressa o ato transgressivo em si, pois é provocado, de forma consciente, pela sensação de desobediência à regra enquanto referencial de conduta. Além disso, a reação dos leprosos indicaria certo nível de satisfação ao misturarem seus corpos deformados com urina, apontando, assim, para mistura de elementos orgânicos e anatômicos como componentes de suas corporeidades comprometidas pela desintegração. Sendo assim, a lepra faz-se metáfora da perda de limites corporais, que se confundem na deformação dos membros e suas extremidades. Esse apagamento de limites entre corpos é levado a um grau extremo nessa passagem do texto de Noll, pois, misturados às suas fronteiras, encontram-se lama, sangue, sêmen e urina, além da própria deformidade, que acentua ainda mais a indistinção entre eles. A falta de controle sobre esses elementos corporais que deveriam estar separados e retidos em seus devidos lugares, de acordo com a ordem estabelecida, parece evidenciar, metaforicamente, a falência e a fragilidade das instituições reguladoras da vida social. Nesse sentido, o caráter transgressor da ação dos personagens consistiria, principalmente, em remeter as regras sociais para a instância do arbitrário ao deslocar seus corpos para além dos dispositivos de coerção. A respeito do controle social sobre o corpo, José Carlos Rodrigues observa que: Temos aí, em estado prático, um sistema de classificação de pessoas e de comportamentos em ‘íntimos’, ‘privados’, ‘públicos’, ‘sociais’, ‘coletivos’ etc., bem como uma classificação de situações em que se 199 Henrique Roriz Aarestrup Alves podem observar estes comportamentos, situações passíveis de determinar diretamente a natureza do comportamento – especialmente nesse terreno, já que muitos comportamentos são realizáveis apenas em público, alguns são nojentos no contexto doméstico, outros não o são no contexto erótico e assim por diante ... (RODRIGUES, 2006, p. 139). Ao analisar os processos de afastamento e/ou aproximação de corpos em determinadas circunstâncias, o teórico ressalta a necessidade cultural de classificação de comportamentos e atividades como forma de afirmar a legitimidade das próprias instituições e suas organizações reguladoras da vida social. Entretanto, os leprosos da passagem de Noll, com suas “crateras corporais” e extremidades carcomidas, parecem funcionar como uma alegoria da sociedade brasileira e suas instituições, cujas fissuras e desgastes exibem a desintegração e a incapacidade de gerenciamento por trás de sua pretensão de funcionalidade. Nesse processo, os sistemas de controle que procuram rotular “a natureza do comportamento” são desvinculados dos corpos dos personagens e espaços da favela, os quais parecem ser remetidos a uma época pré-moderna de civilização em que tudo se misturava e apresentava outros significados. Nesse contexto, a modernidade seria questionada, pois as diferenças entre os âmbitos público e privado que organizam os sentidos do mundo civilizado são suprimidas pela impossibilidade de se maquiar o descontrole sobre os impulsos naturais inerentes à integralidade dos corpos, os quais se tornam explícitos na narrativa. Nesse momento, a pretensão iluminista de racionalizar totalmente corpos e cidades via discurso científico entra em crise nos contextos incertos da modernidade tardia. A transgressão desses limites, no texto de Noll, ressignifica a sociedade brasileira ao evidenciar a existência de inexoráveis contradições em seu projeto de civilização moderna. Para além desse contexto, o personagem narrador e Afrodite, em suas interações corporais e espaciais, indicam a possibilidade de existência em um movimento erótico que suplanta a cultura e suas normas comportamentais. Freud afirma que “a cultura tem sido conquistada por obra da renúncia à satisfação das pulsões e exige de todo novo indivíduo a mesma renúncia.” (FREUD apud MAURANO, 1999, 200 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades p. 69). Entretanto, na narrativa de Noll, as pulsões dos personagens direcionariam a libido para a supressão dos interditos sociais, que se mostram fracassados em sua função de reprimir os desejos primordiais de forma eficiente. Dessa maneira, os impulsos sexuais ganham em carga erótica ao se voltarem basicamente para os corpos, impulsionando os andarilhos em suas ações e movimentações pelos espaços urbanos. Nesse processo, a própria civilização seria questionada no jogo pulsional que desloca o desejo não para a construção cultural, e sim para o vazio contido na própria incapacidade de satisfação do sujeito em seus instintos primordiais. Nesse espaço psíquico, Eros e Thanatos digladiam-se tragicamente, ou, mais do que isso, anulam-se, levando o desejo sexual ao limite da desintegração dos corpos, os quais estendem seus processos de mistura de compartimentos para a organização simbólica da sociedade, problematizando-a. Dessa maneira, a repressão aos instintos realizada pela cultura encontraria uma reação violenta do sujeito, na narrativa de Noll, na forma de pulsão erótica, já que, de acordo com Freud, “não se faz isso impunemente”. (1974: 118). Sendo assim o próprio erotismo poderia ser considerado como reação e consequência dessa intervenção repressiva às pulsões, fazendo sentido, somente, mediante a cultura. Nesse contexto, não haveria um esvaziamento da cultura no sentido de nadificá-la, e sim uma tentativa de superação pelos excessos do corpo e dela própria, pois, afinal de contas, é o narrador personagem que fala na maior parte da narrativa, fazendo uso, assim, da linguagem enquanto manifestação cultural, ainda que seja para expressar suas experiências eróticas. Diferentemente do texto de Noll, a narrativa de O rei de Havana, de Pedro Juan Gutiérrez, explicita não a transgressão erótica dos limites simbólicos, mas seu próprio esvaziamento quando se inserem nos significados sociais cubanos. A narrativa de Gutiérrez situa-se na década de 1990, a partir do chamado “período especial” em Cuba, estendendo-se para alguns anos subsequentes em que reformas do governo foram implantadas. De qualquer maneira, o romance manifesta os reflexos dessa época de crises graves da sociedade cubana, ocorridas após o rompimento dos laços com a União Soviética. O texto alude a esses problemas ao apresentar o processo de degradação extrema da ilha e seu sistema socialista, com suas instituições públicas, edificações e demais espaços urbanos em ruínas. Dessa maneira, 201 Henrique Roriz Aarestrup Alves a “modernidade socialista” de Cuba mostrar-se-ia falida em sua pretensão de estender seus ditos benefícios a todos os setores da sociedade, desenvolvendo-a de forma igualitária. Uma das diferenças do sistema socialista em relação aos meios de produção capitalista consistia em abolir sua condição de propriedade privada e os processos de alienação a ele inerente, priorizando a igualdade social e os interesses coletivos da população. Nesses moldes, Cuba pretendeu estruturar uma sociedade sem classes, cuja “esfera pública” era representada, basicamente, pelo Estado, o qual estendeu suas fronteiras para praticamente todas as instituições sociais. Porém, a incapacidade do poder público em gerenciar comportamentos e demarcar espaços urbanos torna-se nítida na narrativa, indicando, assim, uma diluição das fronteiras entre as instâncias pública e privada. Nesse contexto, ocorre a exposição de pormenores das relações sexuais de forma detalhada, colocando em questão essas dimensões sociais da sociedade cubana: Atravessaram o parque Maceo. Sentaram-se em cima do muro. Ela se recostou numa coluna e abriu as pernas. Estava com uma saia larga que chegava aos tornozelos. Rey se acomodou de frente, tirou o bicho prá fora, que ficou duro assim que sentiu o cheiro de buceta fedida e ácida de Magda, e ali mesmo copularam freneticamente, dando mordidas no pescoço um do outro. Claro que automaticamente apareceram os voyeurs de sempre do parque Maceo. Desembainharam e tocaram suas punhetas feito loucos desfrutando o frenesi alheio. (GUTIÉRREZ, 2001, p. 59). Faz-se interessante observar que, nesse momento histórico, ainda prevalece a dimensão pública em detrimento da privada na sociedade cubana. Dessa maneira, tanto as ruas e praças de Havana quanto seus prédios abandonados constituem o espaço público gerenciado pelo Estado. Na narrativa, os locais da cidade ocupados por Reinaldo, Magda e demais personagens poderiam ser considerados como pertencentes ao poder público, apesar de se encontrarem completamente abandonados por ele. Aliás, como ainda existe no país uma união entre Estado e sociedade civil, a pequena 202 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades abertura dada à propriedade privada permanece controlada fortemente pelo governo. Nesse sentido, poder-se-ia dizer que a prevalência da instância pública, em Cuba, exerceria grande influência nas relações sociais, no sentido de tratarem, prioritariamente, de interesses coletivos e inerentes à maioria da população. É claro que existem normas sociais cubanas que consideram particulares certas práticas da vida pessoal dos indivíduos, como higiene pessoal e sexo, mesmo porque a herança cultural europeia e americana de séculos anteriores não seria totalmente anulada, e sim apenas redimensionada nas décadas de sistema socialista. Nesse sentido, a sociedade cubana também situaria a prática sexual no setor particular do comportamento e, portanto, separada de outras relações sociais. Na narrativa de Gutiérrez, entretanto, a fraca presença da esfera pública exerce certa influência nas interações de cunho mais “íntimo”, como o sexo, que se torna radicalmente público em alguns espaços da cidade de Havana. Como as normas sociais se encontram suprimidas nesses ambientes, não por transgressão de sua existência, mas pelo apagamento de sua presença, os corpos e suas interações sexuais situam-se em um espaço “público” em processo de permanente desintegração não só física, mas também simbólica. Nesse contexto, Rey e Magda levam esse processo ao extremo, pois se relacionam sexualmente de maneira indiferenciada, como se o parque Maceo e as instalações degradadas do prédio abandonado que ocupam formassem um único espaço sem demarcação de fronteiras entre público e privado. A despeito da existência de qualquer demarcação simbólica entre esses limites, tanto os espaços urbanos quanto as práticas sexuais entram em consonância em seus aspectos esvaziados de elementos eróticos. Qualquer caráter individual que as relações sexuais possam ter é diluído e esvaziado no texto, pois estas são praticadas em espaço “público” e, portanto, aberto a qualquer interferência de outrem. Na ausência dessas instâncias referenciais, os personagens mantêm o mesmo comportamento considerado “privado” no espaço “público” do parque, sem esboçarem qualquer reação que possa diferenciar as relações sexuais realizadas nos ambientes fechados do prédio por eles ocupado. Na passagem do texto, os “voyeurs de sempre” que ali se masturbam reforçam essa ideia de apagamento ou esvaziamento das fronteiras entre público e privado, como se essas práticas fossem uma rotina 203 Henrique Roriz Aarestrup Alves pouco ou nada clandestina, pois não parecem estar prestes a serem repreendidas, a qualquer momento, por dispositivos de coerção. A passagem seguinte reforça ainda mais esse processo: Que dia será hoje? Olhou em volta. A uns metros, um negro tocava uma punheta olhando um casal que trepava um pouco mais adiante, sentado de frente em cima do amplo muro do Malecón, se mexendo ritmicamente, e o negro, absorto no espetáculo, se masturbando no mesmo ritmo. Rey não teve dúvida. – Psiu, psiu, ô, ô... psiu, ô, ô... O sujeito se sentiu surpreendido. Assustado, guardou o falo precipitadamente e com certeza perdeu a ereção num segundo, pensando que algum policial podia tê-lo apanhado em fraganti-manus falus na via pública. Olhou dissimuladamente para o lado de onde chamavam. Aí, Rey lhe perguntou: – Que dia é hoje, cara? – Ahn? – Que dia é hoje, cara? – Ahn, do que? O que você está falando? – A data, a data. Que dia é hoje? – Ah, não... porra, cara... Não sei, não sei... porra, você acabou comigo (GUTIÉRREZ, 2001. p. 117-18). Indiferente ao fato de os personagens estarem em atividade sexual, Reinaldo dirige-se ao negro que estava se masturbando, como se não houvesse qualquer separação entre essa prática e as outras feitas em público, durante as relações sociais rotineiras. Nesse momento, fica claro que o adolescente não estabelece nenhuma distinção entre um comportamento tido como íntimo e “privado” daqueles realizados no âmbito das relações sociais públicas, como perguntar a data ou as horas a alguém, por exemplo. É evidente que Reinaldo codifica as ações sexuais dos personagens como tais, mas não as considera pertencentes a uma dimensão particular, fechada, especial e erotizada, e sim banais, abertas e passíveis de interrupções alheias, como a que efetua. Já o outro personagem reage como se alguma autoridade 204 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades representante do poder público, como a polícia, estivesse abordando-o, restabelecendo, nesse instante, as fronteiras entre público e privado, permitido e proibido, íntimo e explícito. Ao perder a ereção, o personagem ilustra a incompatibilidade que deveria existir entre a prática sexual e o ato social de comunicar-se publica e discursivamente face a face com alguém estranho. Todavia, essas fronteiras estavam suspensas até o momento em que Rey realiza tal abordagem, ou seja, o abandono dos espaços urbanos pelo poder público torna-as esvaziadas de seus sentidos simbólicos capazes de regular a vida em sociedade e impor suas normas de convivência instituídas, como as que não permitem o sexo em vias públicas. Nesse sentido, as instituições públicas de Cuba, que tentam regular as práticas “privadas”, como as sexuais, mostrar-se-iam comprometidas e, portanto, com suas codificações suspensas, banalizadas, nadificadas e em processo de tanatomorfose, como o próprio personagem Reinaldo, em sintonia com poder público ausente. Dessa maneira, tanto o espaço público quanto o “privado” submetido a ele se tornam desintegrados, ilustrando, metaforicamente, Cuba e seu “Estado” de decomposição. Como esses referenciais limítrofes se mostram comprometidos no texto, eles se apresentariam muito mais esvaziados do que subvertidos ou transgredidos. Os movimentos automatizados dos personagens em suas atividades sexuais indicariam um comportamento muito menos erotizado que robotizado, organicamente pré-programado e demasiadamente previsível. Nesse contexto, a vida sexual – e também a social – tornam-se desguarnecidas de sentidos e, portanto, culturalmente vazias. As frenéticas e repetidas interações sexuais em público reforçam sua banalização, chegando ao nível do acultural e do animalizado, já que esvaecidas são as fronteiras simbólicas que delimitam o gerenciamento da sociedade e suas regras institucionais. Ao invés do espaço do parque transformar-se em “privado” pelas atividades sexuais dos personagens, e a intimidade desses atos tornar-se “pública”, por ocorrer nesse ambiente aberto, ambas as instâncias parecem se esvair por meio de seus processos de apagamento nos corpos “urbanos” e “humanos”, organicamente, não doutrinados. Nas desestabilizadoras “misturas” de corpos e ambientes citadinos degradados, os personagens de A fúria do corpo obedecem, de forma 205 Henrique Roriz Aarestrup Alves erotizada, a seus impulsos de acordo com suas necessidades fisiológicas e sexuais, colocando em xeque as regras socialmente instituídas para controlálos nos espaços urbanos. Esse processo, porém, ocorreria no contexto institucionalizado da sociedade capitalista brasileira, o que indicaria a possível presença, mesmo que fragilizada, das regras e suas fronteiras de separação entre o público e o privado. Na narrativa, não se percebe a prevalência da prática sexual generalizada, em público e disseminada em parte da população nos ambientes urbanos, como acontece no texto cubano, com seus “voyeurs” e demais frequentadores assíduos de praças e ruas para praticar o sexo. Basta iniciarem uma relação sexual em alguma parte da cidade de Havana para vários observadores aparecerem e se masturbarem, indicando, assim, a suspensão das regras sociais, enquanto, no texto nolliano, as interações sexuais em público são realizadas muito mais pelo personagem narrador e Afrodite do que por outros personagens ou observadores. Os curiosos que por vezes presenciam essas cenas não realizam atividade sexual, funcionando mais como uma referência às regras transgredidas que gerem o mundo exterior, assim como a polícia e sirenes diversas, que indicam a presença institucional do poder público na narrativa: (...) e estava ali o mendigo deitado na calçada com a braguilha aberta e um caralho enorme adormecido, paro, me inclino, chamo o mendigo com um acorda companheiro, (...) me viro de costas com a bunda arrebitada e peço que ele me coma o cu, por me comer o cu pago mais três copos de cana, molho o pau do mendigo com meu cuspe e molho o meu cu, o maior caralho do mundo me penetra me penetra me penetra, o mendigo geme na esperança das mil doses de cachaça e me esporreia em litros o cu e caio espatifado entre ferros velhos, (...). Amanheceu com as moscas voejando e pousando sobre a sarna do meu corpo nu, (...) às vezes de alguma janela das redondezas um olhar ou outro me observava assustado, eu ali de bruços, nu, com a bunda pro céu, a cara contra a terra dura, (...), um olhar ou outro me observando lá de uma janela, de repente sirenes intermináveis de bombeiros misturando-se a sirenes de ambulância e da polícia, a Cidade entrava em combustão espontânea, (...). (NOLL, 1981, p. 129, 130-1). 206 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades Nessa passagem, percebe-se o deslocamento entre as instâncias pública e privada, pois as interações sexuais não se mostram generalizadas, e sim localizadas nos personagens e em determinado espaço público urbano. Dessa forma, as fronteiras que demarcam o território do público encontramse no espaço da calçada e do terreno que, por ser baldio, afasta-se da condição de propriedade privada, ao mesmo tempo em que se aproxima de uma instância pública ao se tornar passível de ser acessado, mesmo que só pelo olhar. Nesse contexto, os personagens praticam atos considerados íntimos e particulares em um ambiente público, utilizado como se fosse privado. Essas fronteiras e seus deslocamentos são reforçados pela presença dos olhares anônimos de curiosos assustados, além das sirenes de bombeiros e polícia, representantes do Estado. Se não houvesse transgressão, como na narrativa de Gutiérrez, esses olhares não seriam “assustados”, e nem haveria a indicação da existência de demarcações simbólicas nos espaços urbanos, “anunciada”, sonora e publicamente, pelos dispositivos de controle do poder público. Nessas inversões entre público e privado, seus limites são transgredidos, mas não esvaziados de significados. A interação sexual entre o mendigo e o narrador mistura secreções, sujeira, lixo e corpos, formando uma “combinação” indiferenciada de matéria degradada em meio à pretensão organizacional das instituições sociais brasileiras e suas marcas simbólicas. Nesse sentido, esse processo de descompartimentação põe em xeque a tentativa moderna de separar para melhor controlar corpos e espaços urbanos, com o intuito de a eles impingir e fixar sentidos socialmente estabelecidos. Nessa mistura de materiais e fronteiras, ficaria explícito o desejo do personagem narrador de lançar-se profundamente na miséria para alcançar, eroticamente, um plano além do mundo simbólico, onde as fronteiras entre vida e morte, público e privado, sagrado e profano seriam cruzadas e se tornariam pouco nítidas, mas sem deixar de assumir um caráter de vida dada à experimentação. Nesse contexto, Eros e Thanatos se imbricam ao comporem o conflituoso jogo pulsional, contido no erotismo, que tenta transformar tanto a morte quanto a própria vida em deslocamento do ser rumo ao abismo do desconhecido, para além das categorizações usuais de identidade. Nesse processo, o corpo misturado às misérias é vivido em suas dimensões superficial e profunda ao elevar a potencialidade trágica da experiência 207 Henrique Roriz Aarestrup Alves erótica ao máximo, materializando, assim, esse desejo ambivalente de dissolver-se na degradação ao mesmo tempo em que a saboreia em êxtase. Dor e prazer se unem nesse momento, ilustrando a própria influência que Eros e Thanatos exercem na condução da libido do personagem. Nesse sentido, o prazer contido na dor poderia estar relacionado com a questão do sublime. Citado por Márcio Seligmann-Silva, Edmund Burke afirma que: Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as idéias de dor e de perigo, isto é, tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado ao terror constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais forte emoção de que o espírito é capaz. Digo a mais forte emoção, porque estou convencido de que as idéias de dor são muito mais poderosas do que aquelas que provêm do prazer. O sublime é a manifestação de um máximo; é um abalo de muita intensidade que provoca deleite ou o “horror deleitoso” (BURKE apud SELLIGMANN-SILVA, 1999, p. 125). O conceito de sublime de Burke, elaborado em meados século XVIII, parece dar conta das experiências-limite do narrador da narrativa de Noll que apresentam indícios dessa relação entre prazer e dor estabelecida pelo teórico, à medida que o personagem converteria a dor contida no ato de degradar-se em prazer erótico, justamente porque o próprio risco presente nessas vivências torna-se condição fundamental para a ocorrência desse “horror deleitoso” de caráter trágico. Nesse sentido, sem perigo não haveria prazer para o narrador, assim como sem a dor o caráter trágico da experiência erótica estaria comprometido. Entretanto, como esse conceito de Burke estaria situado no contexto do século XVIII, não seria possível dizer que o narrador entra em contato com um sublime de acordo com os pressupostos do autor, e sim que suas interações corporais possuem uma relação dialética entre prazer e dor semelhante ao que preconiza o autor. Dessa forma, o conceito contemporâneo de abjeto proposto por Julia Kristeva seria mais pertinente para se analisar a passagem do texto de Noll, à medida que “o abjeto representa a noite arcaica da relação pré-objetal; é a violência do luto de um ‘objeto’ sempre já perdido.” (KRISTEVA apud SELIGMANN- 208 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades SILVA, 1999, p. 133). Se, segundo Seligmann-Silva, o sublime remete ao espiritual (para cima), e o abjeto ao corporal (para baixo), ao tornar seu corpo miserável e passível de decomposição fonte de êxtases, o narrador uniria, em si, as experiências do sublime e do abjeto. Mesmo porque, a busca erótica apresentada pelo personagem estaria intimamente relacionada com essa relação “pré-objetal” de vislumbre do informe, na tentativa de “resgatar” a condição já perdida do estado primevo de indiferenciação pré-subjetiva, em forma de plenitude erótica e completude no “outro”. Sendo assim, não haveria, em Noll, uma esvaziante perda de fronteiras, como no texto de Gutiérrez, e sim uma “miscelânea” significativa, que reforça as misérias e as mazelas como dignas de serem “provadas”, sentidas, buscadas para além do próprio sistema cultural que as classifica. Nesse sentido, as degradações corporais e ambientais como componentes das interações dos personagens parecem indicar não só uma referência à arbitrariedade das marcas institucionais, mas também ao seu esgotamento, no sentido de se mostrarem incapazes de lidar com o caráter contraditório e imprevisível do próprio desejo de se estabelecer contatos com o “outro” e com si próprio sem imposições ou restrições prévias. Como se viu, nas sociedades pós-modernas, comprova-se a falência da modernidade em determinar uma identidade estável para os indivíduos, os quais deveriam ter profissão, endereço e papel familiar definidos, ou seja, uma identidade estável e passível de controle pelas instituições sociais. Esse projeto mostrar-se-ia fracassado, pois o sujeito não mais se contentaria em se reduzir aos limites do estabelecido, manifestando, assim, as frustrações e angústias causadas pela repressão da razão moderna aos seus desejos. Dessa forma, o indivíduo pós-moderno seria, inegavelmente, portador de incongruências que a tradição cultural moderna não conceberia em sua pretensão de controle e estaticidade do mundo simbólico. Projetos inovadores, trabalhos artísticos ou mesmo desejo de evasão para um lugar indefinível poderiam expressar essas contradições. Denise Maurano afirma que: Somente a arte consegue, segundo Freud, de uma maneira particular, conciliar os dois princípios. O artista originalmente se afasta da realidade e deixa livre em sua fantasia desejos eróticos e ambições 209 Henrique Roriz Aarestrup Alves com os quais cria novas realidades admitidas pelos demais homens que admiram as valiosas imagens criadas e idolatram o artista como herói, via pela qual se compensam da insatisfação a que se submetem (MAURANO, 1999, p. 41). Dessa maneira, a cultura seria resultado da “conciliação” do princípio de realidade e do princípio de prazer, canalizando, assim, a libido para a criação artística ou intelectual. Nesse movimento compensatório da repressão aos “instintos” primordiais, a linguagem surge como um instrumento de representação das realidades psíquica e social, expressando, nela própria, o sentido de busca erótica do indivíduo capaz de transgredir interditos e, ao mesmo tempo, materializar os embates pulsionais humanos responsáveis pelo advento da civilização. Esses impulsos tornam-se mais intensos na modernidade tardia, que não mais consegue represá-los e nem reduzi-los à estaticidade do sedentarismo identitário e mesmo cultural, típicos da modernidade. Nesse processo, a própria cultura manifestaria sua dinamicidade renovadora diante das tendências esclerosantes do instituído. A respeito dessas necessidades de mudanças, Michel Maffesoli, discorrendo justamente sobre o nomadismo, afirma que: Desarticulando o que está estabelecido quanto a coisas e gentes, o nomadismo é a expressão de um sonho imemorial que o embrutecimento do que está instituído, o cinismo econômico, a reificação social ou o conformismo intelectual jamais chegam a ocultar totalmente (MAFFESOLI, 2001, p. 41). Nesse sentido, o sujeito pós-moderno não seria mais portador de uma identidade fixa e estável, e sim relacional, dinâmica e múltipla, mesmo porque, a impermanência e fluidez da realidade das coisas já seriam condições inegáveis das sociedades contemporâneas. O personagem narrador e Afrodite, no texto de Noll, ilustram esse processo de se lançarem ao mundo, enfatizando a tragicidade desse movimento inerente à própria condição humana, à medida que seria amplificada pelo caráter excessivamente corporal e miserável de suas andanças. Nesse 210 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades sentido, ao explorar seus próprios limites e possibilidades, “(...) o único roteiro é o corpo. O corpo.” (NOLL, 1981, p. 34). O ato de perambular pelos espaços diversos da cidade, sem projetos definidos e planejamentos prévios, estaria intima e “organicamente” relacionado ao movimento de caminhar pelo “corpo” urbano. Ao estender suas fronteiras corporais para os ambientes citadinos, misturando-os, os personagens parecem circular pela própria cidade como se fossem um “corpo” a ser experimentado de modo profundo, pois compartilham degradações, sujeiras e secreções materialmente tão impregnadas em suas existências que delas não mais se separariam. Assim, a troca frequente e intensa de parceiros sexuais em espaços diversos, bem como a sensibilidade corporal concentrada em sua materialidade erotizada, enuncia o corpo como referência e medida em seus percursos de andarilhos. A própria cidade assumiria dimensões corporais, à medida que se tornaria extensão dos corpos dos personagens, mediados pela sujeira. Dessa maneira, os “corpos” e os espaços urbanos seriam ligados pela condição aventurosa do ato de perambular, já que o indefinido, inerente ao próprio “devir”, se apresentaria diante deles para ser experimentado em seu caráter imprevisível e desconhecido. A falta de identificação definida e definitiva com espaços urbanos determinados, como moradia ou local de trabalho, seria reflexo do descompromisso dos personagens com as instituições sociais e suas marcas simbólicas. Ao não se subordinarem a essas demarcações, os andarilhos da narrativa nolliana subverteriam-nas via perambulações pela cidade, colocando em circulação não só seus corpos e ambientes citadinos, mas seus sentidos usuais, transgredidos em sua condição de significar a vida social. Nesse processo, os símbolos não deixariam de existir, mas seriam efetivamente transgredidos através das inversões redimensionadoras da realidade, transformados em “interditos” a serem superados em nome de uma revivificação erótica. Desestabilizados, os signos entrariam em movimento contínuo em forma de deslocamentos entre significante e significado, rompendo com a estabilidade de sistemas sociais fechados em si mesmos. Sendo assim, haveria rejeição da estabilidade do instituído, ao mesmo tempo em que a caoticidade do “devir” seria desejada, redimensionando, nessa dinâmica, a “ordenação” impressa em corpos e espaços da cidade. Seria nesse sentido que o erotismo impulsionaria o ato de perambular pela urbe, transgredindo limites. 211 Henrique Roriz Aarestrup Alves Já na narrativa de Gutiérrez, Reinaldo mostra-se extremamente reduzido às necessidades fisiológicas de seu corpo, sem apresentar erotismo em suas interações sexuais ou espaciais, mesmo que, em alguns momentos, haja subversão de algumas normas socialmente instituídas: – Ei, estou cagando! Onde é que eu posso ir cagar aqui? – Nãonãonãonãonãonão. – Nãonãonãonãonãonão o quê? Estou quase cagando, porra. Não escutou? Onde é que se caga? – Até tocar a campainha. Quando tocar a campainha você pode ir. (...). A linha de produção continuava soltando garrafas e caixas. Os outros não podiam parar para ajudar o sujeito no chão. Rey por pouco não cagava nas calças. Saiu correndo para um canto, atrás de umas caixas de cerveja, e cagou. Cagou muito bem. Ufa. Achou que tinha terminado. Não. Cagou mais um pouco. Pronto. Ahhh. Não tinha com que limpar. Com a mão. Limpou-se o melhor possível com os dedos, que limpou, por sua vez, no chão. Vestiu as calças e saiu. (GUTIÉRREZ, 2001, p. 133). Reinaldo defeca em espaço não designado para isso, depois de ter negada a autorização para sair e satisfazer essas necessidades. O personagem transgride as normas sociais que gerem a fábrica de cerveja, pois esse espaço de trabalho é utilizado para a realização de um ato tido como íntimo e pessoal, ao mesmo tempo em que o local seria aberto ao trânsito de outras pessoas. Além disso, Rey desobedece à ordem dada para permanecer trabalhando, não se sujeitando ao comportamento determinado pelo “poder disciplinar” da fábrica, representado pelo funcionário superior e pela campainha. O adolescente, porém, é “conduzido” àquele local não por desconhecimento dos hábitos individuais e das marcas simbólicas dessas repartições espaciais, e sim pela vontade desesperada de se aliviar, não encontrando, assim, outra opção de conduta. De qualquer forma, as instâncias pública e privada parecem ser invertidas, pois, ainda que o adolescente tenha perguntado sobre autorização e local apropriado para satisfazer suas necessidades, ele as ignora 212 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades e desrespeita. Essas inversões simbólicas do espaço seriam realizadas muito mais por questões fisiológicas do que eróticas propriamente ditas, ainda que existam, nessa passagem, as regras sociais determinadas e seus respectivos espaços organizados para a realização de certas práticas. Para haver transgressão erótica, segundo Georges Bataille (2004), seriam necessárias as presenças do instituído como interdito e do desejo de subvertê-lo. Percebe-se a existência de ambos na narrativa de Noll. No texto de Gutiérrez, entretanto, as referências simbólicas seriam ignoradas por Rey na grande maioria de suas interações com outros corpos e espaços, além de se mostrarem já previamente enfraquecidas em suas demarcações devido ao próprio distanciamento das instituições cubanas em relação aos personagens vários e aos ambientes urbanos de Havana. Nesse sentido, não haveria muito que transgredir por Reinaldo e outros, pois a inexistência do desejo fundamental, aliada a regras sociais não muito nítidas em suas delimitações, resultaria em um contexto “deserotizado” e, portanto, pobre em caráter transgressivo. Se o poder público se mostra pouco presente em certos ambientes da cidade, os personagens ali situados tenderiam a realizar suas frequentes atividades sexuais de modo mais “disseminado” e em público. E já que eles não manifestam muita preocupação com os dispositivos coercitivos do Estado cubano, o caráter erótico e transgressivo das interações sexuais parece ser minimizado ou mesmo esvaziado, principalmente no caso de Reinaldo. Na passagem acima, a falta de nitidez de contornos corporais e de referências espaciais, mediada pela sujeira e excrementos, parece revelar, em nível do enunciado, a lógica do andarilho: andar pelas ruas sem rumo seria análogo ao movimento de percorrer as extensões da única coisa que pensam possuir, ou seja, o próprio corpo. Entretanto, esse movimento não seria produzido, na narrativa de Gutiérrez, pela luta pulsional entre Eros e Thanatos para direcionar o desejo, como acontece em Noll, e sim pela inércia dos corpos andarilhos, psíquica e existencialmente passivos. De qualquer maneira, ao se experimentarem em locais e com parceiros diversos, no âmbito físico e superficial de seus corpos, seja através do sexo ou de violências múltiplas, os personagens percorrem as ruas como se fossem extensões de suas próprias corporeidades ou “componentes de si”. A partir do 213 Henrique Roriz Aarestrup Alves momento em que se mostra impelido apenas pelas necessidades corporais, sem apresentar em suas ações qualquer planejamento prévio, objetivo definido ou transgressão erótica, Reinaldo não poderia ser considerado dono nem de seu próprio corpo. Nesse sentido, o fato de o adolescente se movimentar de modo “automatizado”, por inércia e sem que sua subjetividade esvaziada interfira nesse processo, indicaria a falta de domínio e consciência de si, resultando em um processo de animalização só possível de se desenvolver, existencialmente, em um corpo “sem dono”. Dessa maneira, com o corpo e a mente “desumanizados”, o adolescente “prescindiria” de qualquer tipo de autonomia capaz de interferir em sua corporeidade, já que não teria disponibilidade de recursos eróticos nem tampouco culturais. Sendo assim, Reinaldo movimentar-se-ia muito mais por impulsos fisiológicos do que por pulsões, pois sua subjetividade já comprometida também se inseriria em seu processo de tanatomorfose, esvaziando-se tanto erótica quanto simbolicamente. Em seu percurso como andarilho, o corpo de Rey apenas expressaria, orgânica e materialmente, a degradação que está em sua estrutura psíquica, resultando em ruínas anatômicas que entram em consonância com as urbanas, fazendo referência, assim, a uma morte realmente nadificada, que remete a um vazio absoluto. Assim como qualquer andarilho excluído socialmente de uma forma geral, os personagens das narrativas de Noll e de Gutiérrez não apresentam pontos de referência espaciais fixos ou permanentes, como moradia e local de trabalho. Não há, pois, “origem” nem “fim” definidos a serem alcançados em seus movimentos, e sim espaços a serem percorridos. Ainda que os personagens do texto de Noll perambulem via pulsões eróticas e os de Gutiérrez caminhem por impulsos restritos ao funcionamento meramente orgânico do corpo, em ambas as narrativas os andarilhos apresentam-se vinculados à extrema falta de inteireza e de fixação espacial, remetendo suas identidades ao não pertencimento a nenhum espaço específico e definitivo das respectivas cidades. De Certeau afirma que “caminhar é ter falta de lugar. É o processo indefinido de estar ausente e à procura de um próprio.” (DE CERTEAU, 1994, p. 183). Porém, haveria uma diferença fundamental entre os textos cubano e brasileiro: os personagens de Noll estariam, realmente, “à procura de algo” na instância material da realidade, mas, ao mesmo tempo, 214 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades “além” dela, enquanto os de Gutiérrez se encontrariam, efetivamente, “ausentes” desse processo pelo caráter esvaziado de sua “procura”, movida somente pela fome ou sexo. Dessa forma, não há, em ambas as narrativas, locais específicos a funcionarem como referência espacial e foco de identificação permanente, assim como os corpos não se restringem às interações específicas e fixas entre eles próprios. As corporeidades, então, seriam “pulverizadas” ao se deslocarem muito menos em busca de uma estabilidade de identificação com corpos e espaços do que em direção a um paulatino processo de “desindividualização”. Entretanto, no texto de Noll, o ato de perambular pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro apresentaria um alto grau de tragicidade devido ao arriscado processo realizado pelos personagens de se perderem na “(in)definida” e imprevisível busca de si no “outro”, enquanto os andarilhos “habaneros” não assumiriam qualquer risco em seus percursos previsíveis ao se mostrarem já condenados à uma desintegração paulatina e absoluta. Seria nesse sentido que a “morte” é preenchida com “vida” erotizada no texto brasileiro, onde Eros e Thanatos convergem suas forças pulsionais para a tragicidade do desejo erótico, beirando o intangível da condição humana. De modo diverso, a “morte” seria esvaziada de signos e desejos no romance cubano, o qual tornaria evidente não só a decomposição pura e simples dos corpos, mas o seu caráter desumanizado e, portanto, culturalmente inadmissível. Jurandir Freire Costa, em seu artigo intitulado Playdoier pelos irmãos, considerando problemático o fato de a cultura deixar de ser o campo de investimento criativo dos indivíduos enquanto sujeitos ativos de seus próprios processos, afirma que “a verdadeira ameaça, (...), está no desinvestimento da cultura, em seu abandono como espaço privilegiado da expressão subjetiva.” (COSTA, 2000, p. 24). Nesse sentido, os personagens de Gutiérrez parecem estar inseridos em um extremo processo de “desinvestimento cultural”, à medida que não apresentam desejos, planos ou projetos de vida, além de fazerem pouco uso da linguagem e nenhum da reflexão crítica. Dessa forma, os indivíduos se “desinvestem” da cultura ao se misturarem ao lixo, sofrendo degradações diversas. Ivete Walty e Maria Zilda Cury, ao mencionarem esse conceito de Jurandir Freire Costa, afirmam que, “segundo o autor, mais que sobre o recalque do sexual, como assinalado por 215 Henrique Roriz Aarestrup Alves Freud, a sociedade erige-se sobre a possibilidade de criação que dá origem à cultura” (CURY e WALTY, 2004, p. 59). Em caminho inverso, observase, no texto de Gutiérrez, o desmoronamento dos corpos e do próprio sistema e, consequentemente, o esfacelamento da cultura e da identidade. Mutilados, inclusive, no processo erótico de investimento no “outro”, em si próprios e na cultura, restam aos personagens apenas o corpo e o sexo como único referencial e medida de identidade. Nessas condições, os personagens perambulam pelos espaços urbanos gerenciados apenas pelos seus corpos e seus impulsos mais instintivos, já que se encontram comprometidos enquanto sujeitos culturais. Na narrativa de Noll, esse processo de abandono da cultura como espaço criativo e de construção da própria subjetividade também existe, mas com algumas diferenças, pois se percebe que os personagens também perambulam pelos espaços degradados das ruas cariocas, mas ainda se preocupam, até certo nível, com suas identidades humanas, mesmo que não se envolvam com qualquer projeto de cunho cultural e pessoal. Seja por esvaziamento do desejo e da linguagem no texto de Gutiérrez, ou por transgressões eróticas que beiram o indefinido na narrativa de Noll, as feridas infeccionadas e as fraturas expostas dos corpos dos andarilhos de ambos os romances estendem as suas fronteiras e contaminam o “corpo” das instituições sociais brasileiras e cubanas, ficando a própria cultura que as criaram e o conceito de civilização, irreversivelmente, problematizados. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BATAILLE, Georges. O erotismo. Trad. de Cláudia Fares. São Paulo: Arx, 2004. COSTA, Jurandir Freire. Playdoier pelos irmãos. In: KHEL, Maria Rita. (Org.). Função fraterna. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2000, p. 7-30. CURY, Maria Zilda. WALTY, Ivete Lara Camargos. In memoriam: escrita e lixo. Cerrados. Revista do Programa de Pós-graduação em Literatura, n. 17 (Literatura e Globalização), 2004, p. 55-60. DE CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: 1. artes de fazer. Trad. Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes, 1994. 216 Trânsitos e transgressões: os andarilhos nos espaços das cidades FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Vol. XXI. Trad. Christiano Monteiro Oiticica. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1974. GUTIÉRREZ, Pedro Juan. O Rei de Havana. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública. Trad. Flávio R. Kothe. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. KRISTEVA, Julia. Poderes de la perversión. Ensayo sobre Louis F. Céline. México: Catálagos Editora, 1988. MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo. Vagabundagens pós-modernas. Trad. Marcos de Castro. Rio de Janeiro/São Paulo: Record, 2001. MARX, Karl. Para a crítica da economia política. In: Os Pensadores. Trad. Edgard Malagodi. São Paulo: Nova Cultural, 2000. MAURANO, Denise. Nau do desejo. O percurso da ética de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1999. NOLL, João Gilberto. A fúria do corpo. Rio de Janeiro: Record, 1981. RODRIGUES, José Carlos. Tabu do corpo. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2006. RODRIGUES, José Carlos. Tabu da morte. Rio de janeiro: Fiocruz, 2006. SELIGMANN-SILVA, Márcio. Do delicioso horror sublime ao abjeto e à escritura do corpo. In: Leituras do ciclo. ANDRADE, Ana Luíza et tal (Orgs.). Florianópolis: ABRALIC/ Chapecó/ Grifos, 1999, p. 123-136. SENNETT, Richard. Carne e pedra. Trad. Marcos Aarão reis. Rio de Janeiro: Record, 1997. 217 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa ROSANA RODRIGUES DA SILVA A História do povo de Deus É a amostra gratuita de toda a História. (DOM PEDRO CASALDÁLIGA) 1. IMAGEM POÉTICA E A EXPERIÊNCIA RELIGIOSA Os poetas da vertente metafísico-religiosa recuperam em seus textos imagens bíblicas que compõem um todo simbólico, traduzindo conceitos e vivências experimentados pela humanidade. O poema imita a natureza em seu processo cíclico, incorporando no ritmo da arte as repetições que ocorrem no mundo da natureza (FRYE, 1973). As imagens poéticas participam desse princípio do retorno, na medida em que buscam recuperar a força dinamizadora do mundo natural, trazendo as representações do pensamento simbólico. A imagem, do modo como a definiu Octavio Paz (1990), designa toda forma verbal que compõem um poema, podendo ser classificada pela retórica como: símiles, comparações, metáforas, etc. Guardadas as diferenças que os separam, esses termos têm em comum a pluralidade de significados da palavra que, sem quebrar a unidade da frase, dá corpo ao sentido do poema. As imagens tornam-se a expressão genuína do poeta e de sua experiência de mundo. Suas imagens dizem algo sobre o mundo e sobre nós mesmos e esse algo é capaz de revelar de fato o que somos. Nas palavras de Paz (1990, p. 47), “o poema nos faz recordar o que esquecemos: o que somos realmente”. Não se trata do que esquecemos em nossa curta trajetória histórica, ou de 219 Rosana Rodrigues da Silva nossa experiência cotidiana, mas o que esquecemos de nossa vida obscura e remota. Conforme lembra Eliade (2002), a imagem simbólica não é exclusiva da criança, dos loucos ou dos poetas, mas é consubstancial ao ser humano; precede o pensamento lógico e discursivo, respondendo à função de revelar as mais secretas modalidades do ser. Na revelação das imagens poéticas, temse o pensamento simbólico do homem e sua projeção de um mundo desconhecido e temível. O homem simboliza justamente o desconhecido, o que inquieta, ao mesmo tempo, assusta e atrai. A experiência religiosa sempre foi centro das inquietações humanas. A antropologia estabelece relações ente o fenômeno religioso, social e cultural. O antropólogo Eliade (1974), vendo no homem um ser inconcebível sem linguagem e sem vida coletiva, relaciona a religião a fatores sociais, linguísticos e econômicos. Frye (2004) entende que no conjunto das imagens bíblicas há dois níveis de natureza: o inferior, presente no contrato de Deus com Noé, pressupondo uma natureza a ser dominada e explorada pelo homem, e o superior, expresso no contrato com Adão ainda no paraíso, perfazendo imagens da natureza antes da queda. Essas imagens são parte do que Frye chama de mundo apocalíptico, ou seja, o mundo ao qual a imaginação humana criativa aspira e que a energia humana tenta realizar. A literatura ocidental é marcada por essa aspiração, por meio de arquétipos que apresentam o sonho total do homem e tratam a perspectiva transcendental e apocalíptica da religião como emancipadora da mente imaginativa, o que não implica afirmar que a expressão religiosa do artista se realize de modo puro ou intransponível. O sagrado se manifesta sempre em uma situação histórica determinada, visto que todas as experiências místicas resultam de um momento histórico. São inúmeros e diferenciados os fatos sagrados e diversas as hierofonias, mas o que define e caracteriza o sagrado é a dicotomia sagradoprofano, presente no marco de qualquer religião (ELIADE, 1974). As imagens da poesia de vertente religiosa e metafísica revelam imagens bíblicas da apreensão do sagrado e do profano pelo imaginário do homem. Os temas que fundamentam essa matéria poética estendem-se a 220 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa diferentes configurações da imagem de Deus aos caminhos ou modos de acesso a Ele. O estudo das hierofanias, empreendido por Eliade, auxilia na recomposição das imagens divinas. A hierofania cósmica (o céu, as águas, o sol, a terra, as pedras) pode revelar as formas como Deus se manifesta ao homem terreno, ao passo que as hierofonias tópicas recuperam os caminhos da divindade, no estudo do espaço e do tempo sagrados. O poeta dessa vertente busca recuperar a essência da própria arte; almeja o sublime em poesia e associa arte poética a uma função salvadora. Na poesia de Jorge de Lima, tem-se afirmada a importância e a sacralidade do ato poético: Porque a poesia está muito alta Acima de vós, mundo muito pequeno!” (A poesia está muito acima.1) Nesses momentos, a figura do próprio poeta torna-se matéria de seu poema. O poeta tematiza-se, comprometendo sua arte à vivência religiosa e, a seu modo, falará com Deus: “Senhor Jesus, o século está podre/ Onde é que vou buscar poesia” (Adeus poesia. In: Tempo e eternidade, 1935). A preocupação do poeta se faz poesia. Assim, a Natureza inspiradora provém do sentimento de estranheza de um tempo mundano, de um “século podre”. A matéria poética forma-se pelo sentimento que a Natureza inspira no poeta, não apenas uma natureza naturada, com suas imagens de campo, rio, montanhas, mas uma Natureza que se revela através das coisas, conforme lembra Dufrenne (1969). A poesia religiosa de Murilo Mendes não se desliga de um conteúdo humano e de um tempo finito. O livro O visionário2 comprova que a conversão religiosa do autor não ocasiona mudanças estruturais em sua poética, pois não o leva a aceitar o desconcerto deste mundo (ARAÚJO, 1972). O poeta tematiza tudo o que atrai a carne e perece no mundo terreno. O sentimento do sagrado só é possível por essa apreensão do profano, buscada com um propósito metafísico: 1. Poema presente na obra Tempo e eternidade, publicada pela primeira vez em 1935. 2. Obra publicada em 1930. 221 Rosana Rodrigues da Silva O fim da idéia de propriedade, carne e tempo E a permanência no absoluto e no imutável” (Poema essencialista.3). A poesia revela o simbolizado, a comunhão e o absoluto. O poeta contempla o imutável e valoriza somente um tempo estático, com significado emocional, como “a madrugada de amor do primeiro homem” ou “o retrato da mãe com um ano de idade” (Poema essencialista.4). A poesia muriliana expressa o conflito do homem moderno, para o qual a interferência de Deus no mundo causa rebeldia: “Quis conhecer a verdade dos seres, dos elementos;/ Me rebelei contra Deus,/ Contra o papa, os banqueiros, a escola antiga” (Novíssimo Prometeu. In: O visionário, 1930). O poeta integra sua modernidade ao mito prometeico, ambicionando conhecer os desígnios divinos e os mistérios de sua criação; revive Prometeu, rebelado e sacrificado. No poema muriliano, as imagens de grandes potências confluem para a visão do mal. A consciência do mundo pecaminoso traz a angústia que nem a fé pode amenizar. O desespero nasce da busca irrealizável pela harmonia do universo, pela tentativa de compreender e aceitar a interferência divina. Inversamente à produção muriliana, Cecília Meireles desenvolve uma religiosidade que se traduz em imagens de autoentendimento, em uma cosmovisão oriental, de acordo com sua experiência religiosa e afetiva. A matéria poética de Mar absoluto5 é formada pelo simbolismo marítimo que cerca o universo de um sujeito lírico perscrutador de um mundo de essências, na busca de um significado para a realidade que há por trás de um universo aparente: “Não é este mar que reboa nas minhas vidraças,/ mas outro, que se parece com ele” (Mar Absoluto, 1945). O mar majestoso do mundo físico, admirado no ir e vir de suas ondas, não é apenas aquilo que parece ser. O Mar Absoluto figura um mundo de essência e de Unidade, portanto, de manifestação divina. A imagem do mar, 3. Poema presente em O visionário. 4. Poema presente em O visionário. 5. Obra publicada em 1945. 222 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa arquétipo de criação, é escolhida para diferenciar dois mundos: o do Absoluto e o do Relativo, o da Essência e o da Aparência. O mesmo espaço inefável da obra ceciliana compõe as imagens poéticas da obra religiosa de Vinícius de Moraes. A poesia de sua primeira fase desenvolve-se na busca da compreensão dos mistérios que afligem substancialmente o mundo. Desvendando-o e desvendando-se, o eu lírico entende sua prisão terrena e a eterna errância, à qual se sujeita na qualidade de pecador que anseia pela absolvição. O sentimento do pecado ocasiona no sujeito poético um constante estado de angústia, só atenuado com a perscrutação do mistério do mundo e com sua tentativa de harmonização com a natureza: “Eu senti na minha alma a dor da árvore/ Esgalhada e sozinha” (Introspecção6). O poeta que deseja integrar-se à natureza, o poeta sentimental, na definição de Schiller (s.d.), jamais criará obras que ofereçam figurações concretas plenamente satisfatórias de seus ideais. É, portanto, explicável que a imagem poética dos autores religiosos não se fixe em um mundo concreto, mas que se revele por meio de uma contemplação interior e ilimitada do universo que o artista idealiza ou pressente. A integração à natureza busca restaurar a harmonia perdida pela humanidade, cristalizando-se no estado de tensão e conflito vivenciado pelos criadores de uma arte nostálgica e messiânica, à medida que pode ser considerada tanto um retorno às fontes primordiais, quanto um exercício espiritual libertador do homem. As imagens poéticas são reveladoras do sentido da religião para o homem e de suas experiências a todo nível. O sentido não é só fundamento da linguagem, mas é, sobretudo, toda apreensão da realidade. Conforme explica Paz (1990), nossa experiência da pluralidade e da ambiguidade do real se redime no sentido. No poema, as imagens acabam sendo o sentido de todo o homem e não apenas de um homem histórico. A linguagem poética se constitui como um modo peculiar de dizer o indizível, algo que não poderia ser dito de modo prosaico ou racional. Essa linguagem que ultrapassa toda forma racional acaba por si só atingindo um estado de tensão constante que 6. Poema presente em O sentimento do sublime. 223 Rosana Rodrigues da Silva busca harmonizar contrários; dizer mais do que implica dizer. Nisso a poesia acaba sendo transmutação, operação alquímica, confinada com a magia e com a religião, podendo transformar o homem e mostrá-lo como o outro que ele mesmo pode ser. 2. A EVOCAÇÃO DIVINA NO IMAGINÁRIO HUMANO Os poetas buscam evocar o sagrado nas hierofanias cósmicas que trazem aos poemas diferentes formas de Deus. A visão de um Pai celestial atende à ideologia do Cristianismo que evoca um Deus de essência única, lembrado nas expressões: Pai, Filho e Espírito Santo. O monoteísmo foi uma das primeiras ideias desenvolvidas pelos seres humanos para explicar o mistério e a tragédia da vida (ARMSTRONG, 2001). Os homens têm experimentado Deus como transcendente (o Pai, oculto em luz inacessível), como criativo (o Logos) e como imanente (o Espírito Santo). Os termos que o designam têm valor simbólico porque buscam traduzir o inefável em imagens compreensíveis. São, portanto, considerados termos insuficientes para designar o que está além de uma conceitualização, além das palavras. Daí a necessidade de visualizar, de ter a presentificação da imagem que conceda concretude ao espiritual, dando faces e contornos à experiência religiosa. Embora sejam variadas as imagens de Deus, no poema religioso, os motivos bíblicos expressam constantemente passagens do Gênesis, do Êxodo e do Apocalipse, compondo a imagem de um Todo-Poderoso. As diversas traduções da Bíblia exemplificam a inteligibilidade mútua do ser humano, à medida que todas dão mostras de semelhantes imagens, narrativas e alusões em diferentes formas de articulação verbal em diversas culturas (FRYE, 2004). As escrituras judaicas descrevem um Deus brutal, sequioso de guerra e autocontraditório que exterminava populações inteiras em sua paixão por justiça. Antes da vinda de Cristo, Deus parecia uma divindade feroz e primitiva que interferia irracionalmente nos assuntos humanos e com pouca misericórdia pelos não favoritos (ARMSTRONG, 2001). 224 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa Muito comum na obra de Jorge de Lima são as imagens de um Deus justiceiro e impiedoso associado a imagens do juízo final, visões perturbadoras da morte e da carne, evidenciando o drama do terror humano: Sou vosso mudo, Senhor meu Deus Vento violento Secai meus tímpanos, eu tenho medo da ira santa. (Davi caindo7) No poema de Jorge de Lima, o homem que vem da “lama escura” sente o ardor das “chamas do inferno”; é o pecador consciente da queda e da escuridão em que se encontra, no sacrifício por seus pecados. Imagens da escuridão relacionam-se ao simbolismo nictomórfico que valoriza negativamente o negro e o escuro. Conforme Durand (1997), no imaginário humano, as trevas nefastas opõem-se à imagem da luz, do dia e de seus ascendentes, formando o espaço noturno da queda. A inversão apenas se dá com a imagem acolhedora de um Deus renovado, na figura de Cristo e de um Pai misericordioso: O mundo precisava de amor: na véspera de Vossa Morte nos deixastes um legado: a Hóstia para matar fome e sede. (Confissões, lamentações e esperança a caminho de Damasco8) A doação de seu filho nivela-se à de Si mesmo. O Deus brutal cede espaço ao Deus amoroso, a que tudo perdoa e tudo renova nos laços da comunhão. Nesse processo de perdoar e restaurar, revela-se uma nova forma de compreensão do divino. Nela, Deus surge como o demiurgo que cria seres divinos e eternos, dotados de almas inteligentes, articuladas com a inteligência da Alma do mundo (REALE, 1994). 7. Poema presente em Tempo e eternidade. 8. Poema presente em Tempo e eternidade. 225 Rosana Rodrigues da Silva Na poesia de Jorge de Lima, o Espírito Paráclito realiza a ordenação por meio da transformação do homem. Na Bíblia, o Espírito Santo vem em um sopro violento, em forma de uma língua de fogo, para manifestar-se aos seguidores de Cristo, fazendo-os falar em outras línguas e ter visões proféticas. A iluminação para irradiar a glória de Deus é trazida pelo Espírito, “dedo da direita do Pai”, portanto, sua parte e extensão que se manifesta em forma de Pássaro e de Luz, Uno e Múltiplo. A luz, imaterial e indefinível, é tida como símbolo perfeito de Deus, pois pode representar sua realidade no mundo. A luz que transfigurara a humanidade de Cristo no monte Tabor era a presença do próprio Deus A montanha do Sinai também estava envolta em uma fumaça porque Javé, Deus de Moisés, havia descido em meio ao fogo (ARMSTRONG, 2001). Os símbolos ascensionais trazem a ideia de completude junto à divindade. O céu revela diretamente sua transcendência, força e consagração. Segundo Eliade (1974), a mera contemplação da abóbada celeste provoca na consciência primitiva uma experiência religiosa. O simbolismo da transcendência do céu se deduz da simples consideração de sua altura infinita. As regiões superiores inacessíveis ao homem, as zonas siderais, adquirem os prestígios divinos do transcendente, por isso deuses supremos têm sua morada no céu. O Deus urânico, Todo-Poderoso, tem seu oposto na figura demoníaca, o desordenador do mundo, aquele que pode reavivar a queda humana: Cairá a grande Babilônia, meu corpo, Cairá ao peso de suas taras, Cairá ao peso de seus erros e visões no tempo Cairá porque Satã soprou sobre ele. Cairá porque sustentou a esfera sobre si Contemplarei ainda um pouco o mundo efêmero Até que Deus faça volver tudo à poeira primitiva. (Fim e princípio9) 9. Poema presente em Tempo e eternidade. 226 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa Deus, como ordenador do mundo, não permite a existência de uma cidade marcada pela luxúria. O poema retoma da Bíblia a passagem do Apocalipse de João, que narra a queda de Babilônia, considerada a Grande Prostituta, amante do Anticristo. Seu pecado será sua punição, por isso Babilônia cairá com o peso de suas taras e erros. Na Bíblia, a sociedade demoníaca é representada pelo Egito e por Babilônia (FRYE, 1973). No poema, a imagem da queda é seguida de imagens transformadas em renovação e promessa. E seja transformada a face da Criação. Ouçamos os clarins e oboés da eterna música. Entremos na cidade do amor Que para nos receber se preparou: uma noiva, Sem herança das ascendências carnais e do tempo. Não há mais lua nem sol. Vem Cristo Jesus, todos te esperam. Sim! (Fim e princípio. In: Tempo e eternidade, 1997) Soará a música da cidade do amor, a “nova Jerusalém”, na imagem da pureza da noiva, sem ascendências carnais, sem o terror temporal. O tempo é suspenso, “não há mais lua nem sol”. A abolição do tempo é possível no presente mítico em que o mundo é destruído para ser recriado. O livro do Apocalipse encerra a Bíblia, mas não finaliza a profecia; permanece o fim para ser desvendado entre os tempos. Frye (2004) lembra que assim como a palavra grega aletheia, que se inicia com uma partícula negativa, sugere que se pensava no vocábulo verdade como espécie de desvendamento; a palavra grega apocalypsis possui sentido de descoberta, ou retirada de um véu que encobre. O livro do Apocalipse faz um desvelamento do Mistério para um livro segundo. O apocalipse panorâmico abre espaço, no fim, para um segundo que, idealmente, começa na mente do leitor tão logo a leitura termine. Esta visão passa pelas visões de cunho legal, sobre ordenações e julgamentos e juízos e chega a uma segunda vida. (FRYE, 2004, p. 170). 227 Rosana Rodrigues da Silva O imaginário humano estrutura-se em visões apocalípticas, abrindose para a revelação dos mistérios que cercam o fim dos tempos. Na obra de Murilo Mendes, o sujeito poético insiste na visão restauradora do fim, revelando imagens de um tempo cíclico. O Deus que admite o retorno do homem é o mesmo que perdoa e se compraz com sua criação. Alternam-se, portanto, na poesia muriliana, a visão de um Deus ordenador do mundo e justiceiro, nesse caso apreciado e louvado pelo poeta, e a presença de um Deus misterioso e impiedoso que interfere na existência humana. Dessa imagem provém a figura do rebelado que lamenta a criação do homem e sua posição no mundo. É dessa alternância que nascem imagens de angústia e desespero, humor e ironia. A ideia de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, mas de não poder interferir na criação divina, faz do poeta um inconformado com sua condição terrena. Contrariamente à poética de Murilo Mendes, a poesia de Cecília Meireles não é marcada por inconformismo. O sujeito lírico de seus poemas revela um sentimento de aceitação e uma atitude contemplativa diante da vida humana. Em harmonia com esse sujeito, tem-se a imagem de Deus transfigurado em símbolos de infinitude, sentidos na extensão da natureza. Em Mar Absoluto, o eu lírico se interroga sobre a eficácia de um Deus único para responder às preocupações filosóficas e lhe conceder força para resistir à vida na terra. E que deus me dará força tão poderosa para assim resistir toda a vida desperta e com os deuses conter a tempestade certa? (Vigilância10) A indagação lírica revela um Deus que não se identifica com o TodoPoderoso. Na busca de respostas, o sujeito poético adquire forma transcendente, aceitando a concepção oriental do divino como transformação interior. 10. Poema presente em Mar Absoluto. 228 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa Se, para o Ocidente cristão, o homem depende da graça de Deus ou da Igreja, para os orientais, o homem deve ser o único responsável por sua própria evolução superior. O homem ocidental reconhece-se infinitamente pequeno perto da graça de Deus; já o homem oriental vê na evolução de seu espírito a graça divina (JUNG, 1987). Nas religiões orientais, o Criador é “uma projeção do ego”; por isso é buscado pela iluminação do indivíduo, contrariando em essência o pensamento ocidental, que atribui a salvação a Deus e não ao desejo do homem. (FRYE, 2004). Deus não é visto no Oriente como um ser acrescentado ao mundo que o homem conhece. A divindade apenas pode ser revelada ao religioso oriental por meio de uma experiência que não pode ser expressa por palavras ou conceitos (ARMSTRONG, 2001). A experiência mística torna-se a única prova digna de confiança. Nos poemas de Cecília Meireles, a experiência se dá pela atitude lírica de um sujeito que evolui na busca de sua espiritualidade. Sua autorreflexão, seus questionamentos e a própria contemplação traduzem a busca do Simesmo. Conforme é explicitado por Jung, o Si-mesmo não se relaciona ao individualismo, mas à individuação, isto é, à realização das qualidades coletivas do ser humano, por meio do conhecimento do inconsciente coletivo. Compreender o Si-mesmo significa compreender a soma de toda vida já vivida, compreendendo o aspecto subjetivo e imortal da natureza humana, pelo processo de individuação (JUNG, 1987). Desse modo, Deus não surge como foi concebido pela tradição judaico-cristã, mas como presença que deve ser sentida. No mundo natural, a poeta busca a contemplação divina. Integrando-se, aproxima-se de Deus. Tal como no budismo, em que deuses, natureza e humanidade estão unidos em simpatia (ARMSTRONG, 2001), a contemplação poética torna-se esperança de libertação do sofrimento e de alcance do nirvana. O mar é a natureza escolhida pela poeta para representar a divindade. Em todos os seus livros, Cecília Meireles expressou as diversas atitudes de sua passagem pelo mar, símbolo que determina, para ela, a “integração no Absoluto” (AYALA, 1965, p. 34-35). Segundo o crítico, o simbolismo divino do mar pode ser explicado por sua expressão da eternidade, daquilo que não possui começo nem fim e vive de um movimento titânico. 229 Rosana Rodrigues da Silva A recorrência às imagens do mar também se justifica pela influência da avó materna, da ilha São Miguel de Açores. Essa “herança de cordas e âncoras”, referida em Mar absoluto, explica a incorporação de uma linguagem náutica em sua lírica, formando uma “constelação de símbolos aquáticos” (MELLO, 1994, p. 35-36). A figura do mar sempre foi bastante almejada pelos poetas. O mar fascina por ser, ao mesmo tempo, uma imensidade multiplicada, una e eterna, com a aparência imóvel do instante. Sua superfície funciona como um espelho que “duplica a profundidade ascendente do céu e incorpora os elementos da alteridade superior”; por isso o mar possui uma magnitude, cujo significado poderá ser a “forma metafórica do infinito e do inefável” (PRADO, 1993, p. 340-341). O mar majestoso é constantemente recuperado pela poeta que o torna síntese de sua consciência criadora e metáfora do Absoluto, que nunca se extingue e que pode proporcionar aos seres a espiritualidade. O significado de regeneração espiritual das águas presentifica-se no ritual do batismo e estende-se às tradições de dilúvios que vinculam a ideia de uma reabsorção da humanidade na água à instauração de uma nova era (ELIADE, 1974). O mar contemplado, antes de tudo, é água, “água de todas as possibilidades”, em que o sujeito lírico irá buscar sua evolução. Esse mar basta por si mesmo e modifica-se para o contínuo de sua eternidade. O abismo marinho converte-se em grandiosidade que seduz: Deus-Mar, tranqüilo, e inquieto, e preso e livre, antigo e sempre novo – indiferente e suscetível! Em cada praia deste mundo te celebram os que te amaram por naufrágios e vitórias, e religiosos se renderam, convencidos, à lição tácita dos símbolos marítimos. (Périplo11) 11. Poema presente em Mar Absoluto. 230 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa O Deus-Mar é recuperado em imagens antitéticas (tranquilo e inquieto, preso e livre, antigo e novo, indiferente e suscetível), o que salienta sua essência mística. Sempre celebrado por suas lições tácitas, os povos se rendem aos ensinamentos de seus símbolos marítimos. Seu dom profético, de grande oráculo, traz as respostas às indagações humanas. Com isso, é recuperada a simbologia do poder profético que emana das águas, presente desde a Antiguidade que já via o oceano como uma “casa da sabedoria” (ELIADE, 1974). A figura de um Deus cristão não é sentida de modo positivo pela poeta, que o associa à condenação, a um destino malogrado. O Deus que acalma e ensina está presente nos símbolos marítimos e relaciona-se à crença espiritualista e oriental cultivada pela autora. Distante do orientalismo de Cecília Meireles e mais próximo do cristianismo de Jorge de Lima e de Murilo Mendes, a poesia de Vinícius de Moraes, em O sentimento do Sublime, traz a visão do Deus justiceiro do Antigo Testamento, associada a imagens da queda. O desespero da fuga humana, contrariamente à tranquilidade repousante dos símbolos ascensionais, ilustra a consciência de um mundo pecaminoso: “A carne fugiu/ Desapareceu devagar, sombria, indistinta/ Mas na boca ficou o beijo morto” (Ânsia12). A fuga da carne e o gosto do beijo simbolizam angústia e medo. Na visão de um Deus justiceiro, a luta, o sangue e a morte são símbolos de força, coragem e sacrifício em prol da redenção; por isso, o poeta clama por justiça: Senhor, antes de seres Jesus a humanidade era forte Os homens bons ouviam a doçura de tua voz Os maus sentiam a dureza da tua cólera. (...) Senhor! Tu que criaste a humanidade. Dize-lhe que o sacrifício será a redenção do mundo E que os fracos hão de perecer nas mãos dos fortes. Dá-lhe a morte no campo de batalha 12. Poema presente em O sentimento do sublime. 231 Rosana Rodrigues da Silva Dá-lhe as grandes avançadas furiosas Dá-lhe a guerra, Senhor! (A grande voz13) O espírito benévolo da figura de Jesus revelou um Deus plácido, bom e excelente, e possibilitou aos homens cruzar o fosso que os separava do Todo-Poderoso (ARMSTRONG, 2001). Contudo, a ideia da benevolência divina não agrada ao poeta, que vê na guerra e na impiedade de um Deus justiceiro o modo possível de fortalecimento e salvação espiritual do homem. CONCLUSÃO A configuração de Deus comum a Jorge de Lima, Murilo Mendes e Vinícius de Moraes é aquela que apresenta a forma divina como uma realidade totalmente exterior, que possibilita aos poetas a projeção do humano no divino – uma vez que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus – e que possibilita, paradoxalmente, a diferenciação do humano e do divino. Os poetas reconhecem-se fracos, mortais, diminutos e inferiores ao Deus Todo-Poderoso. Essa alteridade, criadora do homem e do universo, identifica-se nos textos desses poetas, sobretudo, com a própria ordem moral e com o próprio Bem do mundo. O Deus criador do universo, do qual dependem todas as coisas, é também sustentáculo da prática do Bem e da ética. Assim, está relacionado à ideia de justiça e igualdade. Tanto Jorge de Lima, quanto Murilo Mendes e Vinícius de Moraes referem-se a um Deus que ordena o mundo para o seguimento da ordem moral, mas que, ao fazê-lo, interfere na liberdade humana, ocasionando incompreensão e rebeldia. Diferentemente dos seus contemporâneos, Cecília Meireles revela a busca de um Deus que não constitui uma realidade exterior, mas que pode se revelar por meio da experiência mística. A natureza e os símbolos marítimos são os sustentáculos dessa epifania. Por meio deles, a poeta constrói 13. Poema presente em O sentimento do sublime. 232 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa seu Deus, ao mesmo tempo em que encontra as respostas para suas interrogações. O Deus único, do monoteísmo, não constitui uma presença muito recorrida nos poemas da autora, mas as poucas vezes em que é citado surge de modo vago e indefinido. O sagrado na poesia ceciliana reconforta mais nos momentos em que se manifesta em símbolos de infinitude, na ascese espiritualista e na contemplação mística do mergulho reflexivo em que se detém a poeta. Como agente ordenador ou criador do mundo, como a própria natureza, como garantia do bem ou da ordem moral – transfigurado em um único ou em vários – a figura de Deus revela-se em imagens poéticas que configuram a criação do mundo, da humanidade e da própria poesia, mostrada no modo da criatura sentir ou compreender seu Criador. Compreender os mistérios divinos, bem como ser capaz de expressálos, está na base da poesia dos autores dessa vertente que possuem a real intenção de resistir em um espaço e tempo aparentemente inadequados a eles. Arte religiosa apresenta-se, ou assim o pretende, como uma extensão da criação divina. Assim como foram criados o mundo e os homens, foi criada a poesia. Fundada pelo Verbo criador, no início dos tempos, a poesia deve propiciar um espaço onde o poeta torna-se capaz de sentir-se interagido com Deus. Assim, perscrutando os mistérios do universo, o poeta revela o desejo de buscar uma natureza harmoniosa, a fim de integrar-se a ela de forma idealista. A harmonia com a natureza é, para ele, também harmonia com Deus. A atitude idealista dos autores religiosos coloca-os em um plano diferenciado de seus contemporâneos. Os poetas pretendem a vidência divina, por meio da poesia, uma vez que se julgam artistas privilegiados, conhecedores de mistérios. A imagem traz, portanto, uma re-ligação do homem ao divino, desvelando o sentido do sagrado na expressão poética. Expressão essa que, se não puder ser uma verdade incontestável, tranquiliza ao menos por ser imaterial e única, essência compartilhada da psique humana. 233 Rosana Rodrigues da Silva REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARAÚJO, L. C. Murilo Mendes: poetas modernos do Brasil. Petrópolis: Vozes, 1972. ARMSTRONG, K. Uma história de Deus (quatro milênios de busca do judaísmo, cristianismo e islamismo). 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. AYALA, W. Nas fronteiras do Mar Absoluto: crônica trovada da cidade de San Sebastian. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965. DUFRENNE, M. O poético. Porto Alegre: Globo, 1969. DURAND, G. As estruturas antropológicas do imaginário. São Paulo: Martins Fontes, 1997. ELIADE, M. O sagrado e o profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992. ELIADE, M. Tratado de historia de las religiones. Madrid: Cristiandad, 1974. v. II. ELIADE, M. Imagens e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico religioso. São Paulo: Martins Fontes, 2002. FRYE, N. Anatomia da crítica. São Paulo: Cultrix, 1973. FRYE, N. O código dos códigos: a Bíblia e a literatura. São Paulo: Boitempo, 2004. FRYE, N. Psicologia e religião oriental. Petrópolis: Vozes, 1989. GALACHE, G. (Org.) A Bíblia. São Paulo: Loyola, 1995. JUNG, C. G. Individuação. In: ________. O eu e o inconsciente. Petrópolis: Vozes, 1987. p. 47-115. LIMA, J. de. Tempo e eternidade. In: ________. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997. MEIRELES, C. Mar absoluto. In: ________. Poesia completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. MELLO, A. M. L. de. A linguagem náutica na poesia de Cecília Meireles. Revista FAPA, Porto Alegre, n. 14, p. 35 – 41, 1994. MENDES, M. Tempo e eternidade. In: ________. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. MENDES, M. O visionário. In: ________. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. MORAES, V. de. O sentimento do sublime. In: ________. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. 234 O sagrado na poesia: a imagem poética e a experiência religiosa PAZ, O. A imagem. In: ________. Signos em rotação. São Paulo: Perspectiva, 1990. p. 37-50. PRADO, J. del. Teoría y prática de la función poética. Madrid: Cátedra, S. A, 1993. REALE, G. História da filosofia antiga II (Platão e Aristóteles). São Paulo: Loyola, 1994. (Série História da Filosofia). SCHILLER, F. Poesía ingenua y poesía sentimental. Buenos Aires: Editorial Nova, s.d. THOMAS, K. Religião e o declínio da magia: crenças populares na Inglaterra, séculos XVI e VII. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 235 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu ADRIANA LINS PRECIOSO INTRODUÇÃO Os textos literários produzidos no Brasil durante os governos militares da década de 70 apresentam características da poética pós-moderna, ou seja, buscaram configurar as inovações que surgiam no âmbito do horizonte político-cultural que, no final desse período, introduziam inúmeras questões novas. Assim, dentro do processo cultural, passou-se a considerar alguns elementos importantes, tais como: o problema da cultura como mercadoria, a expansão da indústria cultural e a presença constante da censura. O panorama histórico-cultural vivido no Brasil nessa época abre espaço para se fazer uma crítica sobre o valor da herança moderna e instituir novos valores, os quais são reformulados e implicam “em formulações contraditórias, que afirmam ou negam o esgotamento da razão iluminista, o fim da luta de classes, o fim do sujeito, a morte do homem, a diferença e o conforto dos jardins domésticos” (HANSEN, 1994, p.44). Em consonância com esses novos valores, a obra literária contemporânea apresenta, de forma particular, o conflito eterno do indivíduo e da sociedade, mediados, agora, por um indivíduo que é fragmentado e sofre, no próprio corpo, as tensões vividas interna e externamente. Isso, em contrapartida com a projeção comum de cultura de identidade brasileira que encontram no corpo o espaço da beleza, da alegria e do prazer sem fim. Portanto, quando o país inteiro sofre como sofreu no período da ditadura, o corpo passa a ilustrar toda a feiura, a tristeza e a dor individual e de um povo. 237 Adriana Lins Precioso CAIO FERNANDO ABREU – PEDRAS DE CALCUTÁ Nesse contexto, descobrimos a obra de Caio Fernando Abreu, que foi jornalista e trabalhou nos principais jornais e revistas do Brasil. Seu ingresso ao universo literário começou pelas crônicas, depois suas obras literárias ganharam inúmeros prêmios e seus livros foram traduzidos em vários países da Europa. Pedras de Calcutá Calcutá, publicada em 1977, foi sua terceira coletânea de contos, um livro que assinala, além de uma trajetória pessoal, uma representação sobre o que muitos outros jovens passaram no mundo todo. O autor vale-se da representação pós-moderna para a escritura dessa obra e elege o corpo como metáfora máxima para figurativizar as dimensões de uma vivência que sofre com os vários conflitos da vida: a espera, a morte, a decisão, o amor, o imobilismo e os horrores do tempo da ditadura. Todos esses fatores apresentam o indivíduo em luta consigo mesmo e com o mundo com o qual ele se relaciona. Assim, a fratura, a diluição, a negação e outras formas de revelar esse indivíduo são projetadas em seus textos. A obra tomada aqui para análise, Pedras de Calcutá, divide-se em duas partes: “Mergulho I” e “Mergulho II”. O corpo das personagens é trabalhado, na primeira parte, com maior ênfase, e, na segunda parte, é o próprio corpo do texto, a letra na página, a configuração do texto no papel e outras linguagens que são, então, exploradas. Além disso, o papel do leitor, sua concepção de realidade e sua relação com a leitura são problematizados ao longo da obra. A obra de Caio Fernando Abreu apresenta, num contexto geral, a figurativização em menor ou maior grau, a questão do corpo e, consequentemente, a figura do indivíduo como um ser fragmentado e cindido. Divididas em: Parte I e Parte II, os pontos de tensão das narrativas, as relações conflituosas, a intensidade da ruptura, a figuratividade dos corpos e suas projeções distinguem-se em relação à figura do corpo. Na primeira, temos o corpo das personagens, e, na segunda, é o corpo da narrativa que encena as rupturas e conflitos. Apesar dessa distinção estabelecida pelas partes, há uma consonância observada nessa divisão. Os pontos de tensão das narrativas projetam-se nos conflitos: eu x outro; eu x eu (mesmo) e os desfechos são 238 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu disfóricos, inusitados e agonizantes, pois são recorrentes neles as imagens dos corpos sofrendo mutilações, estando cobertos de feridas ou agonizando antes da morte. CONFIGURAÇÕES DO CORPO: PARTE I As principais características da Parte I são textos curtos e carregados de tensão; o corpo humano é o próprio núcleo dramático dessas narrativas. Entende-se, então, que o corpo é o cenário, o evento, que atua e recebe a atuação da encenação da vida. As personagens de Caio sofrem em seus corpos tensões ora externas, ora internas. Desse modo, temos: primeiramente, as tensões internas e externas vivenciadas nos corpos e projetando a “reflexão sobre o lugar e a atividade do escritor”; logo em seguida, a questão da linguagem quando ela mesma sofrerá as tensões, as fraturas e as colagens da literatura contemporânea. No texto “Mergulho I”, a personagem anônima afoga-se em seu próprio corpo: Ergue-se para olhar a própria cara no espelho, as calças caídas sobre os sapatos desamarrados, e abriu a boca libertando uma espécie de arroto. Foi então que a água começou a jorrar boca afora. Primeiro em gotas, depois em fluxo mais forte, ondas, marés, até que um quase maremoto o arrastou para fora do banheiro. Espantado, tentou segurar-se no corrimão da escada, chegou a estender os dedos, mas não havia dedos, só água se derramando degraus abaixo, atravessando o corredor, o escritório, a pequena sala de samambaias desmaiadas. Antes de atingir o patamar de entrada ele ainda pensou que seria bom, agora, não ser mais regato, nem fonte, nem lago, mas rio farto, caminhando em direção à rua, talvez ao mar. (p. 12) A diluição da personagem em água surge como força interna impulsionadora; ao “olhar a própria cara no espelho” (p.12), a personagem 239 Adriana Lins Precioso reconhece-se, individualiza-se, ganha, portanto, uma nova dimensão. Contudo, ao entrar em contato com o mundo, com o lado de fora, figurativizado na figura do “jardim”, ele se vê igualado. Sua individualização perde-se na “imensa massa de água”, ou seja, ele era mais um, “inteiro e vazio”, perdendo-se em si mesmo e igualando-se com a massa: Mas quando as ondas mais fortes rebentaram a porta da entrada para inundar o jardim, ele se contraiu, se distendeu e cessou, inteiro e vazio. Não passava de uma gota na imensa massa de água, que descia das outras casas inundando as ruas. (p.12) As violentas tensões externas surgem figurativizadas no corpo de outras personagens, também anônimas, no texto “Holocausto”. Agora, porém, num discurso individualizado, projetado numa enunciação enunciativa.1 Vejamos: Antes, antes ainda, foram os piolhos. Eu sentia alguns movimentos estranhos entre meus cabelos. Mas naquele tempo eram tantos pensamentos novos e incontroláveis dentro da minha cabeça que eu não sabia mais distinguir daqueles outros movimentos, externos, escuros. (p.13) Um pouco antes, não sei, ou mesmo durante ou depois não importa o certo é que um dia houve também as bolhas. Apareciam primeiro entre os dedos das mãos, pequenas, rosadas. Comichavam um pouco e, quando eu as apertava entre as unhas, libertavam um líquido grosso que escorria abundante entre os dedos, até pingar no chão. (p.14) ... Há feridas em torno de meus olhos, as sobrancelhas e os cílios fervilham de piolhos. Os dentes fizeram meu rosto inchar tanto que 1. “Há, pois, dois tipos bem distintos de debreagem: a enunciativa e a enunciva. A primeira é aquela em que se instalam no enunciado os actantes da enunciação (eu/tu), o espaço da enunciação (aqui) e o tempo da enunciação (agora) [...]”. (FIORIN, 2001, p.43) 240 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu os olhos se estreitaram e recuaram até se tornarem quase invisíveis. (p.15) “Holocausto” aparece como narrativa exemplar da mutilação, do sofrimento do corpo por meio de agentes externos e internos que provocam dor e agonia. O espaço de uma casa, a presença de outras pessoas (doze), que não interagem, apenas se olham e se aproximam, revelam a tensão destruidora. A imobilidade dos corpos, a agressão sofrida e a junção entre as pessoas encenam o sofrimento vivenciado numa verdade histórica diluída na ficção, ou seja, todos os horrores da ditadura podem ser relacionados com a figurativização desse texto. O corpo, nesse texto, encena a violência vivida nos anos de censura no Brasil, os “tantos pensamentos novos” confundidos com os piolhos “externos, escuros” dão a dimensão da confusão de ideais daquele momento. A censura imobilizava e feria e, aqui, essas duas ações são transferidas diretamente para o corpo; os olhos já não podem ver, por causa das feridas, as mãos inchadas não podem trabalhar, e assim por diante, todo o corpo revela a violência desse período. A escolha dos verbos predominantemente no tempo presente e de advérbios que dão circunstâncias de ações no presente criam a ilusão de açãopresente, numa angústia que vivencia quem lê e sente as dores das personagens que sofrem. Sua finalização ilustra bem todos esses procedimentos: [...] Ainda estou aqui. Talvez daqui a pouco eu chore, ou grite, ou saia correndo no escuro. Nossos corpos estão muito próximos. Trocamos nossos piolhos, nossas bolhas. Se nos beijássemos trocaríamos também os grandes animais sangrentos das nossas bocas. Talvez eu não chore nem saia correndo. Talvez apenas afaste esses braços e pernas que enredam meus movimentos e faça o primeiro gesto em direção ao fogo. Daqui a pouco. (p.17) Já no texto “Sim, ele deve ter um ascendente em peixes”, num discurso indireto livre, narrador e personagem revelam a violência sofrida, a perseguição silenciosa até a morte já estabelecida como algo previsto e determinado, mesmo que nenhuma ação anterior evidencie ou justifique o desfecho: 241 Adriana Lins Precioso [...] E foi correndo cada vez mais velozmente em direção à luz, até chegar bem perto e ver que era uma vidraça e, feito um automóvel desgovernado, não pôde deter os passos e então sentiu a carne varando os vidros, a barriga solta, o frio um pouco mais intenso, depois, um segundo antes de cair sobre a grama ressecada e áspera do jardim, olhou bem para uma porta de madeira escura, e um muro baixo, meio descascado, e as casas velhas em torno, e os paralelepípedos no meio da rua, com algumas hortênsias, e uma árvore qualquer na esquina, não sabia bem se salgueiro, plátano ou casuarina, mas não tinha importância, a chave servia, Eu, pensou antes da dor da faca entrando na sua nuca despenteada: Eu sempre disse que nunca me enganei. (p.55) Os textos da parte I seguem a tendência contemporânea da narrativa que busca compor técnicas transparentes de narrar, com o objetivo de que cumpram o propósito de desnudar o que pode ser um “horror real”, uma violência imanente e o fim de qualquer utopia. CONFIGURAÇÕES DO CORPO: PARTE II A parte II inicia-se com o texto “Mergulho II” e a figura da água, mais uma vez, inaugura a abertura da série de contos da segunda parte da obra. Dessa vez, a relação entre a água e a personagem está no sonho, ou melhor, no pesadelo. Dividido em três parágrafos, a tensão da impossibilidade e da morte está sintetizada neles. A primeira frase apresenta a situação: “Na primeira noite, ele sonhou que o navio começara a afundar” (p.65). A partir de então, são narrados os acontecimentos dentro do navio, porém, o que salta à narrativa é a resposta do marinheiro à personagem quando este afirma não saber nadar: “Ou você aprende ou morre” (p.65). O segundo parágrafo dá continuidade ao sonho: “Na segunda noite, ele sonhou que o navio continuava afundando” (p.65); aqui, temos frustrada a ação da personagem já que “[...] ele pensou que talvez pudesse aprender a nadar. Mas acordou antes de descobrir” (p.65). O texto termina frustrando, novamente, a tentativa de salvação do sonho ou um final eufórico: “Na terceira noite, o navio afundou” (p.65). 242 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu As relações conflituosas, que apontam para as crises vividas pelo homem contemporâneo e focadas no embate eu x outro, constituem a temática geral da segunda parte da obra Pedras de Calcutá. Os textos mais longos, as projeções de outros discursos e a correlação com o corpo do texto são características próprias desses textos. O outro pode representar todas as instâncias de relação com o mundo, sobretudo aquelas que provocam rompimento, dor e solidão. Notamos, então, que a relação do texto com o mundo, na contemporaneidade, dá-se como apresenta Hansen (1994, p. 49): A relação dele com o mundo é relação de força, especificada sempre em práticas históricas, polêmicas, violentas e mesquinhas: toda origem secreta, profunda e alta é a objetivação histórica de conflitos baixos, evidentes, interessados – o que tem implicações na teoria do sujeito e na conceituação das práticas cotidianas. A intersubjetividade é a relação de poderes em conflito ou confronto polêmico, e os consensos são precários, pontuais, deslocando-se a crítica do poder para os poderes de situações-micro. As relações de forças entre ponto e ponto nelas efetuados, como um diagrama móvel, constituem sujeitos, objetos, saberes, poderes, como objetivações práticas da luta que os produz, com efeitos de exclusão, interdição, dominação, aniquilamento e controle. A história diluída na ficção, imagens da ditadura ocorridas no Brasil, e sofrida por tantos, ganha nova figurativização na narrativa “O poço”. Sua delineação perpassa por diferentes situações que englobam o pano de fundo de quem viveu tamanha agressão: Toco de leve num joelho e lembro: eu estava na esquina da rua x quando vi os carros se aproximarem. Mas não sabia qual sua função exata; todas as vezes que perguntara sobre isso, observei que as pessoas evitavam responder. Percebia apenas que sentiam medo. (p. 111) A narrativa em 1a pessoa intensifica a indignação, cumpre com o propósito de criar um simulacro que instaura uma relação de subjetividade, 243 Adriana Lins Precioso intensificando, por meio desse recurso, a figura do corpo. Juntamente com a vivência física estabelecem relações de dor, de perda e de perturbação. É o que podemos perceber no trecho abaixo: Abracei-a, então, e permanecemos juntos até que as comportas tornaram a se abrir e novos corpos caíram sobre nós. Eram muitos. Várias vezes o carro-recolhedor parou, e de cada vez novos e novos corpos entravam. Já não conseguíamos mais nos movimentar. Perdime da jovem, tentei estabelecer ligação com uma outra pessoa ao meu lado, mas os freqüentes solavancos nos afastam um dos outros, nos emaranham como fios de uma teia soprada pelo vento. Mal posso distinguir a mim mesmo dos outros. (p.111) O corpo ainda encena em si mesmo a dor da impossibilidade e a dilaceração da violência recebida: [...] minhas unhas se estraçalham contra a aspereza do metal, meus dedos estão ensangüentados, meu corpo exausto. Outras carnes roçam a minha, bocas, seios, braços, olhos. Guardo nos dedos um punhado de cabelos que não são os meus. Não resisto mais. Ao passar, alguém se agarra em mim, carregando-me junto. Vamos abraçados, nossas costas roçando doloridamente pela superfície escorregadia da rampa. Por cima de nós, um céu cinzento. Lá embaixo, as cobras e as lanças. Venenosas, agudas. Abraço com força meu companheiro e fecho os olhos como se gritasse. Como se pudesse gritar. (p.112) A violência não fica muda, ganha voz e faz calar. A reprodução da violência é encenada num bloco único, sem divisões entre parágrafos, travessões e sequências bem divididas; a mistura de vozes remonta o absurdo e provoca a indignação dos procedimentos utilizados na ditadura militar. O trecho selecionado ilustra claramente: Pouca-vergonha, o dente de ouro e o cabo do revólver cintilando à luz do sol, tenho pena de você. Pouca-vergonha é fome, é miséria, é a 244 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu sujeira desse lugar, pouca-vergonha é falta de liberdade e a estupidez de vocês. Pena eu tenho de você, que precisa se sujeitar a esse emprego imundo: eu sou um ser humano decente e você é um verme. Revoltadinha a bicha. Veja como se defende bem. Isso, esconde o saco com cuidado. Se você se descuidar, boneca, faço uma omelete das suas bolas. Se me entregar direitinho o serviço, você está livre agora mesmo. Entregar o quê? Entregar quem? Os nomes, quero os nomes. Confessa. O anel pesado marca a testa, como um sinete. Cabelos compridos emaranhados entre as mãos dos homens. A cadeira quase quebra com o bofetada. Quem sabe uns choquezinhos para avivar a memória? (p.94) A violência física e a repressão social ilustram a ação dos militares na época da ditadura e desnudam a crueldade vivida, uma espécie de “horror real” que impregnou a memória e a vida de todos que sofreram nesse momento da História do Brasil. A repressão constituía-se na reguladora da ordem, controladora absoluta da vida das pessoas que se “rebelavam” diante da ordem imposta. O panorama histórico do país, nesse período, criava o diluir de uma socialização que permitia o controle racional, e, assim, uma junção de pessoas com o mesmo discurso para reagir frente toda essa imposição. João Adolfo Hansen (1994, p.43), em seu artigo intitulado “Pósmoderno & cultura”, aponta para o conflito presente na constituição do “eu” com relação ao “outro”: Adorno e Horkheimer demonstram algo já posto na genealogia de Nietzche, na crítica de Heidegger ao humanismo e na psicanálise freudiana: basicamente, que o preço da constituição racional de um “si mesmo” unitário do sujeito do Iluminismo, com controle racional, do conhecimento do mundo e do próprio “eu” na planificação do progresso da história, é a repressão em que o repressor também é o reprimido, e que tem equivalência em uma razão sistematizadora, controladora, objetiva e objetivante, totalizante. Como um meio de domínio da natureza externa e de repressão das pulsões destrutivas que impedem a socialização, tal racionalidade sistematizadora 245 Adriana Lins Precioso encontra objetivização na discursividade, como relação de conceito, significado lingüístico e lógica. O discurso, portanto, contém o traço da violência e a apresenta em bloco; juntos estão as pulsões da vida e a violência repressora que marcaram uma época e destruíram muitas vidas. A representação desses conflitos no corpo do texto, no discurso no papel é ainda mais aprofundada em Caio Fernando Abreu. Em consonância com as propostas atualizadas de trabalho narrativo, o corpo do texto projetado no papel também encena essas relações, os eventos da contemporaneidade do homem. Observamos, portanto, que: A cultura contemporânea é, nesse sentido, a pluralidade simultânea dos padrões culturais operados como jogos de linguagem sem nenhum corpus superior ou exterior de normas donde derivem a razão ou a verdade como ordenação rumo a um fim superior [...] (HANSEN, 1994, p. 47). Na segunda parte dos contos, a narrativa exemplar, para ilustrar toda a conjunção dos efeitos de sentido gerados por meio do trabalho com a linguagem literária e outras linguagens, é “A verdadeira [ ] Estória de Sally can dance (and the kids) [ ] História” (p. 113). A apresentação do título já provoca no leitor um certo estranhamento, pois ele apresenta espaços vazios que podem ser preenchidos, ou seja, podem ser escolhidos pelo leitor, entre a “estória” ou a “história”. O próximo estranhamento é provocado pela junção de línguas estrangeiras e o português no corpo de cada parágrafo da narrativa, dando uma continuidade interna: One day Sally enlouqueceu y sem querer falou para her brother-sister q era apenas uma sombra y the brother-sister of Sally foi correndo contar para la madrecita y uma hermosa mañana when Sally was posta em repouso entre sus almohadas indianas ouvindo justamente “Here comes the sun” (little darling), inequívoco sinal de baja voltagem moral necessitada de brilhos ou something up cuando la madre adentró abruptamente em su habitación [...] (p.114). 246 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu Esse procedimento ocorre em todo texto, alternando em alguns parágrafos a predominância do inglês ou do espanhol, contudo, ambos são tecidos junto ao português. Essa não é a única junção apresentada no texto; outros tipos de linguagem também se somam ao registro narrativo. A linguagem cinematográfica é a que se apresenta com maior recorrência, desdobrando-se em diferentes configurações. A primeira seria uma espécie de anúncio de fim de filme, quando são separados todos os elementos que fizeram parte daquela montagem: KATHYU’S APRIL ENTERPRISES PRESENTS: THE TRUTH ABOUT SALLY CAN DANCE (and The Kids) with: Sally Can Dance The Kids: Mike Pocket-Knife Joe golden – Vain Peter Syringe Bill Puzzled – Mind and: La madrecita The brother-sister Dois homens (zarrões) Juliana de Oloxá Valdomiro Jorge Uma jaguatirica Don Juan (copyright Carlos Castañeda) Trapezista Gilda (copyright Jane Araújo) special guest star: Selma Jaguarassu music by Lou Reed Bob Dylan 247 Adriana Lins Precioso Beatles Ney Matogrosso Rolling Stones and Rádio Continental our thankfulnesses to: Jornalista Jaime Gargioni Martin Scorsese Esquina maldita (Alaska, Maiurs, copa-70, Universitário) 12a Delegacia de Polícia Samantha Jones Fugitiva Maria da Graça Medeiros Frota de táxis Mahatma Gandhi Psicanalista R.D. Laing Cia. Jornalística Caldas Júnior Editoras Vozes e do Brasil S/A (nos forneceram preciosíssimos elementos) (p.116-7) Esse tipo de registro antecipa o surgimento de outros personagens, citações e figuras que serão apresentados na continuação da narrativa que tem como título “BEGIN THE BEGINNER” (p. 117) Outra forma de junção com a linguagem cinematográfica está vinculada ao próprio ato de se fazer cinema, por meio do olhar do diretor que procura direcionar as ações para o mais real possível, como observamos no trecho a seguir: Nesse momento, presa de estranha emoção, opressa sob o sentimento de algo q desconhecia, qual asa negra acariciando suas espáduas juvenis, Sally cerrou abruptamente o volume finamente encadernado em percaline. Nervosamente, suas mãos buscaram um cigarro à cabeceira. Com dedos trêmulos, acendeu, tragou (sugere-se aqui uma tomada bem lenta: a atriz deve passar inteiramente para o público a sua ansiedade, através dos gestos como, por exemplo, roer as unhas ao mesmo tempo em que fuma, mordendo os lábios e piscando inúmeras vezes). (p.118) 248 Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu Os outros títulos da narrativa são, também, relacionados ao cinema: “FLASH-BACK (Sally meets The Kids) (p.119) e “INTRODUÇÃO A SELMA (flash-balck nº 2) (p.121). Sendo assim, a narrativa perde sua forma tradicional, ganha novos contornos e junções. A negação da convencionalidade está inteiramente ligada à proposta pós-moderna, então, notamos que A negação e a destruição da forma , sempre mais radicais, forma o modo alegado de realizar a crítica da noção romântica da unidade orgânica do sentido, como proporia um desencantado Adorno. Quase sempre, a destruição foi entendida como meio de evidenciar o quão pouco a realidade capitalista é real, como diz Lyotard. Pelo estranhamento de toda imagem convencional de natureza humana, beleza, realidade ou sentido, a destruição evidenciaria, na intensificação da crítica ao estético, a carência radical de sentido humano da realidade capitalista. Neste sentido, conforme Lyotard, “pós-moderno” é o nome que se dá aos modos contemporâneos de realizar o sublime, que caracteriza o que pode ser pensado, colocado, talvez, mas não representado. (HANSEN, 1994, p. 60). O questionamento frente à realidade coloca-se em debate com o próprio discurso, ou seja, o texto passa a negar-se, destaca um enredo diferente daquele que vem apresentado anteriormente. Assim, sugere uma negação como forma de esclarecimento. O leitor perde-se entre o dito anteriormente e o dito posteriormente. Vejamos como esse processo de negação se deu na primeira parte: One day Sally enlouqueceu y sem querer falou para her brother-sister q era apenas uma sombra [...] la madre adentro abruptamente em su habitación y com la fala mazia mazia y uma tisana de bergometeira q Sally até curtiu because tinha lido q bergometeira bajava [...]. (p.114) Essa parte da narrativa apresenta um ‘THE END (EXIT)” (p.115), e, logo após, um “INTERMEZZO”, que nega toda o enredo anterior: 249 Adriana Lins Precioso 1. Sally não declarou to her brother-sister ser apenas uma sombra. 2. La madrecita no se adentró en su habitación. 3. Sally não degustou a tisana de bergamoteira (onde havia sido colocado forte soporífero). 4. Nem tampouco todo o resto, inclusive hospício, BNH, quitinete, etc.etc. Mas é preciso então que diga qual foi (p.115). Após essa declaração, são inseridas as opções ao leitor. Opções que sugerem uma proposta de interação entre texto, leitor e realidade e que são trazidas para a narrativa e colocadas de maneira problematizada. A insinuação de ser essa “uma obra aberta”, ou seja, que garanta uma certa variação de interpretações e que se abre, também, para a atuação ativa do leitor no ato da leitura é, de certa forma, ironizada, como podemos observar: A VERDADEIRA [ ] ESTÓRIA DE SALLY CAN DANCE (AND THE KIDS) [ ] HISTÓRIA Obs. a) Se você achar q é invenção, assinale com um x o primeiro [ ]. Se você achar que é real, assinale com um x no segundo [ Obs. b) Assinalar este ou aquele [ ]. ] não modificará coisa nenhuma no desenrolar dos phatos, mas achamos q, em se tratando esta de uma obra de arte e essencialmente comunicativa, o leitor deveria participar nem q seja modestamente de sua confecção. Then, let’s go there: (p.115). O final da narrativa também propõe uma forma interativa de comunicação com o leitor, abre-se para o julgamento desse participante: MORAIS OPTATIVAS (Assinale com um x a sua preferida ou acrescente na linha pontilhada a sua sugestão) [ ] 250 Bevette più latte. Configurações do corpo em Pedras de Calcutá, de Caio Fernando Abreu [ ] La dicha es una arma caliente. [ ] Quem não dormiu no sleeping-bag, nem sequer sonhou. [ ] Brazilian are, before anything, a strong people. [ ] Je suis comme je suis. [ ] The dream is really over. [ ] Não é nada disso. ....................................................................................... (p. 126) O corpo do texto e sua configuração no papel ganham um maior destaque do que aquele previsto pelo enredo de Sally, ou seja, o percurso da personagem, seus relacionamentos e seus desfechos são todos problematizados e colocados à prova pela própria narrativa. O que ganha força, então, é a forma, ou melhor, a negação da forma convencional de uma narrativa. A projeção dessa negação conjuga uma certa “colagem” de outras linguagens, principalmente, a cinematográfica, como já destacamos anteriormente. Nesse ponto, podemos destacar que o texto busca dissolver, em sua forma, as oposições tradicionais articuladas com uma certa universalidade, nesse caso, representada pelo cinema: Movimento, visibilidade, simultaneidade de tempos e espaços são características da imagem que, desde o surgimento da fotografia – e, depois, do filme –, começaram a invadir as manifestações artísticas tais como a pintura, a música, a literatura, enquanto também se apoderavam de muitos dos seus recursos; hoje, no final do século, quando os processos de reprodução e difusão parecem ter atingido o apogeu, novas e instigantes questões se colocam. (PELLEGRINI, 1995, p. 69). Caio Fernando Abreu potencializa ao máximo a metáfora do corpo, seja o corpo do sujeito como personagem, ou o corpo do texto que presentifica a exposição da narrativa. A fragmentação, a convencionalidade e o papel do leitor, entre outros aspectos expostos na obra Pedras de Calcutá, são tecidos de forma a representar as relações do eu x outro, sendo que esse “outro” projeta-se em variações de escalas sociais de relacionamentos, podendo representar o núcleo familiar, o ambiente de trabalho, a sociedade, etc. Assim, 251 Adriana Lins Precioso esse “eu” pós-moderno, fraturado, despersonalizado, buscando-se a si mesmo, sofre, no próprio corpo, todas as tensões e conflitos dessa relação. É o que observamos na primeira parte da obra. Já na segunda, o corpo também sofre interferências externas de outras linguagens, outras línguas que se misturam. A apresentação gráfica tradicional do corpo do texto também sofre alterações, colagens e transformações por meio da apresentação dessa narrativa. A negação da individualidade, como fronteira determinadora, ganha nova roupagem que se configura na letra, no papel e na nova distribuição do espaço que conjuga as outras linguagens de maneira visual e não apenas temática. Podemos, então, afirmar que Pedras de Calcutá revela, de forma potencializada, o homem e a arte pós-modernas, ou seja, seus corpos figuram o sofrimento e a ruptura, ao mesmo tempo em que revela a busca pelo reconhecimento de suas próprias formas de manifestação, suas representações mais verossímeis e seus papéis diante dos valores do “novo mundo pósmoderno” em seus diferentes discursos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ABREU, C. F. Pedras de Calcutá. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. FIORIN, J. L. As astúcias da enunciação: as categorias de pessoa, espaço e tempo. São Paulo: Ática, 2001. HANSEN, J. A. Pós-moderno & Cultura. In: CHALBURG, S. (Org.). Pós-moderno & Semiótica, Cultura, Psicanálise, Literatura, Artes Plásticas. Rio de Janeiro: Imago, 1994. PELLEGRINI, T. Aspectos da produção cultural brasileira contemporânea. Crítica Marxista, LOCAL, v. 1 n. 2, 1995. 252 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia ROSANE SALETE FREYTAG Viver em sociedade poderia ser sinônimo de bem-estar social, um processo natural da vida. No entanto, vive-se um universo permeado de conceitos e valores desencontrados na constituição e organização dos poderes legítimos dos seres humanos. Um fato analógico, se pensar a existência humana como um determinante social. Essa visão bifurcada das relações sociais emerge no retrato da protagonista Zaroia.1 Limitada física e socialmente, vive constantes conflitos junto a sua colônia de saúvas, devido à fragilidade do grupo e conservação da hegemonia de outros estratos. 1. A obra O mundo fantástico da formiga Zaroia, de autoria da jornalista Maria da Paz Sabino que atua nos meios de comunicações de Sinop/MT, tem como protagonista a Zaroia. Ela vive com sua colônia de saúvas no Morro dos Ventos, nas terras de Seu Noberto. Em várias circunstâncias, sofreu perseguições com ataques de predadores ao seu formigueiro, dos quais participaram Seu Noberto, o sapo Leleu, crianças famintas. É uma formiga sábia, tem sonhos e objetivos. Não projeta sua vida a partir de si, mas visualiza a coletividade. Luta pelo que acredita. Almeja terra fértil sem predadores onde possa viver com a colônia de saúvas. Zaroia tem uma amiga, Bico Fino, que se fez presente em todos os momentos de festas e principalmente quando não conseguia visualizar expectativas diante dos fatos. É uma cigarra. Na literatura clássica elas são inimigas, enquanto uma trabalha a outra é preguiçosa, vive a cantar. Já em Sabino elas se unem e se complementam. É uma amizade sincera e verdadeira. Zaroia, uma operária que se transforma em tanajura e finalmente em rainha, apaixona-se por Tibe que pertencia a uma colônia rival. Zaroia convence sua família a aceitá-lo. Eles casamse, mas não conseguem viver o grande amor por muito tempo, ele morre junto com outras milhares de saúvas. Apesar da liderança e alegria de Zaroia diante das saúvas, ela teve momentos de crises e desalentos, chegou a simular loucura para conseguir se aposentar, porque os desencontros e as derrotas a deixaram sensibilizada e fragilizada. Uma dor diante da incompreensão, mas com a ajuda da amiga Bico Fino se recompõe e deixa a clinica psiquiátrica. As amigas vão viver embaixo do Juazeiro. 253 Rosane Salete Freytag Zaroia vive nas terras do camponês Noberto, para ela um processo natural das formigas. Fato que não se converte à cultura do capital, visto que as terras e a plantação agrícola têm proprietários. Esse desencontro de culturas instaura um conflito social no Morro dos Ventos. Os moradores não comungam os mesmos princípios e valores, logo aquilo que deveria ser a junção de duas comunidades diferentes em prol da constituição do bem-estar daquela sociedade, torna-se uma guerra declarada. A razão social se anula diante da luta pela terra. Vive-se numa terra sem autoridade. Cada qual se arma com os recursos disponíveis de um lado o camponês elabora um plano estratégico para destruir as saúvas com inseticida por outro as formigas se recolhem no buraco aguardando a chuva. Morro dos Ventos não consegue convergir em prol de objetivos comuns. Não há entendimento, luta-se por interesses afins, que anulam a possibilidade de uma vida social. Para Dallari (2000, p.13), “o estado de natureza é uma permanente ameaça que pesa sobre a sociedade e que pode irromper sempre que a paixão silenciar a razão ou a autoridade fracassar”.2 A sociedade das saúvas perdeu a paz quando Noberto sente sua autoridade de proprietário e agricultor ameaçada. Sua razão é tomada pela emoção, intitula-se o dono das terras e das plantações. Resultado do seu trabalho e dedicação, embora a obra não confirme a origem da posse, logo as saúvas estão diante duma propriedade privada, sob o juízo do olhar atento de um homem que cultiva o solo. As vontades comuns entre os grupos envolvidos não são respeitadas e atendidas. Cada qual atenta para os interesses privados, ou seja, as vontades individuais sobrepõem as coletivas. Não há interatividade entre as partes, o que gera uma conjugação conflituosa no Morro dos Ventos. Os interesses próprios dos segmentos não permitem estabelecer uma unidade social pacífica. Com o ferrão afiado, as saúvas trituravam as folhas do plantio usado como única fonte de renda da família do seu Noberto, um camponês sofrido de mãos calejadas. Angustiado com as atitudes dos pequenos 2. DALLARI, 2000, p. 13. 254 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia insetos, seu Noberto montou um plano estratégico para destruir o formigueiro.3 Ambas as sociedades, das saúvas e de Seu Noberto, não se rendem, usam das ferramentas disponíveis para atacar. É a lei da irracionalidade, medindo forças antagônicas. Uma relação de poder capaz de gerar a cegueira social entre os dois grupos que não conseguem vislumbrar além do reduto em disputa. Declaram guerra entre si, medem forças para estabelecer os vencedores e vencidos. A batalha será vencida por aqueles que demonstrarem mais poder e dominação sobre o outro. Num primeiro episódio, Seu Noberto declara guerra pela força física e as formigas usufruem da sabedoria. Elas permaneceram no formigueiro antes, durante e após Noberto depositar o veneno. As saúvas resistiram ao primeiro ataque sob orientação de Zaroia, uma jovem saúva que pensava pelo grupo e orientava as companheiras: Mas as saúvas eram muito inteligentes e descobriram o plano da família que queria detonar o sauveiro. Diante da descoberta e, para evitar uma tragédia, as saúvas realizaram uma assembléia para saber o que fazer. O grupo, liderado por Zaroia, decidiu que todas deveriam se recolher por dez dias até a chegada das primeiras chuvas.4 Seu Noberto precisava destruir o formigueiro das saúvas para garantir a produção agrícola e a superioridade diante do grupo de formigas. Pela sua estrutura física e recursos materiais, levava vantagens imensuráveis sobre Zaroia e a colônia. Todavia ele desconhecia a sabedoria da líder das formigas, um capital cultural imensurável capaz de pôr em risco seu plano. Vale lembrar, uma liderança fruto do resultado das atitudes de Zaroia diante do formigueiro. Era capaz de raciocinar e projetar possibilidades, motivo que a permitia ser forte. 3. SABINO, 2004, p. 11. 4. Idem, ibidem, p. 11. 255 Rosane Salete Freytag A narrativa registra uma guerra entre a macroestrutura – força física, do Seu Noberto –, face ao conhecimento de Zaroia. São dois poderes distintos, os quais geram conflitos sociais em Morro dos Ventos, porque os interesses são polarizados e divergentes. Ambas as comunidades agiam conforme os pressupostos de suas vontades para as saúvas, a apropriação da plantação de seu Noberto era natural “– Que mal há em lutar pela própria vida e comer o alimento que vem da terra deixada por Deus?”.5 Para elas o alimento era uma dádiva deixada por Deus, logo agiam em conformidade com as leis da natureza divina e podiam responder as atitudes de Noberto com voracidade. Zaroia picava os pés calejados do homem, provocando dores fortes e raiva. A líder das formigas divertia-se ao ver o seu desespero, que para ela era a retribuição dos ataques contra seu formigueiro. Zaroia, uma formiga operária diferente do grupo, prima pela solidariedade, não pensava no aqui agora dos fatos, projeta um outro ambiente para viver junto a sua colônia. Uma jovem que luta pela sobrevivência. Ocupa diferentes lugares sociais em meio às colônias de saúvas. Uma trajetória mediada em defesa da espécie e dos ideais alocados. O comportamento de Zaroia permite uma leitura além de um simples inseto. Sua personificação a transforma num ser pensante, vive um mundo de disputas e contradições sociais. Assume um poder simbólico diante do grupo das saúvas. Seu discurso é reconhecido e legitimado pelos demais componentes do formigueiro. Exerce um poder capaz de emanar normas quando o grupo sofre ameaças externas. Entende-se que Zaroia responde pelas saúvas, embora em momento algum fosse delegado a ela tal compromisso, porque o poder não precisa ser adquirido ou ordenado, no interior de uma comunidade ele se efetiva nas relações sociais e pode assumir uma função positiva, destituído do caráter repressivo. 5. Idem, Ibidem, 2004, p. 14. 256 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia A INSTABILIDADE NAS RELAÇÕES SOCIAIS NO MORRO DOS VENTOS Os anseios dos grupos sociais do Morro dos Ventos divergem e as formigas não são compreendidas pelo Seu Noberto, vivem em desarmonia, lutam pela posse da terra e pela plantação agrícola, a lógica não prevalece. Zaroia não é capaz de tomar para si todas as circunstâncias e organizar a defesa das saúvas. Se houvesse outras formigas capazes de absorver os fatos e buscar mecanismos, talvez não fosse preciso eliminar um grupo para manutenção do outro. No entanto, a colônia só exercia funções braçais, não ultrapassava as fronteiras da reprodução da força de trabalho, um dos fatores que as limitavam na conquista de liberdade. Zaroia morava em uma colônia juntamente com outras cem mil formigas saúvas. Odiadas e inconvenientes, as formigas invadiam áreas e destruíam plantações, deixando os moradores do Morro dos Ventos inconformados com a forma de sobrevivência dos minúsculos insetos. Revoltados, os moradores da comunidade resolveram travar uma briga incessante contra as formigas.6 Eram noventa e nove mil formigas reproduzindo as atitudes das suas ancestrais. Encontravam dificuldades para desfrutar de um ambiente favorável a colônia. Não conseguiam somar pensamentos e ideias racionais aliadas a Zaroia. Insistiam em permanecer naquela terra, mas não elaboravam provas substanciais que lhes permitissem usufruírem daquele espaço, fato que colocava em risco a existência do formigueiro. A temática desenvolvida por Sabino rompe com os estereótipos convencionais da literatura infanto-juvenil. A obra provoca no público-leitor uma viagem reflexiva diante das relações sociais da contemporaneidade. Os personagens vivem e disputam aquilo que acreditam, enquanto as obras clássicas definem um arquétipo para cada protagonista, a princípio já é possível conhecer o desfecho da trama, bem como a ocupação dos espaços, bens e relações de poderes. Atributos representados pelas habilidades físicas, 6. SABINO, Maria da Paz. O Mundo fantástico da formiga Zaroia. Sinop: Grafpel, 2004. 257 Rosane Salete Freytag morais e sobrenaturais dos personagens. São vencedores sem esforços, a eles foi delegado todo poder e controle. Há uma pré-seleção dos vencedores e vencidos, do bem e do mal, induzindo o leitor infanto-juvenil a uma competência educativa voltada à reprodução de uma cultura determinada, primando pela estratificação social e limitações das possibilidades de ler o mundo em diversas nuances. Em Sabino, os personagens não são referendados como seres superiores ou divinos com poderes extraterrenos ou adquiridos por poções mágicas. São cidadãos comuns com necessidades, satisfações, vontades, desejos e conquistas. “A formiga Zaroia não se contentava com a famigerada e triste sina que muitos insetos têm de se rastejar por toda a vida”.7 A cada página Zaroia surpreende. O leitor é instigado a prosseguir na leitura, pois a obra não determina quem será o vencedor, pelo contrário, estabelece uma relação de constante busca, nada está pronto e acabado com uma prescrição final do enredo. A cada capítulo e cenário são elaborados novos olhares e perspectivas como se fosse um enredo construído a partir do leitor e em parceria com ele. O leitor é convidado a perceber que as conquistas humanas, anseios e desejos não acontecem exclusivamente pela apropriação da matéria e/ou força física e sim pela sapiência, pois o desenvolvimento social sem a sabedoria causa a segmentação dos valores humanos ou desnudam-nas da condição do ser gente. A personagem Zaroia propõe que os sonhos não tenham limites, mesmo seu comprometimento visual, estrabismo e miopia, não a privou da vontade intensa de viver em plenitude. Não permitiu se anular, mesmo quando seus olhos poderiam comprometer as conquistas, buscava meios para superar as limitações. Outro fator, favorável ao isolamento da protagonista, poderia provir do biótipo, devido ao culto à beleza do corpo feminino no século XXI. Zaroia não contemplava o arquétipo disseminado, era apenas uma formiga feminina comum, com sentimentos, valores e atitudes solidárias ao grupo. 7. Idem, ibidem, p. 9, 2004. 258 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia Zaroia era determinada, com metas e projeções de vida, queria ser feliz e para isso precisava de um local bucólico, com poucos insetos predadores e muita terra fértil, elementos esses necessários para viver sem ameaças contra a colônia. No Morro dos Ventos ela não tinha esse ambiente, vivia uma constante instabilidade porque as terras possuíam “proprietários”, e ela junto com a colônia era perseguida por ser uma invasora no mundo dos homens. Zaroia vivia em estado de alerta, temia o fim do formigueiro. Devido à cautela da formiga, descobriu um dos planos de extermínio da colônia. Rapidamente reuniu as saúvas e orientou para que não saíssem do formigueiro, como meio de proteção. Assim fizeram, ficaram recolhidas no buraco, como forma de fazer Seu Noberto crer que a sua plantação não corria riscos, porque não havia mais saúvas. Na verdade, ambas as comunidades viviam sob a ameaça da outra, faltava intervenção de preservação da unidade social no Morro dos Ventos. Era uma relação de sociedade quase que primitiva, a força física determinava e intermediava as ações de defesa. No conjunto da obra, Sabino mostra ao leitor que esse processo de embate social entre grupos diferentes deveria estar superado, haja vista que cada qual tem a sua organização cultural e as relações sociais deveriam permear a solidariedade e bem-estar social sem estratificações. Parece que no formigueiro há uma estrutura mais solidificada do que nas ações de Seu Noberto. As fêmeas são as trabalhadoras, armazenam o alimento, enquanto as formigas-machos ficam ociosas e exercem apenas o papel de reprodutoras. As operárias são exploradas nas relações de trabalho no grupo das saúvas. Há uma hierarquia interna na sociedade das formigas, cada qual com funções definidas. No entanto, são as fêmeas que podem almejar um posto superior, o de rainha, porque os machos após a primeira e única relação sexual morrem. Há um equilíbrio no universo social das saúvas. Aquilo que parecia uma exploração – condição de operária – torna-se um passaporte de liberdade. A organização do formigueiro aponta que os exploradores têm uma vida limitada, já as exploradas operárias poderão ascender na hierarquia das formigas, transformando-se em tanajuras, as quais, após o voo do acasalamento poligâmico, armazenam os espermatozoides por muito tempo. 259 Rosane Salete Freytag Assim podem dispensar a presença masculina por um longo tempo e formar nova colônia, uma independência feminina da espécie: Elas atraem as formigas machos que dão suas vidas por um simples contato físico. Elas podem se acasalar com até dez machos em um romântico vôo nupcial. Esse procedimento é comum e natural em todas as colônias, sendo as formigas poligâmicas. Embora sejam poligâmicas, as tanajuras se respeitam e o sexo só é usado para reprodução. O acasalamento entre elas dá-se enquanto voam e os machos aproximam-se um de cada vez, caindo em seguida mortos, após a fecundação.8 A formiga Zaroia apresentava um comportamento atípico para quem fora projetada a ocupar o posto máximo da colônia. Ela levava uma vida boêmia, amava festas e danças com os amigos. “Zaroia era rebelde. Uma verdadeira boêmia”.9 Novamente a obra rompe com os modelos funcionais específicos do mercado de trabalho, pois para ser líder, a mulher apresenta uma conduta reservada. Preserva os desejos e vontades. Zaroia deixava transparecer aos olhares públicos seu jeito bifurcado de ser. Gostava da alegria festiva e simultaneamente transportava consigo o compromisso de encontrar um local seguro para sua comunidade, comungava as baladas e responsabilidades. A finalidade fixada por Zaroia permeava a liberdade social. Era seu ato de vontade, simples, porém para concretizá-lo não dependia somente dela, estava inserida numa sociedade com normas, submetida a uma série de leis naturais. Mesmo interferindo, não conseguia evitar os ataques e baixas de formigas: “[...] O homem tem consciência de que deve viver uma finalidade condizente com suas necessidades fundamentais e com aquilo que lhe parece mais valioso10.” No entanto, nem toda finalidade condiz com as necessidades do outro, ou seja, no mundo de Zaroia, as saúvas não têm a 8. Idem, Ibidem, p. 16, 2004. 9. Idem, ibidem, p. 42, 2004. 10. DALLARI, p. 23, 2000. 260 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia mesma preocupação em buscar um ambiente seguro e saudável à espécie, fato que torna o grupo duplamente frágil. Nesse ínterim, entre uma festa e outra, Zaroia conhece Tibe, um moço de uma colônia rival. Ele transmitia um olhar melancólico, uma tristeza irreparável. Justificava-se pela razão de não ter conhecido o pai, bem como culpava a mãe pela morte dele. Algo, a princípio sem consistência, caso não fosse os sentimentos de Tibe, devido à própria condição de vida imposta à espécie, a morte do macho após a fecundação da fêmea. O novo casal de namorados não podia exteriorizar os sentimentos, devido às circunstâncias de rivalidade presidida em suas colônias. Por isso namoravam escondidos. Uma situação desconfortável para uma formiga da personalidade de Zaroia, a qual primava pela liberdade, verdade e respeito. Esconder-se seria privar-se e estrangular seus desejos e vontades. Apaixonarse por alguém de uma comunidade rival seria sinonímia de mais problemas à vista no seu percurso de formiga. Zaroia conquistou a confiança da colônia e demais amigos porque tinha uma virtude – A VERDADE. Símbolo que a transformou na representante do seu povo, bem como conseguiu provar o amor por Tibe, casar-se e torná-lo aceito pelas saúvas “A cerimônia de casamento foi uma das mais belas registradas no mundo das formigas. A igreja foi decorada com pétalas de rosas vermelhas e brancas”.11 Ao término da cerimônia os convidados foram recepcionados com um cardápio especial, pétalas de rosas vermelhas e brancas, símbolo do amor e da paz, oferecido pelo casal como retribuição à presença dos amigos no enlace de dois insetos oriundos de colônias rivais. Provaram que as discriminações contaminam a humanidade e se pode viver sem elas. As diferenças são apenas detalhes e há uma marca de união dos seres, o respeito mútuo, esse que uniu Zaroia e Tibe, porque, além da rivalidade das colônias, os amantes precisaram compreender a essência do outro, visto que a moça formiga era toda alegre, cheia de sonhos e expectativas, enquanto Tibe, um rapaz sombrio. 11. SABINO, 2004, p. 27. 261 Rosane Salete Freytag Com o casamento, Zaroia não se anulou à clausura doméstica. Continuou a luta contra a instabilidade de sobrevivência da colônia. Uma formiga consciente. A presença masculina de Tibe não a isolou dos sonhos de coletividade, era uma formiga emancipada e preocupada com seu grupo. “Zaroia saiu por último, pois estava organizando o grupo e dando as instruções de como os machos e as fêmeas teriam que se comportar no mundo dos homens, dos insetos, dos bichos”.12 Seu Noberto não desistia dos ataques, organizou outro atentado e desta vez obteve sucesso, destruiu as saúvas, inclusive Tibe, mesmo na agonia de sua hora derradeira, declarou o amor à amada e lhe fez um pedido: não abandonar a luta e não desistir de viver: “Que aproveitasse a vida e que ao cantar e dançar, lembrasse da grande paixão que viveram juntos”.13 Uma declaração sábia. Tibe conhecia a amada. As palavras proferidas no leito de morte foram para relembrar Zaroia da sua coragem e capacidade para superar a dor da separação e, diante da partida dele, ela não poderia tomarse pelo desalento e dor, senão seria a próxima vítima. Ao ver seu amor agonizando e as companheiras mortas, por momentos, Zaroia sentira a partida daqueles que com ela dividiam o formigueiro. Demonstrou sentimentos confusos, como se parte dela se desprendesse de si e tivesse acompanhado o fim trágico da colônia. Poucas foram as sobreviventes e Zaroia transformou-se em tanajura, mais uma vez, mesmo abalada uniu as companheiras para prosseguir na luta pela liberdade. Muitas padeceram no caminho. Zaroia encontrava-se estressada, no limite, pois seus sonhos eram engolidos com voracidade. As derrotas se sobrepunham às vitórias. A determinação e perseverança eram recursos extraordinários na existencialidade de Zaroia. Agora não mais uma formiga comum, mas uma tanajura. Poderia reconstruir sua família e assim fez ao encontrar um formigueiro. Depositou os ovos num buraco e um novo sauveiro surgiu, a partir da nova rainha Zaroia. Ela conseguiu manter a espécie e se tornou um símbolo de defesa da vida. Tudo vale a pena quando se trata da proteção familiar. 12. Idem, ibidem, 2004, p. 30. 13. Idem, Ibidem, 2004, p. 30. 262 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia A fecundação de Zaroia não foi descrita na obra, se foi um ato poligâmico, comum na espécie ou com o próprio esposo Tibe. Ele morreu no momento que Noberto depositou veneno no formigueiro, porém como casados, ambos poderiam ter consumado a relação, visto que o casal foi viver no mesmo buraco, fato esse descrito antes do casamento. Zaroia poderia estar fecundada quando da morte de Tibe, porque ele tinha uma genética diferente, era parente de vespas e abelhas, fato que poderia ter fortalecido sua espécie, mantendo-se vivo após o acasalamento: Zaroia convenceu o sauveiro a aceitar o seu casamento com Tibe, mostrando que ele era um guerreiro. Diante de tanto amor, as duas famílias aceitaram o enlace e os dois passaram a viver no mesmo buraco.14 AS RELAÇÕES SOCIAIS DE ZAROIA APÓS A MORTE DE TIBE Zaroia deixa Morro dos Ventos e parte em busca do seu eterno sonho de encontrar um local seguro e harmônico. Deposita seus ovos num formigueiro e recomeça a vida junto de sua família de saúvas, agora rainha e mãe. Mesmo reconstituída a nova colônia, Zaroia sofre e é abatida por um conflito emocional, uma fusão de revolta, angústia e alegria. Quiçá sentimentos de uma formiga comprometida. Sentia-se alegre pelo fato de criar uma nova colônia de saúvas, porém não consegue ocultar a revolta sentida com as constantes tragédias sofridas. Ela reconstruiu a comunidade, no entanto, os componentes não foram os mesmos, eram novas saúvas e a substituição de alguém congrega um conjunto de nexos, raras vezes possível, visto a unicidade dos seres. O sofrimento de Zaroia a faz refletir sobre a necessidade em deixar sua colônia, porque ainda não havia realizado seu verdadeiro sonho: encontrar uma terra fértil, onde existissem menos insetos predadores e homens egoístas que queriam destruí-las com veneno.15 Cansada viaja para outros 14. Idem, Ibidem, 2004, p. 26. 15. Idem, Ibidem, 2004, p. 23. 263 Rosane Salete Freytag horizontes. Outras saúvas a acompanham. São retirantes que migram ao encontro da terra prometida. Quando chegaram em um canavial as operárias retomaram as funções no intuito de construir um novo abrigo, porém as migrantes desconheciam o novo espaço e seus limites elaborados pelos homens. Tudo parecia em paz no canavial, local de riquezas e terras férteis, embora fosse um cenário de aparências. Novos predadores. São diferentes dos já conhecidos pelas formigas. Não é um proprietário de terras. Agora são crianças famintas da cidade Luar do Sertão. Naquele novo ambiente as saúvas não eram vistas como as destruidoras de plantações, mas alimento humano, um reflexo da barbárie social implementada pelo homem – o extremo entre a riqueza e a pobreza. São crianças marginalizadas, despossuídas da condição básica de subsistência. Zaroia observou uma menina faminta e sensibilizou-se, apesar disso, não poderia concordar, pois como ela, sua colônia apenas lutava pela sobrevivência. Um sentimento controverso. Compadecer-se com a fome da criança seria o prenúncio do fim da espécie das saúvas. Naquele instante era o alvo de sustento dos pequenos moradores famintos. “Um batalhão de crianças descobriu o formigueiro. Cada um tinha um litro na mão e sacolas de plástico para guardar tanajuras, de modo que elas não fugissem.16 Tudo se encaminhava para morte das formigas, eram caçadas uma a uma, mas para Zaroia somente a morte seria o fim. “Enquanto houvesse vida, haveria possibilidade de lutar e vencer. Aliás, lutar era seu lema”.17 O lema da rainha parecia ameaçado. Eram vencidas pelas crianças. A cadeia alimentar evitou o extermínio das saúvas. A chegada de um casal de sapos, inimigos das formigas, por ora assustou as crianças e elas se recolheram. Livres dos pequenos famintos, no entanto, o casal de anfíbios lá estava pronto para degustar o alimento predileto. Na verdade, travavam uma batalha constante em prol da vida. Nunca estavam livres dos ataques. Não foi dessa vez que o casal de sapos se deliciou com as saúvas, porque entre as folhas surgiu uma cobra que atacou com voracidade o sapo 16. Idem, ibidem, 2004, p. 38. 17. Idem, Ibidem, 2004, p. 38. 264 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia fêmea e o sapo macho se escondeu, poderia ser a próxima vítima. A paz retornou por momentos. As crianças recolhidas em seus lares preparando o jantar de tanajuras mortas, a sapa morta e o sapo escondido. Ao presenciar tantos conflitos, Zaroia ficou muito abatida e deprimida. “Um personagem poderá se apresentar fragmentariamente porque representa a crise de identidade, a busca de um novo papel social ou o desconserto diante de valores velhos e novos que lhe parecem igualmente válidos”.18 A formiga vive uma crise de identidade, procura encontrar seu novo papel social. É por meio da amiga cigarra que consegue estabilizar seu desconserto emocional. A amiga cigarra Bico Fino sabia que seu canto poderia acalentá-la. Sabino quebra a resistência secular da aproximação entre as cigarras e as formigas, retratadas nas fábulas de Esopo como rivais, porque uma trabalha e a outra passa a vida cantando, sem se preocupar em armazenar seu próprio alimento para o inverno. Quando este chega, a cigarra vai bater à porta da formiga, ela não é recebida e tem que cantar em outra freguesia. 19 Bico Fino e Zaroia são amigas inseparáveis. Nos momentos de angústia a cigarra sempre se fez presente na vida da formiga. Tinham uma relação social profunda. Em momento algum as diferenças marcadas nos clássicos interrompem a amizade das duas boêmias. “O que marca a vanguarda da literatura infanto-juvenil brasileira em relação à produção mundial é a qualidade crítica dos textos que criam uma nova linguagem articulando a narrativa com a ilustração”.20 Bico Fino conseguiu fazer a amiga cantar, mas a tristeza não a abandonou. A cigarra, uma amiga leal, conhecia o lado festivo e boêmio de Zaroia, então, organizou um carnaval fora de época na tentativa de ajudar a amiga superar a tristeza. Ela dançou e festejou com os demais insetos, por instantes apresentou um comportamento da sempre Zaroia alegre. Realmente ainda guardava forças e sonhos, pois os festejos carnavalescos permitiram um rejuvenescimento de ideais. 18. KHÉDE, Sonia Salomão. Personagens da literatura infanto-juvenil. São Paulo: Ática, 1990, p. 57. 19. LA FONTAINE, Jean de. Fábulas de Esopo. Adaptação de Lúcia Tulchinscki. São Paulo: Scipione, 1998. 20. KHÉDE, Sonia Salomão. Personagens da Literatura Infanto-juvenil. São Paulo: Ática, 1990, p. 56. 265 Rosane Salete Freytag Sua participação como convidada vip no carnaval lhe rendeu um cachê, parte dele converteu em apostas no jogo do bicho. Foi vencedora, sentia-se uma rainha milionária; logo projetou investir a renda em prol da proteção da colônia. Infelizmente não recebeu o prêmio, foi um erro no resultado anunciado pela abelha Aluada. Foram tantas as derrotas e desencantos e mais uma vez sua amiga cigarra Bico Fino tenta afastar o desalento de Zaroia. Propõe a ela aposentadoria, já havia trabalhado muito, mas o único recurso para consegui-la seria provar sua incapacidade física ou mental. Foi quando a amiga cigarra a induz a assumir atitudes de loucura, pois seria o mecanismo para conseguir se aposentar e viver tranquila e segura. Percebe-se aqui um desequilíbrio emocional de Zaroia, pois não era da sua índole a inverdade. Procurou o médico psiquiatra mosquito, a fim de simular uma loucura e conseguir o laudo de insanidade mental. Zaroia não soube se comportar como uma paciente louca, não deixou o médico apresentar o diagnóstico, ela própria o fez. – O que tem tens minha senhora: – perguntou Abiudo, o mosquito que atendia como psiquiatra no galho do juazeiro. – Loucura, seu doutor, loucura... O senhor não tá vendo que sou louca? – De doida a senhora não tem é nada!!! Vá embora e me deixe em paz – afirmou o mosquito já com indícios de estresse.21 O resultado da perda de suas faculdades mentais não foi confirmado pelo psiquiatra. Uma paciente louca não faria o relato de Zaroia. É um discurso próprio de uma pessoa que não está louca. Na verdade, foi ao médico confirmar a sanidade mental. Apesar de saber da veracidade do médico, não era costume Zaroia aceitar pacificamente a rejeição. Ela fez outra investida a fim de provar a doença, quando um paciente louco chegou à clínica e tentou convencer sua família de que não sofria de loucura. A formiga, muito atenta, percebe a 21. SABINO, 2004, p. 47. 266 O fantástico mundo das relações sociais de Zaroia distração das enfermeiras e tornou-se a nova paciente; internou-se no lugar do louco. Neste instante, a narrativa traz indícios de que Zaroia nem pensava mais na aposentadoria, e sim em provar seus argumentos referentes à loucura, porque foi à primeira vez que ficou sem ação, ou seja, não foi ouvida pelo grupo social onde estava. O psiquiatra dispensou-a sem se interessar pelos frenéticos apelos. Sabino transcreve com sabedoria o estágio vivido por Zaroia, quando afirma: Mas o louco nunca sabe que é louco e nem tão pouco o tamanho da sua loucura. É exatamente este o mistério da loucura. Se o louco soubesse da gravidade do problema, ele morreria. Loucura não mata. Quem mata são as conseqüências da loucura.22 A formiga não passou pelos estágios descritos no diagnóstico da loucura, porque era lúcida e consciente de seus atos. Abandonou a clínica. Estava ciente do que realmente queria para sua vida, a liberdade. “A identidade pressupõe a diferença e a heterogeneidade, e não se encontra numa ”raiz” arqueológica, como o elo perdido da corrente evolucionista”.23 Zaroia recompõe-se do estado depressivo e reassume sua identidade, não seria capaz de receber uma pensão revestida de inverdades. Para ela a liberdade estava acima de qualquer bem material, e volta a buscar o “Reino da Alegria”. Bico Fino com seu canto atraía outros insetos. Zaroia conseguiu criar uma ambiência paradisíaca para viver, mesmo sem o amor de Tibe e da família biológica. A obra surpreende ao transportar um novo olhar da concepção familiar. Zaroia encontra o local sonhado para viver. Queria a estabilidade da família e, num processo natural, sem traumas e discriminações, reformula o círculo familiar. Deixou as milhares de formigas e passou a cuidar da felicidade. Dividiu o Reino da Alegria com a amiga Bico Fino e outros insetos atraídos pela sinfonia do canto da cigarra. 22. Idem, ibidem, 2004, p. 50. 23. KHÉDE, 1990, p. 61. 267 Rosane Salete Freytag Apesar dos sofrimentos, conflitos e perdas, Zaroia conseguiu ser uma sobrevivente da perversidade social, devido a seu pacto de cidadania que a tornou capaz de perceber as diferenças culturais e étnicas. Fato que permitiu sua intervenção e garantiu encontrar outros caminhos sustentáveis. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2000. KHÉDE, Sonia Salomão. Personagens da literatura infanto-juvenil. São Paulo: Ática, 1990. LA FONTAINE, Jean de. Fábulas de Esopo. Adaptação de Lúcia Tulchinsky. São Paulo: Scipione, 1998. PICOLI, Fiorelo. Amazônia do mel ao sangue: os extremos da expansão capitalista. Sinop: Editora Fiorelo, 2005. PRADO, Francisco G. Ecopedagogia e cidadania planetária. São Paulo: Cortez, 2000. SABINO, Maria da Paz. O mundo fantástico da formiga Zaroia. Sinop: Grafpel, 2004. 268 Os autores ADRIANA LINS PRECIOSO Doutora em Teoria da Literatura – Literatura Comparada pela UNESP/ IBILCE). Profa. de Literatura – Letras/UNEMAT/Sinop. Participante de pesquisas em: Estudos Comparativos de Literatura: tendências identitárias, diálogos regionais e vias discursivas – coord. pela Profa. Dra. Luzia Aparecida Oliva dos Santos; Vertentes do fantástico na Literatura – coordenado pela profa. Dra. Karin Volobuef (Unesp – Araraquara); 3) Intelectuais e minorias na poesia de Pedro Casaldáliga. [email protected] ALCEU ZOIA Doutor em Educação pela UFG. Professor de Filosofia – Pedagogia/ UNEMAT/Sinop. [email protected] CELMA RAMOS EVANGELISTA Mestre em Educação pela UFMT, na área Teorias e Práticas Pedagógicas da Educação Escolar. Especialista em Educação Matemática. Professora – Matemática/UNEMAT/Sinop. Membro do Projeto de extensão: LEMARC – Laboratório de Educação Matemática Realística e Cooperativista. [email protected] HELENICE JOVIANO ROQUE-FARIA Mestranda em Estudos Portugueses – Universidade de Aveiro/Portugal. Professora de Língua Portuguesa e Linguística – Letras/UNEMAT/ Sinop. [email protected] HENRIQUE RORIZ AARESTRUP ALVES Doutor e mestre em Literaturas de Língua Portuguesa pela PUC-Minas. Professor de Literatura Portuguesa, Literatura Brasileira e Teoria. Literária – Letras/UNEMAT/ Sinop. [email protected] IVONE ALEXANDRE Mestre em Educação Pública pela UFMT. Professora – Pedagogia/ UNEMAT / Sinop. Técnica em Assuntos educacionais – UFMT / Sinop. [email protected] JOSEMAR PEDRO LORENZETTI Mestrando em Ciências Sociais pela UNISINOS/UNEMAT. Graduado em Filosofia. Professor da rede pública de ensino na Secretaria do Estado de Mato Grosso. [email protected] 269 LUCIANA COSTA REPEZUK Graduanda em Letras – UNEMAT. Professora de Língua Portuguesa e Literatura. Colégio Albert Sabin/Sinop. MARIA CELESTE TOMMASELLO RAMOS DLM – IBILCE – UNESP – Câmpus de São José do Rio Preto-SP. [email protected] MARIETA PRATA DE LIMA DIAS Doutora em Linguística pela USP. Mestre em Educação e Especialista em Língua Portuguesa pela UFMT. Pesquisadora na área de Terminologia e Lexicologia e professora de Língua Portuguesa – UFMT/Sinop. [email protected] NEUSA INÊS PHILIPPSEN Doutoranda em Filologia e Língua Portuguesa – USP. Mestra em Estudos de Linguagem/UFMT. Professora de Língua Portuguesa e Linguística. Coordenadora do projeto de extensão “Metodologia de Ensino das Línguas Portuguesa, Inglesa e Literaturas”. Coordenadora responsável pelas Edições dos Estudos Linguísticos do Periódico “Revista de Letras Norte@amentos” – UNEMAT/Sinop. [email protected] ODIMAR J. PERIPOLLI Doutor em Educação pela UFRGS. Prof. do Departamento de Pedagogia / UNEMAT / Sinop. Pesquisador voltado às temáticas que envolvem movimentos sociais, colonização/ocupação, migração, assentamentos de Reforma Agrária (Incra), Educação do Campo e outros. [email protected] ROSANA RODRIGUES DA SILVA Doutora (UNESP/São José do Rio Preto) e Mestre em Letras (UFRGS). Professora do Departamento de Letras da UNEMAT/Sinop. Pesquisadora do projeto A expressão cultural na literatura contemporânea: diversidade e identidade regional em Mato Grosso (FAPEMAT), atuando nas linhas de pesquisa Literatura e regionalismo em Mato Grosso e Poética: gênero e imaginário. [email protected] ROSANE SALETE FREITAG Doutora em História da Literatura e Literatura Comparada pela UIB (Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca – Espanha). Professora do Departamento de Letras da UNEMAT / Sinop. [email protected] TÂNIA PITOMBO-OLIVEIRA Doutora em Linguística pelo IEL/UNICAMP. Professora titular do Departamento de Letras / UNEMAT/Sinop. Membro fundador do CEPEL – Centro de Estudos e Pesquisa em Linguagem. Tem experiência na área dos Estudos da Linguagem com ênfase na Análise de Discurso materialista, 270 atuando principalmente nas seguintes linhas de pesquisa: sujeito, história e memória; informática na educação; fronteiras discursivas e leitura e sentido. Compõe o Conselho Editorial da ASCL - Academia Sinopense de Ciências e Letras. [email protected] WALNICE APARECIDA MATOS VILALVA Doutora em Teoria e História Literária, pela UNICAMP. Mestre em Literatura Brasileira, pela UNESP. Professora de Literatura Brasileira- Letras/ UNEMAT/Tangará da Serra. Coordenadora do projeto do Núcleo de Pesquisa Wlademir Dias-Pino. Coordenadora dos projetos de pesquisa: “O homem e a terra: identidade e cultura popular no assentamento Antonio Conselheiro” e “Identidade e literatura: a importância de periódicos em região periférica do Brasil”. Coordenadora do Mestrado em Estudos Literários. [email protected] 271 ECOgraf diagramou e imprimiu Rua Costa, 35 – Consolação – São Paulo-SP [email protected] Fone: (11) 3259-1915
Download