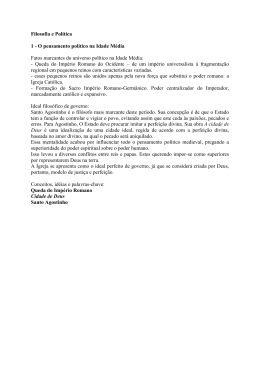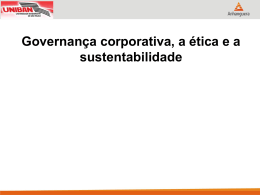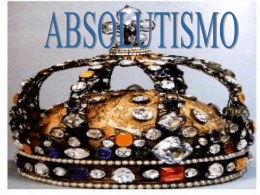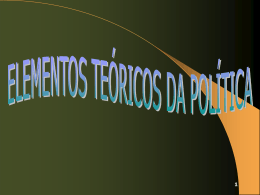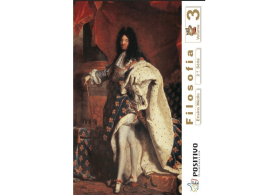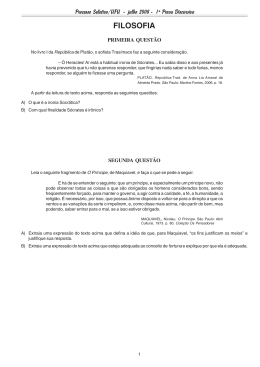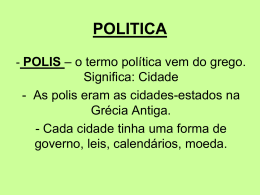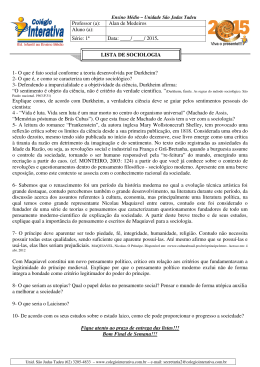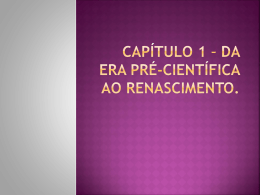Antinomias da razão de estado Diogo Pires Aurélio FCSH/Universidade Nova de Lisboa É um tópico recorrente, na literatura sobre a «razão de estado», a popularidade que o conceito conheceu durante o século XVI, muito antes do aparecimento, em 1589, da obra que viria a consagrá-lo, de seu nome Della Ragion di Stato Libri Dieci. O próprio autor deste livro, o jesuíta Giovanni Botero Benese, referindo-se ao ambiente das cortes europeias de que foi durante anos assíduo, afirma logo na primeira página: «muitíssimo me admirou ouvir mencionar a toda a hora a razão de estado»1. E a sua admiração não se deve unicamente ao facto de se ter tornado um lugarcomum nas bocas do mundo, quer entre a nobreza palaciana, quer entre os frequentadores de barbearias e boticas, a designação que dá nome ao livro. Do que mais se espanta o escandalizado jesuíta é do prestígio que, sob a capa da chamada «razão de estado», conhecem por toda a parte as ideias de Maquiavel e Tácito, o narrador das torpezas do imperador Tibério, «a ponto de se dizer que algumas coisas são lícitas por razão de estado e outras por consciência», quando, na verdade, conclui o autor, «não se pode dizer coisa nem mais irracional nem mais ímpia do que esta»2. Para Botero, como para muitos dos seus contemporâneos, há algo de insólito, ou mesmo de absurdo, antes de mais no facto de qualquer um se querer intrometer numa matéria como a política, que requer saber e dotes especiais. Além disso, ainda segundo os mesmos autores, há um equívoco na linguagem comum, que leva a que se reclame da razão algo que em boa verdade é exactamente o seu contrário: pura impiedade e irracionalidade. Os assuntos de estado, que desde sempre se haviam tido por subordinados à religião e à moral, deram a partir de certa altura em ser mencionados como se fossem um domínio à parte e se guiassem por regras alheias ao que dita a consciência. A razão, que sempre fora olhada como padrão, único para todo 1 João Botero, Da Razão de Estado, trad. de Raffaella Longobardi Ralha, coord. e introd. de Luís Reis Torgal, Coimbra, INIC, 1992, p. 1. 2 Cit. p. 2 o ser e todo o agir passou em dado momento, difícil de precisar, a considerar-se como passível de excepções e a desdobrar-se em razão ordinária e razão extraordinária, fazendo ver uma brecha entre os critérios usados em política e aqueles em assenta a moral. Os príncipes e governos, que na boa escola dos «livros de conselhos» mantinham a multidão a conveniente distância, encontram-se agora expostos à impertinência e à crítica do mais ignaro dos súbditos. Dizia A. de Laval, já em 1612: «entrou-se numa época de tanta liberdade, ignorância e mandriice - mãe de toda a curiosidade perniciosa -, que até entre os mais rasos dos soldados e os mais ínfimos dos artesãos qualquer um se põe a dizer a sua opinião sobre as resoluções públicas e a comentar os desígnios e as acções do seu príncipe e daqueles que o representam. Já não lhes basta, como outrora, ser governados: cada um quer meter o nariz, ou pelo menos a língua, no governo; cada um quer saber porquê e como o governam. Não há ninguém que não diga, por mais humilde que seja, mal vê acontecer qualquer coisa que está para além do seu alcance, que isso acontece por razão de estado»3. À primeira vista, dir-se-ia que o mais natural era Botero e todos quantos na altura se levantam contra semelhantes atentados à recta ratio, os quais eles têm por vestígios de maquiavelismo, defenderem o retorno ao quadro teórico em que tradicionalmente a política fora pensada. Em vez disso, porém, o que se vê nas suas obras é tão-somente uma tentativa de depurar o conceito de razão de estado, não obstante este se identificar, na opinião de Botero, com os tão execrados excessos da impiedade e da irracionalidade. Conforme observa Marcel Gauchet, «eles poderiam ter rejeitado a expressão com as ideias que lhe andavam ordinariamente associadas, mas pensaram não poder fazer outra coisa que não fosse consagrá-la, esforçando-se por lhe domesticar os perigos»4. Melhor ou pior, todos eles vão tentar, contra a má razão de estado, ou «razão de inferno», expor a boa e «verdadeira razão de estado»5, que alegadamente imporia limites ao 3 Antoine de Laval, Desseins de professions nobles et publiques, Paris, 1612, p. 388 a, cit, in Marcel Gauchet, La condition politique, Paris, Gallimard, 2005, p. 208, n.2. 4 5 Marcel Gauchet, cit., p. 209 Título de uma obra de Fernando Alvia de Castro, originalmente publicada em castelhano: Verdadera Razón de Estado, Discurso político, Lisboa, Pedro Craesbeeck, 1616; ed. portuguesa, com um estudo introdutório de Martim de Albuquerque, Lisboa, Editora Principia, 2009. Para uma exposição das teses de Castro, vide Martim de Albuquerque, Um Percurso da Construção Ideológica do Estado, Lisboa, Quetzal, 2002, pp. 75-83. Outro título com propósitos semelhantes aos de Castro é o de Pedro Barbosa Homem, Discursos de la jurídica y verdadera razón de estado formados sobre la vida, y acciones del Rey ilimitado horizonte que a primeira tolera na actuação de quem detém o poder. O argumento de Botero é que não se pode presumir como razoável tolerar aos governantes que decidam e actuem contra os princípios universais da razão. O problema, contudo, persiste: onde se situam os limites e princípios da razão em matéria política? Os muitos teóricos que se reclamam da verdadeira razão de estado dividem-se sobre este ponto: todos eles argumentam contra a alegada vaga de maquiavelismo que estaria a alastrar, mas, ao mesmo tempo, todos eles permanecem mais ou menos suspeitos de não se distanciarem dela o bastante, por mais veemente e fervorosa que seja a retórica utilizada. O discurso desta razão de estado, que se procura distanciar daquela outra a que a designação é vulgarmente aplicada, apresenta-se como um libelo contra a ideia de que os governos possam alguma vez considerar-se dispensados dos imperativos éticos, os quais, ainda antes de se imporem por motivos de ordem religiosa, se impõem por simples consideração antropológica. Semelhante discurso, no entanto, não se resume a um juízo ou advertência moral, sem consequências práticas, muito menos a uma espécie de hipocrisia conservadora, como tantas vezes se suspeitou. A «boa razão de estado», aquela que se ergue contra a má, além de não poder confundir-se com um retorno do teológico-político, também não se pode tomar por uma espécie de «maquiavelismo católico», que estaria próximo das ideias do florentino, apesar de formalmente as renegar. Pelo contrário, ela traduz um genuíno combate intelectual, destinado a conter a política nos limites da razão. É por isso que não quer abrir mão de um nome comummente reservado, então como hoje ainda, a um modo de fazer política que é sem regras, onde há lugar para a derroga das normas morais, sempre que a necessidade o exija. O discurso da razão de estado pretende, efectiva e não só aparentemente, contrapor a razão ao que ela própria chama de maquiavelismo, e demonstrar que este representa uma falsa razão, ainda antes de ser uma fonte de imoralidade e de impiedade. Ora, uma tal operação pressupõe que a política se alicerça em bases estritamente racionais, válidas mesmo na hipótese de se recusar qualquer tipo de transcendência. É, portanto, no estrito quadro da razão, e no pressuposto de que, sem recurso a outros dispositivos legitimadores, é possível pensar integralmente a acção política, que irá travar-se a luta ideológica pela Don Juan el II... contra Machiavelo, y Bodino, y los demas politicos de nuestros tiempos, sus sequazes, Coimbra, Nicolao Carvallo, 1627. consolidação do estado soberano e a liquidação dos últimos vestígios do feudalismo. Em resumo, o que a razão de estado promove é realmente a autonomia do político e o fechamento da sua racionalidade numa arquitectura que tem por chave o novo conceito de soberania. As concepções sobre a acção política que dela se reivindicam poderão divergir, ou até ser diametralmente opostas. Mas o solo em que todas elas assentam é o mesmo. Só assim se explica que todas remetam para uma só designação – a razão de estado -, pese embora o diferente significado que cada uma lhe atribui. Encerrar a discussão da política no interior duma moldura inteiramente racional, acrescente-se, não equivale a antecipar o que virá a ser a ciência política, como por vezes se tem afirmado, em particular a respeito de Maquiavel. Toda e qualquer ciência, mesmo a ciência pré-galilaica, requer uma série de procedimentos hipotético-dedutivos, os quais, se em Hobbes, por exemplo, irão ser determinantes, são contudo ainda alheios à reflexão de um Botero, tal como o tinham sido à reflexão do autor d’O Príncipe. Aquilo que o discurso da razão de estado consagra é tão-só a emergência da política face a outras instâncias de que anteriormente se tinha por subordinada, a partir do momento em que surge uma forma centralizada de poder, na qual as normas legais se deduzem em cascata a partir de um interesse afirmado como o interesse comum. É este «interesse do estado» que configura a ultima ratio da decisão política, o critério essencial para avaliar da maior ou menor adequação desta, perdendo a partir daí toda a pertinência a questão da conformidade dos actos do governante com os ditames de uma razão superior, em que supostamente se espelharia quer a natureza ou ordem do universo, quer a vontade de Deus. Decerto, a razão de estado, a que também poderemos chamar da ContraReforma, alega que estes dois planos não são incompatíveis e que o interesse do estado, a cargo dos governantes, não exclui o interesse espiritual dos homens, de cuja salvação a Igreja reclama a responsabilidade. Em última análise, porém, se houver conflito entre um e outro, manda a razão que se decida em função do primeiro destes interesses, pois só ele garante as condições de segurança e paz que a vida humana requer, inclusive a vida segundo a fé. Não admira, por isso, que a própria religião venha a ser avaliada, no discurso da razão de estado, pelas suas potencialidades enquanto dispositivo de manutenção do poder e da estabilidade, isto é, como instrumento da política. Como se pode ler na obra do próprio Botero, «a Religião é, por assim dizer, mãe de todas as virtudes: torna os súbditos obedientes ao seu Príncipe, corajosos nas empresas, ousados nos perigos, generosos nas adversidades, prontos em qualquer necessidade da República»6. Ou, ainda, um pouco mais adiante: «e nós vimos o Cardeal Borromeu entreter o imortal povo de Milão com festas celebradas religiosamente e com cerimónias eclesiásticas por ele realizadas com ritual e gravidade incomparável, de tal forma que as igrejas estavam sempre cheias de manhã até à noite, e nunca houve povo mais alegre, mais satisfeito e mais tranquilo do que o Milanês, naquele tempo»7. UM PRECEDENTE: A ARTE DO ESTADO Esta linguagem, na boca de um religioso como Botero e num livro que se diz contra Maquiavel, ao atribuir à religião uma nova finalidade, de tipo instrumental, mesmo que não exclua a que se lhe atribui comummente, indicia uma mudança profunda na maneira de pensar a política. Os antigos, gregos ou romanos, haviam-na pensado como instância superior de realização do homem na polis, onde a diversidade dos interesses é subsumida pela unidade da justiça, e onde o comportamento individual deve submeter-se às leis do ethos: inseparável da moral, a política considera-se ao mesmo tempo distinta da economia ou governo do oikos, o espaço privado da casa, onde o homem se realiza como simples ser vivo. A Idade Média, em boa medida, vai ignorar esta distinção e associar a política ao modelo da economia, concebendo o rei à imagem do pai de família – o antigo despótes, dono da casa, da mulher, dos filhos e dos escravos8. Reitera, contudo, a sua subordinação à ética, a qual se reforçará ainda mais sob a inspiração quer de Cícero9 e dos estóicos, nas repúblicas italianas, 6 João Botero, cit., p. 69 7 Ibidem, p. 79. 8 9 Cfr. Jürgen Habermas, Theorie und Praxis; sozialphilosophische Studien, rankfurt am Main, Suhrkamp, 197, pp. 53-56. Entre muitas outros exemplos do ideal ciceroniano das virtudes públicas, como esteio natural da política, pode ler-se na República: «ao género humano foram dados pela natureza tanta necessidade de virtude e tanto amor ao bem-estar comum, que essa força venceu todos os atractivos do prazer e do ócio». Cícero, Tratado da República, Livro I, 1.1, trad., introd. e notas de Francisco de Oliveira, Lisboa, Círculo de Leitores/ Temas e Debates, 2008, p. 73. quer da obra de Aristóteles, entretanto traduzida e a partir da qual se divulga o ideal da política como realização do bem comum através das leis10. Sem dúvida, este ideal é diferentemente interpretado por defensores do governo republicano e por defensores da monarquia, como São Tomás ou Egídio Romano, que separam a questão do regime político da questão da natureza da comunidade política11. Mas tanto num como noutro caso, a política é concebida como plena integração da vida humana na ordem que reina na natureza e no universo, sendo portanto a sua função prevenir eventuais excessos das inclinações que desviam os comportamentos individuais das «leis da natureza» e do decálogo. O que os modernos, pelo contrário, vão fazer, além de identificarem também a questão da pólis com a questão do óikos, é reduzir a questão da vida boa à questão da mera sobrevivência. A política deixa, então, de ser a disciplina de como viver em sociedade de acordo com o bem e de como ajustar a conduta humana às leis da natureza, para passar a ser tão-só a disciplina de como sobreviver face às adversidades da natureza, quer estas se traduzam em escassez de bens ou na sempre possível ameaça que os outros representam, na medida em que competem pelos mesmos bens. Vencer a fome e vencer a guerra, ou seja, 10 «O direito romano (civilis sapientia) e a tradição ciceroniana e estóica das “virtudes políticas” foram as fontes principais da ideologia política das repúblicas citadinas e do renascimento do vocabulário político» Maurizio Viroli, Dalla Politica alla Ragion di Stato. La scienza del governo tra XIII e XVII secolo, Roma, Donzelli Editore, 1994, p. 4. No entender de Viroli, este primeiro renascimento põe em confronto uma concepção da política como inclusão e participação dos cidadãos na vida pública e, por outro lado, uma concepção da política como «arte do estado», isto é, como capacidade de um indivíduo ou facção para conquistar e conservar o poder sobre aquilo que seria de domínio público, por ser um bem comum. Semelhante confronto entre república e principado, na opinião ainda do mesmo autor, anteciparia o confronto que irá depois verificar-se entre «política» propriamente dita – a «vida civil», ou gestão humanista da coisa pública - e razão de estado. Tal contraposição subestima, a nosso ver, o lastro de racionalidade aqui enfatizado como algo por definição inerente à razão de estado, que impede que se reduza a sua interpretação a puro e simples epifenómeno da imoralidade em política. Mesmo que se reconheça a pertinência de teses como a de Gianfranco Borrelli (Ragion di Stato e Leviatano. Conservazione e scambio alle oprigini della modernità politica, Bolonha, Il Mulino, 1993), que identifica nos alvores da modernidade dois paradigmas políticos que se distinguiriam pela forma como cada um concebe a relação entre poder e obediência – o modelo conservativo, ou da razão de estado, e o modelo contratualista, ou do câmbio político –, o simples facto de em ambos os paradigmas a política se pensar à margem de uma racionalidade produtora de valores transcendentes representa uma vinculação que, sob o ponto de vista heuristico, será tanto ou mais fecunda que a diferença existente entre eles. 11 «Egídio Romano aceita e acentua o valor da civitas como fim natural do homem, mas recusa a tese de que o melhor meio para a preservar seja o auto-governo republicano. Recorrendo ao vocabulário aristotélico, chama à civitas «vivere politicum» e ao governo republicano regimen politicum e sustenta que para conservar o viver político não é preciso instituir uma governo republicano, mas antes uma monarquia hereditária». M. Viroli, cit., p.28. assegurar a riqueza e o poder, tais são os desafios que se colocam, nesta perspectiva, a cada indivíduo e a cada grupo, e que constituem, por isso, o objecto da política. Não quer dizer que esses mesmos desafios fossem ignorados pela concepção tradicional. Mas não representavam, por um lado, algo que se julgasse inteiramente inteligível e com que fosse legítimo lidar à revelia do plano global da razão, à luz do qual a vida civil se desenrola sob o domínio das leis da natureza e bem assim do decálogo. Por outro lado, a própria qualidade dos problemas com que a política se defronta, pela infinidade de variáveis neles implicadas, levava a que se considerasse improcedente a pretensão de a referir a um modus operandi exacto e universal: o saber de política dizia-se um saber prático, prudencial e impossível de transmitir, porquanto era impossível associar necessariamente a produção de determinado efeito a uma determinada causa. Aquilo que resultou uma vez pode não resultar na vez seguinte, sendo portanto impossível a política ir além de um saber aproximado e sem a exactidão dos saberes teóricos, como, por exemplo, a geometria ou a astronomia. Ora, a Renascença e os modernos, ao aproximarem a política do simples saber sobreviver – prolongar ao máximo a vida e as suas vantagens -, vão querer também libertá-la desta condição de incerteza a que ela está votada na sabedoria tradicional. Com efeito, quer a fome e, no geral, o desejo de adquirir bens materiais e simbólicos, quer as tensões e a conflitualidade permanente que atravessa o campo social, são duas ordens de ocorrências com que sempre se terá de contar. Vontade de viver e vontade de poder, se é que esta é diferente daquela e não um seu prolongamento, estão ambas inscritas na ordem do necessário. A par da necessidade com que os imperativos éticos se apresentam à razão, ou à revelia destes, existe uma necessidade que, minimamente que seja, orienta o aleatório dos instintos e movimentos passionais, introduzindo assim um esboço de previsibilidade no que toca à actuação dos homens. Não admira, por isso, a progressiva irrelevância a que irá ser votada a sabedoria prática, ou sensatez, dos Antigos, à partida vergada perante o aleatório de uma ordem que em última análise lhe escapa. Aquilo que em seu lugar vai emergir é uma concepção onde a política se toma como arte, technê, transformação da natureza segundo os desígnios do homem. O político é agora um técnico, não apenas como os técnicos eram entendidos na Antiguidade – lavradores, pedreiros, escultores e outros, cuja arte consistia na destreza para criar algo a partir do que brota espontaneamente da natureza -, mas um técnico que aspira a confundir-se com o teórico e a possuir conhecimentos exactos para moldar e submeter as multidões, fundar e manter o estado. Maquiavel, por muito longe que ainda esteja da razão calculadora a que a ciência galilaiconewtoniana recorre e que Hobbes vai trazer para a política, já não tem dúvidas de que é possível agir contra a fortuna, domar o acaso, regular a natureza em vez de ficar por inteiro submetido à sua ordem imprevisível e aos seus alegadamente insondáveis desígnios12. Em boa verdade, essa arte do estado, que encara a ordem da sobrevivência pelo que ela implica de actuação necessária, e não pela margem de liberdade com que os homens actuam, como faz a moral, não é inteiramente nova. Embora mais ou menos na sombra, sempre se havia falado nela como sendo uma espécie de pragmatismo a que se teria de recorrer uma vez por outra, não obstante se violentar com isso a justiça e a razão por que deveria reger-se a vida em comum. Semelhante violência, porém, era tida por delito, e recorrer a ela dava direito à fama de tirano, inconfundível com a de verdadeiro político. Se a política é o domínio de realização da justiça, o governante não poderá monopolizar os bens e o poder, ignorando a natureza intrinsecamente comum do que é da pólis, ou seja, de todos. Mesmo no chamado «caso de necessidade» ou excepção, os motivos para derroga das normas em vigor teriam de ser de uma tal evidência, que ninguém de bom senso aconselharia o contrário, pelo que a bem dizer nem era já de violência à razão que se deveria falar, mas de desaparecimento das circunstâncias em que as normas derrogadas se justificariam13. A política, em resumo, tinha a ver com o cuidar de algo comum, acima dos interesses particulares, não podendo realizar-se senão através da virtude dos governantes, a começar pela virtude da justiça, que dá a cada um o que lhe pertence. Vem daí a fortuna que conhece então a chamada «literatura de conselhos», toda ela ancorada nesta ideia de que a política se resume a um prolongamento da ética, imune à viciosa eficácia da dita arte do estado, a qual a recta ratio condena sem ambiguidades: o bom príncipe não rouba, não mente, não leva o seu povo para a guerra 12 Cfr. Maquiavel, O Príncipe, cap. XXV, trad., introd. e notas de Diogo Pires Aurélio, Lisboa, Círculo de Leitores/ Temas e Debates, pp. 231-234. 13 «Aquele que, em caso de necessidade, age à margem das palavras da lei não julga a própria lei, mas julga o caso singular em que verifica não deverem ser observadas as palavras da lei». São Tomás de Aquino, Summa Theologiae, Ia IIae, q. 60, art. 6º, ed. R. Busa, S. Thomae Aquinatis Opera Omnia, Stuttgart-Bad Cannstaat, 1980, vol. II, p. 483. movido pelo interesse, a cobiça ou a vingança; pelo contrário, é corajoso, amado pelos seus e fiel à palavra dada seja a quem for. A sobrevivência, porém, induz uma dinâmica individual e social alheia ao que dita a razão. Na medida em que é reconhecidamente possível agir de outra forma, não racional, a pulsão de sobrevivência, tanto no seu estado larvar, como nas suas metamorfoses de luta pelo reconhecimento e o poder, não se detém no que é justo e racional. O conflito leva inevitavelmente, como conclui Maquiavel, a que se tenha de «entrar no mal», para manter o poder e preservar o status ou o estado adquirido. É em função deste fim que o príncipe ou governante actua. Aquilo que Maquiavel faz, no que viria a ser o mais famoso dos seus livros, não é tanto declarar a política entregue à arbitrariedade absoluta, mas revelar um diferente quadro de racionalidade, meramente estratégico, no interior do qual ela se torna inteligível em toda a sua realidade nua e crua. São fundamentalmente duas as linhas de argumentação usadas em O Príncipe contra a ideia de uma sobreposição, alegadamente natural e necessária, entre a política e a ética. Primeiro, uma tal sobreposição está assente na utopia, tão grande é «a distância de como se vive a como se deveria viver»14; segundo, ela considera as virtudes morais em abstracto, olhando unicamente ao valor facial e ignorando as oscilações que o seu valor real apresenta, assim como a dialéctica através da qual se desenvolvem: a liberalidade em excesso degenera em mesquinhez, pois quanto mais se distribui, mais será necessário sobrecarregar de impostos os súbditos; a piedade, ao tolerar abusos, obriga depois à crueldade, e assim por diante15. Resumindo, o quadro racional em que tradicionalmente se inscreve a política e se avalia a qualidade dos governos e dos governantes é desajustado, uma vez que, por um lado, a maioria dos homens não se conduz pela razão, mas pelos interesses, por outro, a qualidade ética do agir do príncipe não é garantia da salvaguarda do bem comum: por vezes, agir de acordo com a moral pode ser ruinoso, tanto a nível individual como a nível colectivo. Torna-se, pois, necessário recorrer à chamada arte do estado, a qual se estende, não raro, por tipos de actuação eventualmente suspeitos do ponto de vista ético e, por isso mesmo, condenados pela razão ordinária, mas que asseguram, mais ou menos estavelmente, os benefícios que a vida em comum pode facultar. Por outras palavras, a finalidade que é 14 Maquiavel, cit., p. 185. 15 Cfr. Maquiavel, cit., cap. XVI- XIX. agora visada e a que não se pode recusar liminarmente alguma racionalidade, impõe a reavaliação dos meios que a sua obtenção requer. Qual será, então, o critério para avaliar semelhante estiramento da razão? Como julgar, a partir daí, as decisões e actuações, sem entrar pela mais completa aleatoriedade? Aparentemente, dir-se-ia ter-se abandonado a possibilidade de pensar o comum e estar-se a promover em lugar deste a exacerbação do singular, declarando antecipadamente aberta a hobbesiana «guerra de todos contra todos». Na literatura tradicional, em cujas entrelinhas a arte do estado, mais ou menos envergonhada, se deixava já antever16, a resposta a este tipo de questões consistia fundamentalmente em insinuar a inevitabilidade de uma espécie de lado negro do poder, sem no entanto presumir que ele estivesse acessível a um qualquer modelo de inteligibilidade. Maquiavel, porém, ao sugerir a inoperância dos padrões morais como princípios estruturantes da vida em comum, evidencia a existência de uma assimetria entre a doutrina política tradicional, que toma por objecto o modo como se deveria viver, e o horizonte da verdadeira acção política, a qual tem sempre de levar em conta o modo como realmente se vive17. Pela mão do florentino, a destreza e as «técnicas» mais ou menos intuitivas que integravam a arte do estado galgarão as margens da política e tenderão a ocupar todo o seu espaço. A arte do estado ganha, assim, não apenas a aura, mas também os procedimentos e o estatuto de um verdadeiro saber, a ponto de Maquiavel se vangloriar de, quando ouvir o cardeal de Ruão acusar os italianos de não entenderem da guerra, lhe ter por sua vez ripostado que «os franceses não entendiam do estado»18. Porém, o estado e a sua arte são matricialmente distintos da política no seu significado mais autêntico. Por essência, o estado, na medida em que se gera na luta pela sobrevivência e o poder, corresponde à apropriação por um ou vários singulares daquilo que é comum, implicando, por isso, a dominação. O estado traz em si a subversão do ideal da polis, cavando no cerne da comunidade um fosso (e uma tensão) a separar os que detêm o poder daqueles que lhes resistem quanto podem. O estado, por definição, é sempre status de alguém a quem os outros estão obrigados a reconhecer o 16 Cfr. M. Viroli, cit. p. 88. 17 Cfr. Maquiavel, cit., cap. XV, p. 185. 18 Maquiavel, cit., cap. III, p. 126. mando. Nessa medida, a aceitação de uma ordem que transcendesse e orientasse a realidade empírica, unificando-a no chamado bem comum, através de uma justa distribuição de bens e poder, estará irremediavelmente comprometida, visto não existir um fundamento ético, antes de mais, para a desigualdade de posições entre quem manda e quem obedece. Tal como existe, o estado emerge da conflitualidade mas não a extingue, antes se limita a reduzi-la a uma condição virtual, ao fazer baixar para valores negativos o seu potencial de instabilidade. Se de razão se pode ainda falar em semelhante entendimento da acção política, ela restringe-se ao cálculo da eficácia e dos custos de cada um dos procedimentos destinados a manter ou conquistar a posição dominante. Em linguagem kantiana, chamar-se-ia hipotéticos aos imperativos desta razão. E, de facto, ela é meramente estratégica. Contudo, é suficiente para que o objecto da reflexão política deixe de ser uma sucessão de ocorrências, cuja lógica em última análise escaparia aos indivíduos, para passar a ser a ordem das acções possíveis com vista a um fim determinado pelo próprio agente, a conquista e a manutenção do estado. A «VERDADEIRA RAZÃO DE ESTADO» Compreende-se o motivo que leva tantos intérpretes a qualificarem a razão de estado como «razão de inferno». Na verdade, ela representa uma descida das alturas, onde a política se metamorfoseava em reflexão puramente ética, aos abismos do mal, em que ela tem por vezes de entrar, de acordo com o que Maquiavel observara. Não é só porque uma tal razão evidencia a fronteira que coloca de um lado a realidade da história humana, do outro os valores a que os homens deveriam obedecer; é, sobretudo, porque ela consagra a política como um horizonte em que não existem valores que antecedessem e, deste modo, orientassem a acção. A leitura mais frequente fará notar que, a ser assim, tudo se torna permitido, o que violenta a consciência ética, para já não falar das convicções religiosas, e daí o labéu de demoníaco que persegue o maquiavelismo. Porém, a compreensão da política permaneceria impossível, se não se lhe vislumbrasse uma estrutura lógica subjacente. E como essa estrutura não poderá estar ancorado em algo de transcendente, como são os princípios éticos, que só no plano ideal regulam a acção, ela terá de remontar a princípios que de facto vinculem a natureza humana. Numa palavra, a acção política só poderá ser racionalmente equacionada após se identificarem constantes a que ela obedeça, necessária e universalmente, como é o caso dos imperativos da sobrevivência. É certo que, de algum modo, a «arte do estado» já se apresentava como uma capacidade de subordinar o aleatório, inclusive o aleatório da natureza e das paixões, a uma determinada finalidade. Porém, a definição dessa finalidade era aí deixada ao arbítrio e à «virtude» do agente, o que impedia uma conceptualização satisfatória da política. Liberto dos tradicionais constrangimentos da religião ou do simples ethos, o governante aproximarse-á perigosamente da antiga figura do tirano, na medida em que pode tomar por seu o que é comum, sobrepondo os seus próprios fins aos da comunidade que era suposto viabilizar enquanto dirigente. Pelo contrário, a superior racionalidade que a «verdadeira razão de estado» reivindica em relação à «razão de inferno», ou maquiavelismo, reside no facto de ela subordinar os actos e decisões do governante a uma finalidade que transcenderia os mutáveis e contrários fins por que almeja cada um dos privados. A invocação de uma finalidade impessoal não significa um retorno da política como declinação particular da ordem universal do bem e do justo; significa, sim, uma tentativa para integrar no plano racional o que na política transborda para fora dos limites da ordem ética. É verdade que semelhante violação dos princípios por que deveria reger-se a vida humana era classificada de tirania pelo pensamento medieval. Conforme escreve, ainda, Jean Bodin, «a mais nobre diferença entre o rei e o tirano é que o rei se conforma às leis da natureza e o tirano as calca aos pés; um cultiva a piedade, a justiça e as leis da natureza; o outro não possui nem Deus, nem fé, nem lei (…)»19. Maquiavel, contudo, havia já mostrado a inanidade dessa tentativa de circunscrever a governação aos princípios morais, fazendo notar que na política a fronteira entre mal e bem é flexível. Se, por exemplo, o recurso à guerra se considera legítimo para resistir ao perigo que representa o ataque de um adversário, poderá sempre alegar-se que a melhor forma de resistir a esse eventual ataque será declarar guerra ao mesmo adversário ainda antes de ele efectivar o ataque20. A chamada 19 20 Jean Bodin, Les Six Livres de la République (1576), II, 4, Paris Fayard, 1986, pp.57-58. «Nobilíssima maneira de manter o inimigo afastado da nossa casa e de nos defendermos dos seus ataques é anteciparmo-nos, levando a guerra para a casa dele, pois quem vê em perigo as suas coisas deixa facilmente em paz as alheias». João Botero, Da Razão de Estado, Livro VI, cit. p. 127. guerra preventiva surge, assim, como uma espécie de terceiro género, que em abstracto não estaria legitimado, mas que de facto reivindica idêntica legitimidade, diluindo-se por isso a separação entre bem e mal. Em última análise, a necessidade de uma decisão é avaliada pelo decisor, o que oferece a Maquiavel o ensejo de concluir com a celebérrima citação de Tito Lívio: «a guerra é justa para aqueles a quem é necessária»21. Consequentemente, a distinção entre tirano e bom governante esboroa-se por entre os meandros de uma casuística sem fim. Tal como diz Jean Bodin, no já citado capítulo sobre esta mesma distinção, «os tempos, os lugares, as pessoas, as ocasiões que se apresentam, obrigam muitas vezes os príncipes a fazer coisas que a uns parecem tirânicas e a outros louváveis»22. E Descartes, interrogando-se precisamente sobre o que são acções justas em política, irá por sua vez confessar: «creio que o são quase todas, quando os príncipes que as praticam assim as consideram; porque a justiça entre os soberanos tem outros limites que entre os particulares, e parece que nestas matérias Deus dá o direito àqueles a quem dá a força»23. O estabelecimento de uma «verdadeira razão de estado» defronta-se, pois, com a necessidade de ratificar uma espécie de prolongamento, em que a racionalidade se desdobra para poder acolher a excepção, dilatando assim as fronteiras da justiça, a um ponto que é impossível distingui-la da força. Nas autorizadas palavras de João Botero, a razão de estado, aplicando-se embora a tudo o que tem a ver com a fundação, conservação e ampliação de um domínio sobre povos, em particular a conservação, «diz-se mais daquelas coisas que não podem ser reduzidas a razão vulgar e comum»24. Que coisas são essas? Obviamente as que o vulgo rotula de mal, tais como a guerra e outros tipos de violência, ou a simulação e a mentira, mas que na esfera política se poderiam alegadamente reivindicar da razão. Boa parte da literatura tradicionalmente catalogada como da razão de estado resume-se a um reconhecimento desta prega no tecido da racionalidade, ao abrigo da qual seria permitido, se necessário, decidir ao arrepio da razão comum, sem 21 Maquiavel, O Príncipe, XXVI, cit., p. 236. 22 Jean Bodin, cit,, II, 4, p. 63. Algumas páginas antes, Bodin tinha colocado esta questão ao nível não apenas da percepção pelos outros, mas da própria natureza do governante: «não há bom príncipe que não tenha algum vício, nem tão cruel que não tenha alguma virtude» (cit. p 57). 23 Descartes, Correspondance, Lettre 445, Descartes à Elisabeth, Sept. 1646, in Oeuvres de Descartes, ed. Adam-Tannery, vol. IV, p. 487. 24 João Botero, Da Razão de Estado, cit., p. 5. franquear os limites da verdadeira razão. Daí que essa mesma literatura abomine o maquiavelismo e se recuse a prescindir da distinção entre o bom governante e o tirano. No estrito plano em que Maquiavel enunciara o problema, e tendo, sobretudo, em consideração a natureza embrionária do estado que é visível nas suas obras – pouco mais que status, propriedade pessoal do príncipe -, o reconhecimento de uma réstia de racionalidade no político passava, como vimos, pela identificação de postulados antropológicos a partir dos quais se poderia vislumbrar alguns elementos constantes na acção humana, insuficientes, porém, para a resgatar do acaso25. Pior ainda, um tal entendimento do estado punha abertamente a nu a subordinação do bem comum e da utilidade pública ao bem e à utilidade dos detentores do poder, abandonando assim a ideia tradicional da política como realização do que é útil à comunidade. Ora, a usurpação do bem público em proveito próprio sempre foi vista como um traço essencial do tirano. Para sustentar que a razão de estado não é equivalente à chamada «razão de interesse», ou seja, que a política não se esgota na conveniência dos governantes26, há que pensar o estado diferentemente de Maquiavel. É essa a tarefa que os teóricos da razão de estado assumem, ao representá-lo como pessoa abstracta, situada acima da pessoa concreta que detém o poder e impõe as normas: enquanto entidade pessoal, o estado será portador de uma autoridade e de um interesse próprios; enquanto entidade abstracta, o seu interesse transcenderá tudo e todos. Na prática, o desafio que os teóricos da razão de estado enfrentam, sem que para tal disponham de uma teoria da representação como a que Hobbes formulará no Leviathan, consiste, na crua expressão de L. Ornaghi, em «transfigurar o interesse concreto do príncipe num abstracto interesse do estado»27. 25 É essa, aliás, a estratégia argumentativa que vemos ainda, por exemplo, em Gabriel Naudé, quando este invoca Salústio («é da natureza de todos os animais defenderem-se a si e às suas vidas») e Cícero («o abandono da utilidade comum é contra a natureza») para justificar a sentença marcadamente maquiavélica segundo a qual «as leis perdoam-nos os delitos que a força nos obriga a cometer». Cf. Considérations politiques sur les coups d’État (1667), Paris, Éditions de Paris, 1988, p.108 26 «A razão de interesse é quando o príncipe, sem nenhuma legítima causa, mas por comodidade privada que lhe traga vantagens, parte da razão humana, da razão divina, ou de ambas, razão de interesse esta que não é senão a tirania (…); porém, a razão de estado olha sempre ao benefício público». Pietro Andrea Canonieri, Dell’Introduzione alla Politica, alla Ragion di Stato et alla Pratica del Buon Governo, Livro X, cap. I, Anvers, 1627, p. 578, cit. in Lorenzo Ornaghi (a cura di), Il Concetto di “Interesse”, Milano, Giuffrè Editore, 1984, p. 14 27 Lorenzo Ornaghi (a cura di), Il Concetto di “Interesse”, Introduzione, cit., p. 12. A questão, porém, não é somente prática, nem tão-pouco se resume à trivialidade das pouco escrupulosas artimanhas que o vulgo atribui ao maquiavelismo. O que, na verdade, está aqui em causa é o processo, reconhecidamente complexo e demorado, de consolidação do estado moderno. E este, para se legitimar, precisa de abandonar a sua denotação maquiavélica e metamorfosear-se numa entidade cuja sobrevivência se imponha a tudo o mais, como se fosse uma pessoa, autónoma e com interesses manifestamente diferentes e superiores aos de quem governa, de modo a servir de fundamento à decisão política, se necessário, em contravenção aos princípios éticos. É justamente na medida em que o interesse do estado se objectiva, que o interesse do príncipe passa a não ter sentido, a menos que se confunda com o interesse da comunidade, e que a sua pessoa jurídica, reincarnando como governo e administração mais ou menos burocrática, adquira progressivamente a figura de uma entidade inteiramente racional. Neste contexto, a acção do príncipe só terá razão de ser, se for deduzida do interesse do estado, o que equivale, paradoxalmente, a dizer que tudo o que ele fizer em nome do interesse do estado está de acordo com a razão. G. Naudé di-lo-á explicitamente, falando da mais arriscada e eticamente duvidosa das acções que os príncipes poderão fazer, o golpe de estado: «esta lei tão comum, e que devia ser a principal regra de todas as acções dos príncipes, a saber, que a conservação do povo seja a lei soberana, absolve-os em muito de pequenas circunstâncias e formalidades a que a justiça os obriga; além disso, eles são senhores das leis para as alongar ou encurtar, confirmar ou abolir, não segundo o que muito bem lhes pareça, mas segundo o que a razão e a utilidade pública permitam»28. A razão de estado sobrepõe-se, portanto, à lei. Na interpretação de Naudé, ela nem sequer teria pertinência, a não ser, literalmente, à margem da lei, pelo que seria inexacto o uso que Botero faz da designação, permitindo que se aplique a tudo quanto contribui para fundar, manter ou estender um domínio. Porque uma coisa, segundo o autor das Considérations, é a «ciência geral» da política, onde se integram regras universalmente aprovadas pelo senso comum, outra bem diferente é a razão de estado, esse «excesso do direito comum por causa do bem público», que Naudé prefere designar por máximas de estado, «visto que estas não podem ser legítimas pelo direito das gentes, civil ou natural, mas unicamente pela consideração 28 Cit., p. 108. do bem e da utilidade pública, que passa bastantes vezes por cima da utilidade dos particulares»29. Por outras palavras, só fará verdadeiramente sentido falar de razão de estado a propósito do chamado «caso de necessidade», para o qual não há uma solução na lei e, por isso, o príncipe tem de usar do arbítrio para identificar e defender o bem público, mesmo quando isso implique o sacrifício dos bens ou da vida de uma ou mais pessoas singulares. Botero já havia, é certo, prevenido que a razão de estado «se diz mais daquelas coisas que não podem ser reduzidas a razão vulgar e comum». Mas não punha de parte o emprego da expressão com um significado mais amplo30. E por vários motivos, que vão muito para lá da mera semântica. Diferentemente de Naudé, que sob este aspecto vai circunscrever-se à moldura maquiavélica e pensar a razão de estado sobretudo como razão de guerra, o autor preconiza o que poderíamos chamar uma reconversão da ars dominandi em ars conservandi, pondo em relevo que, para lá da submissão pela violência, existem outros meios de manter a dominação e reduzir a animosidade latente dos dominados contra os poderosos. Com efeito, a potência militar sustém os ânimos, mas não os desactiva, o que torna a política numa luta permanente pela sobrevivência do poder, através de uma força organizada. A única forma de neutralizar ou, pelo menos, aliviar esta tensão é fazer do governo uma arte de fabricar a «servidão voluntária», de produzir a obediência através da manipulação da passionalidade, criando artificialmente focos de interesse para os súbditos, pois «o interesse sossega todos»31. À margem, portanto, da arte da guerra, que Maquiavel promove a única arte verdadeiramente principesca32, Botero teoriza a dominação a partir de um outro postulado igualmente sublinhado pelo florentino, a saber, a necessidade de o governante simular e dissimular. Quer num, quer noutro, porém, mais do que a banalidade da mentira, o que sobressai é uma visão da política como produção de acontecimentos que reforcem o assentimento e o aplauso dos súbditos aos governantes. A substância dos actos, tal como a consciência dos agentes, 29 Ibidem, p. 98. 30 Cfr. João Botero, cit. p. 5. 31 João Botero, cit. p. 80. 32 «Deve, pois, um príncipe não ter outro objectivo, nem outro pensamento, nem tomar coisa alguma por sua arte, fora a guerra e suas ordens e disciplina.» Maquiavel, O Príncipe, XIV, cit., p. 181. são secundárias. Ao relacionar o êxito com a percepção dos súbditos, a razão de estado releva principalmente a sua aparência: uma vez que ser em política é ser percebido, só terá garantias de êxito o governante que tomar nas suas mãos as rédeas dos acontecimentos, impedindo que se produza ou que se perceba algo que afecte o modo como quer ser percebido. De certo modo, a razão de estado é também uma forma de racionalizar o real, isto é, uma forma de ocupar a história com aquilo que a vontade soberana decide, expurgando de desordens o seu horizonte e saturando-o de ocorrências favoráveis à manutenção do estado. Chamava-se a isto, na linguagem de Maquiavel, dominar a fortuna. Apesar do seu esforço constante para evitar o maquiavelismo, Botero, no essencial, não anda longe: toda a relevância política por ele atribuída às cerimónias religiosas ou aos investimentos públicos, até mesmo às próprias guerras, está principalmente na sua capacidade de ocupar as mentes, «entretê-las», cativar-lhes o interesse, pois desde que estejam interessadas elas estarão serenas33. Não quer dizer que o entendimento que Botero tem da política seja, em versão moderada e cristã, o de Maquiavel. As diferenças entre um e outro estão longe de ser apenas de perspectiva, conforme abundantemente demonstra Michel Senellart34. Aquilo que, em nosso entender, se poderá questionar é se elas possuem dimensão suficiente para podermos distinguir no decorrer da modernidade, como faz o autor, dois desenvolvimentos paralelos, da ideia de razão de estado: o de uma razão de estado «conquistadora», que remonta ao Príncipe, mas que é igualmente nítida em Naudé e que virá a ser a única verdadeiramente considerada no estudo, já clássico, de Fridriech Meinecke35; e o de uma razão de estado «conservadora», que remonta a Botero e se traduz por «um antimaquiavelismo consequente, o qual, por medo de uma política que deixe o campo livre ao desejo de dominação, designa o espaço da economia como 33 Cfr. João Botero, Da Razão de Estado, Livro III, cit., pp. 77-82, e bem assim os comentários do Livro II, já atrás mencionados, sobre as cerimónias religiosas promovidas em Milão pelo arcebispo Carlos Borromeu. 34 Michel Senellart, Machiavelisme et raison d’État, Paris, PUF, 1989. Do mesmo autor, cfr. igualmente «Du monde visible au monde prévisible», in Les arts de gouverner. Du regimen medieval au concept de gouvernement, III Parte, cap. 1, Paris, Seuil, 1995, pp. 211-242. 35 Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsrason in der neueren Geschichte (1924), traduit de l’allemand par Maurice Chevalier, L’idée de la raison d’Etat dans l’histoire des temps modernes, Genève, Librairie Droz, 1973. única solução de reserva face ao afundamento dos valores medievais»36. Na realidade, há igualmente, tanto numa como noutra dessas configurações da razão de estado, diversas marcas de proximidade, tanto ou mais visíveis do que as diferenças que as separam. Naudé, por exemplo, ao defender um «maquiavelismo legítimo», poderá talvez cair «na lógica tirânica de uma dominação sustentada pela mentira e a violência»37, mas nem por isso a argumentação que desenvolve está menos centrada na racionalização do mal necessário, reiterando a diferença entre o bom príncipe e o tirano e avisando que os golpes de estado «são como uma espada de que se pode usar e abusar»38. Em contrapartida, se atendermos ao outro campo, as questões da guerra não são menos determinantes em Botero que em Maquiavel, e se o primeiro inova realmente ao trazer para a reflexão política temas como a demografia e a economia, permanece contudo muito aquém do que virá a ser a economia numa perspectiva liberal, não abandonando jamais a concepção da economia como «economia política», isto é, como arte de manter e expandir o estado a partir de uma rentabilização máxima de todas as suas forças e recursos39. Tanto ou mais do que as diferenças, inevitáveis e notórias, prevalece, efectivamente, um lastro que é comum às diversas declinações da razão de estado e no qual se inscreve a variedade de discursos em que ela surge teorizada ou simplesmente invocada. É esse lastro comum que justifica a subsistência de uma mesma designação para rotular diferentes e contrárias concepções da política. Mas é também ele, ou melhor, a impossibilidade de o fazer corresponder a uma determinada experiência empírica e de o enclausurar dogmaticamente num conceito e numa definição, que evidencia o seu carácter irremediavelmente antinómico. A RAZÃO E O SEU DUPLO 36 Michel Senellart, 1989, cit., p. 87. 37 M. Senellart, 1989, cit., p. 55. 38 G. Naudé, Consiérations politiques sur les coups d’État, cit., pp. 107 -110. 39 Sobre o estatismo e outras limitações inerentes a esta concepção da economia como «economia política», prevalecente em Botero ou nos seus contemporâneos, tais como Antoine Monchrestien, e visível ainda no verbete da Encyclopédie sobre o tema, redigido por Rousseau, cfr. Pierre Rosanvallon, Le capitalisme utopique (1979), Paris, Seuil, 1999, pp. 130-136. Há, de facto, um conflito da razão de estado consigo mesma, que faz lembrar o registo kantiano das antinomias da razão pura. Sobre ela, podem fazer-se afirmações que não são de modo algum contraditórias em si mesmas, e que, inclusive, se apresentam como necessárias, sem que, todavia, a afirmação contrária deixe por isso de ter «fundamentos igualmente válidos»40. Não é uma simples questão de perspectiva. Não é tão-pouco uma questão dialéctica, no horizonte da qual se imaginasse uma possível síntese. No quadro da razão de estado, ou seja, no quadro de uma racionalidade que pretende «legislar» sobre a política na sua totalidade, a ideia de estado revela-se, em última instância, passível de definições contrárias, não obstante igualmente sustentáveis. Recorde-se, a este respeito, a controvérsia que oporá Carl Schmitt e Hans Kelsen, na primeira metade do século XX. Kelsen concebe o estado como uma cadeia de normas e actos jurídicos que regulam a conduta dos indivíduos: «O Estado como comunidade legal não é nada senão a sua ordem legal, da mesma forma que uma corporação não é distinta da sua ordem constitutiva. Um agregado de indivíduos forma uma comunidade na medida apenas em que uma ordem normativa regula o seu comportamento mútuo (…). Esta comunidade a que chamamos “Estado” é a “sua” ordem legal»41. Sendo por essência ordem legal, o estado inscreve-se no plano do Sollen, do dever-ser, pelo que a sua arquitectura apresenta uma racionalidade intrínseca que é imune à facticidade. Falar do estado é falar de um sistema de normas e actos jurídicos que se fundamentam em cadeia, sem pressupor nenhum exterior de onde lhe viesse uma primeira fundamentação. Uma norma não pode deduzir-se senão de outra norma, e cada lei justifica-se na medida em 40 Cfr. Kritik der reinen Vernunft, A 421, B 449, trad. de Manuela Pinto dos Santos e Alexandre Fradique Morujão, Crítica da Razão Pura, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 3ª edição, 1994, pp. 388-389. 41 Hans Kelsen, General Theory of Law and State (1949), New Brunswick and London, Transaction Publishers, 2006, p. 182. De entre a imensa bibliografia sobre esta matéria, refira-se, pela originalidade da abordagem, Hans Lindhal, «Constituent Power and Reflexive Identity: Towards an Ontology of Collective Selfhood», in Martin Loughlin and Neil Walker (ed.), The Paradox of Constitutionalism. Constituent Power and Constitutional Form, Oxford, New York, Oxford University Press, 2008, pp. 9-24. De assinalar, igualmente, Olivier Beaud et Pasquale Pasquino (dir.), La controverse sur «le gardien de la Constitution» et la justice constitutionelle. Kelsen contre Schmitt, Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2007. Sobre a concepção kelsiana de estado, cfr. Norberto Bobbio, Diritto e potere. Saggio su Kelsen, Napoli, ESI, 1992; Agostino Carrino, L’Ordine Delle Norme. Stato e Diritto in Hans Kelsen, Napoli, ESI, 1992, 3ª ed.; Carlos Miguel Herrera, (dir.), Le droit, le politique. Autour de Max Weber, Hans Kelsen, Carl Schmitt, Paris, L’Harmattan, 1995 Idem, Théorie juridique et politique chez Hans Kelsen, Paris Kimé, 1997. que se puder inscrever na cadeia da legalidade. Quer, portanto, dizer que a ordem jurídica terá de pensar-se como auto-suficiente e autofundamentada. Atribuir-lhe uma fundamentação exógena, fosse ela teológica, histórica ou política, seria colocar o facto na origem da norma e o arbítrio como fonte da razão. Da mesma forma que o contratualismo rejeita o absolutismo de alegada origem divina, ou a autoridade fundada na tradição, Kelsen vai rejeitar a concepção do estado democrático como uma ordem jurídico-política na base da qual estivesse uma vontade colectiva prévia a toda lei, um nós empiricamente existente, como nação ou povo, que seria o autor originário da ordem legal – o poder constituinte. À luz da razão, a lei, ou o conjunto de leis que a constituição incarna, não podem conceber-se como deduzidas da contingência de um qualquer livre arbítrio. É conhecida, porém, a tese contrária, sustentada por Schmitt. Se considerarmos que a norma se define não apenas pelo seu carácter teorético, mas igualmente pela autoridade que exprime e mediante a qual vincula coercivamente os que lhe estão submetidos, concluiremos que não pode existir autoridade jurídica sem uma vontade prévia que autorize, nem um poder constituído sem um poder constituinte. Daí que, se por um lado Kelsen tem razão ao afirmar que o estado ou abraça a impessoalidade actuante e dinâmica de um sistema de normas, ou se nega como entidade racional, é também impossível, por outro lado, negar razão a Schmitt, quando este observa que um tal sistema é impensável na ausência de uma vontade que o fundamente enquanto potência coerciva, livre portanto dos constrangimentos que só a lei por ela mesma ditada virá a instaurar. Dir-seá que essa vontade, atribuída ao sujeito do poder constituinte, não é uma vontade concreta, prévia a qualquer norma, como pretende Schmitt, porquanto a actuação para fundar ou refundar (revolucionar) uma ordem política pressupõe sempre um sujeito prévio em nome do qual se actua e cuja natureza não pode, por isso, ser empírica mas apenas transcendental42. Há, no entanto, que reconhecer igualmente que o recurso de Kelsen a uma Ürnorm, uma norma basilar que fecharia o sistema e o tornaria autofundamentado, tem tanto de artifícial como, volens nolens, de teológico43. 42 Cfr. Hans Lindhal, cit., pp. 17-18, designadamente quando afirma: «a space remains open only if no claim is made in the name of a whole; but without such a claim, no alternative political and legal order can be founded, by revolutionary means or otherwise». 43 Cfr. Fernando Gil, La conviction, Paris, Flammarion, 2000,em particular o capítulo «La souveraineté», pp. 154-184. Em resumo, se é verdade que a racionalidade do estado remete sempre para uma dobra, um duplo cujo estatuto impede a sua plena inscrição no interior da ordem jurídica, esta, por sua vez, não se deixa pensar sem uma causa, que a delimita, a montante e a jusante, isto é, que a fundamenta a partir do exterior e lhe confere uma determinada configuração ou constituição. O acumular de ambiguidades a que a designação «razão de estado» deu azo na linguagem política e na literatura que abundantemente lhe foi dedicada tem aqui a sua origem, nesta forma que a política assumiu logo ao dealbar da modernidade. Em bom rigor, dir-se-ia que só na versão hobbesiana o estado exibe esta sua condição que torna impossível encerrá-lo no interior de um conceito. Porém, aquilo a que os historiadores chamam razão de estado, embora referindo-se a um modo de fazer política que, muito antes de Hobbes, teria prevalecido nas cortes europeias, não se compreende integralmente senão como esboço dessa mesma intuição que virá depois a ganhar corpo teórico e se fará sistema na obra do filósofo inglês. Reclamarse da razão em matéria de estado implicou, desde início, essa ambição inaudita de deduzir de um mesmo princípio a norma e a excepção. É por isso que, seja qual for a moldura em que ela se apresente, não é difícil detectar no interior o equivalente a uma espécie de ponto de fuga, onde convergem, à semelhança do que acontece na pintura renascentista, as linhas que indiciam uma profundidade que a representação dá a ver mas que é estranha à sua natureza bidimensional. A manifesta conflitualidade que a razão de estado incorpora e exibe é sem solução, a dialéctica que nela se ostenta é sem possibilidade de síntese. Dela se disse e repetiu ad nauseam que sacrifica os indivíduos ao estado, reduzindo-os, através de meios que ultrapassam o moralmente permitido, à condição de meros súbditos obedientes. E, na verdade, face a um estado entendido como fundamento da norma e de toda a decisão, as opiniões e vontades individuais prescrevem. Na sua própria essência, o estado da razão de estado transporta esse estatuto irrecusável de superação dos interesses particulares. Subverter semelhante dado, sobrepondo estes últimos às soberanas determinações do estado, é algo de insustentável à luz da razão. Todavia, a mesma razão, se interrogada sobre os fundamentos dessa entidade que é o estado, não possui outra resposta possível que não seja o assentimento, virtual ou efectivo, daqueles que se encontram sob a sua submissão. Não é apenas o contratualismo que proclama, desde a sua formulação hobbesiana, a impossibilidade de se pensar o estado sem pressupor um acordo prévio das vontades individuais. A própria ideia de razão de estado, ao consagrar o estado como objecto da razão, tem já implícita a necessidade de as decisões e acções praticadas em nome dele se presumirem dotadas de universalidade e poderem, de algum modo, relevar de uma instância comum. Se, no dizer de Botero, a razão de estado é tudo o que contempla a conservação dum estado, esta, por sua vez, «consiste na tranquilidade e paz dos súbditos». E a verdade é que «os povos foram levados a dar o governo da república a outros, não para lhes agradar e os favorecer, mas sim para o bem e a saúde pública»44. Inclusive em Maquiavel, contra quem é recorrentemente citado, na literatura da razão de estado, o tópico da sobreposição do interesse público ao interesse dos que detêm o poder, não deixa de ser flagrante a insistência na necessidade de fundar o estado no povo, à revelia expressa do que à época era voz corrente45. Sem dúvida, a promoção do interesse do estado à categoria de primeiro princípio da ordem jurídico-política não é incontroversa. Por um lado, ele representa a única forma de conceber uma universalidade paralela à da moral e de resistir à metamorfose política que esta conhece na pessoa do papa. Na obra de Richelieu, por exemplo, a sobrevivência do estado é equiparada à sobrevivência de um ser vivo, pelo que o direito que possui um príncipe de recorrer a todos os meios para evitar a perda do seu estado é da mesma natureza do que possui um indivíduo, a quem se quer matar, de recorrer a todos os meios para escapar ileso46. Mas, por outro lado, esse mesmo princípio – o interesse do estado - encontra-se permanentemente acima de qualquer dos seus possíveis enunciados ou constituições, o que significa que a força que ele empresta à ordem jurídico-política não advém tanto dele mesmo como de quem o enuncia e determina, os fundadores da ordem estatal. A razão de estado, por definição, radica no pressuposto de uma vontade comum que se auto-fundamenta e, no entanto, a sua 44 João Botero, cit., p. 15. 45 Cfr. O Príncipe, IX, cit. p.158, onde o autor se insurge veementemente contra o adágio «quem funda sobre povo funda sobre lodo», do qual existia uma versão bastante mais crua: «quem funda sobre o povo funda sobre a merda». O princípio da supremacia do interesse público, na formulação típica da razão de estado, aparece, por exemplo, em Richelieu: «Os interesses públicos devem ser o único fim do príncipe e dos seus conselheiros. Uns e outros estão, pelo menos, obrigados a t~e-los em consideração tão especial, que os prefiram a todos os particulares». Cf. Testamento Político, II Parte, cap. III, trad. port., Lisboa, Círculo de Leitores, 2008, p 265. 46 Cf. Diogo Pires Aurélio, «Introdução» a Richelieu, cit. p. 32. efectivação é sempre um acto que extravasa a pura imanência da razão e indicia uma exterioridade que a transcende e nega. Fernando Gil anota-o de forma lapidar, quando escreve, num contexto mais amplo mas abrangendo explicitamente o que estamos a tratar: «a necessidade do fundamento não dissimula inteiramente a contingência da fundação»47. Daqui decorre, finalmente, aquela que é porventura a mais referida das antinomias da razão de estado, «a contradição maior e constitutiva da nova ordem», segundo as palavra de M. Gauchet48: se, por um lado, a razão de estado confere aos governantes o poder de tudo fazerem, à margem de qualquer escrutínio e no «segredo dos gabinetes» – os arcana imperii -, desde que seja em nome do interesse público, por outro lado, na medida em que este interesse se constitui como princípio que está acima da opinião e do interesse de qualquer privado, ela é por natureza uma razão pública, uma razão objectiva, intrinsecamente avaliável e, portanto, aberta à discussão. A razão de estado, em suma, efectiva-se simultaneamente como segredo e como propaganda, inclusive como propaganda destinada a sustentar as vantagens e a justeza do segredo, como se pode ver pela obra, já atrás referida, que é sem dúvida a mais representativa do género, as Considérations politiques sur les coups d’État, de Gabriel Naudé. Sigilosa e opaca – «razão tenebrosa» – por necessidade, como engrenagem e dispositivo destinado a obter a eficácia na prossecução do interesse comum49, sem se deter em considerações de qualquer outra ordem, a razão de estado incarna ao mesmo tempo a transparência de onde brotarão as Luzes e o seu combate às trevas do preconceito. Enquanto momento histórico, o absolutismo esclarecido foi a sua tradução exemplar. Enquanto simples ideia, ela permanece incrustada no âmago das contradições do estado moderno, fora do qual ainda não se vislumbra horizonte que não seja nebuloso, tanto ou mais do que a razão de estado. 47 «A soberania como alucinação do fundamento», in Fernando Gil, Modos da evidência, Lisboa, INCM, 1998, p. 410. 48 49 Cit., p. 250. «Prosseguir lentamente a execução de um desígnio e divulgá-lo é o mesmo que falar de uma coisa e não a fazer». Richelieu, cit., p. 262.
Baixar