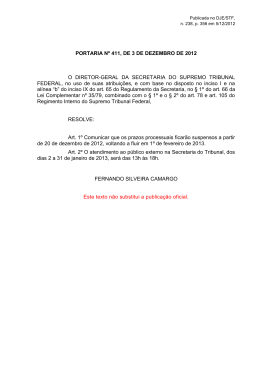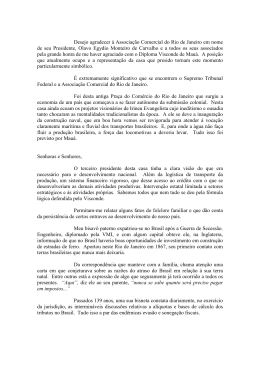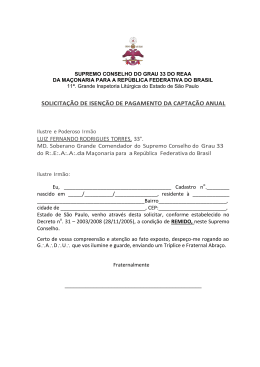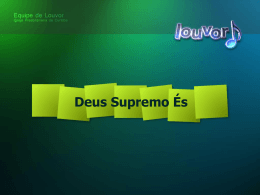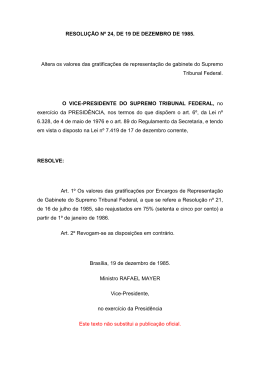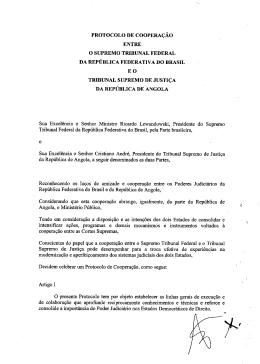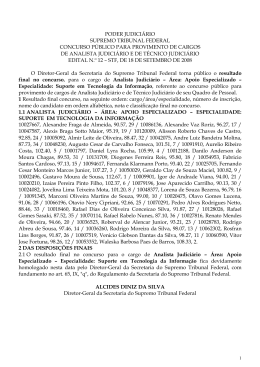INSTITUTO UNIVERSITÁRIO DE PESQUISAS DO RIO DE JANEIRO JOSÉ DE RIBAMAR BARREIROS SOARES ATIVISMO JUDICIAL NO BRASIL: O Supremo Tribunal Federal como arena de deliberação política. Brasília 2008 RESUMO Questão de grande relevância, nos dias atuais, diz respeito ao expansionismo da atuação do Supremo Tribunal Federal, com o adentramento em questões de ordem política, dismistificando a clássica separação de poderes, em que o Judiciário tinha a função de intérprete da lei, respeitando a conveniência e a oportunidade política, como campo insindicável. De fato, observa-se atualmente, no Brasil, uma tendência por parte do Supremo Tribunal Federal a decidir sobre questões políticas, legislando em algumas hipóteses e inaugurando uma nova fase na atuação desse Tribunal, como órgão de deliberação política, função até então recusada por seus integrantes. Três questões efervescentes, que bem ilustram essa tendência, são a verticalização, controle de comissões parlamentares de inquérito e fidelidade partidária, temas estes que analisamos neste estudo. A tendência das questões políticas é a de se converter em questões também jurídicas, sujeitas ao controle do Judiciário. A medida da atividade política é a Constituição, tanto no que respeita ao seu fundamento quanto em relação o seu limite. É nesse momento que a submissão da política ao domínio constitucional levou o Supremo a adotar uma nova abordagem interpretativa e decisória, passando a examinar o mérito político das questões submetidas a seu exame e a tomar decisões de ordem política e legislativa, rompendo com a clássica doutrina da separação dos poderes. ABSTRACT A question of great importance nowadays is the expansion of judicial activity by the Supreme Court, which has analysed political issues, modifying the face of the classical separation of powers, in which the judiciary had the function of interpreter, without entering the convenience and opportunity of the political activity. In fact, we can observe, in Brazil, a tendency by the Supreme Court to decide political questions, legislating sometimes and initiating a new era for the Court activities, which is deliberating about political questions, in the contrary way of the classical deliberation of its members. There are three interesting questions that demonstrate this tendency, which are verticalisation, control of inquiry commitees and party loyalty, that we are considering in tuis study. The tendency of political questions is becoming judicial questions, subject to judiciary control. The political activity must be subordinated to the constitutional rules and principles in its basis and limits. This submission of politics to constitution has led the Supreme to adopt a new way of interpretation and decision, examining the political convenience and opportunity of the subjects brought to judgement by the Court, which is nowadays legislating and deciding politically, adopting a new conception of separation of powers. SUMÁRIO Introdução Desenho do projeto Capítulo 1. O ativismo judicial na teoria política contemporânea Capítulo 2. A questão da verticalização. Capítulo 3. O controle das Comissões Parlamentares de Inquérito pelo STF. Capítulo 4. A questão da fidelidade partidária. Conclusão INTRODUÇÃO A expansão do controle judicial sobre a atividade política é uma questão empolgante e efervescente, que tem provocado discussões no meio acadêmico, na mídia e no Congresso Nacional. Esse fenômeno vem sendo percebido pela mídia, pelos estudiosos da matéria e pela classe política, gerando controvérsias, discussões, desconfianças em relação à sua legitimidade e provocando reações legislativas no Congresso Nacional. Muitas questões políticas permaneceram durante muito tempo como questões de deliberação eminentemente política. Esses temas ficavam fora da apreciação do Judiciário. Todavia, essa tese já se encontra superada, e, atualmente, não mais se concebe que qualquer atividade política seja incontrolável pelo Judiciário, sendo essa a posição do Supremo Tribunal Federal. A respeito desse fenômeno, assim se pronuncia Gisele Cittadino: "A ampliação do controle normativo do Poder Judiciário no âmbito das democracias contemporâneas é tema central de muitas das discussões que hoje se processam na ciência política, na sociologia jurídica e na filosofia do direito. O protagonismo recente dos tribunais constitucionais e cortes supremas não apenas transforma em questões problemáticas os princípios da separação dos poderes e da neutralidade política do Poder Judiciário, como inaugura um tipo inédito de espaço público, desvinculado das clássicas instituições político-representativas." Alguns temas são de grande importância no estudo dessa matéria, como a questão da verticalização, a representatividade das minorias e a fidelidade partidária, tendo em vista tratar-se de questões eminentemente política sobre as quais o Supremo passou a pronunciar-se mais recentemente. Diante do novo perfil assumido pelo Supremo no Brasil, podemos afirmar que houve um rompimento com o tradicional sistema de separação de Poderes. O Supremo tem assumido funções típicas de Poder Legislativo, dimensionando um novo espaço de atuação política no sistema brasileiro. Não por outro motivo, deparamo-nos com declaração do Presidente do STF, no sentido de que o STF é a Casa do Povo e que cabe a ela suprir as deficiências do Legislativo, conforme matéria publicada na Revista Valor, de 09/06/08. Neste ponto, vale a pena lembrar as lições de Platão concernentes ao rei filósofo. Estaria o nosso Supremo Tribunal Federal transformando-se em um governo de intelectuais? As deficiências de formação de membros de outros órgãos que integram os Poderes da Republica estariam sendo supridas pelos doutores que compõem a Suprema Corte? Estas indagações são importantes, na medida em que a intromissão do Supremo em questões políticas faz nascer um novo tipo de representatividade sem voto, interferindo no próprio conceito de democracia. O Ministro Ricardo Lewandowski resume essa tendência do Supremo da seguinte maneira: "Estamos numa nova fase histórica deste STF no qual esta casa assumiu um novo protagonismo". Diferente é a visão do Ministro Marco Aurélio sobre a questão: "Há o risco de redesenhar a norma em exame assumindo o Supremo o papel de legislador positivo". De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, enquanto os parlamentares representam a população pelo voto que recebem, o STF faz a "representação argumentativa" da sociedade, seguindo a tese do alemão Robert Alexy, segundo a qual para quem os tribunais corrigem distorções do Legislativo. Na teoria de Robert Alexy, o Parlamento representa o cidadão politicamente e as Supremas Cortes o fazem argumentativamente. A tese da argumentatividade se baseia na participação de entidades, associações, advogados públicos e privados. Na questão das células tronco, forma realizadas audiências públicas com setores da sociedade civil e com representantes do Ministério Público. E da Advocacia da União. Na questão da fidelidade partidária, caminhamos para novos questionamentos sobre a legitimidade do Judiciário para impor sanções a parlamentares infiéis. O Ministério Público moveu ação direta de inconstitucionalidade questionando a cassação de mandatos em face da infidelidade partidária. O objetivo é deixar a cargo do Congresso Nacional a decisão quanto à perda do mandato desses políticos. Essa era, aliás a orientação clássica adotada pelo Supremo, impedindo que a fidelidade partidária resultasse na perda do mandato, conforme decisão proferida no MS n° 20.927/DF, Rel. Min. Moreira Alves, julg. 11.10.1989. O Supremo Tribunal Federal tem-se preocupado, sobremaneira, com as questões éticas na política, o que o tem levado a mudanças na orientação de seus julgados. Daí a necessidade de um estudo dessa ampliação de poderes da Suprema Corte, com a assunção de competências políticas, o que nos leva a um novo modelo político de representatividade e a uma mudança no conceito de democracia e separação de poderes. DESENHO DO PROJETO OBJETIVO O objetivo deste estudo é responder à pergunta: Por que o STF vem expandindo seu campo de atuação, deliberando sobre questões políticas? Consideramos essa questão essencial na investigação do fenômeno da expansão do Poder Judiciário frente a outros Poderes. Algumas hipóteses preliminares podem ser investigadas como possíveis explicações desse fenômeno. 1. Leitura errônea do fenômeno de expansão judicial. Uma explicação que se deve analisar é se o fenômeno de expansão da justiça poderia estar sendo interpretado de uma maneira errônea, dentro do sistema de divisão de funções de cada Poder. È necessário que se compreenda em que consiste a atividade judicial e a atividade política, seus contornos constitucionais, sociais e políticos, para que possamos formular uma explicação abalizada quanto ao porquê do crescimento da atuação judicial e por que essa atividade vem adentrando o mundo político. Nesse sentido, o pronunciamento do Ministro Celso de Mello: “O Supremo Tribunal Federal não pode permitir que se instaurem círculos de imunidade em torno do poder estatal, sob pena de se fragmentarem os direitos dos cidadãos, de se degradarem as instituições e de se aniquilarem as liberdades públicas..” A política não pode ser exercitada em proveito do governante, para atender a interesses escusos, seguindo a conveniência do detentor do poder. Ao contrário, a coisa pública caracteriza-se por esse atrelamento à vontade popular, servindo o agente público, qualquer que seja sua categoria, como representante dos interesses da coletividade. Neste ponto, torna-se necessário investigar a questão da representatividade, nos tempos atuais, pois é possível que a atividade política esteja desbordando desse limite de representatividade, o que poderia estar levando o Judiciário a restabelecer as funções do Poder Legislativo, adequando-as aos mandamentos constitucionais. 2. Expansão da atividade legislativa. Outra hipótese preliminar que deve ser considerada é a expansão da atividade do Poder Legislativo, gerando, como reação, o crescimento da atividade judicial, para garantir o respeito à democracia e à vontade popular. Este aspecto é destacado por Dieter, que o denomina “processo geral de regulação legal de nossa vida e a expansão do processo legislativo e da legislação”. A expansão do papel legislativo pode estar criando uma nova ambientação para o expansionismo judicial. Werneck Vianna, na obra “A judicialização da política e da relações sociais no Brasil”, examinou essa questão da expansão da legislação trabalhista do Wellfare State no Brasil, checando à conclusão de que a adoção do modelo de controle abstrato de constitucionalidade e a instituição de uma comunidade de intérpretes gerou ambiente propício à judicialização da política. A expansão dessa atividade diz respeito inclusive à elaboração legislativa. A atribuição de competências amplas ao Poder Judiciário, pelo Legislador, tem permitido essa atuação intensificada por parte do juiz. O próprio Parlamento poderia estar contribuindo, por meio da legislação, para o crescimento do ativismo judicial. 3. A extrapolação da atividade legislativa. É necessário também examinar se a atividade política está desbordando de seus limites constitucionais, ameaçando a segurança e a estabilidade das instituições democráticas, o que explicaria uma corrida ao Supremo Tribunal Federal para conter a desordenada e desastrosa expansão da atividade política. Há uma preocupação muito grande com relação ao controle de constitucionalidade das leis e, neste aspecto, o Supremo aparece como o guardião maior da Constituição, dentro de uma concepção clássica de que a última palavra em matéria constitucional pertence a esse Corte, daí sua constante manifestação em questões política, a título de garantia do cumprimento da Carta Magna. Entretanto, essa teoria encontra objeções, como é o caso da visão manifestada por Gilberto Bercovici, em artigo intitulado “Consituição e política: uma relação difícil”, cujo teor transcrevo: “Ao contrário do que afirmam os tribunais, o direito constitucional não é monopólio do judiciário. O direito constitucional e a interpretação constitucional são fruto de uma ação coordenada entre os poderes políticos e o judiciário. Nenhuma instituição, muito menos o judiciário, pode ter a palavra final nas questões constitucionais.” De acordo com esse Autor, podemos afirmar que o Congresso também dispõe de uma parcela de controle da constitucionalidade dos atos legislativos. Tanto isso é verdade, que nas duas Casas do Congresso Nacional existem Comissões de Constituição e Justiça, a quais compete examinar a constitucionalidade dos projetos de lei e admissibilidade de proposta de emenda à Constituição. Assim, podemos dizer que o Congresso Nacional também é guardião da Constituição, havendo no Brasil um tipo de controle de constitucionalidade prévio e político, realizado no âmbito do Poder Legislativo. No exercício de sua atividade, se o legislativo exorbitar de sua atividade e exercer competências que não lhe são atribuídas pela Constituição ou se desrespeitar os procedimentos políticos impostos pela Carta Magna, estaríamos diante de um excesso que estaria servindo de parâmetro para que o Supremo ampliasse seu controle e fiscalização sobre a atividade legislativa. Esta é uma possibilidade que deve ser analisada, a fim de explicar o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal. 4. A mudança na composição do Supremo Tribunal Federal estaria interferindo na expansão da sua atividade. Outro item a ser observado como explicação para o ativismo judicial é a mudança na composição da Corte Suprema. Assim a saída de alguns Ministros mais conservadores e o ingresso de outros mais liberais e com ideologias políticas diversas poderiam ser a causa de mudanças na orientação do Tribunal, com impacto nas decisões e na ampliação do seu campo de atuação. Alguns aspectos devem ser levados em conta nessa análise. Entre os atuais Ministros Supremo, sete foram indicados pelo Presidente Lula, o que acaba por provocar uma mudança no perfil da Corte. O perfil dos Ministros pode ter alterado a forma de manifestação do Supremo nas decisões envolvendo questões políticas. A tendência das questões políticas tem sido a de se converter em questões também jurídicas, sujeitas ao controle do Judiciário. A medida da atividade política é a Constituição, tanto no que respeita ao seu fundamento quanto em relação o seu limite. È o momento em que a política se submete ao domínio constitucional, tornando-se, em conseqüência, controlável pelos órgãos judiciais. 5. Supremacia do discurso técnico. A Suprema Corte estaria adotando uma postura de supremacia técnica, em que o jurídico predominaria sobre o político. Tendo em vista a formação técnica de seus integrantes, essa Corte estaria em melhores condições de definir o rumo político do País, com o que a última palavra em matéria política passaria a ser do Supremo Tribunal Federal. É curioso notar, que recentemente houve pronunciamento do Presidente do Supremo no sentido de que o Congresso Nacional não faz boas leis, que a qualidade da produção legislativa é ruim e questionável e que, portanto, caberia ao Supremo proceder à correção dessa atividade. O Supremo se transformaria em casa revisora da produção legislativa do Congresso Nacional. Essa postura pode estar contribuindo para o ativismo judicial. JUSTIFICATIVA. O impacto da atividade judiciária no controle dos atos dos demais Poderes e sua importância para a democracia ainda não se encontram bem aprofundados no âmbito dos estudos políticos. Os estudos clássicos a esse respeito têm levado em consideração a atividade das Cortes Supremas no que diz respeito à guarda da Constituição e à efetiva aplicação de seus princípios. Todavia, o que se observa atualmente é um fenômeno que vai além da interpretação da lei e do controle dos atos administrativos e legislativos pelo Judiciário. Estamos diante de uma situação que tem causado perplexidade entre cientistas políticos, acadêmicos, jornalistas, políticos, juristas, filósofos, sociólogos e outros setores da sociedade civil. A linha de demarcação do exercício de atribuições pelos membros dos Três Poderes foi alterada, com o ingresso do Poder Judiciário em searas e políticas. A formulação de políticas, a representação popular e a revisão de atos legislativos sempre estiveram fora do poder decisório dos tribunais. Todavia, com as recentes decisões sobre verticalização, fidelidade partidária e condução dos trabalhos de comissões parlamentares de inquérito, o Supremo Tribunal Federal deixou clara a sua intenção de exercer atos políticos, passando a atuar juntamente com o Congresso Nacional no desenrolar do processo legislativo. Sobre esse aspecto, assim escreve Adão Clóvis Martins dos Santos. Em texto intitulado "Democracia para novos dias: reflexão sobre a crise da democracia representativa: "Os parlamentos por sua vez, encontram-se vazios de poderes autônomos, sendo as questões cruciais que envolvem o destino das sociedades decididas cada vez mais por organizações e instituições de caráter econômico (...) Paradoxalmente, esta realidade pode ser constatada através da composição sócio-econômica dos parlamentos em relação ao percentual representado por operários, desempregados ou minorias étnicas. E por último, mas não necessariamente nesta ordem, podemos nos remeter à representação das mulheres nos parlamentos, uma vez que elas constituem maioria da população nos países ocidentais.(...) Desta forma não é difícil chegarmos à conclusão de que os parlamentos não refletem a composição real das classes e grupos concretamente existentes na sociedade. Por certo, estamos frente à um processo de não correspondência entre a composição social de representação parlamentar; o que se traduz, utilizando-se o léxico econômico neoliberal ironizado por Pierre Bourdieu (...) Frente a todas essas contradições, embora insistam muitos políticos e teóricos empenhados na defesa da democracia representativa, formas de participação direta como Referendo e Plebiscito não parecem constituir-se em mecanismos adequados para dirimir as contradições existentes, uma vez que estes não modificam a essência do sistema representativo que radica em um sistema eleitoral e de partidos totalmente incapazes de modificar a situação por eles mesmos gerada." Essa postura do Supremo Tribunal Federal de representante do povo, de foro de deliberação política altera substancialmente o próprio conceito de representação democrática. Ocorre que os Ministros do Supremo não são eleitos pelo povo para tomar decisões políticas em seu nome. Se não são eleitos, é preciso definir de onde flui essa competência, essa legitimidade para atuar em nome do povo, como seu representante em questões de natureza política. Além disto, torna-se necessário definir como será realizada a “accountability” desses atos políticos do Supremo. Quando o povo julgar que o Supremo não está mais agindo de acordo com a suposta representação popular, de que meios disporá o cidadão para afastar esse representante, se ele não dispõe do voto para demonstrar sua insatisfação nas urnas? os Ministros do Supremo gozam de vitaliciedade e, assim, não podem ser afastados de suas funções por vontade dos eleitores. Se esses representantes se afastarem dos interesses de seus representados, não haverá qualquer mecanismo político de controle, a fim de que o cidadão possa exercer o seu direito de afastar o representante infiel ao mandato. Com isto o conceito de democracia fica alterado, pois, na verdade, passamos a ter, neste aspecto, uma tecnocracia, em que os representantes do povo são técnicos, pessoas com alto grau de especialização em direito e ainda com vitaliciedade no cargo, o que lhes garante um poder perpétuo e autônomo. Dadas todas essas peculiaridades, torna-se importante e premente o estudo dessa nova forma de representatividade no Brasil , manifestada por meio do ativismo judicial, em que o Supremo vem assumindo um papel de espaço de deliberação política. METODOLOGIA Esta pesquisa se desenvolverá a partir dos seguintes instrumentos: 1. Análise de casos envolvendo a verticalização, a representação de minorias e a troca de partidos. Estes três casos foram escolhidos a partir da repercussão provocada na mídia, nos meios acadêmicos e entre políticos. Além disto, essas três questões são de caráter nitidamente político e dizem respeito ao campo de atuação do Poder Legislativo, e não do Judiciário, o que demonstra que as decisões quanto a essas matérias ingressaram na seara das decisões políticas. Daí o interesse no estudo desses três casos. 2. Exame de questões semelhantes no direito comparado, a fim de comparar os diferentes sistemas, identificando pontos de contato e de afastamento no tratamento dispensado a esses temas políticos. É importante verificar, por exemplo, se a nossa teoria política está levando em consideração avanços de outros sistemas políticos, a fim de importar soluções e modelos, na esfera do ativismo judicial. Estaria o Supremo adotando modelos já existentes em outros países, a fim de expandir sua atividade, valendo-se de argumentos utilizados por outras Cortes Constitucionais? A expansão do Supremo no Brasil possui explicação em teorias políticas formuladas por autores estrangeiros? Estes aspectos são de grande importância para o nosso estudo. Assim, pode-se identificar se tal fenômeno ocorre somente no Brasil, se é uma peculiaridade do sistema brasileiro ou se, também, essas soluções são verificadas em outros Países e até que ponto o Brasil tem sido influenciado por outros modelos. 3. Análise de literatura concernente ao tema do ativismo judicial. Consiste no estudo e análise de documentos de interesse científico, isto é, livros, enciclopédias, revistas, artigos, periódicos, entre outros. 4. Análise de entrevistas e reportagens envolvendo os atores desse jogo político, como ministros da Suprema Corte e Parlamentares. Serão analisadas entrevistas e reportagens já disponibilizadas ao público, como, por exemplo, aquelas feitas com Ministros do Supremo Tribunal Federal para a Revista Consultor Jurídico, em que essas questões relativas ao ativismo judicial encontram-se bem debatidas. Estes pronunciamentos são de grande importância para a identificação do móvel influenciador das decisões dos integrantes da Suprema Corte, uma vez que manifestados fora dos julgamentos. As argumentações trazidas aos votos limitam-se as teses jurídicas, que tentam justificar as soluções adotadas com base em princípios de direito, direitos e garantias fundamentais, como direitos humanos, cidadania, segurança jurídica, entre outros. Outras entrevistas e reportagens envolvendo membros do Poder Legislativo também serão citadas neste estudo, como instrumentos de exame da questão do ativismo judicial. Por meio de entrevistas dos participantes desse processo de controle judicial dos atos da administração pública, o pesquisador poderá estabelecer uma interação com esses agentes, a fim de compreender melhor os posicionamentos e os sentimentos de cada um na construção dos pilares de sustentação da ordem constitucional e democrática. Ainda analisaremos artigos de jornais que demonstram o impacto dessa atuação do Supremo Tribunal Federal no observador externo às instituições envolvidas. 5. Definição de ativismo judicial. O ativismo judicial consiste em uma expansão das atividades do Poder Judiciário, fazendo com que este passe a decidir questões que antes eram reservadas à competência dos outros Poderes. Assim, podemos nessa questão abordar os seguintes aspectos ligados à definição do ativismo judicial: - Criação de novas políticas públicas e de nova legislação por meio de decisões de juízes na interpretação das leis. - Tomada de posição pelos juízes no sentido de avançar sobre aspectos antes reservados à conveniência e oportunidade política. - Teoria interpretativa da Constituição que leva em conta as necessidades sociais, as demandas dos jurisdicionados, os direitos e garantias fundamentais e os princípios de direito, permitindo ao juiz examinar matérias de competência dos outros Poderes. - A tese da argumentatividade, como justificativa para que a Suprema Corte passe a criar, modificar e revogar a legislação existente, criando normas diferentes e novas acerca de temas que deveriam ser legislador pelo Poder Legislativo. Esses aspectos estão intimamente ligados ao conceito de ativismo judicial, para efeitos deste estudo. CAPÍTULO 1 O ATIVISMO JUDICIAL NA TEORIA POLÍTICA CONTEMPORÂNEA O impacto da atividade judiciária no controle dos atos dos demais Poderes e sua importância para a democracia ainda não se encontram bem aprofundados no âmbito dos estudos políticos. Esta opinião é compartilhada por Marcus Faro de Castro, como se depreende do seguinte texto: “O funcionamento das cortes judiciais e seu papel na democracia têm sido pouco estudados pela Ciência Política brasileira. Não obstante, é fácil perceber que a atuação de juízes, advogados privados e do setor público (procuradores e promotores) é um comportamento essencial do processo político da democracia. A iniciativa de procuradores de moverem ações judiciais (processos criminais, ações civis públicas, ações diretas de inconstitucionalidade etc.), a “mobilização social judicializada “ dos grupos de interesse representados por advogados e as decisões de juízes podem ter resultados cruciais para a definição e reforma de instituições pública privadas, como também par a formulação e implementação de políticas públicas, e distribuição da riqueza e a definição de identidades sociais. Portanto, o processo judicial em si mesmo (Dworkin, 1985) e em sua interação com o conjunto do sistema político, por sua implicações abrangentes, constitui um meio de articulação de conflito e uma forma de exercício da autoridade política, extremamente importante, nas democracias constitucionais. A cogitação do desenvolvimento de condições que restrinjam a institucionalidade democrática, em países como o Brasil, impondo um padrão de “cidadania de baixa intensidade” decorrente da “legalidade truncada”, que expressa a incapacidade do Estado de assegurar a todos os cidadãos os direitos que lhes são genericamente reconhecidos ( O’Donnel, 1993) acrescenta interesse ao tema.” O ponto de partida dos estudos a respeito da judicialização da política tem sido a obra de Vallinder e Tate, intitulada “The Global Expansion of Judicial Power. The Judicialization of Politics. New York. New York University Press, 1995. Conforme explicita Ernani Rodrigues de Carvalho: “A literatura que se ocupa dessa questão tomou por empréstimo a definição dada por Tate e Vallinder: judicialização é a reação do Judiciário frente à provocação de um terceiro e tem por finalidade revisar a decisão de um poder político tomando como base a Constituição. Ao fazer essa revisão, o Judiciário estaria ampliando seu poder com relação aos demais poderes.” Para esses Autores, portanto, esse fenômeno ocorreria a partir da ampliação da atividade do Judiciário na análise e julgamento de temas ligados à atuação de outros Poderes. Ocorre que essa literatura ainda examina questões clássicas, em que a atividade dos demais Poderes, em virtude da necessidade de sua adequação aos comandos constitucionais e legais, aos direitos e garantias fundamentais, deve sujeitar-se ao controle do Poder competente para interpretar os limites da lei. Assim, quanto Vallinder e Tate formulam a tese da judicialização da política, estão tratando do controle dos outros Poderes pelo Judiciário, em face dos princípios que regem o Estado de Direito, o que equivale dizer que tanto a política quanto a administração pública estão sujeitos a uma fiscalização pelo Judiciário, quanto aos limites de sua atuação constitucional e legal. Isto é judicialização da política, ou seja, o momento em que questões políticas se transformam em questões jurídicas, diante dos direitos e garantias fundamentais, cuja integridade compete ao juiz manter intacta. Todavia, a tese de Vallinder e Tate devem ser revisadas, pois já não é suficiente para explicar a moderna atuação do Judiciário, em face das competências de outros Poderes. A judicialização explicitada em Vallinder e Tate é uma decorrência normal do equilíbrio entre os Poderes e do exercício das competências do Judiciário, estabelecidas na Carta Política. A análise de Vallinder e Tate, tomando como referência a queda do comunismo no Leste Europeu e o fim da União Soviética, leva à discussão sobre a questão da democracia, como elemento fundamental para o desenvolvimento do controle judicial sobre os atos dos demais Poderes. Na visão desses Autores, existem alguns elementos propiciadores do surgimento da judicialização da política, os quais passaremos a relatar brevemente. Um desses elementos é a democracia. O autoritarismo seria um fator de repressão à atuação judicial, contendo assim a expansão do Judiciário. Este fator explicaria uma patologia, uma distorção no sistema da separação dos Poderes, que impede o Poder Judiciário de desempenhar suas funções naturais e constitucionais. De fato, o Estado Democrático de Direito traz consigo a preocupação primordial com os direitos individuais e a limitação do poder estatal. Assim, é própria do Estado de Direito a proteção dos cidadãos contra os desmandos e as arbitrariedades do Poder Público. A participação do Poder Judiciário no processo político tem, como fim maior, garantir o exercício da democracia. Sem obediência à lei e aos princípios de direito, não há democracia. A democracia não pode estar subordinada às conveniências políticas dos governantes. Para que a democracia se torne estável e consolidada, necessário se faz o controle da lei, a fim de adequá-la, verdadeiramente, à vontade popular, impedindo-se que a atividade do legislador desborde para o campo da demagogia e da arbitrariedade, em nome do bem-estar social. Se houver o desbordamento desse quadro normativo, competirá ao Poder Judiciário interferir dentro de sua missão constitucional, a fim de garantir o respeito à Constituição e às leis. O Estado político não pode temer a justiça, a menos que suas intenções e linhas de atuação visem a interesses diversos daqueles estabelecidos pelo titular do poder político, a saber, o povo. O acesso ao Judiciário pela oposição e pelos grupos de interesse reflete uma reação a um direito ou interesse resistido, dentro do Estado Democrático de Direito, e este é outro elemento influenciador da judicialização da política presente na avaliação de Vallinder & Tate. A separação dos Poderes. Esta seria mais uma situação propícia ao surgimento da judicialização da política, conforme a abordagem feita pelos autores mencionados. O Judiciário, apesar de controlar a obediência à Constituição por parte do Legislador, não pode pretender elaborar novas leis, quando da interpretação destas. Verifica-se, portanto, a necessidade de um ponto de equilíbrio entre a feitura da lei e seu controle de constitucionalidade. Não se trata de cega obediência a texto literal da Constituição, mas de um sentido ético, moral e legal imposto à lei, conformando-se esta com a vontade popular expressa na Carta Maior. Ao mesmo tempo em que o juiz, não eleito pelo povo, não pode funcionar como se fora seu representante para a criação de lei nova, o legislador eleito, na qualidade de representante do povo, não pode igualmente se afastar daquilo que lhe foi colocado como vetor, como balizamento, por esse mesmo povo, a saber, a Constituição, fruto da vontade popular exarada por meio do Constituinte originário. O ponto de equilíbrio oscila entre a vontade expressa por meio do Constituinte originário e a vontade manifesta por meio do Constituinte derivado, tendo como pêndulo o pronunciamento do juiz. Desse modo, quando o juiz confronta a lei ordinária à Constituição Federal, está garantindo que, a final, o poder emane verdadeiramente do povo. Como diz Platão: “Há, portanto, ainda duas virtudes a examinar na cidade, a temperança e a que é causa de toda esta investigação, a justiça”. A separação entre os Poderes exige, como pressupostos, a temperança e a justiça, sob pena de subverter a ordem imposta pelo titular do poder político: o povo. Os direitos políticos também propiciam a judicialização da política, na assertiva de Vallinder e Tate. A declaração dos direitos do homem e do cidadão já garantia a previsão dos direitos fundamentais na Constituição, sob pena de considerar inexistente Constituição num país que agisse de forma diferente. Assim, parece acertada a conclusão desses autores quanto a influência exercida pelos direitos políticos sobre a extensão dos poderes conferidos ao Judiciário. Segundo Vallinder e Tate, os dois modos mais expressivos da judicialização da política se dariam, quando há uma provocação do jurisdicionado e quando os Poderes políticos passam a assimilar essas decisões no âmbito de sua atuação. A tese desses autores e de outros que os seguiram explicam bem a sistemática tradicionalista adotada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que analisava as questões com diversas limitações, entre elas as questões internas corporis dos partidos e do Poder Legislativo, fazendo uma clara distinção entre as matérias afetas ao Judiciário e as próprias da análise política. Os argumentos de Vllinder e Tate, todavia, já se encontram superados e não são mais suficientes para explicar a correlação de forças entre o Poder Legislativo e o Supremo Tribunal Federal nos dias atuais. Esse dimensionamento da expansão do Poder Judiciário encontra-se ultrapassado, em face dos novos contornos que a Corte Suprema tem imprimido a sua atuação, no julgamento de temas políticos. Há uma nova realidade instaurada, que precisa ser radiografada e compreendida. Desde os artigos federalistas, já se discutia a autoridade dos juízes na decretação da nulidade de atos contrários à Constituição. Em "Juízes Legisladores?" Mauro Cappelletti aborda, com ênfase, a questão da jurisprudência, refletindo acerca da possibilidade de criação de direito a partir da atividade interpretativa. Assim se pronuncia o citado autor sobre essa tendência universal de expansão do Judiciário: “Exatamente deste último fenômeno, de alcance tendencialmente universal, geralmente reconhecido pelo observador dos mais diversos países do mundo e das mais diversas concepções culturais, é de que me ocuparei neste estudo. Advirto logo que se trata, induvidosamente, de fenômeno de excepcional importância, não limitado ao campo do direito judiciário, pois de modo mais geral reflete a expansão do estado em todos os seus ramos, seja legislativo, executivo ou judiciário. Na verdade, a expansão do papel do judiciário representa o necessário contrapeso, segundo entendo, num sistema democrático de “checks and balances”, à paralela expansão dos “ramos políticos” do estado moderno. “ Verifica-se, inicialmente, uma indicação importante feita por Cappelletti, no sentido de reconhecer a expansão dos Poderes Executivo e Legislativo, o que leva a uma necessária expansão do Poder Judiciário, para conter os abusos decorrentes da atividade estatal, aspecto este que tem sido fundamental para compreender o processo de judicialização da política. A tese de Cappelletti também não inova em relação ao ativismo judicial verificado em nossos dias. De fato, a expansão dos outros Poderes levará necessariamente a uma expansão do Judiciário, pois, com a ampliação das atividades do Legislativo e do Executivo, direitos e interesses contrapostos serão objeto de exame pelo Judiciário, em face de reclamações, de inconformismos e discordâncias das pessoas cujos interesses foram afetados pelos atos desses entes estatais. Até aqui, estamos tratando de uma judicialização da política explicável pelos fenômenos de expansão da atividade dos Poderes Legislativo e Executivo, criando-se, como bem observou Cappelletti, uma sistema de freios e contrapesos entre os Poderes da República, a fim de que um Poder não se sobressais entre os demais, a ponto de se tornar uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Nada mais natural na atividade de fiscalização e controle do Judiciário. Todavia, a tese de Cappelletti não consegue explicar o fenômeno de ativismo que se instalou na modernidade. Quando o Supremo Tribunal Federal passa a deliberar sobre questões políticas, substituindo o legislador de forma positiva, dando azo à geração de normas inéditas em nosso sistema político, não há mais que se falar em freios e contrapesos ou em equilíbrio entre poderes. Estamos vivendo, sim, um novo modelo de distribuição de competências, de atribuições, de tarefas, em que o Poder que interpreta a Constituição e as leis também passa a legislar, não só diante da omissão legislativa, mas até mesmo diante de legislação em vigor, numa espécie de revogação da lei aprovada pelo Parlamento. Esse ativismo judicial não pode ser explicado a partir da obra de Cappelletti. Outro autor que merece destaque nesta seara é o francês Antoine Garapon, cuja obra intitulada "O Juiz e a Democracia" analisa o sistema francês. Garapon examina a influência crescente da justiça sobre a sociedade e a crise de legitimidade que assola as democracias ocidentais, como parte de um processo de mudança social. Em sua abordagem, considera Garapon que a expansão do Poder Judiciário decorre do enfraquecimento do Estado pelo mercado e pelo desmoronamento simbólico do homem e da sociedade democrática . O aumento de poder da justiça resulta de uma transferência do simbolismo da democracia da política para a justiça, como fruto de uma profunda mudança social. A transformação da justiça em símbolo da moralidade pública e da dignidade democrática é algo positivo, na visão do Autor, que rechaça apenas a substituição do mundo político pelo jurídico (O Juiz e a Democracia, 1999, pág. 46) A questão da moralidade pública é sem dúvida matéria afeta à atuação e competência do Poder Judiciário, até mesmo em face da dicotomia trazida pelo texto constitucional de 88 entre legalidade e moralidade. A questão ética passou a ter foros de legalidade, deixando ao Judiciário uma nova porta de atuação em relação ao controle da atividade política. Mesmo assim, a análise da moralidade pública pelo Judiciário não é suficiente para explicar o ativismo judicial em seu estágio atual. O controle da moralidade não poderia levar à substituição do critério de conveniência e oportunidade política ou administrativa por parte do juiz. Esse é o limite reconhecido pelo próprio Garapon, para quem não pode haver a substituição do mundo político pelo jurídico. A questão da moralidade aparece com maior destaque no que tange aos atos discricionários, uma vez que nestes o agente estatal possui maior liberdade de atuação. Pode ocorrer que, na escolha entre várias alternativas, aquela realizada pelo agente público seja legal, atenda ao interesse público, mas, ainda assim, seja imoral ou ineficiente, revelando-se incompatível com os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência. A escolha feita pelo administrador, embora formalmente legal, pode contrariar valores éticos cultivados em determinada comunidade ou, até mesmo, violar direitos fundamentais. Na verdade, a moralidade quando diz respeito ao cumprimento de direitos fundamentais passa a ser sindicáveis pelo Poder Judiciário, sem qualquer violação do princípio da separação e independência dos Poderes. A expansão do Poder Judiciário, neste caso, é legítima e tem por fundamento a própria Constituição. É a própria democracia que se encontra em jogo, não sendo viável a circunscrição do tem à esfera de deliberação política. Pode-se dizer que uma parte do mérito - aquela em que a conveniência e oportunidade se subjugam a princípios constitucionais fundamentais, como moralidade e eficiência - abandona o campo da discricionariedade e migra para o domínio da vinculação. Desse modo, não é ilegítimo dizer que compete ao Poder Judiciário julgar o mérito quando este esteja vinculado a princípios constitucionais fundamentais. Trata-se de uma nova etapa na relação entre Estado e cidadãos. Desaparece a soberania do governante e, em seu lugar, se estabelece a soberania popular, com efetivo respeito ao princípio constitucional da moralidade. Não se trata de ingerência indevida, mas de garantia de cumprimento dos preceitos constitucionais e da consolidação da própria democracia, pois sem moralidade e eficiência não há como se construir uma sólida realidade democrática. Se o agente público, na prática do ato discricionário, não se determina totalmente pela idéia de atender ao melhor interesse público, sem dúvida nenhuma não serviu ao fim maior da lei, para o qual o legislador lhe cometeu o poder discricionário. A lei, ao proteger o interesse público, vincula o agente, mesmo naquilo que diz respeito à liberdade de atuação quanto à conveniência e à oportunidade. A conveniência e a oportunidade não podem desbordar para o campo da arbitrariedade, mas devem conformar-se aos moldes traçados pelo sistema político e tais contornos não podem ser excluídos da apreciação do Poder Judiciário, ao qual compete se pronunciar sobre a adequação de tais anos ao sistema legal, ainda no que concerne à obediência ao princípio da moralidade administrativa. Não se trata obviamente de uma negação do poder de mando e de iniciativa conformadora do Poder Público, mas de adequar suas decisões aos valores jurídicos substanciais, de conformar sua liberdade com o ordenamento jurídico plasmador de tais valores. O Estado Democrático de Direito pressupõe a garantia do cidadão diante do poder estatal, em face das normas jurídicas. A soberania popular ganha realce e não se pode conceber qualquer ato emanado da autoridade pública que seja desconforme a essa vontade popular, violando o princípio da moralidade administrativa. Obviamente, não se trata de substituir o critério de conveniência e oportunidade política pelo do juiz, ma sim de examinar se a conveniência e a oportunidade revelam motivos escusos, imorais e iníquos, com o propósito de satisfação de vaidades particulares do administrador, que se encontram acobertados pelo manto da conveniência e oportunidade, como solo sagrado, no qual o juiz não poderia ingressar. A conclusão, desse modo, é a de que o princípio da moralidade permite ao juiz analisar a conveniência e a oportunidade da atividade política, mas não exercer o papel de legislador positivo. Desse modo a tese de Garapon não é suficiente para explicar o fenômeno de ativismo judicial moderno, em que o Supremo transformou-se em casa legislativa e de representação do povo. A questão do ativismo judicial é objeto de preocupação e análise em estudos feitos por John Ferejohn, que descreve esse fenômeno nos seguintes termos: “Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, observa-se um profundo deslocamento do poder do Legislativo para tribunais e outras instituições jurídicas. Tal deslocamento – que recebeu o nome de judicialização – tem ocorrido em escala mais ou menos global. O espetáculo dos juízes italianos pondo abaixo o sistema de troca-troca de gabinetes estabelecido na Itália no pós- guerra, magistrados franceses caçando primeiros-ministros e presidentes, e até mesmo juízes tomando a iniciativa para prender e julgar ex-ditadores e líderes militares, são os aspectos mais visíveis dessa tendência. Mesmo a intervenção da Suprema Corte americana na disputa eleitoral em Bush v. Gore é outra manifestação bastante conhecida desta tendência. A teoria democrática clássica associa, por um lado, a política com as atividades desempenhadas pelo Legislativo e, por outro, o Direito com as operações do Judiciário. É natural que a política tenha seu lugar no Legislativo, onde sua ocorrência é não só inevitável mas também legítima. Com efeito, a contestação política é condição necessária para a realização plena dos valores democráticos. O Legislativo produz leis que obrigam a todos e, portanto, cada um de nós participa da decisão de quem deve ocupar assento no Legislativo. Temos o direito de monitorar debates legislativos, de informar e influir nas decisões e de exigir que legisladores se responsabilizem perante nós pelos seus atos nas próximas eleições. Essas expectativas políticas legitimam o nosso direito a organizar partidos e facções para eleger, monitorar, criticar, opor e influenciar os legisladores. Nesse sentido, é de se esperar que a política no processo legislativo seja contenciosa, parcial e ideológica.” Os estudos de Ferejohn são importantes para este debate, inclusive na parte em que o autor questiona a forma como são procedidos os debates, as pressões e as articulações partidárias, visando à elaboração legislativa, o que não ocorre no Judiciário. Também outro aspecto observado por Ferejohn diz respeito à impossibilidade de controle do eleitor sobre o Judiciário, inclusive para afastar de sua atuação aquele juiz que não atende aos reclamos da comunidade, que não representa bem os interesses dos seus representados, o que acaba por provocar um forte deficit de democracia, não compensável nas urna, uma vez que os juízes não são eleitos pelo povo e gozam de vitaliciedade, não podendo ser substituídos pela vontade do povo, por meio do voto, como exercício da cidadania. A abordagens feitas por Ferejohn guardam maior pertinência com o modelo atual de ativismo judicial do que as teses clássicas já comentadas; por isso, serão aqui utilizadas, embora se refiram à judicialização da política, e não ao ativismo judicial, objeto central deste estudo. Entende esse autor que as cortes estão significativamente aptas e desejosas de limitar e regular o exercício da autoridade parlamentar, pela imposição de limites substantivos ao poder das instituições legislativas. Além disso, as cortes têm-se tornado arenas de elaboração de políticas substantivas. Ainda, segundo Ferejohn, os juízes têm estado desejosos de regular a conduta da atividade política, quer no âmbito da legislatura, das agências, quer em relação ao eleitorado, pela construção e reforço de modelos de comportamento aceitável para grupos de interesse, partidos políticos e agentes públicos eleitos e indicados. Essa tendência não se verifica apenas no sistema político brasileiro, mas em outros países, o que demonstra uma vocação universal de crescimento e ampliação de competências do Poder Judiciário ante os poderes políticos. Essa questão da vontade dos Ministros do Supremo de avançar na atividade de controle e fiscalização de outros poderes será objeto de análise, neste estudo, quando tratarmos investigação da mudança na composição da Corte Suprema como possível causa do ativismo judicial no Brasil. As considerações feitas por Ferejohn estão bem sincronizadas com os fatos atualmente constatados, quanto à ampliação da atividade judicial, o que se chama de ativismo judicial, que não é mais uma simples decorrência da judicialização de questões políticas, para ajustar essas condutas ao modelo constitucional em aperfeiçoamento e evolução. O ativismo judicial difere da judicialização da política, na medida em que essa nova atividade do Poder Judiciário passou a abocanhar parcelas de competências do Poder Legislativo. O judiciário, na divisão de tarefas estatais, lançou-se na seara legislativa e vem legislando, revogando legislação, modificando leis em vigor e atualizando o texto constitucional, como espécie de constituinte derivado. Não se trata de mera transformação de questões políticas em jurídicas e sim o exercício de atividade legislativa por parte do Poder Judiciário, daí essa nova denominação de ativismo judicial, em substituição à clássica expressão “judicialização da política”. Ferejon aponta duas hipóteses para essa expansão por parte do Judiciário. Uma é chamada de hipótese de fragmentação. Isto significa que a fragmentação ocorrida entre os ramos políticos diminui sua capacidade de legislar ou de tornar-se o centro das decisões políticas. A segunda é a hipótese dos direitos, que faz com que as cortes sejam vistas com maior confiabilidade na proteção de um amplo rol de valores importantes contra abusos políticos. A primeira hipótese não é nova, ao menos no sistema brasileiro. A fragmentação de poder político dentro do Congresso já existe há algum tempo e não foi suficiente a ensejar uma mudança radical na atuação do Supremo durante todos esses anos. A omissão do Parlamento permitia, na teoria clássica, a garantia de aplicação da lei, segundo os princípios de integração da norma jurídica, sem que, entretanto, o Supremo legislasse ou decidisse questões políticas internas do Congresso. Assim, há algo mais, que o próprio Ferejohn detectou, ao afirmar que há um significativo desejo por parte do Judiciário de tomar decisões políticas e exercer atividades legislativas. A segunda hipótese de Ferejohn, também muito utilizada como argumento pelos tribunais, que diz respeito à confiabilidade dos tribunais para decidirem sobre questões de relevante valor social, também não é uma hipótese nova. Essa questão já se discutia, por exemplo, por ocasião da criação do instituto do mandado de injunção, como possível instrumento para suprir a omissão do legislador. Antes, ainda, com o instrumento da ação de inconstitucionalidade por omissão, esse assunto já estava em debate. O que se observa, entretanto, é que o Supremo era muito cauteloso com relação aos limites da decisão judicial, a fim de resguardara independência dos poderes. Assim, no Brasil, essa só hipótese não é suficiente a explicar o expansionismo judicial, diante do que a teoria de Ferejohn é em parte comprovável, porém não explica por si só o fenômeno brasileiro de ativismo judicial. Outro autor de destaque no exame dessa questão é Dieter Grimm, que também observa esse avanço do Judiciário na arena política, não mais sobre o prisma da judicialização da política, mas na ótica do ativismo judicial. Assim se manifesta o autor sobre essa questão: “O título “imperialismo judicial” escolhido por Robert Badinter, para a primeira parte do seminário, sugere que a crescente importância dos tribunais no último século tem sua principal razão no ativismo judicial. Os juízes conquistam cada vez mais terreno que era formalmente reservado à decisão política ou auto-regulação social.” Os trabalhos de Dieter Grimm são apropriados para o estudo sobre esses temas, já que tratam especificamente do ativismo judicial, em substituição à clássica judicialização da política, daí a sua utilização como marco teórico. As hipóteses apresentadas por Grimm são as seguintes: a primeira diz respeito ao processo geral de regulação de nossa vida e à expansão da produção legislativa e da legislação. Este ponto não parece ter marcante influência no sistema político brasileiro, uma vez que, nos últimos anos, a produção legislativa de iniciativa de parlamentares tem sido pequena, cedendo lugar a uma ampla produção legislativa por parte do Executivo. O segundo ponto é a vontade dos políticos de se submeterem ao escrutínio judicial. Eles estão preparados para permitir que os juízes revisem os atos políticos. O desinteresse parlamentar em determinadas questões tem feito com que as demandas aumentem no Judiciário, levando a uma regulamentação dessas questões pela via judicial, e não legislativa. Este aspecto é de significante interesse para este estudo, diante do que, na análise dos estudos de caso, essa hipótese será analisada como elemento influenciador do ativismo judicial brasileiro. O terceiro argumento de Grimm é a internacionalização do judiciário. A princípio, não vemos uma relação direta entre a internacionalização do Judiciário e a expansão da atividade do Supremo Tribunal Federal no Brasil. O quarto e mais importante item levantado por Grimm é concernente às falhas dos partidos políticos numa democracia pluralista, o que faz com que os políticos percam o interesse em questões de longo prazo. Os parlamentares estão mais preocupados com a reeleição do que com a promoção de novos valores. Este aspecto é também importante e está relacionado com o segundo item levantado por Grimm, concernente à vontade do legislador de se submeter ao crivo do juiz, deixando algumas questões polêmicas para exame judicial. Esta questão é interessante como omissão do legislador. Neste estudo, abordaremos esses dois itens pela ótica da omissão do legislador, independentemente de inquirição de qual é a sua vontade. Por outro lado, a preocupação do político com a reeleição sempre foi uma realidade constatada em nosso sistema. Não parece ser essa a causa do ativismo, pois, na mais recente história do parlamento brasileiro, tem havido uma tendência de maior permanência do parlamentar na Casa legislativa à qual pertence do que se constatava no passado, em que os parlamentares se ausentavam por tempo maior para fazer contatos com as bases. Desse modo, afastamos essa hipótese neste estudo como causa do ativismo judicial. Até porque a constatação da vontade do legislador em se submeter ao julgamento do juiz é de difícil configuração e demonstração, ficando no campo da especulação filosófica. O legislador não vai declarar explicitamente que está se omitindo, porque deseja ver a matéria regulamentada pelo Judiciário ou porque deseja se pautar pelas argumentações elaboradas no âmbito das cortes. Assim, independente do móvel, ou seja, da intenção do legislador, importa examinar os casos de omissão que têm provocado uma atividade mais intensa por parte do juiz, provocando o ativismo judicial. Mais recentemente, em 2008, contamos com a Tese publicada por Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, cujo tema é; “Poder Judiciário e Competição Política no Brasil; uma análise das Decisões do TSE e do STF sobre as Regras Eleitorais. Assim, a tese da judicialização da política, classicamente abordada pelos autores anteriormente citados, cede lugar a uma nova discussão acerca do ativismo judicial, terminologia esta que será adotada neste estudo, em substituição ao termo judicialização da política. Nesse novo fenômeno, busca-se explicar o expansionismo do Poder Judiciário, que tem levado as Cortes a adentrarem no exame e controle de matérias cuja natureza é política e cuja arena própria de deliberação é política. Assim, verticalização, fidelidade partidária e procedimentos em comissões parlamentares de inquérito são temas de natureza política, que deveriam se circunscrever ao campo de decisões políticas. Todavia, não é isto que vem ocorrendo. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal passou a emitir decisões políticas, avançando sobre matérias eminentemente políticas, tornando-se um espaço de deliberação política, em questões próprias do Pode Legislativo. Daí a necessidade de se estudar esses fatos a partir de uma nova ótica, não mais como uma simples decorrência da interpretação da lei pelo Judiciário ou do controle dos atos do Poder Público, em face da garantira de respeito aos mandamentos constitucionais. Mais recentemente, em 2008, essa questão foi estudada por Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, em sua tese de doutorado intitulada “Poder Judiciário e Competição Política no Brasil: uma Análise das Decisões do TSE e do STF sobre as Regras Eleitorais. O Autor analisa diversas questões, entre elas a verticalização e a fidelidade partidária, e defende que, “não fosse o modelo de governança eleitoral adotado pelo país, o TSE não avançaria sobre o texto constitucional através e um instrumento tão precário juridicamente quanto a consulta e a sintonia das interpretações com o STF não estaria tão ajustada” (pág. 196) Para averiguar o que ele chama de judicialização da competição político-partidária no Brasil, duas hipóteses são formuladas. A primeira “de que o avanço do Judiciário refletia certa inoperância do Legislativo devida à sua dificuldade em definir e aprovar uma agenda própria, convivendo com uma legislação frágil, dúbia e instável para regular a competição políticopartidária” (pág. 197). A outra, “de que o Judiciário avançava independentemente dessas possíveis deficiências das normas. Tanto o TSE como o STF apresentariam certo voluntarismo para identificar e corrigir, através de interpretações inovadoras, possíveis vícios da competição político-partidária” (pág. 197). Conclui o Autor que: “nos casos analisados anteriormente – verticalização, número de vereadores, cláusula de barreira e fundo partidário – tentamos mostrar que a segunda hipótese apresentava muito mais força explicativa para a judicialização da competição política do que a primeira (,,,) Dessa maneira, avaliamos que a questão da fidelidade partidária representa a confluência dessas duas hipóteses levantadas para analisarmos a judicialização da competição político – partidária. De um lado, o Legislativo que, ao não enfrentar um tema caro para seu funcionamento, delega a responsabilidade ao Judiciário. De outro, o STF e o TSE que, ao adotarem uma estratégia mais arrojada em suas interpretações, sinalizam sua disposição em abrigar demandas próprias da competição políticopartidária”. (págs. 197/198). O Autor deixa, entretanto, de analisar a possibilidade de falsa leitura desse fenômeno de expansão em algumas hipóteses, em que a decisão judicial, a despeito da imaginada invasão de arena política, estaria, na verdade, atuando na defesa de direitos e garantias fundamentais, no limite estrito de sua função jurisdicional e interpretativa. Além disto, não há qualquer comentário a respeito da supremacia do discurso técnico, que coloca a Corte como um órgão de deliberação técnicojurídica, o que pode estar influenciando esse processo de julgamento de questões políticas, que porventura venham a exigir uma abordagem de caráter corretivo da atividade política, em face de possíveis desbordamentos da moldura constitucional imposta pelo constituinte originário. Estamos vivenciando um redesenho das funções dos Três Poderes no Brasil, um redimensionamento da separação de Poderes, uma forma de representação sem voto e sem mandato, por parte do Supremo Tribunal Federal e uma nova conceituação de democracia. Deixamos, assim, a superada doutrina da judicialização da política, para analisarmos uma nova teoria: a do ativismo judicial, em que as Cortes se expandem, adquirem mais poderes e passam a exercer novas funções estatais, inclusive de natureza política. CAPÍTULO 2 A QUESTÃO DA VERTICALIZAÇÃO O Tribunal Superior Eleitoral, em cumprimento ao disposto no art. 105 da Lei n.º 9.504/97 (até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral expedirá todas as instruções necessárias à execução desta Lei), ao aprovar as instruções para as eleições de 2006, em 03.03.2006, manteve a regra de verticalização das coligações adotada no pleito de 2002. Em 08.03.2006 as mesas diretoras do Senado e da Câmara dos Deputados promulgaram a Emenda Constitucional n.º 52, publicada no D.O.U. de 09.03.2006, assegurando aos partidos políticos autonomia para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. Com a promulgação e publicação da Emenda Constitucional n.º 52 nova polêmica foi instalada: essa nova regra, que estabelece o fim da verticalização compulsória das coligações, já poderia ser aplicada para as eleições de 2006 ou se submeteria ao princípio da anualidade das leis eleitorais, previsto no art. 16 da Constituição Federal? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 (um) ano da data de sua vigência. Em seguida à promulgação da EC n.º 52 a OAB interpôs no STF a ADI nº 3685, que foi julgada no dia 22.03.05, no sentido de que a EC nº 52, deve respeitar o princípio da anterioridade eleitoral previsto no artigo 16 da Constituição Federal. A relatora Min. Ellen Gracie reconheceu que a EC violou a CF e julgou procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade da expressão “aplicando-se às eleições que ocorrerão no ano de 2002” , contida no artigo 2º da emenda atacada. A ministra também deu interpretação conforme à Constituição, à parte remanescente da emenda, no sentido de que as novas regras sejam aplicadas somente após um ano da data de sua vigência (2010) . Decisão por maioria de votos (9 x 2). Ministros Marco Aurélio e Sepúlveda Pertence divergiram dos demais.” A Advocacia-Geral da União contestou a alegação de inconstitucionalidade, sob o argumento de que a anualidade não se aplica a essa matéria, que diz respeito a coligações partidárias, que afeta o direito partidário, e não o processo eleitoral. Alegou ainda que se o próprio Tribunal Superior Eleitoral, em 2002, estabeleceu exegese sobre as alianças partidárias, sem ferir o princípio da segurança jurídica, com muito mais razão a Emenda Constitucional não poderia violar tal princípio, ao se aplicar às eleições de 2006. A Emenda Constitucional, promulgada em 8 de março de 2006, assegurou aos partidos políticos autonomia "para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal". Decidida a matéria por meio da emenda constitucional, restava a questão da aplicação imediata da nova regra eleitoral. Em seu voto a respeito dessa questão, assim se pronunciou a Ministra Ellen Gracie: “Em primeiro lugar, afasto, por evidente, qualquer leitura que cogite ter o referido comando a pretensão de alcançar, retroativamente, as eleições gerais realizadas no ano de 2002, para as quais imperou conforme o retrospecto acima desenhado, a regra da obrigatoriedade da verticalização das coligações partidárias. É fácil de perceber que, se, por absurdo, tivesse sido esse o propósito da norma, nela estaria a forma verbal pretérita "eleições que ocorreram em 2002", e não o termo "ocorrerão", no futuro do presente. Também não me convence o argumento de que tal referência às eleições já consumadas em 2002 serviria para contornar a imposição presente no art. 16 da Constituição Federal, entendendo-se, assim, que se a nova disposição sobre as coligações já tivesse valido, ainda que de forma fictícia, para o pleito passado, não caberia mais avaliar a ocorrência do decurso de um ano entre a data da vigência da recente alteração normativa e as próximas eleições. Entendo que a atecnia havida, representada pelo acréscimo, ao texto constitucional, de norma que prevê sua futura aplicação a evento já pertencente ao passado, há quase 4 anos, teve como principal razão a complexidade, as peculiaridades e as dificuldades ínsitas ao processo legislativo brasileiro, fator somado, ainda, a circunstâncias políticas atuais que reativaram a pretensão de uma célere promulgação de Projeto de Emenda Constitucional que possuía, em sua tramitação final, a mesma redação de substitutivo integrante de relatório aprovado em 03.04.02, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal (Parecer 244, de 2002, relator Sem. José Fogaça, DSF 12.02.02)." Esse relato introdutório mostra claramente um embate de forças na definição de normas a serem adotadas no campo das eleições. De um lado o Judiciário modificando as regras do jogo até então consideradas válidas e legítimas em face da legislação em vigor. Ao tempo dessa decisão do TSE, já estava em vigor a Lei n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997,cujo art. 6º determinava o seguinte: “Art. 6º É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária, proporcional, ou para ambas, podendo, neste último caso, formar-se mais de uma coligação para a eleição proporcional dentre os partidos que integram a coligação para o pleito majoritário. § lº A coligação terá denominação própria, que poderá ser a junção de todas as siglas dos partidos que a integram, sendo a ela atribuídas as prerrogativas e obrigações de partido político no que se refere ao processo eleitoral, e devendo funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato dos interesses interpartidários. § 2º Na propaganda para eleição majoritária, a coligação usará, obrigatoriamente, sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram; na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob o nome da coligação. § 3º Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguintes normas: I - na chapa da coligação, podem inscrever-se candidatos filiados a qualquer partido político dela integrante; II - o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos presidentes dos partidos coligados, por seus delegados, pela maioria dos membros dos respectivos órgãos executivos de direção ou por representante da coligação, na forma do inciso III; III - os partidos integrantes da coligação devem designar um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político, no trato dos interesses e na representação da coligação, no que se refere ao processo eleitoral; IV - a coligação será representada perante a Justiça Eleitoral pela pessoa designada na forma do inciso III ou por delegados indicados pelos partidos que a compõem, podendo nomear até: a) três delegados perante o Juízo Eleitoral; b) b) quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral; c) c) cinco delegados perante o Tribunal Superior Eleitoral.” A questão encontrava-se, portanto, minuciosamente regulada por lei e os partidos tinham a liberdade política de se coligarem de acordo com as conveniências políticas ditadas pelo momento e pelas circunstâncias. Dentro de um sistema pluripartidarista, nada mais natural e democrático do que permitir aos partidos se unirem na disputa do pleito, buscando objetivos comuns em prol do eleitorado. Na questão da verticalização, temos por evidente a importância da manifestação da vontade do titular da decisão política em jogo, a saber, os eleitores. A coligação entre partidos obedece a interesses políticos locais, regionais, que, em última instância, atinam com as conveniências políticas dos representados naquele Estado ou Município. As diferenças culturais, sociais, administrativas e políticas condicionam decisões tomadas pelos partidos, candidatos e eleitores no âmbito da política local. Cabe, assim, ao eleitor decidir se a coligação é de interesse público ou se fere a vontade do eleitor, o que deve ser decidido nas urnas. Outra possibilidade seria os próprios representantes do povo, em nome por conta deste, modificarem o ordenamento jurídico, a fim de contemplar a impossibilidade das coligações, em face de deliberações tomadas pelos partidos quanto ao lançamento de candidato à Presidência da República. Essa solução é legítima, uma vez que envolve o poder de legislar conferido pelo povo aos seus representantes no Congresso. Estabelecer essa questão em processo judicial representa o abocanhamento de uma fatia de poder do Legislativo pelo Judiciário. Significa que o Judiciário está exercendo uma função de legislador. Todavia, o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão sobre a verticalização, ao se recusar a analisar o mérito, decidindo pela ausência de possibilidade de controle da decisão do TSE, em ação direta de inconstitucionalidade. Contrariou-se a vontade dos partidos, impedindo coligações entre eles, no âmbito estadual e municipal, quando cada partido, isoladamente, dispusesse de candidato à Presidência da República. O pronunciamento de alguns Ministros do STF, por ocasião desse julgamento deixa em evidência a concordância com a solução adotada pelo TSE, até mesmo porque, na composição da Corte eleitoral, a participação de integrantes do STF e decisiva, incluindo sua Presidência. Isto equivale a impedir que partidos de oposição ao Presidente eleito venham a prestar apoio, posteriormente às eleições, já que a violação dos princípios constitucionais não poderia ser validade depois de transcorridas as eleições. Se um partido que dispunha de candidato próprio à Presidência pode, posteriormente às eleições, apoiar a política adotada pelo Presidente eleito, por que razão não poderia formar coligações locais que, ao final, redundarão nesse apoio final, independentemente de quem seja eleito? Já haveria uma predisposição de apoio, de composição política em benefício do povo, o que redundaria em proveito político para os eleitores, que seriam contemplados, ao final do processo, como maiores beneficiários desse acordo político efetivado antes das eleições. Diante dessa atuação do Judiciário, o Congresso promulgou emenda constitucional, permitindo tais coligações e derrubando a verticalização imposta, não pela vontade do provo, mas por um Poder que, não sendo eleito, não dispõe de um mandato para dizer qual é a vontade dos eleitores nessa matéria. A derrubada da verticalização pelos representantes eleitos mostra que a vontade política imperante não era no sentido de se estabelecer a verticalização, e sim de se permitir a coligação dos partidos, como permitia a lei eleitoral. Aqui surge um debate sobre a representatividade, objeto inclusive de discussão no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.685-8, conforme extraímos do seguinte trecho do Acórdão: "Diante de tudo o que foi salientado até o momento sobre a inegável posição de destaque - sem precedentes na história constitucional brasileira - dado pelo Constituinte de 1998 o princípio da anterioridade eleitoral, como instrumento indispensável a uma mínima defesa da insuspeita e verdadeira representatividade que deve marcar o regime democrático de Estado, impõe-se, neste julgamento, definir se a alteração no processo eleitoral, a menos de um ano do pleito, pela específica circunstância de ter sido introduzida pelo constituinte derivado, é capaz de neutralizar, por si só, todas as conseqüências nefastas dessa ingerência no equilíbrio de forças político-eleitorais formado durante a vigência de regras até então conhecidas e respeitadas por todos (...) É norma que conforme ressaltou o eminente Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da ADI 354, protege o mais importante e relevante dos processos estatais da democracia representativa, o processo eleitoral, que assim o é 'pela razão óbvia de que é ele a complexa disciplina normativa, nos Estados modernos, da dinâmica procedimental do exercício imediato da soberania popular, para a escolha de quem tomará, em nome do titular dessa soberania, as decisões políticas dela derivadas'." Interessante observar que a anterioridade eleitoral é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando a questão eleitoral é disciplinada por meio de instrumento legislativo originado no Parlamento. Todavia, esse mesmo critério não foi obedecido, quando o TSE legislou sobre matéria eleitoral, impondo a verticalização, cuja aplicação teve efeitos imediatos, sem obedecer à anterioridade eleitoral. O que faria com que o Supremo reconhecesse a necessidade de interstício para a aplicação da emenda promulgada pelo Congresso Nacional e não a determinasse também para as normas criadas pelo TSE sobre a mesma questão? A aplicabilidade da lei criada pelo TSE é imediata, enquanto a lei criada pelo Parlamento deve obedecer a um intervalo antes de começar a produzir efeitos? Esses questionamentos estão a evidenciar a disposição existente no âmbito da mais alta Corte do País de ter a última palavra em questões políticas, criando normas legislativas e aplicando-as de acordo com a interpretação dada pelo próprio Tribunal. Essa situação faz-nos lembrar os comentários de Ferejohn, citando Montesquieu, no sentido de que o ente que produz a lei não pode ser o mesmo que a aplica, sob pena de haver uma distorção na finalidade da norma legal produzida. Aquele que produz a lei tende a aplicá-la de forma parcial, obedecendo a conveniências próprias, sem a devida isenção. Enquanto o Judiciário produziu as regras da verticalização, entendeu ser necessário e justo aplicá-la imediatamente. Entretanto, quando se deparou com nova regra produzida pelo legislador, adotou outro critério, considerando necessário aguardar um intervalo, a fim de respeitar o princípio da anterioridade eleitoral. Os critérios forma diversos em função da origem da norma. O critério de justiça na aplicação da lei é diferente, quando produzida por aquele que deverá executá-la. Daí o pensamento de Montesquieu, quanto à necessidade de separar o elaborador da norma de seu intérprete e aplicador, para garantir isenção e neutralidade por parte de ambos. As duas funções na mesma pessoa leva à arbitrariedade, segundo o ensinamento de Montesquieu. Ora, a verdadeira representatividade é aquela que permeia a atividade política realizada pelos representantes eleitos pelo povo. Todavia, verificamos uma dicção por parte do Supremo quanto ao que se deve entender por representatividade. O Supremo passou a ser também representante do povo, ditando a condução dos assuntos políticos do Estado brasileiro e condicionando a liberdade dos partidos para decidirem quanto a realização de coligações, para concorrerem às eleições. Surgiu, no Brasil, uma nova instância de deliberação política, ao lado do Congresso Nacional, a saber, o Supremo Tribunal Federal, onde as questões políticas podem vir a ter sua última palavra, aspecto este que muda todo o conceito de representatividade e altera a face da democracia brasileira. O Poder Legislativo passou a ser exercido por três Casas: Câmara dos Deputados, Senado Federal e Supremo Tribunal Federal. A arena de deliberação política deixou de se concentrar no Parlamento e nos partidos, para se estender à Corte Suprema, como novo espaço público para as discussões e decisões políticas. O eleitor insatisfeito com o desempenho dos seus mandatários, passou a contar com uma nova possibilidade de composição dos conflitos políticos, por meio do STF. Esta afirmação pode ser comprovada pela entrevista realizada por Márcio Cher com o Ministro Celso de Mello para a Revista Eletrônica " Consultor Jurídico", na edição de 15 de março de 2006, sob o título “Supremo Constituinte. Juízes devem ter papel mais ativo na interpretação da lei”. Aponta-se para uma insatisfação com a qualidade da atuação do Poder Legislativo, o que estaria justificando uma participação mais ativa por parte do Supremo, a fim de compensar a lacuna deixada pelo Legislador, com vistas ao aprimoramento da legislação. O Supremo passa a se preocupar com a qualidade das leis, em face de sua aplicação à coletividade e seus efeitos em relação aos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Desse modo, os Ministros da Suprema Corte, ao interpretarem as leis, vão além da simples interpretação e aplicação do sistema normativo. Nestes casos, o juiz passa a modificar a lei naquilo que considera de má qualidade jurídica, social e política. A lei sofre uma espécie de atualização, como se o juiz estivesse criando nova lei revogadora e aperfeiçoadora da anterior. A atualização da lei passa a ser feita pelo Supremo, na ausência dessa atuação pelo legislador. É importante notar a importância da alteração na composição da Corte Suprema como elemento decisivo na mudança de orientação quanto aos limites da Corte na interpretação da lei. A própria sociedade percebe hoje que o Supremo Tribunal Federal não é mais apenas um órgão de interpretação e aplicação da lei, mas uma Corte de decisão política, apta a preencher as lacunas deixadas pelo legislador e a aprimorar o processo legislativo. Observe-se que esse papel de reelaborar a Constituição nada mais é que o exercício de uma função constituinte derivada. O Supremo passou a exercer um papel de constituinte derivado, capaz de atualizar o texto constitucional de acordo com as necessidades sociais e políticas da Nação, ou seja, pode formular emendas à Constituição por meio de sua atividade interpretativa. Se considerar que a Constituição não mais atende aos reclamos populares, pode o juiz constituinte modificar esse texto, dando-lhe um alcance diverso daquele imaginado pelo legislador constituinte. O juiz constituinte pode revogar a norma constitucional elaborada pelo legislador constituinte. O poder constituinte derivado, pode-se dizer, é exercido pelas Casas do Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. Transcreveremos apenas alguns trechos dessa entrevista, a fim de identificar o móvel que leva os integrantes da mais alta Corte do País a enfrentar questões políticas, alterando o seu perfil. O Ministro afirma, por exemplo que “o STF, sob a atual Constituição, tomou consciência do alto relevo de seu papel institucional. Desenvolveu uma jurisprudência que lhe permite atuar como força moderadora no complexo jogo entre os poderes da República. Desempenha o papel de instância de equilíbrio e harmonia destinada a compor os conflitos institucionais que surgem não apenas entre o Executivo e o Legislativo, mas, também, entre esses poderes e os próprios juízes e tribunais. O Supremo acha-se investido, mais do que nunca, de expressiva função constitucional que se projeta no plano das relações entre o Direito, a Política e a Economia.” Entende o Ministro Celso de Mello que o Supremo atua como instância de superposição, exercendo verdadeira função constituinte com o papel de permanente elaboração do texto constitucional, por meio de processos hermenêuticos. A seu ver, a Suprema Corte “exerce uma função política e, pela interpretação das cláusulas constitucionais, reelabora seu significado, para permitir que a Constituição se ajuste às novas circunstâncias históricas e exigências sociais, dando-lhe, com isso, um sentido de permanente e de necessária atualidade” Verifica-se que a Constituição é citada como fundamento para um novo papel do Supremo. Todavia, essa mesma Constituição está em vigor desde 1998, e, somente, em período bem mais recente o Supremo despertou para essa nova função. A visão do Ministro é a de que “o tribunal promove o controle de constitucionalidade de todos os atos dos poderes da República”, ou seja está apto e disposto a examinar qualquer atividade política, qualquer ato de natureza política, deixando de lado qualquer limitação quanto à conveniência e oportunidade política. Ainda entende o entrevistado que o Supremo “atua como instância de superposição”, o que deixa claro essa nova tendência do Supremo a se converter em instância de decisão política, constituindo uma espécie de terceira Casa do Congresso Nacional. Isso fica bem evidente quanto o Ministro diz que “a Suprema Corte passa a exercer, então, verdadeira função constituinte com o papel de permanente elaboração do texto constitucional”. O Supremo não tem mais a intenção de se limitar ao exercício de função interpretativa da Constituição, porém, se apresenta com função constituinte, a quem cabe o papel de elaborar o texto constitucional, ou seja de legislar, de elaborar normas constitucionais. Essa prerrogativa passa a ser exercida por meio da atividade hermenêutica, que se utiliza como instrumento de reelaboração da norma constitucional. A hermenêutica se transmuda em processo de criação de norma constitucional. Ao interpretar a lei, o juiz, entendendo que essa lei não mais atende às necessidades sociais, passa a modificá-la ou revogá-la, dando solução nova e diversa ao conflito de interesses político e, até, mesmo estabelecendo a obrigatoriedade de condutas que não estão descritas na lei. Esse é o atual quadro de elaboração legislativa verificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Ainda nas palavras do Ministro, o Supremo “exerce uma função política e, pela interpretação das cláusulas constitucionais, reelabora seu significado, para permitir que a Constituição se ajuste às novas circunstâncias históricas e exigências sociais, dando-lhe, com isso, um sentido de permanente e de necessária atualidade’. O Supremo, de intérprete e guardião da Constituição, transforma-se em legislador constitucional e em elaborador de políticas públicas necessárias ao atendimento das exigências sociais. Um aspecto de grande interesse a ser observado nessa manifestação do Ministro Celso de Mello diz respeito à qualidade das leis produzidas pelo Parlamento. Segundo o Ministro, “a formulação legislativa no Brasil, lamentavelmente, nem sempre se reveste da necessária qualidade jurídica, o que é demonstrado não só pelo elevado número de ações diretas promovidas perante o Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, pelas inúmeras decisões declaratórias de inconstitucionalidade de leis editadas pela União Federal e pelos Estados-membros. Esse déficit de qualidade jurídica no processo de produção normativa do Estado brasileiro, em suas diversas instâncias decisórias, é preocupante porque afeta a harmonia da Federação, rompe o necessário equilíbrio e compromete, muitas vezes, direitos e garantias fundamentais dos cidadãos da República”. A baixa qualidade da produção legislativa vem sendo utilizada como argumento para essa interferência do Supremo na atividade política e legislativa. Ora o que é baixa qualidade da lei? Trata-se evidentemente de uma avaliação subjetiva por parte de quem não é parte no processo de elaboração das normas. Argumentemos em outra linha. Se os congressistas começassem a considerar de baixa qualidade as decisões judiciais proferidas no Brasil, esse entendimento subjetivo passaria a justificar o exercício de atividade judicial pelo Parlamento? Tal situação legitimaria o Congresso a mudar a Constituição, a fim de permitir que a Câmara e o Senado detivessem competências julgadoras? Por exemplo, diante de suposta baixa qualidade no julgamento de autoridades perante o Supremo, estaria o Congresso legitimado a mudar a Constituição, prevendo que qualquer autoridade da República, qualquer que fosse o crime, passaria a ser julgado perante a Câmara e o Senado? Esse é o argumento trazido na entrevista: como o juiz considera de baixa qualidade a lei feita no Congresso, considera-se legitimado a refazer as lei, por meio de um processo hermenêutico. Chegamos a mais uma nova competência do Supremo: a de implementar políticas públicas. As Casas Legislativas são dotadas de um poder fiscalizatório da atividade administrativa, que lhe permite fazer o acompanhamento dessa atividade, ouvir autoridades e tomar providências legislativas, que viabilizem uma melhor implementação de políticas sociais, em atendimento à população. Esta atividade é política, a cargo do Congresso. Passaremos a expor alguns desses instrumentos disponibilizados pelo Constituinte ao Congresso, a fim de delimitar esse campo de atuação política. Entre os poderes das Comissões, podemos mencionar as seguintes: • discutir e votar proposições , sujeitas ou não à deliberação do plenário; • realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; • convocar Ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor assunto de relevância de seu ministério. No caso de Comissões de Inquérito podem também convocar autoridades ou cidadãos, se julgarem suficiente a simples convocação. Todavia, têm o poder de intimar qualquer autoridade pública para comparecer perante elas quer na qualidade de indiciados, quer na qualidade de testemunhas. Neste caso, não se admite recusa, podendo ser efetuada a condução forçada da testemunha perante a comissão; encaminhar, através da Mesa, pedidos escrito de informação a Ministro de Estado. Igualmente a comissão de inquérito pode requerer informações. Neste caso, não o fará através da Mesa, mas diretamente à autoridade. Também não é mero pedido, mas uma requisição revestida de autoridade judicial.; • receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa conta atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na forma do art. 235; • solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; • determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal; • exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta; • solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando a diligência dilação dos prazos. Esses poderes são atribuídos às comissões para que possam compreender o que se passa na esfera da atividade administrativa, adentrando no exame das políticas públicas adotadas, podendo o Parlamento tomar decisões com conhecimento de causa da atividade administrativa. Há todo um entrosamento entre Legislativo e Executivo, com a ampla discussão e participação da sociedade e dos entes públicos, no espaço público próprio para debate desses temas políticos, com transparência acentuada. O Supremo passa a dividir essa função com o Poder Legislativo, entretanto, sem os instrumentos de debate público e de oitiva da sociedade fornecidos ao Parlamento. Em seu texto, judicializando a política, politizando o direito, Ferejohn levanta essa questão da influência dos diversos setores da sociedade civil nas decisões dos juízes e seu controle sobre aqueles magistrados que não corresponderem às expectativas dos representados. Como se desenvolveria a articulação dos partidos políticos no âmbito do Supremo Tribunal Federal continua sendo uma questão sem resposta. No âmbito do Parlamento, os partidos se articulam, fazem pressão, substituem líderes e integrantes de comissões, promovem obstruções, entre outros comportamentos. No âmbito da Suprema Corte, os partidos não disporão de meios para influenciar as decisões ou impedirem o julgamento da matéria contrário aos seus interesses. O juiz constituinte encontra-se imune às interferências dos partidos. Todavia, o próprio Supremo considera que o mandato pertence ao partido. Todavia, o partido político não dispõe de elementos de pressão sobre o Supremo para defender os interesses dos eleitores. Não pode modificar a composição do plenário ou de turmas do Supremo. Não pode afastar juízes do julgamento. Não pode destituir lideranças. Não pode proceder a obstruções do julgamento. Além disso, como ainda argumenta Ferejohn, se o eleitor não ficar satisfeito com os votos proferidos por algum dos Ministros do Supremo, não poderá afastá-lo da composição da Suprema Corte, por meio das urnas, pois o Ministro é vitalício e não pode ser demitido de suas funções por vontade do eleitor. Assim, estamos diante de um juiz constituinte imune a todo tipo de controle político. Prossegue a entrevista: Assim, se a população, insatisfeita, recorre ao Judiciário, este poderá modificar a legislação e criar novas normas. Por outro lado, se a comunidade se tornar insatisfeita com as decisões judiciais, não terá a quem recorrer a fim de mudar as soluções apresentadas, nem mesmo poderá trocar os seus representantes na Corte. Continuamos na análise da entrevista. O Supremo rompeu com sua linha de atuação anterior, clássica, a respeito da separação de Poderes. Os padrões estabelecidos no passado eram no sentido de impedir que o Judiciário decidisse politicamente, devendo-se restringir ao papel de intérprete da lei, não tomando a posição de legislador positivo. Com a nova composição da Corte, esse entendimento mudou, permitindo um avanço nessa orientação para decidir como se legislador fosse, aproveitando o papel de intérprete para criar novos direitos. As exigências políticas passaram a ser preocupação também do Supremo Tribunal Federal. Para tanto, essa Corte passou a tomar decisões políticas, a fim de satisfazer as exigências políticas da coletividade. Neste ponto, estamos claramente diante do exercício da atividade política pelo Supremo. A Corte deixa a questão jurídica, interpretativa, e passa a exercer o papel de legislador, buscando satisfazer as demandas políticas dos cidadãos, sem ter, entretanto, um mandato popular decorrente da vontade do eleitor expresso nas urnas. Indagado sobre se o ativismo judicial não estaria ainda um tanto acanhado, sobretudo diante da questão do mandado de injunção, o Ministro responde que “o ativismo judicial é um fenômeno mais recente na experiência jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. E porque é um fenômeno mais recente, ele ainda sofre algumas resistências culturais, ou, até mesmo, ideológicas”. O impacto da nova composição da Corte na mudança de orientação jurisprudencial é de substancial importância nesse processo. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, na referida entrevista, “com a nova composição da Corte, delineia-se orientação tendente a sugerir, no plano da nossa experiência jurisprudencial, uma cautelosa prática de ativismo judicial destinada a conferir efetividade às cláusulas constitucionais, que, embora impondo ao Estado a execução de políticas públicas, vêm a ser frustradas pela absoluta inércia – profundamente lesiva aos direitos dos cidadãos – manifestada pelos órgãos competentes do Poder Público”. Passaremos a fazer uma rápida análise do perfil dos atuais Ministros do Supremo, a fim de entendermos melhor as mudanças pelas quais tem passado a Corte. Celso de Mello. Foi o mais jovem Presidente do Supremo, aos 51 anos, de 1997 a 1999. Seus votos tem contribuído fortemente para a consolidação da jurisprudência da Corte e influenciam significativamente as novas linhas de pensamento e orientações adotadas nos julgamentos e nas decisões do STF. Os votos proferidos pelo Ministro Celso de Mello também têm servido como referência doutrinária e jurisprudencial para o estudo e a pesquisa de relevantes temas de direito na atualidade, inclusive no campo do Direito Parlamentar. Na entrevista que se analisou, o Ministro Celso de Mello deixa clara a sua orientação no sentido de que compete ao STF pronunciar-se sobre questões políticas, eliminando qualquer discricionariedade do Parlamento. Essa postura do Ministro Celso de Mello tem servido de influência nas decisões do Tribunal, contagiando outros Ministros que têm adotado essa solução, levando a Corte a se tornar uma Casa Política. Marco Aurélio Mello. Iniciou sua carreira como advogado no Rio de Janeiro. Chefiou o Departamento de Assistência Jurídica e Judiciária do Conselho Federal dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro. Foi Membro do Ministério Público do Trabalho, integrou a Justiça do Trabalho da 1ª Região. Foi Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, além de CorregedorGeral da Justiça do Trabalho. Foi nomeado, em 1990, para o Supremo pelo Presidente Fernando Collor, Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e ocupou a presidência do Supremo Tribunal Federal no biênio 2001/2003. A posição de independência manifestada em seus votos tem contribuído também para que haja uma renovação na orientação da Suprema Corte quanto às questões políticas. O seu poder argumentativo e a notória articulação de seus votos demonstram que o Ministro Marco Aurélio exerce significativa influência nas decisões da Corte, provocando mudança na postura clássica adotada no passado, quando outros Ministros lideravam as correntes jurisprudenciais prevalecentes quanto aos limites de atuação do Poder Judiciário, na análise de temas políticos. Ellen Gracie. Foi Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por 11 anos. É considerada cautelosa, discreta e competente. A sua postura é mais influenciada pela neutralidade do juiz, por um maior distanciamento da política. Gilmar Mendes. Foi Procurador da República, Consultor-Jurídico da Secretaria Geral da Presidência da República nos anos de 1991/1992. Participou como Assessor Técnico na Relatoria da Revisão Constitucional na Câmara dos Deputados em 1993/1994. Em 1996 tornou-se Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Atuou como Advogado-Geral da União no período de 2000/2002. A experiência de Gilmar Mendes na Chefia Jurídica da Presidência da República e como Advogado-Geral da União certamente representa um aspecto importante na orientação de seus votos. A experiência próxima com a política influenciaram também a sua visão jurídica e a orientação de seus votos, fazendo com que a sua postura como Ministro seja diversa da de outros integrantes da Corte que tiveram, ao longo da sua vida, uma carreira mais voltada para a magistratura, com a visão de neutralidade própria do magistrado. Cezar Peluso. Ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, 65 anos, foi o primeiro ministro do STF indicado pelo presidente Lula, em 2003. Iniciou sua carreira como juiz substituto, da 14ª Circunscrição Judiciária de São Paulo, em Itapetininga. Foi juiz de direito da comarca de São Sebastião (1968 a 1970) e da comarca de Igarapava (1970 a 1972). Em 1972 passou a atuar na capital paulista, primeiro como 47º juiz substituto da Capital (1972 a 1975), depois como juiz de direito da 7ª Vara da Família e das Sucessões da Capital, de 1975 a 1982. Após passagens como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, convocado pelo Conselho Superior da Magistratura, entre 1978 e 1979, e juiz do Segundo Tribunal de Alçada Civil, 5ª Câmara, entre 1982 e 1986, Cezar Peluso foi chamado para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), para o cargo de desembargador. O ministro permaneceu no tribunal estadual de 1986 a 2003, atuando também como membro efetivo do Órgão Especial daquela Corte, até ser convidado pelo presidente Lula para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A sua vivência como magistrado o coloca entre aqueles integrantes mais vinculados a uma postura magistral, distanciada da visão política. Carlos Britto. Ex-filiado do PT, é considerado a indicação mais partidária feita por Lula. A filiaçãono passado de Carlos Brito demonstra um forte envolvimento com as questões políticas, o que o colocam entre os que recebem uma influência marcante da política ao proferirem suas decisões. A experiência política vai exercer uma força significativa na orientação adotada, quando do julgamento de questões políticas submetidas ao exame da Corte. Joaquim Barbosa. Indicado por Lula. Trabalhou na gráfica do Correio Braziliense. Foi Procurador da República. Joaquim Barbosa assumiu em 2006 a relatoria da denúncia contra os acusados do mensalão e defendeu a aceitação das denúncias com perfeição, resultando na aceitação da denúncia contra os quarenta réus. O julgamento prossegue no Supremo, segundo acreditam a maioria da opinião pública, pelo menos até 2010, podendo reverter o fato histórico de o STF nunca ter condenado um político. Também foi de sua iniciativa a abertura de processo contra o deputado Ronaldo Cunha Lima, tendo sido esta decisão considerada história, pois foi a primeira vez em que o STF abriu processo contra um parlamentar. No dia seguinte, Cunha Lima renunciou ao mandato para escapar do processo, o que provocou duras críticas por parte de Joaquim Barbosa. No polêmico julgamento das células tronco, Joaquim Barbosa votou a favor da liberação de seu uso para fins de pesquisas.. No TSE, no mais polêmico julgamento desde que tomou posse no tribunal, Joaquim Barbosa votou a favor da tese de que políticos condenados em primeira instância poderiam ter sua candidatura anulada, sendo porém voto vencido nesta questão. A passagem pelo Ministério Público faz de Joaquim Barbosa um Ministro mais ousado no que tange ao controle da administração pública e da atividade política. A postura mais combativa do Ministério Público se refletirá numa postura mais ideológica quanto aos limites de atuação da Corte Suprema. Eros Grau. Apontado como um dos grandes constitucionalistas do País. Eros Grau, 67 anos, é esquerdista e o mais ideológico dos ministros do STF. Exerceu a advocacia, em São Paulo, de 1963 até a sua nomeação para Ministro do Supremo Tribunal Federal, em junho de 2004. Exerceu a função de árbitro junto à CCI – Cour Internacionale d’Arbitrage, com sede em Paris, e em tribunais ad hoc, nacionais e internacionais, sendo membro do Comité Français de l’Arbitrage. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, designado, para este último, pelo Presidente da República por decreto de 12 de fevereiro de 2003. Foi consultor da Bancada Paulista na Assembléia Nacional Constituinte [1.988] e membro da Comissão de Acompanhamento Constitucional, designada pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem assim membro da Comissão PósConstitucional, criada pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em setembro de 1.988. A proximidade de Eros Grau com o mundo político e acadêmico é uma fator que não pode ser eliminado na análise da sua visão de magistrado, no controle e fiscalização da atividade política. Sua postura diferirá daquela mantida por um clássico juiz, cuja formação nas lides judiciais foi marcada pela neutralidade e imparcialidade magistral. Ricardo Lewandowski. Foi indicado pelo presidente Lula depois de consulta feita à Ordem dos Advogados do Brasil. Advogado militante, ocupou também, vários cargos públicos, como o de Secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo..Em 1990, foi indicado, pelo quinto constitucional, para compor o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, cargo que ocupou até 1997, quando foi indicado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O envolvimento político de Lewndowski indica o tipo de postura que se deve esperar desse magistrado, quando do exame de questões política. A sua experiência prática com a política certamente influenciará o rumo de suas decisões acerca da atividade legislativa e política. Carmem Lúcia. Indicada por Lula, é ex-procuradora do estado de Minas Gerais. Tem 50 anos e é a mais jovem ministra do Tribunal. É conhecida por atuar nas comissões da OAB e em movimentos pela reforma política. Outra vez, vamos encontrar uma Ministra fortemente influenciada pela vida política e pela estreita experiência com a administração pública e com a criação e execução de atos políticos. Assim, suas decisões serão influenciadas por essa vivência política e sua postura será diversa daquela manifestada por um magistrado de carreira, moldado pelo ambiente próprio dos Tribunais. Carlos Alberto Direito. É considerado um jurista conservador. Foi Ministro do STJ. Pediu vista no processo que pedia a declaração de inconstitucionalidade do uso de células tronco embrionárias, o que fez com que o processo, que já aguardava votação a anos, fosse mais uma vez adiado. Em 28 de maio de 2008, Direito votou pela procedência em parte da ação, utilizando o mecanismo da "interpretação conforme" para que fosse permitida a pesquisa com células tronco embrionárias, observadas as restrições constantes em seu voto. Podemos incluí-lo entre os Ministros de tendência mais conservadora e mais distanciados de uma ideologia política. Assim a saída de alguns Ministros mais conservadores e o ingresso de outros mais liberais e com ideologias políticas mais arrojadas estão influenciando a orientação do Tribunal, com impacto nas suas decisões. Observa-se, por parte da maioria dos integrantes da Suprema Corte, uma posição mais arrojada no que diz respeito às atribuições do Tribunal e uma disposição natural para uma atuação mais ampla, mais abrangente, levando a Corte a um patamar de maior ingerência na atividade política, o que vem colocando o Supremo como uma instância não apenas judicial, mas também política. Na visão desses Ministros mais arrojados, o Supremo deve ser uma instância de deliberação política. Alguns aspectos devem ser levados em conta nessa análise. Entre os atuais Ministros Supremo, sete foram indicados pelo Presidente Lula, o que acaba por provocar uma mudança no perfil da Corte. O Ministro Gilmar Mendes esteve por muitos anos à frente da Assessoria Jurídica do Planalto e foi Advogado-Geral da União. Essa visão de Executivo e o envolvimento na tomada de decisões políticas, como um dos principais articuladores do Planalto na edição de Medidas Provisórias e na elaboração de projetos de lei vai se refletir na sua atuação como Ministro e como Presidente do Supremo Tribunal Federal. A sua participação na Suprema Corte também tem o condão de gerar nova influência nas deliberações, criando uma orientação diversa daquela que vinha sendo capitaneada, por exemplo, pelo Ministro Moreira Alves, de estilo mais conservador. O próprio mandado de injunção, citado na entrevista transcrita com o Ministro Celso de Mello, teve sua interpretação constitucional fixada por influência do Ministro Moreira Alves, no caso líder sobre essa matéria, em que S. Exa. foi Relator. Daí para a frente, todas as decisões em mandado de injunção, proferidas no âmbito do Supremo, seguiam a orientação perfilhada por Moreira Alves. Com a sua saída, abriu-se uma espaço para mudanças nessa orientação, o que levou a uma nova interpretação do Supremo quanto ao alcance do mandado de injunção, agora capitaneada por novos ministros como Celso de Mello e Gilmar Mendes. A tese da argumentatividade como forma de representação popular vem sendo defendida por Gilmar Mendes, na qualidade de grande estudioso do Direito Constitucional e fortemente influenciado pela doutrina constitucional alemã. Depreende-se dessas afirmações que o ativismo judicial no Brasil só está começando, tendo a Suprema Corte a intenção de avançar mais ainda nessa seara política, ampliado seu campo de atuação como representante da vontade popular. Esse fenômeno foi observado por Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, segundo o qual “a constitucionalização da prática política não foi aqui, portanto, o resultado de uma mera opção política, mas a reação ao avanço doa Judiciário brasileiro sobre os padrões definidos historicamente pelos próprios partidos políticos e sobre a orientação formada na redemocratização” (pág. 85). A Suprema Corte vem adotando uma postura de supremacia técnica. Todavia, não podemos afirmar que o jurídico predomina sobre o político, mas que o jurídico converteu-se em político. A consciência de guardião da Constituição levou a Suprema Corte a transformar as decisões jurídicas em decisões políticas. Isto resta claro, quando o seu Presidente declara que essa Corte é a casa do povo. O Supremo, antigamente citado como órgão de cúpula do Judiciário, hoje ganha uma nova designação e converte-se em órgão de cúpula do Legislativo. Assim, compete-lhe, segundo declaração de seu Ministro e Presidente, Gilmar Mendes, corrigir as distorções verificadas no Legislativo. Não é por outro motivo que o Ministro Celso de Mello designou essa Corte de Poder Moderador. O Supremo passa a ser visto como um Poder Político superior, a quem compete revisar os atos dos outros Poderes, corrigir seus erros e substituí-los no exercício de suas funções, quando isso se fizer necessário. O novo Supremo não apenas interpreta as leis, mas também as elabora e corrige. A explicação de que compete ao Supremo corrigir os erros do Legislativo só pode se basear em uma concepção de supremacia técnica, em que os seus integrantes, por gozarem de elevada formação jurídica e de notório saber jurídico, estariam em melhores condições de ditar as leis, e não apenas intepretá-las. Tal formação técnica não é exigida dos membros dos demais Poderes, o que coloca o Supremo em posição de Casa revisora dos atos dos demais Poderes. Assim, se explica a designação de Poder Moderador, um Poder acima dos demais, em condições de resolver os seus conflitos e preencher suas lacunas. Essa situação privilegiada, em termos de formação técnica de alto nível permitiria a essa Corte definir o rumo político do País, com o que a última palavra em matéria política passaria a ser do Supremo Tribunal Federal. Daí as palavras do seu Presidente de que o Congresso Nacional não faz boas leis, a qualidade da produção legislativa é ruim e questionável e que, portanto, caberia ao Supremo proceder à correção dessa atividade. Essa hipótese também tem sido a causa do ativismo judicial por parte do Supremo: a adoção da tese da supremacia técnica do Supremo Tribunal Federal. Outro aspecto que não pode ser ignorado é a ampliação da legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, pela Carta de 1988, retirando o monopólio do Procurador-Geral, a criação da ação declaratória de constitucionalidade e da argüição de descumprimento de preceito fundamental, que permitiram uma maior utilização da Corte Suprema como instância de contestação de atos legislativos. Este avanço do constituinte tem levado o Supremo a decidir a respeito de questões políticas e sociais, tornando-se uma arena de deliberação política. É importante ressaltar que essa participação da sociedade civil nos julgamentos do Supremo não mais é do que o reconhecimento pela Corte do seu papel de representante do povo, buscando legitimidade nessa atuação de diversos setores da sociedade como participantes desse processo decisório. Essa é a tese da argumentatividade, segundo a qual o Judiciário se torna representante do povo a partir da argumentação, e não do voto. Resta saber como será resolvida a questão, quanto os representados pela Suprema Corte se insurgirem contra a atuação de seus representantes e desejarem substituí-los por outros que melhor representem seus interesses. Podemos, ainda, imaginar uma situação em que, após a decisão proferida, os eleitores, insatisfeitos com os resultados obtidos com essa decisão, Ainda na entrevista mencionada, o Ministro Celso de Melo se refere à função moderadora do Supremo Tribunal Federal, na linha de diversos precedentes firmados, “especialmente nos casos em que se estabelecem situações de conflito entre o Executivo e o Legislativo da União, ou em que se registram os denominados conflitos federativos, que antagonizam os Estados-membros entre si ou que opõem tais pessoas políticas à União Federal, ou, ainda, naquelas situações de litigiosidade entre os Poderes da República”. Interessante a tese do poder moderador, que, na verdade, é um poder político, não um poder de juízes. Façamos um breve comentário acerca do poder moderador. O poder moderador foi idealizado por Benjamin Constant, que defendia a existência de um quarto poder, com o objetivo de estabelecer o equilíbrio entre os outros três. Detalhe importante é que, a fim de proceder a esse equilíbrio entre os demais poderes, o poder moderador deveria situar-se acima dos outros. Tal poder era representado pelo imperador, auxiliado por um conselho de estado. No Brasil, o poder moderador foi exercido por D. Pedro I e D. Pedro II. Com o advento do parlamentarismo, esse poder acabou perdendo força. A assertiva de que o Supremo passa a exercer um poder moderador o coloca na posição de terceiro e quarto poder ao mesmo tempo. A Suprema Corte passa a acumular as funções de dois poderes da República: uma judicial e outra moderadora. São dois poderes em um. Além disto, como poder moderador, acaba por se impor acima dos demais, a fim de estabelecer a necessária harmonia entre os demais. Trata-se de um suprapoder. Esse posicionamento nos permite vislumbrar a influência da composição do Supremo na postura atual quanto ao expansionismo judicial. A saída de Ministros comprometidos doutrinariamente com a clássica teoria a respeito da separação dos Poderes abre espaço para nova orientação quanto a esse aspecto. A entrada de novos Ministros, dispostos a mudar a face do Supremo e a lhe dar uma dinâmica diferente, provoca uma mudança de comportamento nas decisões da Suprema Corte e permitem que seus integrantes passem a tomar decisões políticas, assumindo um novo papel de representantes do povo. Podemos identificar dois nomes importante nessa mudança: Gilmar Mendes e Sepúlveda Pertence. Nessa entrevista percebe-se que esses dois Ministros exercem significativa influência nessa nova teoria que impera nas decisões do Supremo. Ambos os Ministros são oriundos do Ministério Público, o que significa dizer que possuem um perfil mais arrojado, mais contundente, mais questionador, se comparado ao perfil dos Ministros oriundos da Magistratura, cujo perfil deve ser de maior imparcialidade, de maior comedimento diante dos debates, de maior neutralidade diante das paixões políticas. Essa entrevista é muito interessante, ao deixar evidente qual a visão do Ministro Celso de Mello quanto ao papel do Supremo Tribunal Federal em torno dos limites da sua jurisdição constitucional. O Supremo deixará de reconhecer “círculos de imunidade em torno do poder estatal”, vale dizer, desaparece qualquer discricionariedade política. Qualquer matéria poderá ser objeto de análise e decisão por parte do Supremo, ainda que se trate de questão de foro político. O Supremo passará a deliberar sobre questões políticas, se assim julgar necessário, contando com o Ministro Celso de Mello entre os defensores dessa linha de atuação. Assim, sempre que o Supremo julgar que determinada atividade política confronta-se com a ordem constitucional, estará habilitado a decidir sobre a conveniência desses atos questionados, fazendo desaparecer qualquer discricionariedade política até então exercida. Na questão da verticalização, devemos evidentemente questionar a importância da manifestação da vontade do titular da decisão política em jogo, a saber, os eleitores. A coligação entre partidos obedece a interesses políticos locais, regionais, que, em última instância, atinam com as conveniências políticas dos representados naquele Estado ou Município. As diferenças culturais, sociais, administrativas e políticas condicionam decisões tomadas pelos partidos, candidatos e eleitores no âmbito da política local. Cabe, assim, ao eleitor decidir se a coligação é de interesse público ou se fere a vontade do eleitor, o que deve ser decidido nas urnas. Outra possibilidade seria os próprios representantes do povo, em nome por conta deste, modificarem o ordenamento jurídico, a fim de contemplar a impossibilidade das coligações, em face de deliberações tomadas pelos partidos quanto ao lançamento de candidato à Presidência da República. Essa solução é legítima, uma vez que envolve o poder de legislar conferido pelo povo aos seus representantes no Congresso. Estabelecer essa questão em processo judicial representa o abocanhamento de uma fatia de poder do Legislativo pelo Judiciário. Significa que o Judiciário está exercendo uma função de legislador. Todavia, o Supremo Tribunal Constitucional manteve a decisão do TSE sobre a verticalização, contrariando a vontade dos partidos, impedindo coligações entre partidos, no âmbito estadual e municipal, quando cada partido, isoladamente, dispusesse de candidato à Presidência da República, decisão essa respaldada pelo Supremo Tribunal Federal. Se um partido que dispunha de candidato próprio à Presidência pode, posteriormente às eleições, apoiar a política adotada pelo Presidente eleito, por que razão não poderia formar coligações locais que, ao final, redundarão nesse apoio final, independentemente de quem seja eleito? Já haveria uma predisposição de apoio, de composição política em benefício do povo, o que redundaria em proveito político para os eleitores, que seriam contemplados, ao final do processo, como maiores beneficiários desse acordo político efetivado antes das eleições. Essa postura do Supremo gerou reações no Congresso Nacional. Diante dessa atuação do Judiciário, o Congresso promulgou emenda constitucional, permitindo tais coligações e derrubando a verticalização imposta pelo Judiciário. Outro aspecto importante a se analisar diz respeito à interferência do Poder Judiciário nas liberdades políticas das legendas e do próprio cidadão eleitor. Ao decidir a respeito do que os partidos podem ou não fazer, estabelecendo condutas a serem seguidas pelos candidatos, e retirando do eleitor a possibilidade de julgamento de seus representantes, o STF passou a interferir nas liberdades políticas. A liberdade tem sido construída sobre bases diferentes do que ocorria no passado. Há uma nova configuração da liberdade, com reflexos na extensão das decisões judiciais sobre temas políticos, com visível limitação do campo de atuação das instituições políticas. Benjamin Constant expressa bem a questão da liberdade, cuja ênfase encontra-se no privado, sendo o público uma garantia do privado, do usufruto dos direitos. A justiça é uma garantia dos direitos civis. Nesse sentido, aparece o voto como instrumento para garantir o exercício dos direitos civis. A soberania do Estado, em Constant, deve ser limitada, acenando-se, assim, como uma teoria liberal dos direitos civis. Distingue, entretanto, entre os direitos civis e políticos. A interferência do Judiciário nesse questão das coligações fez surgir nova possibilidade de leitura das liberdades políticas, deslocadas da arena partidária, do parlamento e da vontade dos eleitores e concentrada na Corte Suprema, a quem compete a última palavra em termos de liberdades políticas. O titular das liberdades políticas passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Continuando em Constant, os direitos civis se destinam a todos os cidadãos, enquanto os direitos políticos se destinam àqueles que mais necessitam de proteção, ou seja, os detentores da propriedade, que, por sua vez, precisam do tempo e da tranqüilidade necessários para a reflexão sobre os assuntos políticos do Estado. Na sua obra "Da Liberdade dos Antigos comparada à dos Modernos", tece diversos comentários que são de grande valia para o nosso estudo. Em alguns casos, a liberdade implica o direito de não se submeter senão às leis, de não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira, pelo efeito da vontade arbitrária de um ou de vários indivíduos. Para outros, na expressão de Constant, é o direito de dizer sua opinião, de escolher seu trabalho e de exercê-lo; de dispor de sua propriedade, até de abusar dela; de ir e vir, sem necessitar de permissão e sem ter que prestar conta de seus motivos ou de seus passos. Continua Constant enumerando as diferentes liberdades, como o direito de reunir-se a outros indivíduos, seja para discutir sobre seus interesses, seja para professar o culto que ele e seus associados preferirem, seja simplesmente para preencher seus dias e suas horas de maneira mais condizente com suas inclinações, com suas fantasias. Enfim, é o direito, para cada um, de influir sobre a administração do governo, seja pela nomeação de todos ou de certos funcionários, seja por representações, petições, reivindicações, às quais a autoridade é mais ou menos obrigada a levar em consideração. Constant procede a uma distinção entre a liberdade dos antigos e a liberdade dos modernos. Assim, entre os antigos, o indivíduo, quase sempre soberano nas questões públicas, é escravo em todos os seus assuntos privados. Como cidadão, ele pode decidir sobre a paz e a guerra; como particular, permanece limitado, observado, reprimido em todos os seus movimentos; como porção do corpo coletivo, ele interroga, destitui, condena, despoja, exila, atinge mortalmente seus magistrados ou superiores; como sujeito ao corpo coletivo, ele pode, por sua vez, ser privado de sua posição, despojado de suas honrarias, banido, condenado, pela vontade arbitrária do todo ao qual pertence. No caso dos modernos, o indivíduo, independente na vida privada, mesmo nos Estados mais livres, só é soberano em aparência. Sua soberania é restrita, quase sempre interrompida; e, se, em épocas determinadas, mas raras, durante as quais ainda é cercado de precauções e impedimentos, ele exerce essa soberania, é sempre para abdicar dela. Desse modo a conclusão a que chega Constant é a de que os modernos não podem mais desfrutar da liberdade dos antigos, a qual se compunha da participação ativa e constante do poder coletivo. Nossa liberdade deve compor-se do exercício pacífico da independência privada. A participação que, na antigüidade, cada um tinha na soberania nacional não era, como em nossos dias, uma suposição abstrata. A vontade de cada um tinha uma influência real; o exercício dessa vontade era um prazer forte e repetido Nos tempos modernos, o exercício dos direitos políticos somente nos proporciona pequena parte das satisfações que os antigos neles encontravam e, ao mesmo tempo, os progressos da civilização, a tendência comercial da época, a comunicação entre os povos multiplicaram e variaram ao infinito as formas de felicidade particular. Bem atual essa observação de Constant, quando se percebe uma mitigação das liberdades políticas dos cidadãos, que perdem o direito de decidirem quais os melhores candidatos, os melhores partidos e que articulações políticas são benéficas ou não para a comunidade. A liberdade não pertence mais aos partidos nem aos cidadãos. A estes não compete mais apoiar ou não as mudanças propostas pelas legendas. Surge um novo modelo de representatividade, em que um grupo de juízes decide sobre a vida política da Nação, dizendo o que é bom e o que é ruim para os eleitores. A chamada "verticalização" retirava a liberdade das legendas e poderia gerar um novo tipo de aliança, em que um partido poderia apoiar candidato de outra legenda, de forma extra-oficial. Nesse sentido, o Ministro Marco Aurélio pronunciou-se contra a verticalização, por considerá-la lesiva à autonomia dos partidos políticos, uma vez que os submete a uma "camisade-força". De fato, essa é a conclusão lógica: a coligação de legendas deve ser decidida no âmbito dos partidos e nas urnas pelos eleitores. A imposição de uma verticalização pelo Judiciário interfere diretamente na liberdade e autonomia dos partidos. Essa análise da questão da verticalização mostra claramente uma nova tendência do Supremo Tribunal Federal a se converter em arena de deliberação política, ao lado do Parlamento. Assim como não houve expansão da atividade, também não pode ter havido extrapolação dessa atividade. Também no que tange à atuação dos partidos, em nenhum momento houve qualquer desvio ou abuso quanto às suas prerrogativas legais. As coligações procedidas encontravam-se dentro da margem de liberdade política concedida aos partidos pela legislação, a qual facultava a realização de coligações. Desse modo, a conveniência de realizar ou não coligações foi conferida aos partidos, como decisão política, e não ao juiz. Não havia a prática de qualquer arbitrariedade ou ilegitimidade partidária nas articulações políticas idealizadas pelos partidos. A regra imposta pelo TSE e confirmada pelo STF foi uma decisão política que substituiu a vontade dos partidos pela vontade do juiz. O Judiciário agiu como instância partidária superior, baseado numa vontade política de seus integrantes, e não em função da garantia de direitos fundamentais ou em virtude de descumprimento de norma constitucional. A decisão sobre verticalização criou, em nosso sistema político, uma nova atribuição do Judiciário, a saber, a manifestação de vontade política em substituição ao legislador e aos órgãos partidários. Os comandos políticos e partidários passaram a depender não mais apenas dos homens políticos e de seus partidos, mas também dos juízes, que podem, em determinadas circunstâncias, interferir no mundo político, para estabelecer condutas aos políticos e aos partidos, desde que a vontade política da Corte venha a sofrer alterações. A reação legislativa veio tardiamente, após a decisão do Supremo a respeito da verticalização. Essa norma posterior, de sede constitucional firmou-se como constitucional e legítima, modificando a decisão judicial anterior. Não houve qualquer ameaça à segurança constitucional e à estabilidade das instituições democráticas que justificasse uma intervenção política do Supremo nas eleições. Não houve nenhum momento de controle de constitucionalidade de leis que tivesse gerado a decisão política no sentido de estabelecer a verticalização. Não se trata de exercício da função de guardião da Constituição, já que não havia norma constitucional em vigor a respeito dessa matéria. Neste caso, a norma foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, confirmada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. . Aqui, podemos nos valer da observação de Ferejohn, no sentido de que o Judiciário está significativamente desejoso de controlar a atividade política, passando a decidir sobre questões políticas, como a conduta dos homens políticos, as regras a serem adotadas nas eleições, o financiamento de campanhas, entre outros temas. Igualmente válida a tese defendida por Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, de que há uma disposição natural do Judiciário para ocupar mais espaço no controle da competição político-partidária no Brasil. Afirma o citado Autor: “Assim respondendo à questão do porquê da judicialização da competição político-partidária, podemos concluir que ela se deu mais pelo voluntarismo do Judiciário, favorecido pela força institucional conferida pelo modelo de governança eleitoral que adotamos, do que por uma possível deficiência do Legislativo em tratar do tema. Havendo essa disposição de tomar deliberações políticas, aí, sim, o juiz buscará lacunas, em que possa atuar, valendo-se da omissão ou da retração do legislador. Descobrindo campos que permitem esse avanço, na oportunidade em que demandado por alguma parte interessada, o Judiciário estará apto e desejoso de expandir suas competências, ainda que para isso tenha de legislar positivamente, criando novas regras, modificando as existentes ou, até mesmo, revogando-as por meio do instrumento hermenêutico, com base na representatividade do cidadão pela argumentatividade. O próximo item em que o ativismo judicial se faz presente diz respeito à atuação das comissões parlamentares de inquérito no Brasil, as quais têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Daí porque inserimos, em nosso estudo, o controle que o Supremo vem exercendo sobre essas comissões. CAPÍTULO 3 O CONTROLE DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO PELO STF A defesa dos direitos das minorias tem levado o Supremo a interferir nos atos internos do Poder Legislativo, passando a examinar questões que, em tempos remotos, eram tratadas como matéria interna corporis. Analisaremos, neste estudo, a hipótese de interferência do Supremo em comissões parlamentares de inquérito, a fim de entendermos essa nova tendência de expansionismo judicial. A Constituição Federal, no art. 58, §3º, dispõe o seguinte sobre a criação de comissão parlamentar de inquérito: “As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de um terço de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Publico, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.” O Regimento Interno da Câmara dos Deputados, no seu art. 35, repete a regra constitucional, nos seguintes termos: “A Câmara dos Deputados, a requerimento de um terço de seus membros, instituirá Comissão Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste regimento.” As comissões parlamentares de inquérito são conhecidas no mundo todo e exercem papel importante no controle político da atividade pública e nas atividades privadas de interesse público. É importante entendermos a natureza política dessas comissões, a fim de detectarmos os seus limites e analisarmos as possibilidades da interferência do poder judiciário em seus trabalhos. Comentemos, resumidamente, a existência e o funcionamento dessas comissões em outros países. A cpi na Inglaterra. Segundo nos relata a doutrina, a primeira comissão parlamentar de inquérito foi instalada em 1571, durante o reinado da rainha Elisabete I, na Inglaterra. Todavia, muitos estudiosos da história defendem a tese de que esse tipo de comissão é ainda anterior a essa data, em uma época em que vigorava o sistema de verbalização dos trabalhos parlamentares, em função do que não haveria registros escritos sobre o assunto, tornando-se difícil demonstrar a realização desses trabalhos inquisitoriais, no âmbito das casas parlamentares. Somente por volta de 1510, os “Journals” da Câmara dos Lordes teriam começado a ser redigidos sistematicamente e os das Comunas, a partir de 1547, graças a atuação do funcionário John Seymour. Essas comissões, inicialmente, são designadas "select committees". Posteriormente, sugem as "standing committees, comissões de caráter permannente, concebidas para funcionar durante todo a legislatura. Mais adiante, forma-se um terceiro tipo de comissão, denominada "committee of the whole House", formada por todos os membros da Câmara. Podemos destacar diversos tipos de comissões que se formaram ao longo da história do direito inglês, como, por exemplo: • "Standing committees", que têm a função básica de elaboração legislativa. • "Committees of the whole House", que se ocupam dos projetos de lei relacionados a matéria constitucional, financeira ou de extrema brevidade e simplicidade. • "Committees on private bills", cuja atribuição diz respeito ao exame dessas contas privadas, e os atos do Parlamento, neste caso, embora assumam a forma de lei, têm natureza administrativa. • "Select committees", para o desempenho de atividades, em caráter excepcional, relacionadas ao exame de projetos de lei, quantos aos quais se imponha algum dado ou fato de alta relevância ou de particular indagação. Inclui-se, nestas hipóteses, a comissão de inquérito. Pelo que se pode observar, esse tipo de comissão tem uma função primordial no que tange ao aperfeiçoamento da legislação e à informação do público. A sua natureza, na Inglaterra, é política, diante do que segue, na sua condução procedimentos políticos e critérios políticos, quer quanto à sua criação, quer quanto à sua execução. Sendo sua investigação de natureza política, a comissão representa o Parlamento, como um braço deste, não sendo sua natureza diversa da instituição que representa. A cpi na França. Na França, os inquéritos parlamentares remontam ao tempo do regime parlamentar, sob a monarquia de “Juillet” e são até hoje instrumentos indispensáveis à fiscalização e ao controle dos atos das autoridades públicas. Durante as 3ª e 4ª Repúblicas, essas comissões abusaram algumas vezes de seu poderes, chegando mesmo a invadir atribuições do poder judiciário. Esses fatos renderam uma reputação não muito boa às comissões parlamentares de inquérito na França. Desse modo, os fundadores da 5ª República decidiram mudar esse panorama, impondo às comissões de inquérito um estatuto contendo obrigações, sem conferir qualquer direito. As comissões de inquérito parlamentar são criadas mediante proposta de resolução, objeto de deliberação da Assembléia Nacional em seção pública, após o parecer da comissão permanente competente. A proposta de resolução deve determinar, precisamente, os fatos que ensejam o inquérito, sejam serviços públicos ou empresas nacionais, cuja gestão deva ser examinada pela comissão (art. 140.-1 do Regimento da Assembléia Nacional). É proibida a criação de comissão de inquérito sobre fatos que estejam sendo julgados pelo Poder Judiciário. Neste caso, se a comissão já tiver sido criada, ela será extinta, a partir do momento em que o fato estiver sub judice. Essa solução mostra claramente a natureza política da comissão. Se o fato estiver sob investigação judicial, não poderá ser criada cpi para investigar a matéria. Se a matéria começar a ser investigada pelo Judiciário, a cpi deverá cessar suas atividades. A cpi não é órgão policial nem judiciário. Sua natureza é política. A apresentação de uma proposta de resolução tendente à criação de uma comissão de inquérito será notificada pelo Presidente da Assembléia Nacional ao Ministro da Justiça. Se este (Garde des sceaux) fizer conhecer que a persecução judicial está em curso sobre os fatos objeto do inquérito parlamentar, a apresentação da proposta não poderá ser objeto de discussão. Já anunciada a discussão, esta será imediatamente interrompida. As comissões de inquérito são criadas para colherem as informações sejam sobre fatos determinados seja sobre a gestão dos serviços públicos ou das empresas nacionais e seus trabalhos serão analisados pela Assembléia Nacional. Essa submissão dos trabalhos da comissão ao plenário da Assembléia Nacional demonstra que a comissão não pode ser maior do que a instituição política que representa e da qual recebeu delegação para as suas atividades. A última palavra caberá à instituição maior, ou seja, à Assembléia, que decidirá em último plano sobre os efeitos e resultados dos trabalhos da comissão. Além disso, elas não podem ser reconstituídas com o mesmo objeto antes da expiração do prazo de doze meses, a contar do seu encerramento. O Presidente da Assembléia Nacional declara irrecebível toda proposição de resolução tendente à constituição de uma comissão de inquérito tendo o mesmo objeto de outra já realizada a menos de doze meses ou dentro das condições previstas no art. 145-1. Se houver dúvida, o Presidente decidirá após o parecer da Mesas da Assembléia. Os membros das comissões de inquérito são designados de modo a assegurar uma representação proporcional dos grupos políticos. A representação proporcional deixa claro que a correlação de forças políticas na comissão deve obedecer ao mesmo critério verificado na Assembléia Nacional. Isto já nos acena para a possibilidade de que grupos políticos dominantes no âmbito da comissão venham a decidir os rumos, os destinos de seus trabalhos. Com a expiração do prazo de seis meses previsto na Ordenança nº 58-1100, de 17 novembro 1958, e se a comissão não tiver apresentado seu relatório, o presidente remeterá ao Presidente da Assembléia Nacional os documentos em seu poder. Estes não poderão dar lugar a qualquer publicação ou a qualquer debate. Assim não pode a vontade do Presidente substituir aquilo que foi fruto da atuação da correlação de forças políticas na comissão. Essas comissões podem ser consideradas fortes instrumentos de pressão política, a fim de manter a administração pública dentro dos balizamentos do interesse público, da moralidade administrativa, da legalidade, ao mesmo tempo em se adequa a condução política dos negócios públicos com a vontade soberana do povo manifestada através de seus legítimos representantes no Poder Legislativo. Trata-se, portanto, de um instrumento político. A cpi na Itália. Na Itália, as comissões parlamentares de inquérito são previstas pela Constituição, especificadas pela disciplina dos regimentos parlamentares e também definidas pela legislação. Há comissões legislativas, comissões de inquérito político, a comissão de inquérito para os acusados ministros e presidente da república, certas comissões de orientação e de controle entre outras. As investigações realizadas pelas comissões de inquérito, permanentes ou especiais, são auxiliares das funções legislativas das assembléias, oferecendo-lhes os instrumentos para orientação e controle político. O art. 82 da Constituição prevê a criação pelas Câmaras do Parlamento de comissões parlamentares de inquérito sobre matérias de interesse público. A cpi em Portugal. O inquéritos parlamentares têm por função vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Os inquéritos parlamentares podem ter por objeto qualquer matéria de interesse público relevante para o exercício das atribuições da Assembléia da República. Os inquéritos parlamentares serão realizados através de comissões eventuais da Assembléia especialmente constituídas para cada caso, nos termos do Regimento. Os inquéritos parlamentares são efetuados: a) Mediante deliberação expressa do Plenário tomada até ao 15º dia posterior à publicação do respectivo projeto ou proposta de resolução no Diário da Assembléia da República ou à sua distribuição em folhas avulsas. b) A requerimento de um quinto dos Deputados em efetividade de funções até ao limite de um por Deputado e por sessão legislativa. A iniciativa dos inquéritos previstos na alínea a) do nº 1 compete: a) Aos grupos parlamentares e Deputados de partidos não constituídos em grupo parlamentar; b) às comissões; c) A um décimo do número de Deputados, pelo menos; d) Ao Governo, através do Primeiro-Ministro. Os projetos ou propostas de resolução tendentes à realização de um inquérito indicarão o seu objeto e os seus fundamentos, sob pena de rejeição liminar pelo Presidente. Da não admissão de um projeto ou proposta de resolução apresentado nos termos da presente lei cabe sempre recurso para o Plenário, nos termos do Regimento. As comissões parlamentares de inquérito requerido ao abrigo da alínea b) do nº1 do artigo 2º são obrigatoriamente constituídas. O referido requerimento, dirigido ao Presidente da Assembléia da República, deve indicar o seu objeto e fundamentos. O Presidente verificará a existência formal das condições previstas no número de identidade dos Deputados subscritores, notificando de imediato o primeiro subscritor para suprir a falta ou faltas correspondentes, caso se verifique alguma omissão ou erro no cumprimento daquelas formalidades. Recebido o requerimento ou verificado o suprimento referido no número anterior, o Presidente toma as providências necessárias para definir a composição da comissão de inquérito até ao 8º dia posterior à publicação no Diário da Assembléia da República. O Presidente da Assembléia da República comunicará ao Procurador-Geral da República o conteúdo da resolução ou a parte dispositiva do requerimento que determine a realização de um inquérito. O Procurador-Geral da República informará a Assembléia da República se com base nos mesmos fatos se encontra em curso algum processo criminal e em que fase. Caso exista processo criminal em curso, caberá à Assembléia deliberar sobre a eventual suspensão do processo de inquérito parlamentar até ao trânsito em julgado da correspondente sentença judicial. Compete ao Presidente da Assembléia da República, ouvida a Conferência dos Representantes dos Grupos Parlamentares, fixar o número de membros da comissão, dar-lhes posse, determinar o prazo da realização do inquérito previsto na alínea b) do artigo 2º e do previsto na alínea a) da mesma disposição, quando a respectiva resolução o não tenha feito, e autorizar a sua prorrogação até ao limite máximo de tempo referido no artigo 11º. Os membros da comissão tomam posse perante o Presidente da Assembléia da República até ao 15º dia, posterior à publicação no Diário da Assembléia da República da resolução ou do requerimento que determine a realização do inquérito. A cpi nos Estados Unidos A primeira comissão de inquérito nos Estados Unidos foi criada para investigar os massacres pelos índios do exército do General Saint-Clair. A resolução foi fundada no dever do Parlamento de controlar as despesas públicas e no direito de determinar o “impeachment” do Presidente, garantido pela Constituição. O Parlamento norteamericano dispõe de comissões permanentes e especializadss, conhecidas como “standing commitees”, para se pronunciar sobre matérias de sua competência, como finanças, comércio, forças armada e outros. É ainda possível criar comissões temporárias e especiais, denominadas “select commitees” para analisar questões específicas. É o caso da comissão de inquérito. Ela é criada por meio de resolução da Câmara Legislativa. Os poderes de inquérito, à vezes, são transferidos a uma comissão permanente, sobre os fatos objetos de suas atribuições. Essa possibilidade de transferência de poderes mostra que os trabalhos da comissão de inquérito não são isolados nem têm natureza diversa dos trabalhos da instituição. São atividades de natureza política, que servirão de base para a tomada de medidas legislativas pelo Congresso. A cpi no Parlamento Europeu. Essa matéria encontras-se regulada pelo Regimento do Parlamento Europeu, nos arts de 2 a 6.Nas condições e dentro dos limites fixados pelos Tratados referidos no artigo anterior e no exercício das suas atribuições, o Parlamento Europeu pode, a pedido de um quarto dos seus membros, constituir uma Comissão Temporária de Inquérito para analisar alegações de infração ou de má administração na aplicação do Direito Comunitário cuja responsabilidade recaia, quer sobre uma Instituição ou órgão das Comunidades Européias, quer sobre a administração pública de um Estado-Membro, quer ainda sobre pessoas mandatadas pelo Direito Comunitário para aplicar esse Direito. O Parlamento Europeu fixará a composição e as regras de funcionamento interno das comissões temporárias de inquérito. A decisão de constituição de uma Comissão Temporária de Inquérito especificará, nomeadamente, o seu objeto e o prazo para a entrega do respectivo relatório, e será publicada no Jornal Oficial das Comunidades Européias. A Comissão Temporária de Inquérito desempenhará as suas funções no respeito pelas atribuições conferidas pelos Tratados às Instituições e órgãos das Comunidades Européias. A Comissão Temporária de Inquérito não pode analisar fatos que estejam a ser apreciados no âmbito de um processo pendente num órgão jurisdicional nacional ou comunitário, enquanto esse processo não se encontrar concluído. O relatório da Comissão Temporária de Inquérito será apresentado ao Parlamento Europeu, que pode decidir torná-lo público, no respeito pelo disposto no número anterior. O Parlamento Europeu pode apresentar às Instituições ou órgãos das Comunidades Européias ou aos EstadosMembros as recomendações que tenha eventualmente adotado com base no relatório da Comissão Temporária de Inquérito. As referidas Instituições, os órgãos e os Estados-Membros tirarão dessas recomendações as ilações que considerarem adequadas. Qualquer comunicação às autoridades nacionais dos EstadosMembros para efeitos da aplicação da presente decisão será efetuada por intermédio das suas Representações Permanentes junto da União Européia. O Parlamento poderá solicitar à Comissão que submeta à sua apreciação qualquer proposta legislativa que entenda adequada, nos termos do disposto no segundo parágrafo do artigo 192 do Tratado CE, através da aprovação de uma resolução com base em relatório de iniciativa da comissão competente autorizado nos termos do artigo 163. Para a aprovação da referida resolução são necessários os votos favoráveis da maioria dos membros que compõem o Parlamento. O Parlamento poderá simultaneamente fixar um prazo para a apresentação da referida proposta. A pedido do Parlamento Europeu, do Conselho ou da Comissão, as regras previstas na presente decisão podem ser revistas a partir do termo da presente legislatura do Parlamento Europeu, à luz da experiência adquirida. As comissões funcionam como braços do parlamento, visando a uma finalidade política, que tem a ver com as competências institucionais, e não apenas de uma minoria. Nesse exame da constituição e execução das atividades das comissões de inquérito em outros países, fica bem evidente o caráter político dessas comissões e a importância da vontade política dos partidos na sua criação, instalação e funcionamento. Não se observa, em nenhum momento, na análise dessa matéria, alguma determinação que aponte para a cpi como um direito de minorias políticas. Ao contrário, em outros países, se o Judiciário iniciar uma investigação sobre a mesma matéria, cessam as atividades da comissão de inquérito. Não há vontade de minorias que obriguem ao funcionamento dessas comissões. A cpi no Brasil. No MS N. 24.831-DF, cujo Relator foi o Ministro CELSO DE MELLO, analisa-se a matéria sob a ótica do direito de oposição, da prerrogativa das minorias parlamentares, e da expressão do postulado democrático.. Entende o Relator que o tema extravasa os limites interna corporis das casas legislativas, sendo viável, portanto, o controle judicial. O argumento baseia-se na impossibilidade da maioria frustar o exercício do direito das minorias legislativas, no que tange à investigação parlamentar. Discute-se a prerrogativa do Parlamento para fiscalizar os órgãos e agentes do Estado, respeitados, nesse processo de fiscalização, os limites materiais e as exigências formais estabelecidas pela Constituição Federal. Esse argumento está em consonância com a realidade das comissões como representantes da instituição maior, e não como um braço independente, acima do parlamento. Desse modo, a fiscalização é inerente ao parlamento, que, por sua vez, delega a entes menores, as comissões, o poder de realizar essas tarefas. Há na verdade uma desconcentração, e não uma descentralização. Vejamos qual a implicação dessa distinção ente os referidos conceitos. Desconcentração nada mais é do que uma divisão de tarefas internamente, entre os órgãos estatais, quer dizer, entre órgãos da mesma entidade. A desconcentração pressupõe a existência de uma hierarquia. A desconcentração tem a característica da verticalidade. A desconcentração implica fiscalização, controle hierárquico. Na descentralização, há uma transferência do exercício de uma determinada atividade, como por exemplo, no caso das autarquias. Essa delegação é externa, não é mais dentro da própria estrutura da entidade. O modelo não é mais o da verticalidade, mas o da horizontalidade e o controle passa a ser finalístico. A descentralização pode ocorrer de várias maneiras. Um deles é através da criação de novas entidades. A descentralização pode ainda ocorrer envolvendo particulares, através de concessão, de permissão, de autorização. Pode ocorrer também descentralização entre os entes da federação; por exemplo, a União pode delegar aos Estados, e estes aos municípios. A natureza da delegação feita pelo parlamento à cpi é de desconcentração, em que o parlamento continua com as prerrogativas de fiscalização, podendo decidir de forma diferente da comissão, dando rumos diversos às conclusões por ela estabelecidas. Assim também o é na teoria política comparada, com examinamos anteriormente, em que os parlamentos de diversos países têm a prerrogativa de modificar os trabalhos das comissões parlamentares de inquérito constituídas e dar encaminhamento diverso do sugerido pela comissão em seu relatório. Se assim não fosse, estaríamos diante de uma situação em que a comissão disporia de maiores poderes do que a instituição da qual faz parte. Um a comissão com poderes maiores do que os do parlamento é algo completamente inimaginável. Assim, a missão de fiscalizar é do parlamento, atribuição esta delegada às comissões, como entes subordinados à vontade da maioria, da instituição como um todo O direito de investigar, que a Constituição da República atribuiu ao Congresso Nacional e às Casas que o compõem (art. 58, § 3º), tem, no inquérito parlamentar, um instrumento delegado à cpi, mas que, num plano mais alto, pertence à instituição à qual pertence a Comissão. A comissão nada mais é do que um braço da casa legislativa, e não uma instituição autônoma. A criação da comissão, se não houver cinco em funcionamento, está vinculada, unicamente, à satisfação de três exigências definidas, de modo taxativo, no texto da Carta Política: subscrição do requerimento de constituição da CPI por, no mínimo, 1/3 dos membros da Casa legislativa, indicação de fato determinado a ser objeto de apuração e temporariedade da comissão parlamentar de inquérito. Preenchidos esses requisitos constitucionais (CF, art. 58, § 3º), impõese a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, independentemente da vontade dos demais membros da casa legislativa, competindo ao Presidente da Casa legislativa a emissão do ato de criação da comissão. Trata-se de criação, ou seja, de um ato do Presidente que institui a comissão. Vamos compreender melhor essa questão da vontade da minoria, observando o que ocorre quando, na Câmara dos Deputados, existem cinco comissões de inquérito em funcionamento. Neste caso, há necessidade de um Projeto de Resolução, que será votado pelo Plenário da Casa Legislativa, podendo ser rejeitado, apesar do requerimento de um terço dos seus membros. Esta solução regimental adotada já serve de contestação à tese de que a cpi é direito de minoria. Se assim o fosse, independentemente do número de comissões em funcionamento, todos os requerimentos assinados por um terço dos membros da Casa Legislativa teriam de ser aprovados no sentido de criar novas comissões. Isto demonstra que a vontade do parlamento, como instituição maior que a comissão, deve prevalecer nas decisões políticas. A decisão do Supremo estabelece refere-se ao “estatuto constitucional das minorias parlamentares”., afirmando que “ prerrogativa institucional de investigar, deferida ao Parlamento (especialmente aos grupos minoritários que atuam no âmbito dos corpos legislativos), não pode ser comprometida pelo bloco majoritário existente no Congresso Nacional e que, por efeito de sua intencional recusa em indicar membros para determinada comissão de inquérito parlamentar (ainda que fundada em razões de estrita conveniência político-partidária), culmine por frustrar e nulificar, de modo inaceitável e arbitrário, o exercício, pelo Legislativo (e pelas minorias que o integram), do poder constitucional de fiscalização e de investigação do comportamento dos órgãos, agentes e instituições do Estado, notadamente daqueles que se estruturam na esfera orgânica do Poder Executivo”. Não existe, nem na Constituição Federal, nem nos Regimentos Internos das Casas Legislativa, qualquer estatuto de minorias parlamentares. A expressão “estatuto das minorias parlamentares” indica uma vocação do Supremo Tribunal Federal a estabelecer normas de comportamento para as Casas Legislativas do Congresso Nacional. Os estatutos que regem o funcionamento das Casas Legislativas são os seus regimentos internos. Todavia, esses regimentos não contemplam nenhum estatuto de minorias parlamentares. Garantem, é verdade, o exercício da atividade parlamentar pelo Plenário, pelas comissões, pelas lideranças, pelos blocos partidários e pelos seus parlamentares individualmente, como legítimos representantes do povo, e contém normas de processo legislativo, a fim de organizar a elaboração de proposições, os debates e as votações. O interesse em estabelecer um estatuto de minorias procede do próprio Supremo Tribunal Federal, desejoso de regular a atividade política, traçando seus contornos e delimitando os direitos e deveres das instituições políticas e de seus integrantes. Segundo o acórdão, cabe ao Supremo zelar pela obediência a esse estatuto. Sendo assim, devemos distinguir entre criação e instalação de comissão parlamentar de inquérito. São dois momentos distintos. A falta de indicação de membros para compor determinada comissão parlamentar de Inquérito é legítima e não desrespeita o comando constitucional insculpido no art. 58, § 3º, da CF, pois não interfere com a criação, e sim com a instalação, algo diverso da criação, para cujo escopo não são chamados os líderes dos partidos, dependendo apenas de ato do presidente da casa legislativa. Não se pode alar em frustração do exercício de direitos pelos grupos minoritários que atuam no Congresso Nacional, do direito público subjetivo que lhes é assegurado, uma que a obrigatoriedade de criação da comissão já foi cumprida no momento de emissão de ato do presidente. Vamos refletir acerca dessa efetiva instauração de uma investigação parlamentar em torno de fato determinado, como resultante de um direito das minorias determinado pelo STF. Criada uma determinada comissão parlamentar de inquérito e indicados os seus membros pelo Presidente da respectiva Casa Legislativa por determinação do Supremo, suponhamos que o Relator não pertença à dita minoria parlamentar e comece a obstaculizar as investigações que não sejam de interesse de seu partido. Ou ainda que o Presidente dessa comissão deixe de colocar em pauta requerimentos importantes para a investigação, de interesse das minorias. Como resolver esse dilema, a fim de dar um efeito concreto à vontade das minorias? O Supremo Tribunal estaria autorizado constitucionalmente a determinar que o Presidente da comissão pusesse em pauta esses requerimentos? Ou ainda poderia o Supremo determinar que o Relator da comissão incluísse, em seu relatório, um sub-relatório produzido por um sub-relator pertencente a essa minoria? Se a resposta for não, como ficaria a efetividade das investigações desejadas pelas minorias, de acordo com o chamado estatuto das minorias parlamentares? O suposto estatuto das minorias fica sem nenhum efeito e nem mesmo o Supremo conseguirá imprimir-lhe efetividade. A busca de efetividade nos trabalhos de uma comissão depende de vontade política, e não existe vontade política sem consenso. Desse modo, a maioria poderá, sempre que quiser, impedir a comissão de atingir seus objetivos políticos, se lhe faltar vontade política de deliberar a favor das propostas da minoria que compõe a comissão. Vamos adiante na análise do acórdão. A criação se dá por pleito da minoria, isto é verdade, todavia a Constituição e o Regimento não asseguram que, após a criação da comissão, os procedimentos posteriores sejam sustentados obrigatoriamente pela minoria. Assim, os requerimentos para oitivas de testemunhas deverão ser votados e aprovados pela maioria da comissão. Se esta não tiver interesse em que as testemunhas sejam ouvidas, rejeitarão os requerimentos, o que inviabilizará essa fase das investigações. Neste caso, não poderá o Supremo determinar que as testemunhas sejam ouvidas, simplesmente porque a minoria assim deseja proceder às investigações que lhe parecem de necessária realização. Se a minoria desejar realizar busca e apreensão ou quebra de sigilo bancário e telefônico e a maioria não aprovar essas medidas, mais uma vez a comissão não poderá prosseguir nesse tipo de investigação, porque depende da aprovação da maioria, não dispondo s minoria de recursos para impor à força tais procedimentos no âmbito da comissão. Notamos que, também aqui, é a maioria que decide a respeito das investigações, e não a minoria. Essa regra vale par todas as comissões parlamentares de inquérito, em todos os países que analisamos neste estudo, o que demonstra que a investigação não é da minoria, mas da comissão como um todo, e, em última análise, do parlamento, que pode, por meio de seu Plenário, inviabilizar diversos atos da comissão, impedindo sua prática ou desfazendo os seus efeitos. Podemos observar desses exemplos, que não é a minoria que realiza e conduz as investigações efetuadas pela comissão parlamentar de inquérito, mas a maioria, de acordo com a orientação de seus respectivos líderes. Citemos, como exemplo, o que ocorre quando relator e presidente da comissão encontram-se em desacordo com os procedimentos a serem adotados e são de partidos em oposição política um ao outro. O Relator deixa de acatar sugestões que são inconvenientes para sua bancada, para o seu partido e para os grupos que eles representam politicamente. O presidente, por sua vez, deixa de colocar em pauta aquilo que a liderança do seu partido considera prejudicial politicamente aos seus integrantes na Casa Legislativa. Como a minoria pode se contrapor ao Relator e ao Presidente em face desse comportamento que dificulta a realização de diversos atos pela comissão que a minoria gostaria de ver realizados? A questão não é tão simples quanto parece e não pode ser resolvida simplesmente com a alegação de que as minoria têm direito às investigações. Por essa razão, a formação comissão obedece à participação proporcional dos partidos em sua composição. A participação proporcional dos partidos tem um alcance democrático, pois permite a atuação das diversas correntes políticas, com a representação de todos os setores da sociedade, tanto a favor quanto contrários ao poder dominante. A importância desta representação proporcional foi bem percebida pela CPI da FUNAI, em seu relatório final, segundo o qual “os senhores parlamentares que compõem o quadro desta CPI representam, por sábia determinação constitucional, os vários segmentos da sociedade brasileira” A representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares, permite que há um amplo debate em torno de questões polêmicas, abrindose um espaço necessário para o confronto de opiniões, em busca de algum ponto de convergência. Assim, não se pode falar em extrapolação de regras constitucionais pelo Parlamento, quanto os líderes partidários se recusam a indicar membros para comporem as comissões. Até mesmo porque não existe qualquer norma constitucional ou infraconstitucional que obrigue o Presidente da Casa Legislativa a indicar os membros de cpi na ausência dessa indicação pelos respectivos líderes. A norma nesse sentido foi criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que instituiu uma obrigação ao Presidente da Casa Legislativa, à parte do que dispõe a Constituição e o Regimento Interno. O Supremo legislou para o Congresso acerca de procedimentos a serem adotados no âmbito de cpi. Isto equivale a dizer que o Supremo está criando norma regimental para o Congresso Nacional, decidindo questões interna corporis, de caráter político, e não jurídico. Vamos adiante no acórdão. Em outros casos, em que as comissões extrapolou do seu direito institucional, para ofender direitos e garantias fundamentais, o Supremo agiu como guardião desses direitos e como intérprete da lei. Assim, por exemplo, para assegurar que o advogado pudesse acompanhar testemunhas e zelar pelas garantias constitucionais e legais destas, como o direito à não-incriminação. Diante dos repetidos abusos que eram cometidos pelos membros das comissões parlamentares de inquérito que coagiam testemunhas a confessarem a prática de ilícitos, sob pena de serem presas em flagrante de falso testemunho, o STF firmou decisão para impedir essas arbitrariedades. A testemunha não é obrigada a se auto-incriminar, podendo calar-se, quando as informações lhe acarretarem prejuízo, caso em que não se configura o falso testemunho, conforme decisão do Supremo Tribunal, segundo a qual “não configura o crime de falso testemunho, quando a pessoa, depondo como testemunha, ainda que compromissada, deixa de revelar fatos que possam incriminá-la”. (HC nº 73.035 – DF, Relator Ministro CARLOS VELLOSO). Estamos diante de um típico caso de extrapolação, em que a cpi agiu fora de suas competências constitucionais e legais, violando direitos e garantias fundamentais. Daí a reação do Supremo Tribunal Federal, interferindo nos atos da comissão, a fim de assegurar o cumprimento da Constituição e das leis infraconstitucionais, exercendo seu papel de controle e fiscalização dos atos do Poder Legislativo. A indicação de membros para compor a comissão, entretanto, é da conveniência política dos líderes partidários, não encontra regra de obrigatoriedade nem na Constituição nem na lei, diante do que não se pode cogitar de abuso, de extrapolação ou de violência contra direito e garantia fundamental. A decisão é eminentemente política. Não há corrência de desvios jurídico-constitucionais quando líderes não indicam membros para comissões parlamentares de inquérito. Na forma do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, essa hipótese somente ocorreria na indicação de membros para comissões permanentes. Se a Comissão nem foi ainda instalada, como poderia incidir em desvios jurídicos-constitucionais? O controle que o Supremo está fazendo não é da atuação da comissão, mas um controle anterior a sua instalação, a respeito da conveniência política de sua instalação. O controle, portento, não é jurídico nem constitucional, e sim político, quanto à conveniência e oportunidade de instalação da comissão.” Com relação à defesa de direitos fundamentais, há uma leitura errônea quanto ao papel do Supremo por parte de alguns juristas e parlamentares, que se posicionam contra o controle e a fiscalização exercida pela Corte Suprema sobre os trabalhos das cpis. No que diz respeito, por exemplo, ao papel do advogado perante a comissão, aos poderes de busca e apreensão domiciliar, à determinação de prisão por falso testemunho, a atividade do Supremo tem por finalidade conter os excessos e abusos praticados no âmbito das comissões, impedindo a violação de direitos fundamentais e conformando a atividade legislativa aos preceitos constitucionais. Pode-se dizer mesmo que o Supremo tem impedido que o Parlamento abuse dos seus poderes e cometa atos políticos vedados ou não autorizados pelo nosso ordenamento constitucional. Não há, neste ponto, que se falar em ativismo judicial por parte do Supremo, uma vez que sua atividade, quanto a estes aspectos, não invadiu qualquer competência reservada a outros poderes. As decisões proferidas em habeas corpus e mandados de segurança contra atos de cpi se ajustam perfeitamente às suas atribuições como guardião da Constituição e como intérprete do sistema normativo vigente. A questões políticas também se transformam em questões jurídicas, diante do que se faz necessária a participação do Judiciário, a fim de expurgar o demérito dessa atividade política, dentro de uma processo legítimo de judicialização da política, porém, não de ativismo judicial. Entretanto, no tópico específico da indicação obrigatória de membros para as comissões parlamentares de inquérito, a atividade do Supremo é política e invade questão interna corporis, que diz respeito à conveniência e oportunidade política, e não a questão jurídica. Aqui, sim estamos diante de ativismo judicial, em que o Supremo avoca para si atribuições políticas do legislativo, transformando-se em arena de deliberação política, e não jurídica. A respeito das comissões parlamentares de inquérito, afirma Wilson, em sua obra Congressional Government, citada por Góis de Andrade, que “é o próprio dever de um corpo de representantes olhar, diligentemente, dentro de cada negócio do governo e falar bastante a respeito a respeito do que vê. Ele significa os olhos e a voz e corporifica a sabedoria e aspirações dos eleitores...A função informativa do Congresso seria mesmo preferível às suas funções.” Além do mais, é de se reconhecer que a divulgação e informação à opinião pública dos trabalhos de investigação da comissão exercem papel fundamental no controle da administração pública. Esta, pressionada pela opinião pública, principalmente em períodos de eleição, torna-se sensível à mudanças recomendadas pelo Poder Legislativo e à exigências impostas pela sociedade. É que a administração pública se submete a uma forma de controle social, que pode surgir de diversas maneiras: ora diretamente e formalmente, ora indiretamente e informalmente. Estes controles aparecem através de instrumentos jurídicos, como a ação popular; de instrumentos políticos, como a iniciativa popular, prevista na própria Constituição Federal; e de instrumentos sociais, como a atuação de setores organizados da sociedade civil, as manifestações e pressões da sociedade sobre os administradores públicos. Estes processos podem ser desencadeados através das investigações realizadas no âmbito das comissões parlamentares de inquérito. A partir dos fatos divulgados e investigados, a própria sociedade pode exercer uma forma de controle social e político da administração pública. A CPI que investigou denúncias de Pedro Collor, desencadeou uma onda de manifestações populares, que culminou no afastamento do então Presidente da República, Fernando Collor de Melo, irmão do denunciante. Aqui reside o fundamento político das comissões de inquérito. Ainda que não fossem previstas pela legislação em vigor, pelo ordenamento jurídico positivo, seu fundamento político imporia a sua existência e atuação, como decorrência da necessidade de informar o povo sobre os atos de seus governantes, como decorrência da atividade legiferante envolvendo a atuação do poder público e, ainda, como conseqüência natural da representação popular. Podemos mesmo dizer que um Estado Democrático de Direito não sobrevive sem essa função fiscalizatória do Estado pelo Poder Legislativo. Concernente a este aspecto e em harmonia com essa tese aqui esposada, citamos trecho do Relatório da CPI da Funai, em reforço ao argumento da fundamentação política da Comissão de Inquérito. Afirma o Relatório Final da Comissão que “nosso propósito é expressar o sentimento dominante dos senhores parlamentares, que, de coração aberto, movidos pelo mais alto ideário democrático, debateram todas as questões expostas. Não há espaço para radicalismos. Temos como objetivo reproduzir os pensamentos de cada setor envolvido, reduzindo, ao máximo, os espaços para um pensamento único, imposto por esta relatoria. Pelo contrário, todas as correntes de pensamento são consideradas, permitindo-se a discussão de eventuais divergências”. A Comissão, como braço do Parlamento, deve refletir as tendências políticas de todos os setores, de todas as correntes de pensamento, e não apenas de uma minoria. Desse modo, é pacífico que as comissões parlamentares de inquérito representam um forte e necessário instrumento de controle político, e não judicial, da atividade pública bem como de atividades privadas de interesse público. Se o controle é político, a conveniência de sua realização deve também ser política. Assim, deve-se resguardar o bom funcionamento dessas comissões e prevenir abusos e ilegalidades, o que tem sido feito adequadamente pelo STF, ao longo da história das cpis. Questões de relevância constitucional, como o devido processo legal e o respeito aos princípios de direito têm sido bem assistidas pela Corte Suprema, nas investigações realizadas pelas comissões parlamentares de inquérito. Todavia, não há base política para se considerar a instalação da cpi como um direito de minorias, obrigando-se à sua constituição por meio de procedimento judicial. A comissão tem caráter e finalidade políticos. Não se trata de um instrumento processual acautelatório de uma futura ação a ser instaurada no Judiciário. A obrigatoriedade que preside as investigações judiciais e policiais não pode ser transposta para o âmbito das cpis. Este é um processo político, cujo objetivo diz respeito ao aperfeiçoamento da legislação e à informação da sociedade. Esse poder é conferido ao Parlamento como instituição, do qual as comissões fazem parte. Não devemos esquecer que o Parlamento possui comissões permanentes, estas sim com obrigatória instalação e funcionamento exigido. Uma vez criada a comissão permanente compete aos líderes comunicar ao Presidente da Câmara, no prazo de cinco sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, irão integrar cada Comissão. É isto o que dispõe o art. 28, caput, do Regimento Interno das Câmara dos Deputados. Caso, não haja essa comunicação no prazo regimental, compete ao Presidente fazer, de ofício, a designação no prazo fixado, como determina o § 1º do art. 28 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Assim, a obrigatoriedade do Presidente designar membros para as comissões, só se aplica nas hipóteses de comissões permanentes, não abarcando as temporárias, entre as quais se encontram as cpis. Desse modo, não existe base política para que o Supremo determine que o Presidente da Câmara dos Deputados indique membros para as comissões parlamentares de inquérito. Todavia, a comissão parlamentar de inquérito é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um direito das minorias, não se podendo impedir sua criação e instalação, quando preenchidos os requisitos constitucionais e regimentais. Em casos como este, o Supremo tem determinado a instalação da comissão, sem que o Poder Legislativo, por maioria, possa decidir pela não-instalação. Ocorre que a CPI não é mais que um braço do Parlamento e, assim, não pode deter mais poderes do que este, nem ter uma vontade completamente autônoma em relação à Instituição que representa. Ora, não há fundamento para a tomada de decisões por minorias, no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nem na Constituição nem nos regimentos das Casas Legislativas encontramos disposição autorizando a votação por minoria. Assim, como se poderia estabelecer o entendimento de que uma comissão pode, enquanto minoria, se opor à vontade da Casa Legislativa na qual foi constituída? Trata-se de um paradoxo de difícil compreensão. Desse modo, a decisão pela instalação ou não de cpi deveria ser do Parlamento e não do STF. Mais uma vez, observamos a disposição do Supremo de interferir em questões que antes eram deixadas à conveniência das Casas Legislativas. fidelidade partidária. Muitas vezes, a criação da comissão tem finalidades políticas, na correlação de forças entre Legislativo e Executivo, e, nestes casos, é natural que a questão seja resolvida em função dos interesses políticos predominantes e da força da base de apoio ao Governo, no Congresso Nacional Citamos como exemplo notícia veiculada na Folha de São Paulo do dia 26 de março de 2001, afirmando que: “os principais líderes da oposição querem utilizar o apoio popular à CPI da corrupção para pressionar os governistas a assinar a abertura das investigações. Pesquisa Datafolha publicada ontem aponta que 84% dos brasileiros são a favor da instalação da CPI”. Este aspecto é importante na análise do papel das comissões parlamentares de inquérito e na composição de forças políticas que determinam seus rumos. Muitas vezes, o espaço da comissão é utilizado com a finalidade de pressionar o Governo, principalmente em ano eleitoral. Daí, a disputa política travada na comissão e na Casa Legislativa respectiva, até mesmo no sentido de inviabilizar o andamento dos trabalhos da comissão. Trata-se de um jogo natural do mundo político, do qual a Suprema Corte vem tentando participar, com bastante sucesso, uma vez que suas decisões têm sido cada vez mais ousadas, no sentido de conduzir os trabalhos das comissões parlamentares de inquérito, mais recentemente determinando a indicação coercitiva de seus membros, a fim de que os trabalhos possam ser iniciados efetivamente. A vontade do povo é o fator decisivo numa tomada de posição política. Essa vontade vem sendo substituída pela vontade do julgador, não eleito pelo povo e que, portanto, não pode figurar como seu legítimo representante em questões políticas. Fácil observar que a oposição de hoje, no passado, lutava pela não instalação da cpi, enquanto a oposição de outrora, atualmente, quer a todo custo evitar a instalação de cpi. Esse é o jogo político que costuma ocorrer na disputa de forças entre oposição e situação. Corte Suprema não se enquadra em nenhuma desses lados da disputa política e deveria ser um órgão neutro imparcial. Todavia, passou a interferir nesse jogo determinando que a comissão parlamentar de inquérito seja instalada, com a efetiva indicação de seus membros, o que acaba significando uma participação direta no jogo político. A nova cara do jogo político, da disputa política travada no âmbito das comissões parlamentares de inquérito vem sendo desenhada com a participação do Supremo Tribunal Federal, arena esta em que os seus Ministros desempenham um papel de homens políticos, com poderes de decidir em última instância questões interna corporis do Parlamento. O termômetro para definição a respeito da conveniência ou não de instalação de cpi deve ser a vontade popular, o interesse dos representados. A Casa política tomará decisões em função da repercussão política dos trabalhos da comissão. Mais u ma vez, decidir-se-á por parâmetros de maioria, e não de minoria. Atualmente, o público a que se dirigem as comissões de inquérito é visível, mensurável, participativo. Este público não existe apenas como realidade dispersa, como realidade discursiva, mas como massa consciente, reflexiva, como ator do processo político democrático, não mais condenados ao silêncio. Isso tem levado políticos interessados em desencadear um processo de controle e fiscalização dos atos da administração pública a conclamar a opinião pública no sentido de pressionar o Poder Legislativo a instalar Comissão de Inquérito. É o caso, por exemplo, defendido pelo ex-Presidente da República, à época, Governador do Estado de Minas Gerais, Itamar Franco, que, segundo notícia divulgada pela Folha de São Paulo do dia 23 de março de 2001, “defendeu em São Paulo uma "mobilização nacional nas ruas" pela instalação de uma CPI no Congresso para apurar denúncias de corrupção. "Se o próprio Congresso Nacional está com dificuldades de criar uma CPI, se o presidente da República impede essa CPI, esse debate tem que ser levado para fora. Ele não pode ficar cingido hoje ao Congresso", teria dito Itamar, de acordo com a reportagem mencionada. A posição defendida por Itamar é própria do combatente político, que reconhece no povo, no eleitor, o forum legítimo de debate e decisão políticos. Em nenhum momento, cogitou Itamar de levar ao Supremo a decisão quanto aos rumos da comissão e da disputa política. A pressão popular, a manifestação dos eleitores é o termômetro certo para determinar a decisão que o homem político deve tomar diante das circunstâncias. O Supremo ao determinar a instalação coercitiva da comissão, suprimiu essa vontade e passou a ser o fiel da balança política, decidindo, sem possibilidade de recurso, acerca da conveniência política de instalar ou não uma comissão parlamentar de inquérito, que pode estar sendo utilizada pela oposição como meio de combate político ao Governo, buscando um enfrentamento na arena de combate político. Continuamos com a notícia: Fica bem clara a natureza política da comissão que se pretendia criar, a fim de investigar denúncias de corrupção no governo. Ora, a instigação de denúncias por parte de autoridades pode ser feita pelos órgãos policiais e pelo Ministério Público, o que têm sido feito no Brasil com bastante proficiência. A maior preocupação com a instalação dessa comissão era política. Os grupos de oposição desejavam fechar um cerco ao governo, valendo-se da cpi como instrumento de pressão política. Ocorre que, em um sistema como o nosso, havendo uma maioria no Congresso favorável ao governo, as chances desse tipo de comissão atingir o Chefe do Executivo são pequenas, pois os aliados do governo obstaculizarão todas as manobras que possam resultar em prejuízo político para o governo. Haverá muito mais barulho político do que resultados efetivos, o que costuma ocorrer com bastante freqüência nesse tipo de manobra política. Os critérios para decisão sobre a instalação ou não de cpi continuarão sendo políticos, e, embora seja determinada a instalação por meio de decisão judicial, o seu funcionamento e as articulações internas permanecerão atrelados a valores políticos, em face dos dividendos políticos que poderão ser gerados pelos trabalhos da comissão. Exemplo claro disto é o que ocorreu com a cpi das obras inacabadas no ano de 2001, na Câmara dos Deputados. À medida que a comissão avançava nas investigações, diversos interesses políticos em jogo começaram a ser ameaçados, e o funcionamento da comissão passou a ser algo completamente inoportuno para as lideranças política na Casa Legislativa. O resultado disso não demorou a ocorrer. Durante votação para decidir a respeito da prorrogação ou não dos trabalhos, as lideranças decidiram, por unanimidade, encerrar os trabalhos da cpi, dando-lhe prazo de dez dias para apresentar seu relatório, que, àquela altura, teve de ser feito superficialmente, apenas para cumprir a burocracia, uma vez que as principais obras a serem investigadas ainda não tinham sido objeto de inquérito pela comissão. O critério político definiu os rumos da comissão, sem que as minorias pudessem fazer qualquer coisa a esse respeito. Em entrevista concedida à Revista Consultor Jurídico de 5 de abril de 2006, o Ministro Carlos Britto expõe suas idéias e dá a sua visão sobre o sistema judicial brasileiro. Não analisaremos toda a entrevista, em virtude de que alguns pontos não dizem diretamente com o estudo que estamos efetuando a respeito do controle de comissões parlamentares de inquérito pelo STF. Assim, passaremos a comentar as afirmações que guardam pertinência com a interferência da Suprema Corte nos trabalhos das cpis. Um dos aspectos comentados pelo Ministro Carlos Ayres Britto diz respeito à necessidade de imprimir maior efetividade à Constituição de 88, tarefa esta que o Supremo Tribunal Federal vem desempenhando. A Constituição realmente deve ter o máximo de efetividade. Todavia, essa efetividade não é obtida apenas por intermédio da atuação do Supremo Tribunal Federal. Todos os três Poderes exercem uma parcela de competência para dar efetividade à Constituição. O Supremo Tribunal Federal não pode ser o único guardião da Constituição. Essa função compete aos três Poderes em harmonia. Prova disso, são as comissões de justiça existentes nas duas Casas do Congresso Nacional, que desempenham um tipo de controle de constitucionalidade preventivo e político. Ressalta, ainda, o Ministro o compromisso que a nova Constituição assumiu com a moralidade administrativa e a democracia de três vértices, que é a Democracia política, social e fraternal. Perfeita essa observação quanto à proteção dos direitos fundamentais, uma forte vertente da judicialização da política. Este processo de controle dos atos do Poder Legislativo e da administração pública é natural e decorrência natural da expansão dos demais poderes, como bem observa Grimm. À medida que o Estado avança e começa a interferir nos direitos dos cidadãos, surge o Judiciário como balizador e limitador dessa atiação, valendo-se da moldura constitucional e legal para estabelecer os limites de atuação do Poder Público diante dos direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido, as ponderações apresentadas por Cristina M. M. Queiroz, que transcrevemos: "O jogo recíproco entre a direção normativa do processo político e as reacções das idéias e força políticas que constituem a ordem normativa real ou constituição efectiva não podem ser suprimidos nem para um lado nem para o outro. No conflito entre o princípio do Estado de direito e o direito de governar, a máxima montagem de controles 'inter-orgânicos' não significa sempre um resultado ótimo. A institucionalização de mecanismos de controle jurídico do poder apresenta-se como um elemento necessário e indefectível do Estado de Direito. Mas seria puro engano pressupor que o manejo de todo esse instrumentário jurídico pudesse alguma vez resolver todos os problemas concernentes à justiciabilidade do político. Numa ordem constitucional livre e democrática, o controle jurídico não é tudo. Controles 'sociais' e 'políticos' também se desenvolvem como desde há muito foi notado. Defensores da Constituição são todos os órgãos constitucionais e todos os cidadãos com 'vontade de Constituição'". Essa atuação do Supremo não configura ativismo judicial, porém judicialização da política, que significa dizer que para as novas ações do Poder Público corresponderão reações do Judiciário como garante dos direitos e garantias fundamentais ameaçados ou violados. Isto cria um sistema de equilíbrio dos Poderes e mantém fortes as instituições democráticas. Bem mencionados, também pelo Ministro, os aspectos das liberdades constitucionais e da cidadania. Esses parâmetros mostram, efetivamente, a necessidade de se resguardarem a conveniência e a oportunidade política de certas decisões do Parlamento, dos partidos e dos eleitores. A liberdade política é exercida também quando os representantes políticos do povo tomam decisões políticas em seu nome. Quando o Judiciário começa a substituir a liberdade política pela orientação tecnocrática, as liberdades políticas ficam comprometidas e enfraquecidas e a democracia passa a ter uma feição tecnocrática, em que um corpo técnico, especializado, julga a qualidade dos atos políticos e os modifica ou substitui por outros considerados de melhor qualidade técnica. Quando uma Corte se sente responsável com exclusividade pela guarda da Constituição, passamos a ter uma tecnocracia, em que as liberdades políticas exercidas pelos representantes do povo, eleitos pelo voto, já não desfrutam de grande importância. Nesse texto em análise, fala-se também em impedir o desgoverno. Uma forma de desgoverno, na opinião do Ministro, seria o descumprimento da Constituição. Afirma S. Exa. que “descumprir a Constituição é a mais grave maneira de incidir em desgoverno e o papel do Judiciário é obstar que isso aconteça. Que as autoridades políticas governem, claro, que para isso foram eleitas. Mas que o façam nos moldes de uma Constituição que nos cabe guardar. Por isso que a nossa função é jurídico-política, no particular. Jurídica, por nos caber julgar segundo critérios de legalidade e de constitucionalidade da ação dos poderes públicos (não por critérios de conveniência e oportunidade). Política, porque nesse tipo de julgamento técnico somos nós que terminamos por demarcar as fronteiras do legítimo atuar de cada qual dos poderes da República. Cuida-se, portanto, de uma política republicana. Não de uma política partidária”. Controlar os Poderes, para impedir os desmandos e o desgoverno está dentro das tradicionais linhas da judicialização da política, mas não do ativismo judicial. Uma coisa é estabelecer limites à atividade política em face das garantias e direitos fundamentais, outra é exercer a competência de outro Poder. Ao decidir, por exemplo, sobre a indicação forçada de membros de uma comissão de inquérito, não estamos diante de uma situação de desgoverno ou de desmando, mas de uma decisão quanto à conveniência de uma atividade de caráter político. A interferência do Judiciário, nesta questão, transfere uma parcela de competência do legislativo para o juiz e diminui o espectro de funções do homem político. Com ralação ao papel do Supremo de órgão fiscalizador dos atos das comissões parlamentares de inquérito, entende o Ministro Carlos Ayres Britto que não ocorre “o deliberado propósito de travar, de puxar o freio de mão do carro parlamentar”. Afirma também que “as decisões que tenho lido primam por uma fundamentação técnica. São explicitamente referidas a normas constitucionais de proteção a bens jurídicos ali rotulados de fundamentais. Se não tenho, pessoalmente, concedido liminares em habeas corpus e mandados de segurança contra relatores ou sub-relatores de CPI´s, isto se deve ao fato de que, nos meus processos, e ainda em caráter prévio e sumário, não tenho concluído pelo cometimento de abuso ou ilegalidade por parte daquelas autoridades. Mas cada caso é um caso, como universalmente sabido”. Todos os atos políticos, no Estado de direito, encontram-se subordinados ao império da ordem jurídica, ao princípio da reserva legal, bem como aos princípios da soberania do interesse popular e da sua indisponibilidade. O controle da atividade política deve obedecer aos princípios da soberania do interesse popular sobre o interesse dos particulares e da indisponibilidade de tais interesses pelo Poder Público. Não é a hipótese de indicação de membros de comissões parlamentares de inquérito. Não há supressão de interesse público nem disponibilidade de tal interesse. Tal soberania do interesse popular é postulado inarredável e necessário à construção da democracia representativa. Quando o STF decide que o Presidente da Casa Legislativa deve indicar membros da omissão parlamentar de inquérito, está limitando o exercício dessa representatividade e da soberania popular manifestada nas urnas. Indagado sobre cerceamento de defesa na cpi, assim respondeu: Carlos Ayres Britto : “Há nas CPI´s o risco da espetacularização funcional, devido à notoriedade que a mídia confere a quem delas participa. Todavia, estrelismos à parte, entendo que uma investigação somente é de se interromper por desvio de foco. Fora disso, apenas se o procedimento investigativo resvalar para a zona proibida da ilegalidade ou da abusividade. Quero dizer: para se ganhar u´a medida liminar em Habeas Corpus ou Mandado de Segurança, não basta que o particular alegue violação ou ameaça de violação a direito subjetivo, ainda que esse direito seja do tipo líquido e certo. É preciso ver se tal direito se encontra em situação de efetiva ou potencial lesividade, por efeito, precisamente, de uma conduta pública de ilegalidade ou excesso de poder. A Constituição torna inviolável o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem das pessoas; não há dúvida. Assim como consagra a inviolabilidade do sigilo da correspondência, de dados e das comunicações telegráficas e telefônicas. Mas é preciso aferir se as autoridades parlamentares não estão a agir nos claros limites do seu poder instrutório, que é um poder equiparado ao dos juizes”. Os limites de atuação de atuação das cpis têm sido, de fato, expostos pelo Supremo Tribunal Federal adequadamento, em face de extrapolação da atividade política. Em muitos casos, as comissões tem invadido esferas de direitos e garantias fundamentais, a fim de obter o fim desejado nas investigações. Neste ponto, o STF tem agido como guardião da Constituição, para impedir arbitrariedades por parte de parlamentares que ignoram as normas contidas na Constituição e na lei e ampliam os limites da investigação política para além dos limites do próprio ordenamento jurídico. Exemplo claro de abusos praticados no âmbito de cpi é a busca e apreensão em escritório de advogado, com o confisco de material de trabalho e peças processuais relacionadas com a defesa dos clientes. As cpis tendiam a cometer esse tipo de abuso, ignorando prerrogativas de advogados contidas na lei, inclusive com a quebra compulsória de sigilo profissional resguardado por lei. Neste ponto, delimitou oportunamente os limites da comissão quanto à busca e apreensão domiciliar. A busca e apreensão domiciliar, todavia, depende de autorização judicial, em face da reserva constitucional contida no art. 5º, XI, da Constituição Federal, cujo teor é o seguinte: "A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a comissão parlamentar de inquérito não pode determinar busca e apreensão domiciliar, a não ser por determinação judicial. Esse é um claro exemplo de atuação do STF que resguarda o cumprimento da Constituição, impedindo que o Parlamento destrua a inviolabilidade de domicílio tutelada pela Constituição. Se não houvesse esse freio por parte do Supremo, as cpis já teriam derrogado, na prática, o direito à inviolabilidade de domicílio, em clara afronta ao Estado Democrático de Direito. Neste caso, foi a extrapolação da atividade política que gerou a atuação do Supremo, chamado a garantir o cumprimento de direito fundamental, validando a hipótese de Grimm, concebida para o sistema político americano, em que a extrapolação por parte de outros Poderes tem gerado certa reação por parte do Judiciário. Todavia, no que diz respeito à indicação de membros da comissão, não há que se falar em extrapolação ou abuso de autoridade. As comissões parlamentares de inquérito, por muito tempo, inviabilizaram a participação de advogado na defesa de seus clientes, impedindo que esses profissionais atuassem de forma mais efetiva, a fim de impedir abusos contra depoentes e testemunhas. Mais uma vez, o STF adequou essa atuação das comissões aos preceitos instituídos pela Carta Magna, a fim de resguardar os direitos fundamentais, a dignidade do ser humano e o Estado Democrático de Direito. Neste sentido o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Mandado de Segurança nº 23.576/DF, Relator o Ministro Celso de Mello. Essa decisão foi proferida em relação a ato praticado no âmbito da CPI do Narcotráfico, que dizia respeito à observância das prerrogativas profissionais, que, definidas na Lei nº 8.906/94, assistem ao impetrante, em sua condição de Advogado. Alegava-se que tinha havido coação, arbitrariedade e abusividade por parte do Presidente da Comissão, em desrespeito ao Estatuto da Advocacia, cerceando, injustamente, o impetrante, no exercício legítimo de suas atividades profissionais. A interferência do Supremo se deu a fim de garantir o exercício, pelo Advogado, das prerrogativas de ordem profissional outorgadas pela Lei nº 8.906/94. O Presidente da CPI do Narcotráfico formulou pedido de reconsideração, que foi, todavia, indeferido. A decisão invocou o “respeito incondicional aos valores e aos princípios sobre os quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado, o que, longe de comprometer a eficácia das investigações parlamentares, configura fator de irrecusável legitimação de todas as ações lícitas desenvolvidas pelas comissões legislativas. Não se admite que a Comissão possa subverter as concepções que dão significado democrático ao Estado de Direito, constituindo essa espaço parlamentar um universo diferenciado, paradoxalmente imune ao poder do Direito e infenso à supremacia da Lei Fundamental da República. Argumentou-se também com a inexistência de direitos absolutos e de poderes ilimitados em qualquer estrutura institucional fundada em bases democráticas. Assim, a investigação parlamentar, afirmou o Acórdão, “por mais graves que sejam os fatos pesquisados pela Comissão legislativa, não pode desviar-se dos limites traçados pela Constituição e nem transgredir as garantias, que, decorrentes do sistema normativo, foram atribuídas à generalidade das pessoas (...) A unilateralidade do procedimento de investigação parlamentar não confere à CPI o poder de agir arbitrariamente em relação ao indiciado e às testemunhas, negando-lhes, abusivamente, determinados direitos e certas garantias - como a prerrogativa contra a autoincriminação - que derivam do texto constitucional ou de preceitos inscritos em diplomas legais. Existe visível extrapolação da atividade legislativa, neste caso, por parte da comissão parlamentar de inquérito, que começava a se colocar acima da Constituição, como um poder sem limites quer no plano político como jurídico. As comissões parlamentares de inquérito não estão acima do bem e do mal nem acima dos princípios que regem a política e o direito. Desse modo, a interferência do STF veio conter manobras políticas abusivas, que, na maior parte das vezes, tinham o objetivo de ganhar a atenção da mídia, com fins de alcançar projeção política por parte de parlamentares interessados em aumentar seu prestígio junto ao eleitorado ou conquistar novos redutos eleitorais. O desgoverno político levou o Supremo a governar quem governa, na expressão do Ministro Ayres de Brito. A concessão de muitos habeas corpus e mandados de segurança tem decorrido de abusos cometidos pelas comissões parlamentares de inquérito. Testemunhas são chamadas para depor a respeito de fatos criminosos praticados por elas mesmas. Essa prática se firmou nas comissões parlamentares de inquérito, em face da impossibilidade de chamar os investigados e acusados para confessarem seus delitos. Assim, os acusados passaram ser intimados na qualidade de testemunhas, na esperança de que, uma vez recusando-se a confessar a prática de crimes, fossem presos em flagrante por falso testemunho. Essa prática perdurou por muito tempo nas comissões parlamentares de inquérito, gerando uma reação por parte do Judiciário, que passou a conter o ímpeto dos parlamentares que compunham esse tipo de comissão. Já houve caso, em que o habeas corpus foi concedido por telefone, hipótese em que um Ministro do STF teve de conversar, ao telefone com o Presidente da CPI, para impedir que prisão ilegal de testemunha fosse efetuada. Prisões previamente anunciadas levavam inúmeras câmeras de televisão à sala de audiência da comissão, gerando um verdadeiro espetáculo político, em prejuízo da democracia e das instituições democráticas. Assim, pode-se afirmar que a interferência do STF nas comissões parlamentares de inquérito foi gerada pelos abusos cometidos pelas próprias comissões. Essa interferência judicial é fruto da extrapolação por parte dos homens políticos ansiosos pela aparição na mídia, ainda que para isso direitos fundamentais fossem violados. Essa forma de controle exercida pelo STF sobre as cpis decorre, por outro lado, da busca de visibilidade política pelos membros da comissão, que articulam ações parlamentares, no âmbito da comissão, que possam levar a uma extensa audiência. A tentação de transformar a comissão num palco eleitoral costuma ser grande e, nesse momentos, é difícil conter o ânimo de parlamentares sedentos de votos. Há exemplos, sem qualquer juízo de valor quanto o comportamento do parlamentar, em que integrantes de comissões parlamentares de inquérito, sobretudo relator e presidente, conseguiram subir um degrau na carreira política, graças a sua atuação na comissão. Isto explica o grande interesse pela constituição de comissão e pela participação arrojada em seus trabalhos, em épocas de eleição. Por isso, a intervenção do STF tem sido necessária, com muita freqüência, para impedir a violação de direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição, como o devido processo legal, a dignidade do ser humano, o legítimo direito de defesa, entre outros. Trata-se de uma intervenção provocada pelo desgoverno na atividade política. Essa evolução tem-se verificado, de fato, no que tange à atuação das cpis, após inúmeras interferências do STF nos seus trabalhos, para resguardar os direitos fundamentais. Atualmente, as comissões seguem um pauta de orientações fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, ao longo da História, de forma a ajustar seus procedimentos à interpretação dada pela mais alta Corte ao texto constitucional. A extrapolação por parle do legislador gerou um avanço do juiz na delimitação de condutas políticas, o que, por sua vez, sedimentou, no âmbito dessa comissões, um comportamento marcado por balizamentos judiciais, aproximando Parlamento e Judiciário, com ganhos para a democracia. Questão importante nesta questão de controle da cpi, foi formulada pelo entrevistador da ConJur, nos seguintes termos: “ConJur — Em casos de grande repercussão, como o das CPIs, o juiz não corre o risco de ficar refém da opinião pública?” O pronunciamento doa Ministro Ayres Britto veio nos seguintes termos: “Equivoca-se o juiz que se deixa ficar refém da opinião pública, assim como o que dá as costas para ela. São dois extremos a evitar, pois o certo é seguir a máxima de que a virtude está no meio (medius in virtus). (...) Nós estamos absolutamente sozinhos quando vamos decidir e por isso é que a responsabilidade dessa decisão é sempre sentida como algo rigorosamente pessoal.” Aqui encontramos uma afirmação que se coaduna perfeitamente com a posição magistral, clássica, da independência, neutralidade e imparcialidade do juiz, quando, ao julgar, não pode ficar refém da comoção popular. O que ocorre com as cpis é que o próprio ambiente de pressão popular por punição dos criminosos investigados ou acusados, leva os parlamentares a tentarem dar uma resposta política imediata à altura dos anseios populares. Isto fazem, porque se encontram envolvidos com a idéia da própria representatividade e da execução da vontade de seus eleitores. Assim, o exercício da representação, por vezes, leva o parlamentar a esquecer-se do seu compromisso com o cumprimento da Constituição. A preocupação com as reivindicações das massas leva a um envolvimento emocional, que pode gerar o desbordamento dos limites constitucionalmente impostos. Por essa razão, o juiz, eqüidistante, dessa comoção social, pode decidir com mais clareza, ei sem envolvimento emocional, acerca da extensão dos direitos e garantias individuais em jogo.” Por isso mesmo, o Judiciário não deve ter um postura política, de representante do povo, pois esse tipo de representação acaba com a imparcialidade e a tranqüilidade de que necessita o juiz, para contornar as situações de conflito social. Opinião diametralmente oposta à interferência do Judiciário nos atos interna corporis das cpis é manifestada pelo Jurista e exDeputado Federal Hélio Bicudo, publicado no Jornal do Brasil, do dia 29 março de 2006, cujo título é “Erro no Supremo. Nesse artigo, o Hélio Bicudo reage a essa ingerência do Supremo nos trabalhos do Parlamento, considerando que as liminares que vêm sendo concedidas contra atos de cpi, em vez de garantir direitos os desqualificam. Quanto à garantia dos direitos fundamentais, não há dúvida, como já comentamos, que ao longo da história das comissões parlamentares de inquérito, têm havido muitos abusos e violações de garantias fundamentais, inclusive com o constrangimento imposto à liberdade de depoentes e testemunhas, chamados para participar de um espetáculo político, montado com o fim de granjear prestígio na mídia por parte de alguns integrantes, com a contestação veemente por parte de outros membros das diversas comissões. Sem essa interferência oportuna do Supremo Tribunal Federal, as comissões de inquérito hoje seriam verdadeiros tribunais de exceções, em que nenhuma garantia poderia ser assegurada a qualquer cidadão que fosse envolvido com seus trabalhos de investigação. Nesse ponto, o Supremo tem desempenhado papel fundamental contra a arbitrariedade, o desmando e o autoritarismo, propiciando um equilíbrio saudável de poder entre as instituições democráticas. O regramento constitucional acerca dos direitos e garantias fundamentais e a aplicação subsidiária do Código de Processo Penal aos trabalhos das cpis, pelo Regimento Interno, já leva a uma necessidade de interpretação técnica por parte do judiciário, quanto ao correto conteúdo da lei e de suas possibilidades de aplicação. Essa supremacia técnico é uma decorrência natural da atividade do juiz como intérprete da lei. Cabe ao Supremo dizer, em última análise qual a significação da lei e qual o alcance de sua interpretação e aplicação para os trabalhos desenvolvidos pelas comissões de investigação parlamentar. Não há que se falar em ativismo judicial, portanto, quando o juiz exerce sua função de intérprete e de guardião da lei. Entretanto, quando falamos de indicação compulsória de membros de uma comissão temporária ou quando se alude a estatura das minorias parlamentares, estamos diante da supremacia do discurso técnico, que funciona como fundamento para que o Supremo elabore leis que ele próprio irá aplicar. Não há um estatuto de minorias votado pelo Congresso Nacional, de forma que o estatuto a que alude o Supremo é aquele por ele mesmo criado, em questões concreta, por meio de sua jurisprudência. Esse é um típico caso de ativismo judicial, em que o Supremo se considera melhor aparelhado para criar as regras que irão governar a atividade das comissões parlamentares de inquérito e, até mesmo do presidente da Casa Legislativa, que deverá se submeter à vontade política do Supremo de criar comissão parlamentar de inquérito, que, no seu entender, é importante para a democracia. O Supremo substitui a vontade do eleitor e de seus representantes pela sua, considerando que seus integrantes estão em melhores condições de ditar a regras para o funcionamento do Congresso Nacional, quanto a esse tema. Todavia, com relação à imposição de instalação de cpi, à indicação compulsória de membros para essas comissões, não vemos como não reconhecer a interferência política da Corte, deliberando sobre questão interna corporis do Parlamento. Esse ativismo judicial vai além daquilo que seria a defesa de direitos fundamentais, para alcançar uma parcela de competência legislativa, reservada aos órgãos do Congresso Nacional, e, atualmente, por força de uma atividade interpretativa, também pelo Supremo, funcionando como uma terceira Casa do Congresso Nacional. O Supremo avançou na sua configuração, entendendo que questões eminentemente política, relativas à condução de assuntos políticos internos do Parlamento, também podem ser deliberadas pelo Supremo, que, neste caso, tem a última palavra política sobre a matéria em discussão. A partir desses comentários e análises, podemos testar nossa hipóteses com relação ao controle exercido pelo Supremo Tribunal Federal sobre os trabalhos das comissões parlamentares de inquérito. Somente uma vontade de agir politicamente por parte dos membros da Corte explicaria essa solução adotada. Uma vez que se trata de conveniência e oportunidade políticas permitidas pelo Regimento Interno, a interferência do Supremo só pode decorrer de uma vontade da mais alta Corte do País de transformar em espaço de deliberação política, esquecendo a clássica divisão de poderes e avançando para se tornar igualmente um Tribunal político. No que tange ao controle dos demais atos da cpi, independentemente da composição da Corte, seus membros não deixariam de exercer o mister de guardião da Constituição e do ordenamento jurídico nacional, de pilares de sustentação dos direitos e garantias fundamentais, não servindo a hipótese para fundamentar esses casos que não são de ativismo judicial, mas de natural judicialização da política. CAPÍTULO 4 A QUESTÃO DA FIDELIDADE PARTIDÁRIA Outro caso a ser analisado diz respeito à fidelidade partidária e à perda do mandato em face da troca de partidos. Este é um dos pontos mais marcantes na análise do ativismo judicial, tendo em vista a postura assumida pelo Judiciário, no âmbito do TSE e do STF, no sentido de determinar a perda de mandato em face da troca de partido pelo eleito. Essa matéria tem previsão no art. 55 da Constituição Federal que prevê as hipóteses de perda de mandato e não inclui a infidelidade partidária como motivo para privar o parlamentar do exercício do mandato legitimamente conferido pelo povo nas urnas. Diante do novo perfil assumido pelo Supremo no Brasil, podemos afirmar que houve um rompimento com o tradicional sistema de separação de Poderes O Supremo tem assumido funções típicas de Poder Legislativo, dimensionando um novo espaço de atuação política no sistema brasileiro. Neste sentido, há uma manifestação publicada na revista “Valor Econômico”, do dia 4 de julho de 2008, sob o título “Uma fidelidade partidária para políticos pouco infiéis”, por se tratar de visão exposta no âmbito da sociedade civil, que reflete como essa questão vem sendo captada pela sociedade. O articulador da matéria considera que o Congresso e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vêm mantendo uma queda-de-braço em torno de regulamentações dos pleitos. Na sua visão, o tribunal tem sistematicamente extrapolado de suas funções, e legislado, e o Congresso respondido com mudanças na lei que acomodam interesses políticos dos parlamentares. Afirma que: “Um comprime, outro dilata as regras eleitorais, de tal forma que o princípio da segurança jurídica nunca vale nesse mercado.“ Esta é a percepção de um observador externo à composição da Corte Eleitoras e do Congresso Nacional, um representante da sociedade civil que considera a atuação doa Tribunal como extrapolação de suas funções e percebe um embate de forças no campo político entre Judiciário e Legislativo. De fato, tem razão o analista da matéria quanto ao fato de que o Tribunal legislou, indo além da interpretação da lei em vigor. O que o Tribunal fez foi criar novas regras de conduta para os políticos no que diz respeito `fidelidade partidária. Decidiu o Tribunal que o mandato é do partido e que, portanto, os infiéis deverão perdera o mandato. A solução do Tribunal, legislando acerca do assunto, pôs em cheque a vontade do eleitor não manifestada quer diretamente, quer por meio de seus representantes no Congresso. Um corpo técnico decidiu qual é a vontade do eleitor e estabeleceu normas a serem seguidas pelos parlamentares. Por outro, lado o Parlamento não tem demonstrado interesse modificar essa situação, impedindo efetivamente a troca de partidos. A prática tem sido politicamente tolerada, em face das circunstâncias vigentes. A respeito deste aspecto, assim observa Vitor Emanuel Marcheti Ferra Júnior: “Ainda que considerássemos a migração partidária como um efeito da falta de compromisso do parlamentar com o partido político, não poderíamos descartar que a sua prática é estimulada pelo desenho institucional brasileiro. A combinação de um sistema proporcional de lista aberta com um regime presidencialista e um pacto federativo que sobre-representa alguns Estados e sub-representa outros, aliada a uma agenda de governo extremamente constitucionalizada (Couto, 1997), acaba transformando a migração partidária em um instrumento do governo para a formação de sua coalizão.”(pág. 173) No Mandado de Segurança n.º 23.505/04, a questão da perda de mandato por infidelidade partidária foi enfrentada pela Corte Suprema e o voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferido em 2004 afirma claramente que “a Constituição não fornece elementos para que se provoque o resultado pretendido pelo requerente”, a saber, a perda de mandato do infiel. Outro entendimento jurisprudencial, adotado pelo Supremo Tribunal Federal no MS n° 20.927, afastou a possibilidade da perda de mandato, em caso de infidelidade.. A presença de Moreira Alves, nesse processo, teve significativa importância na condução do problema, embora houvesse votos discordantes. O Ministro Rezek vislumbrava tempos diferentes, em que a Corte avançaria nessa orientação. O que só foi possível com a saída de Moreira Alves, situação esta que permitiu a assunção de novas lideranças jurídicas, na Corte, com visão diversa da anterior. A mudança na composição do Tribunal influenciou essa mudança na jurisprudência, permitindo a adoção da perda do mandato como resultado da infidelidade partidária. Com a saída de Moreira Alves, o Ministro Gilmar Mendes, que antes havia concluído pela impossibilidade da perda de mandato por infidelidade partidária, mudou de orientação e passou a admitir essa solução constitucional, mesmo sem que a Constituição tivesse sido alterada nesse particular. A composição da Corte por Ministros mais arrojados, entre eles Gilmar Mendes, com disposição para avançar em relação às atribuições do Tribunal, tem levado à tomada de decisões mais amplas, de efeitos mais expandidos, rompendo com a clássica divisão de poderes. Como pudemos observar na afirmação do Presidente da Corte, o Tribunal representa o povo, em decorrência não do voto, mas da argumentatividade. Isto demonstra que há, por parte da atual composição do Tribunal, uma manifesta vontade de exercer um papel político, e não mais apenas interpretativo da Constituição. Mesmo sem a atuação do legislador constituinte derivado, no sentido de acrescentar novo fundamento para perda de mandato parlamentar, a Corte Suprema mudou de orientação, deixando de se basear nas hipóteses previamente contempladas pelo legislador, no texto constitucional, e passou a atualizar e a modificar a Constituição, alterando a regra do jogo. Pode-se dizer que, ainda que a Constituição não autorize determinada solução, o Supremo julga-se autorizado a mudar a Constituição, procedendo como constituinte derivado, a fim de adequá-la às mudanças sociais e políticas ocorridas no seio da sociedade. O entendimento esposado pelos Ministros da Suprema Corte acerca da fidelidade partidária encontra-se distribuído da seguinte maneira: CELSO DE MELLO – No se entender, o mandato pertence ao partido, e não ao candidato eleito e a troca de partido desrespeita a vontade soberana do povo. Considera que a nova regra deve valer apenas para apenas para os que deixaram o partido após a decisão prolatada pelo TSE, em 27 de março. A questão maior, nessa discussão, é a legitimidade para representar o povo e fazer valer a sua soberania. O Supremo não possui Ministros eleitos pelo povo, e, assim, não está investido das funções de representante dos eleitores. Se a vontade soberana é do povo, não há como explicar que os Ministros do Supremo deliberem acerca da questão política, produzindo norma constitucional nova, sem que se tenham submetido à vontade das urnas. Não há argumentos para explicar como a Suprema Corte se transmuda em porta-voz da vontade popular, da soberania do povo, sem possuir mandato para isso. Se a soberania é do povo, a solução legítima seria aguardar que, nas próximas eleições, os eleitores se abstivessem de votar nos candidatos que trocaram de partido. É assim que o povo manifesta sua vontade soberana. O voto é a expressão democrática da vontade popular. Neste caso, o voto do povo nas urnas está sendo substituído pelo voto dos integrantes do Supremo. EROS GRAU – Seu entendimento é o de que o STF não tem legitimidade para, em mandado de segurança, cassar mandatos de parlamentares. Não vê o partido como detentor do mandato. Argumentou ainda com o amplo direito de defesa dos parlamentares. De acordo com o Ministro, não há preceito constitucional que autorize o presidente da Casa Legislativa a declarar a perda de mandato e convocar o suplente, sem que haja a manifestação da mesa e do interessado, em obediência ao princípio do contraditório e da ampla defesa Segundo entendimento do Ministro, a Constituição não prevê a troca de partido como causa de perda de mandato. No MS n.º 26602 / DF, o Ministro Eros Grau afirmou que as hipóteses de perda de mandato parlamentar encontram-se taxativamente previstas no texto constitucional, não havendo entre os casos previstos a infidelidade como causa de cassação do mandato . Esse entendimento do Ministro Eros Grau coaduna-se perfeitamente com o modelo de democracia consagrado na Constituição brasileira. Sem a previsão de perda de mandato na Constituição, qualquer decisão que imponha essa penalidade representa a criação de nova norma constitucional, sem a obediência aos requisitos impostos para a formação e regular desenvolvimento do processo legislativo relativo à mudança de texto constitucional. A sistemática vigente prevê a iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; do Presidente da República; de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma, pela maioria relativa de seus membros. Em momento algum se inclui o Supremo como entidade legítima a provocar a emenda à Constituição. Todavia, uma ente que sequer é legítimo para propor emenda outorgou-se a legitimidade para proceder à emenda sem a participação do Congresso Nacional. Também quanto à votação, a Constituição exige que a PEC seja discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. Como se pode ver, para a mudança na Constituição, o Constituinte originário previu forma rigorosíssima de alteração do seu texto, que, entretanto, foi abrandada no julgamento da fidelidade partidária, no âmbito do TSE e do STF, em que a votação pela maioria da Corte foi apta a aprovar modificação da Constituição, estabelecendo nova modalidade de perda de mandato. CARMEN LÚCIA - Relatora da ação proposta pelo DEM, entendeu que o mandato pertence ao partido, e não ao parlamentar, tendo em vista ser o partido quem cuida das listas de candidatos. Todavia, considerou que não se trata de hipótese de perda de mandato e que a nova norma só deveria vigorar a partir de 27 de março, data da decisão do TSE. No Mandado de Segurança n.º 26604 / DF, impetrado pelo Democratas contra ato do presidente da Câmara dos Deputados, formalizouse o entendimento de que “no Brasil, a eleição de deputados faz-se pelo sistema da representação proporcional, por lista aberta, uninominal. No sistema que acolhe - como se dá no Brasil desde a Constituição de 1934 - a representação proporcional para a eleição de deputados e vereadores, o eleitor exerce a sua liberdade de escolha apenas entre os candidatos registrados pelo partido político, sendo eles, portanto, seguidores necessários do programa partidário de sua opção. O destinatário do voto é o partido político viabilizador da candidatura por ele oferecida. O eleito vincula-se, necessariamente, a determinado partido político e tem em seu programa e ideário o norte de sua atuação, a ele se subordinando por força de lei (art. 24, da Lei n. 9.096/95)”. Se o destinatário do voto é o partido, e não o candidato em nada influi na continuidade do exercício do mandato pelo eleito que trocou de partido. Uma conclusão não leva necessariamente a outra. Concluir que o mandato é do partido não representa uma inserção automática de novo fundamento para perda de mandato. Nossa Constituição não é consuetudinária, formada a partir dos costumes impostos, sem a necessidade de regra escrita. Pelo contrário, temos uma Constituição rígida e escrita, que demanda, para qualquer modificação, a adoção de procedimentos nela previstos. CARLOS ALBERTO DIREITO – Entende o Ministro que o mandato é do partido e que a obrigação da filiação partidária indica claramente o vínculo entre a representação popular e os partidos políticos. Entretanto, o Ministro não considera que os juízes estejam legislando nesse caso. A seu ver, tratase de interpretação da Constituição. Impor a perda de mandato como decorrência da troca de partidos, por meio de processo hermenêutico, é o mesmo que, interpretando a lei penal, impor uma pena não prevista em lei para uma conduta não tipificada. A perda de mandato é uma sanção, uma pena, e, como tal, deveria seguir a clássica regra segundo a qual nenhuma pena será imposta, se não estiver previamente cominada em lei. Neste caso a cominação da sanção deveria decorrer do próprio texto constitucional, e não de interpretação judicial. RICARDO LEWANDOWSKI – No seu entender, somente o Plenário da Câmara poderia cassar o mandato de Deputado, não cabendo ao STF essa função. O entendimento do Ministro reside claramente na manutenção do princípio da separação de Poderes, o qual delimita francamente a atribuição do Poder Legislativo como ente autorizado constitucionalmente a modificar o texto constitucional. Ao determinar a perda de mandato por infidelidade partidária, o STF transformou-se em Casa Legislativa ao lado da Câmara e do Senado. A partir dessa decisão, qualquer problema político, em tese, poderia ser definitivamente decidido pelo Plenário do Supremo como Casa revisora do Congresso Nacional, para qualquer tema. JOAQUIM BARBOSA – No seu entender, o mandato não pertence ao partido e a Câmara dos Deputados representa o povo, e não partidos. Esta é uma postura que bem reflete a realidade sociológica e política brasileira, em que o eleitor se identifica com o candidato, e não com o partido. Candidatos que trocam de partido, após serem eleitos, passam a ter, às vezes, mais votos do que no partido anterior, o que demonstra que o partido pelo qual se elegeu inicialmente não foi o responsável pelo seu sucesso político. Em muitas ocasiões, candidatos que dispõe de grande facilidade para arregimentar eleitores são convidados a integrarem determinado partido, tendo em vista a necessidade daquele partido em crescer em número de votos. Em outro casos, candidatos que dispõem de recursos financeiros são chamados a participarem do processo eleitoral, em determinado partido, dada a sua possibilidade de prestar grande auxílio aos demais candidatos e à própria legenda. Essas questões colocam em cheque a importância do partido na eleição do candidato. Imaginemos, se a legislação brasileira permitisse candidaturas avulsas, sem partido. Tomemos, nesse sistema imaginário, o candidato Enéas. Se Enéas tivesse concorrido sem vinculação a nenhum partido, deixaria de ser eleito, simplesmente porque não contou com o apoio de uma legenda? O argumento do Ministro Joaquim Barbosa faz muito sentido, quando afirma que o mandato é do candidato, e não do partido, e que a Câmara representa os leitores, e não os partidos. Quando o atual Governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, deixou o PSDB, devido ao episódio da violação do painel do Senado Federal, e migrou para o então PFL, elegeu-se como Deputado Federal, com o maior recorde de votos par esse cargo no Distrito Federal. Se o eleitor votou no candidato, mesmo fora do partido anterior, como se poderia dizer que seu mandato pertencia ao partido? O raciocínio teria de ser inverso: foi o candidato que conquistou os votos para o partido, que se beneficiou de seu desempenho político. Se os diversos políticos que mudaram de partido se reelegeram, até mesmo em situação melhor do que ao anterior, a vontade do eleitor não foi violada com a mudança de partido. Não podemos dizer que essa atitude se deu em proveito pessoal do candidato ou que tal atitude violou qualquer direito dos eleitores. Ao contrário, a soberania popular manifestada nas urnas demonstram a satisfação dos eleitores com esses candidatos, reconduzindo-os ao poder como seus legítimos representantes. CARLOS AYRES BRITTO – Manifestou-se contra a infidelidade partidária e defendeu a perda do mandato. Essa orientação estaria respalda no fato de que a Constituição consagra o modelo de eleição proporcional, segundo o qual os votos pertencem ao partido, e não ao candidato. CEZAR PELUSO – Entende que, se o parlamentar muda de partido, não pode continuar exercendo o mandato. Prova de que o mandato pertence ao partido é a regra do cociente eleitoral. GILMAR MENDES – A seu ver, o sistema proporcional faz do candidato refém dos votos do partido, diante do que o abandono do partido deve levar à perda do mandato. Entende também que a troca de partido ameaça o direito das minorias, uma vez que deputados eleitos por partidos menores acabavam cooptados para integrar a base do governo. MARCO AURÉLIO DE MELLO – Entende que o mandato pertence ao partido, uma, vez que as campanhas são financiadas, em parte, pelas legendas e que o horário eleitoral é distribuído aos candidatos pelos partidos. A solução preconizada pelo Ministro é a perda imediata do mandato. ELLEN GRACIE – Foi o voto de desempate a favor da perda de mandato, defendendo que os efeitos dessa decisão só se verifiquem a partir de 27 de março, momento em que prolatada a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. A reação do Congresso a essa interferência do Judiciário em questões políticas veio posteriormente com a PEC 04/2007, do Deputado Flávio Dino e outros, que dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal, dispondo sobre a perda de mandato de Deputados e Senadores, inclusive por infidelidade partidária. Na forma dessa proposta de emenda à Constituição, pratica ato de infidelidade partidária quem, fora do período delimitado pela Constituição, muda de partido pelo qual foi eleito, salvo se para participar da criação de outro, ou se demonstrada que a mudança decorreu de alterações essenciais no programa ou no estatuto partidários. A mudança de partido passa a ser admitida, sem perda do mandato, no período de 30 (trinta) dias imediatamente anterior ao término do prazo de filiação partidária para candidatura à eleição subsequente. No caso de infidelidade partidária, quando se tratar de Senadores e Deputados Federais, a perda será decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral, por maioria absoluta, mediante iniciativa do Procurador Geral da República ou de partido político representado no Congresso Nacional. Quanto aos Deputados Estaduais e do Distrito Federal e aos Vereadores, cabendo à decisão quanto à perda dos mandatos aos Tribunais Regionais Eleitorais, por maioria absoluta, mediante iniciativa do Procurador Regional Eleitoral ou de partido político representado na Casa a que pertencer o parlamentar. Em sua justificação, os autores argumentam que “a fidelidade partidária, com o conseqüente fortalecimento das agremiações, é pressuposto necessário para que outras mudanças institucionais (voto em “lista fechada”, financiamento público de campanhas etc) possam ser implantadas de modo adequado”. A fidelidade partidária não é um tema isolado, mas depende do contexto de uma reforma política mais ampla, o que só pode ser feito legitimamente pelas Casas do Congresso Nacional. Com isso, busca-se com a PEC, evitar a implantação de “ditaduras partidárias”. Ainda nessa esteira, cabe mencionar o Projeto de Lei Complementar 124/07, do mesmo Deputado Flávio Dino (PCdoB-MA), que regulamenta a perda de mandato motivada pela troca de partido, quando caracterizada a infidelidade partidária. Trata-se de uma forma de responder ao Supremo Tribunal Federal, indicando que a decisão sobre questões políticas ainda está a cargo do legislador que não pretende abrir mão dessa prerrogativa constitucional. A proposição regulamenta a Constituição e permite a mudança partidária apenas durante um período de 30 dias, no último ano de mandato. Esse Projeto prevê ampla defesa aos parlamentares ameaçados com a perda do mandato. O projeto, ao seguir a esteira da decisão do Supremo, representa a adoção, em nosso sistema político, da tese oficial de que o mandato eletivo pertence ao partido, e não ao candidato eleito, entendimento este rechaçado até mesmo por alguns Ministros do Supremo, como acabamos de analisar. O Projeto prevê um prazo de trinta dias que incidiria no período imediatamente anterior ao término do prazo de filiação partidária, que hoje é de um ano. O político eleito para um mandato de quatro anos teria a oportunidade de mudar de partido, sem perder o mandato, situação esta que melhor se ajusta à realidade política brasileira. O Projeto também inova ao prever a criação de uma ação de justificação prévia de desfiliação partidária, que permitiria à Justiça Eleitoral autorizar a troca de partido, quando houver justo motivo, sem que se aplicasse a pena de perda de mandato. Muitos alegam que tal avanço do TSE e do STF se são em virtude de uma inércia do legislador, que deixa de exercer sua atividade, regulamentando essas questões, o que permite que outro Poder passe a sua frente e exerça esse papel. Ora ainda que tal fato ocorresse, o que não é verdade, analisaremos mais adiante, isso não justificaria o rompimento com o princípio da separação de poderes. O que ocorreria, se, verificando que o Judiciário é lento em decidir questões importantes e urgentes, o Executivo ou o Legislativo se arvorassem nesse função, passando a realizar julgamentos e a proferir sentenças? Ou ainda podemos indagar: se os cidadãos não estivessem satisfeitos com as decisões judiciais, considerando injustas tais sentenças, poderiam os demais Poderes revisar essas decisões judiciais, alegando a sua má qualidade? Certamente o Supremo Tribunal Federal não consideraria legítima e constitucional essa solução, o que demonstra que o rompimento com o princípio da separação de poderes não é considerado como uma saída legítima para a suposta inércia ou má atuação de algum dos poderes. Nem mesmo parece correto afirmar que a sociedade busca essa saída, como remédio para os males sociais ocorridos na modernidade. O fato de não ter havido até hoje uma legislação firme a respeito da fidelidade partidária não significa que o Congresso deseje que o Judiciário assuma o controle da situação. A acomodação de determinados partidos, a composição de forças internamente e face ao Executivo são fatores importantes para determinar o interesse de parlamentares na mudança das regras do jogo. Não se trata de hipótese de hiato parlamentar, como muitas vezes se alega, o que supostamente legitimaria esse ativismo judicial. Até certo ponto, parece que há uma lacuna na atividade parlamentar, que os representantes do povo estão deixando de exercer seu papel e que fatos sociais importantes estão ficando sem resposta e sem solução, diante da perplexidade de uma sociedade que cada vez mais avança e requer soluções para seus problemas. Então, nesse cenário, surgiria um Judiciário consciente dessa realidade não observada pelo Parlamento, que passaria a assumir um novo papel não defesa da sociedade, como seu legítimo representante, ainda que para tal não tivesse sido escolhido nas urnas. Não se pode esquecer que a atividade política é feita tanto de ação quanto de omissão e que a omissão, por si só, não representa falta de interesse em tomar uma posição. Bem diferente, do juiz que não pode se omitir diante de um pleito, devendo prestar o jurisdição, para a solução dos conflitos, o Parlamento não está sujeito a esse mesmo princípio e pode, em muitos casos, se omitir, até mesmo como parte do jogo político. Ao contrário do que pode parecer, o aparente espaço vazio pode ser perfeitamente uma estratégia política para, surgindo a conveniência, decidir de um ou outro modo, em face das necessidades políticas que as circunstâncias imponham. Deixa-se um espaço de manobra que permita ir de um lado a outro, mais à esquerda ou mais à direita, a fim de estabelecer o equilíbrio de forças. Assim, em momentos de crise, os interesses políticos podem ser compostos até mesmo com a troca de legenda, o que não leva necessariamente a um mal, mas pode, inclusive, representar uma forma de decidir positivamente em benefício de toda a nação. A aprovação de um projeto de grande repercussão social pode resultar dessa composição de forças políticas, sem a qual essa decisão poderia se alongar no tempo ou ser tomada em sentido diverso. Não podemos nos esquecer que a obstrução parlamentar ou mesmo a abstenção do voto são instrumentos legítimos numa democracia representativa. Diferente é a situação do juiz que não pode se omitir, obstruir votações ou abster-se de votar. Nesse sentido, bem oportuna a manifestação de Ferejohn, quanto ao ambiente de parcialidade, de ideologia e paixão que envolve a arena de debate e decisão política, exarada nas seguintes palavras: “A teoria democrática clássica associa, por um lado, a política com as atividades desempenhadas pelo Legislativo e, por outro, o Direito com as operações do Judiciário. É natural que a política tenha seu lugar no Legislativo, onde sua ocorrência é não só inevitável mas também legítima. Com efeito, a contestação política é condição necessária para a realização plena dos valores democráticos. O Legislativo produz leis que obrigam a todos e, portanto, cada um de nós participa da decisão de quem deve ocupar assento no Legislativo. Temos o direito de monitorar debates legislativos, de informar e influir nas decisões e de exigir que legisladores se responsabilizem perante nós pelos seus atos nas próximas eleições. Essas expectativas políticas legitimam o nosso direito a organizar partidos e facções para eleger, monitorar, criticar, opor e influenciar os legisladores. Nesse sentido, é de se esperar que a política no processo legislativo seja contenciosa, parcial e ideológica.” A atividade legislativa do juiz acaba deixando a política sem essa margem de manobra, de negociação, de composição de forças, o que transforma a atividade política em um tecnicismo, que pode distanciar-se da vontade do eleitor, configurando uma espécie de democracia tecnocrata, produzida no âmbito das cortes judiciais. Um fato importante a ser analisado nesse contexto é a declaração feita pelo Presidente do STF, afirmando que o STF é a Casa do Povo e que cabe a ela suprir as deficiências do Legislativo, conforme matéria publicada na Revista Valor, de 09/06/08. O ministro Ricardo Lewandowski resume essa tendência do Supremo da seguinte maneira: "Estamos numa nova fase histórica deste STF no qual esta casa assumiu um novo protagonismo". A propósito desse assunto, transcrevemos entrevista concedida pelo Ministro Marco Aurélio à Revista Consultor Jurídico, de 9 de dezembro de 2007, das qual transcreveremos alguns trechos de interesse para o nosso estudo: Questionado acerca da decisão do TSE a respeito da fidelidade partidária, respondeu o Ministro Marco Aurélio que essa “foi a decisão mais importante, em termos de purificação, dos últimos tempos. Foi um avanço considerável em termos de cidadania e de fortalecimento dos partidos políticos. Comparo essa decisão à do Supremo, preservando minorias, quanto à cláusula de barreira.” Observe-se que, neste caso, o fortalecimento da soberania mencionado se deu não por meio da participação dos eleitores, nas urnas, mas por decisão dos integrantes da Suprema Corte. Há a assunção visível de um papel de representante do povo por parte do Supremo, no que tange à tomada de decisões políticas. Acrescentou ainda que “depois que o Supremo bate o martelo, não há a quem recorrer. É bom que seja o Supremo que o faça, porque é um órgão que não está engajado em qualquer política momentânea, isolada ou governamental”. Esse é exatamente o ponto central da discussão sobre o ativismo judicial. A última palavra em matéria constitucional não pode pertencer a um único órgão da República, sob pena de engessamento da democracia. Por outro lado essa afirmativa só é demonstrável em parte. A última palavra do Supremo diz respeito à interpretação da norma constitucional. Esse é o papel do intérprete, que não se confunde com a produção da norma, com a elaboração do texto constitucional e sua atualização. A norma hoje interpretada pelo Supremo, em última instância, pode amanhã ser modificada pela via da emenda constitucional, deixando para trás o que deliberado judicialmente. Assim, não se pode afirmar categoricamente que o Supremo tenha a última palavra em matéria de Constituição. Até mesmo a lei declarada inconstitucional pode ser refeita pelo legislador nos mesmos moldes, o que levaria a nova declaração de inconstitucionalidade, o que demonstra que a última palavra, na verdade, não foi a última, havendo necessidade de novo pronunciamento. Com mais dificuldade ainda poder-se-ia imaginar a última palavra sobre a vida nacional. A última palavra sobra a vida nacional deve ser da nação, do povo, titular primeiro do poder constituinte. Do contrário, teríamos de recuar à tese do rei filósofo, em que o homem técnico, especialista e isento decide o que é melhor para a nação, sem que haja qualquer possibilidade de rediscutir ou contestar a solução dada. O fato do Supremo não estar engajado em qualquer política confrontase com a tomada de decisões políticas ou com a postura de representante do povo. Essa postura magistral impede que o Supremo tenha domínio do jogo político, que participe das articulações políticas, decidindo de forma técnica, o que não se coaduna com definição da conveniência e oportunidade políticas. Por isso mesmo, quando o Supremo toma decisões políticas, avança um passo na democracia tecnocrata, transformando a política em uma arena de deliberação técnica, e não política. Muda-se a face da democracia e a composição de forças políticas passa a ter pouca importância, uma vez que as decisões judiciais não estão a elas atreladas. Sendo o mandato um exercício da cidadania, difícil compreender como a limitação da cidadania poderia ocorrer em virtude de uma atividade interpretativa. É como dizer que os direitos e garantias fundamentais contidos na Constituição não podem ser mudados nem mesmo por proposta de emenda à Constituição, mas podem ser suprimidos por uma atividade interpretativa. A decisão formulada no âmbito do Judiciário não pode ser vista como atividade de interpretação, nesse caso, mas sim como lei criada pelo Supremo, estabelecendo nova hipótese de perda de mandato. Houve sim legislação por parte da Corte Suprema. O processo legislativo brasileiro foi alterado para permitir que o Supremo também faça leis. Este aspecto já percebido pela sociedade civil, assim foi retratado em artigo publicado na Revista Veja, Edição 2.075, de 27 de agosto de 2008, sob o título “A calma é só aparente”. Esse artigo chama atenção para o fato de que, “até recentemente, o STF era uma corte dominada por juristas conservadores, indicados para o cargo antes da redemocratização”, enquanto o atual Supremo, percebendo novas possibilidades de atuação, em face da Constituição de 88, passou agir nos espaços vazios, deixados pelo legislador. De acordo com o Ministro Gilmar Mendes, enquanto os parlamentares representam a população pelo voto que recebem, o STF faz a "representação argumentativa" da sociedade, seguindo a tese do alemão Robert Alexy, segundo a qual os tribunais corrigem distorções do Legislativo. Na teoria de Robert Alexy, o Parlamento representa o cidadão politicamente e as Supremas Cortes o fazem argumentativamente. A tese da argumentatividade se baseia na participação de entidades, associações, advogados públicos e privados. Isto significa dizer que, doravante, o Supremo passará a produzir normas. Preenchendo espaços vazios no ordenamento normativo. A integração da norma, por meio dos processos clássicos de hermenêutica, cede lugar à integração do ordenamento normativo, por meio da criação direta de leis pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive de caráter geral, como no caso da fidelidade partidária. No que tange à fidelidade partidária, caminhamos para novos questionamentos sobre a legitimidade do Judiciário para impor sanções a parlamentares infiéis. O Ministério Público moveu ação direta de inconstitucionalidade questionando a cassação de mandatos em face da infidelidade partidária. Na Consulta nº 1.398/DF, formulada perante o TSE, decidiu-se que :a) os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda; b) o abandono, pelo eleito, da agremiação partidária pela qual se elegeu resultaria, a pedido do partido de origem, na perda do mandato; uma vez que os mandatos eletivos pertencem aos Partidos. Com base nessa decisão, requereu-se ao Presidente da Câmara dos Deputados a declaração de vacância dos mandatos dos deputados que no último pleito se elegeram sob a legenda do partido e que, posteriormente, mudaram de partido. Tal pleito foi indeferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados. Esse indeferimento gerou os mandados de segurança anteriormente mencionados. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral parte da premissa de que o Parido é o elemento central da representação política. O parlamentar, todavia, é representante do povo, por ele eleito, dentro do princípio da soberania popular, de que todo o poder é exercido pelo povo do qual provém. O titular do poder é o povo, e não o partido. O partido nada mais é do que uma agremiação, que, como toda associação humana, possibilita a consecução de objetivos comuns. Este avanço é considerado pelo Ministro Gilmar Mendes como legítimo e benéfico ao cidadão eleitor, conforme se pode observar no seu artigo intitulado “Fidelidade Partidária na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. Afirma o Ministro Gilmar Mendes que “no último dia 4 de outubro, o Supremo Tribunal Federal foi palco de um julgamento histórico. Após um longo e profundo debate, o Tribunal decidiu que o abandono, pelo parlamentar, da legenda pela qual foi eleito, tem como conseqüência jurídica a extinção do mandato”. Trata-se de decisão que implica a produção legislativa, tendo em vista que nenhuma regra constitucional ou legal autorizam o Poder Judiciário a determinar a perda de mandato de parlamentar infiel, diante do que estamos frente a uma nova norma criada pelo Supremo Tribunal Federal. Como se verá adiante, na declaração doa Ministro, essa nova orientação rompeu com a orientação tradicional do Tribunal, que não invadia essa competência política do Parlamento. O novo entendimento se firma no fato de que a exigência de filiação partidária como condição de elegibilidade e a participação do voto de legenda na eleição do candidato implica perda do mandato do parlamentar que troca de partido. Este é o único caso de perda de mandato decorrente de norma positiva elaborada pelo Supremo Tribunal Federal, e não pelo Congresso Nacional. Não decorre da Constituição e nem de norma infraconstitucional, mas de lei elaborada por um órgão do Poder Judiciário, o que modifica o nosso sistema de produção de leis. Antes reservada ao Poder Legislativo, com algumas exceções para o Poder Executivo, como é o caso de medidas provisórias, modernamente passamos a ter leis também produzidas no âmbito do Judiciário, como decorrência de competência estabelecida pelo próprio Judiciário. Realça o Ministro, em seu artigo, que “a presença dos partidos políticos num regime democrático modifica a própria concepção que se tem de democracia. No regime de democracia partidária, os candidatos recebem os mandatos tanto dos eleitores como dos partidos políticos. A representação é ao mesmo tempo popular e partidária. E, como ensinou Duverger, "o mandato partidário tende a sobrelevar o mandato eleitoral". Nesse contexto, o certo é que os candidatos, eles mesmos, não seriam detentores dos mandatos.” A discussão quanto a se o mandato pertence ao partido ou ao candidato decorre de uma extensa e complexa discussão a respeito da democracia representativa e da democracia partidária e reveste-se de grande importância política. Uma definição quanto ao modelo a ser adotado no Brasil passa necessariamente por uma discussão parlamentar, envolvendo a sociedade civil, e deve ser objeto de regulamentação legal. A própria omissão do Congresso durante muito tempo quanto a esse tema revela nitidamente um desinteresse pela fidelidade partidária, o que resulta na escolha por uma solução, que é a de permitir a troca de partidos. Não se trata de simples lacuna, uma vez que projetos a respeito do tema já foram objeto de debate em momentos anteriores, ocasião em que os legisladores se manifestaram desfavoravelmente à mudança, o que indica uma posição contra a punição de políticos que trocam de partido. A vontade política tem sido manifestada claramente no sentido de não estabelecer punição para quem troca de partido. Se os partidos prejudicados com a troca têm interesse em ver esse cenário transformado devem apelar para a solução política disponível, a saber, a mudança da legislação. O que ocorreu foi a busca de uma solução no Judiciário pelos insatisfeitos com a realidade política vigente, o que levou o Judiciário a modificar a regra do jogo, estabelecendo normas positivas para os partidos. A idéia em jogo é a de que o Supremo estaria garantindo a vontade do eleitor. Ocorre que o eleitor manifesta sua vontade nas urnas, perante as quais não comparecem os Ministros do Supremo a fim de serem eleitos para representares a população de eleitores. Segundo, não foi realizado nenhum plebiscito, em que a vontade do eleitor tenha sido declarada perante os Ministros do Supremo, no sentido de modificar o sistema político em vigência, quanto à troca de partido e suas conseqüências. Terceiro, a perda do mandato, como vontade do eleitor, nunca poderia ser decidida no Supremo, e sim perante a Casa Legislativa a que pertence o parlamentar. Como essas hipóteses não se verificaram, não podemos afirmar que o Supremo garantiu a vontade do eleitor, até porque sua conclusão foi a de que o mandato não pertence ao parlamentar nem ao eleitor, e sim ao partido. Reconheceu a supremacia do partido sobre a vontade do eleitor, estabelecendo a democracia partidária como regra normativa em nosso sistema político. A questão dos direitos fundamentais encontra-se bem na linha daquilo que os clássicos autores já previam com relação ao avanço do Judiciário sobre o processo legislativo, com o fim de garantir o que, na esfera política, não se conseguia garantir. Nesse ponto Ferejohn avalia essa tendência, que já era prevista por Tocqueville, de deslocamento de questões políticas para o Judiciário, configurando a chamada judicialização da política. Assim se pronuncia Ferejohn: “A política tende a se situar na atividade legislativa, pois legislar é, por natureza, uma atividade política. Por esse motivo, é lógico supor que, na medida em que os tribunais absorvem cada vez mais atividades de cunho legislativo – seja como resultado da fragmentação ou da vontade de proteger uma gama maior de direitos -, a política seguirá o mesmo caminho. Esta migração do poder legislativo para agências e tribunais significa que esses, principalmente os tribunais, tomarão decisões politicamente importantes e muitas vezes definitivas. Qualquer ator que tenha algum interesse colocado em jogo nessas decisões terá motivos para buscar influenciar, senão até mesmo controlar, as indicações que definem a composição dos tribunais e de outras instituições judiciais enquanto, ao mesmo tempo, busca dirigir o debate a respeito das novas leis no sentido de antecipar a resposta que será dada pelas instituições jurídicas. Esta politização dos tribunais, ou a transformação de temas anteriormente restritos à esfera política em questões jurídicas é exatamente o que Tocqueville previu há mais de um século. A judicialização da política também leva à regulação judicial da política.” A opinião do Jurista e Deputado Maurício Rands é diametralmente oposta àquela esposada pelo Supremo. Em artigo intitulado “Ativismo judicial: é sempre legítimo?”, publicado na Folha de São Paulo, do dia 14 de maio de 2008, Rands defende a exclusividade da arena política para esse tipo de deliberação e questiona a legitimidade dessa forma de ativismo judicial. Segundo Rands, “o problema surge quando o juiz extrapola seus poderes e passa a formular políticas públicas, às vezes impondo suas preferências pessoais". Chama a atenção para as soluções simplistas: “Quando a justiça é lenta, a tentação é a de fazê-la com as próprias mãos. Quando a reforma política resta paralisada no Congresso Nacional, recorrese ao Poder Judiciário para que este estabeleça a fidelidade partidária, reduza o número de vereadores ou cancele a cláusula de barreira. Quando se discorda de certa obra pública, pede-se ao Ministério Público que a questione judicialmente. Quando um partido perde uma votação no plenário da Câmara ou do Senado ou discorda de um ato do Executivo, ingressa com ação direta de inconstitucionalidade, como se o Judiciário fosse uma espécie de "plenário legislativo de segundo grau" (de 2003 até o presente, foram 36 ADIs propostas pelo DEM e 12 pelo PSDB). “ No entendimento do Parlamentar, “isso pode significar a alienação da soberania popular, expressa através dos mandatários eleitos pelo sufrágio universal, transferindo-a a um corpo técnico não eleito”. O Presidente do Senado Federal também compartilha com essa opinião, conforme declaração sua publicada no Jornal O Estado de São Paulo, de terça-feira, dia 26 de agosto de 2008, em reportagem de Ana Paula Scinocca, em que o Presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDBRN), fez críticas ao Judiciário, e afirmou que, o Judiciário se sente “no direito de não apenas interpretar a lei, mas de fazer a lei’. ‘ Segundo Garibaldi, Isso é assunto do Legislativo. Fica evidenciada a diversidade de opinião entre legisladores e juízes quanto ao papel que o Supremo vem desempenhando na elaboração de leis, diante de determinadas questões políticas, que deveriam ser tratadas na arena política, e não judicial. De fato, observa-se que a tese da argumentatividade nada mais é do que um instrumento para permitir que o Judiciário crie leis, como representante da vontade popular, embora sem contar com votos nas urnas. Toda essa discussão traz a lume a hipótese da supremacia do discurso técnico. As decisões políticas do Supremo seriam tomadas em última instância, sendo inatacáveis, em face de uma supremacia técnica, da qual não gozaria o Parlamento. A democracia, portanto, deixaria de ser representativa para ser técnica. Quando se diz que o mandato é do partido e que os parlamentares infiéis devem perder o mandato, isto equivale à criação de nova hipótese de perda de mandato, sem que, para tanto, tenha o legislador produzido lei. As situações que autorizam a perda de mandato estão contempladas na Constituição e na lei positivamente, e não mencionam a troca de partido. Percebe-se, nas manifestações dos componentes da Suprema Corte uma orientação tecnicista quanto às soluções apresentadas para os processo políticos, em que o Supremo aparece como revisor dos atos do legislativo. Outra não é a tese de Alexy, para quem cabe ao judiciário corrigir os atos do legislativo. Isto é exatamente o tecnicismo a favor da criação de normas pelo Supremo, como Corte especializada em matéria constitucional, o que lhe colocaria em condições de revisar os atos dos demais poderes e decidir por eles ainda que em questões políticas. O Supremo substitui a vontade do eleitor e de seus representantes pela sua, considerando que seus integrantes estão em melhores condições de ditar a regras para um melhor funcionamento do Congresso Nacional e o aprimoramento da democracia, que, nestes três casos estudados, tem a feição de democracia tecnocrata. Daí, a distinção que se faz neste estudo entre a judicialização da política e o ativismo judicial. Reconhecer e aplicar direitos fundamentais violados ou impedidos por falta de legislação ou de atividade política é algo que se espera naturalmente, quando a esfera política não é capaz de representar a população, regulando esses temas. Trata-se de um equilíbrio de poderes, natural de um sistema republicano, em que o interesse público não pode ser disponibilizado pelo Poder Público. Entretanto, quando se fala de perda de mandato, a questão se transfigura e sai da esfera de proteção de direitos fundamentais, para envolver algo de dimensão política, que diz respeito ao exercício da cidadania e à própria representatividade. Quando o Supremo diz que a troca de partidos deve levar à perda de mandato do parlamentar infiel, está substituindo a vontade do eleitor, de dizer se aceita ou não que seu representante continue exercendo esse mandato em outra legenda. Essa decisão tem de ser tomada nas urnas. Não viola nenhum direito fundamental aquele parlamentar que, mudando de legenda, continua defendendo os interesses de seus eleitores, sem se afastar de suas promessas de campanha. Assim, a hipótese e de invasão de atividade exclusivamente política, o que não mais configura simples judicialização da política, com a transformação de questões políticas em jurídicas, em decorrência do Estado Democrático de Direito. Avança-se para outro nível de intromissão na atividade política, substituindo a vontade do eleitor e interferindo no exercício da cidadania, sem que para isso exista um mandato formalizado nas urnas. Até mesmo porque estamos diante de uma nova hipótese de perda de mandato, fora da Constituição e das leis, decorrente de legislação produzida no âmbito do Judiciário. Aqui, é legítimo falar-se em ativismo judicial, pois o Judiciário se apropriou de funções estritamente políticas, passando a exercer um papel estritamente político. Um ponto essencial nessa caminhada do Supremo rumo à função de legislador tem a ver com os conceitos imprecisos utilizados pelo sistema normativo, inclusive a Constituição. Daí essa facilidade que o Supremo encontra de ligar sua função de intérprete com a produção e revisão de normas jurídicas e constitucionais. Trata-se de uma supremacia técnica, muito própria da atividade judicial, que, ao mesmo tempo em que é constituído como intérprete, permite-se atuar na feitura de novas normas, valendo-se desse processo técnico de delimitação dos termos imprecisos da lei. Quando se fala de ética e moralidade na política, por exemplo, trabalha-se com conceitos imprecisos. O Supremo pretende delimitar o campo de atuação da política, utilizando esses conceitos para dizer aquilo que é ético, que é moral, que satisfaz as aspirações do eleitorado. A Constituição Federal é plena de conceitos imprecisos, como honra, ordem pública, moral e bons costumes, incontinência pública e escandalosa, probidade administrativa e assim por diante. No conceito impreciso, a esfera de realidade não possui seu âmbito bem delimitado, descrito com precisão absoluta, sem margem para dúvidas. O sentido real e preciso das expressões utilizadas pelo comando da norma não se encontra definido. Assim, a valoração subjetiva na aplicação de tais conceitos ao caso concreto, pode sofrer diversas variações, dependendo do intérprete ou aplicador O conceitos jurídicos indeterminados, como a própria moralidade e eficiência, se sujeitam ao controle judicial, em face da própria natureza da atividade interpretativa da lei exercida por esse Poder. Neste ponto, o Supremo passa a ditar o que é moral e eficiente do ponto de vista político. É um campo do ativismo judicial que vem se tornando cada vez mais forte, no qual o juiz goza de uma supremacia técnica, não exercitada por outros Poderes. Os conceitos imprecisos são ocorrentes na realidade política de outros países, como Alemanha, Portugal, Itália, Espanha e Brasil. A idéia de conceitos imprecisos está vinculada a preceitos que contêm expressões ou palavras cujo sentido é vago, dependente de interpretação e valoração quanto ao seu real sentido, quanto ao alcance do seu significado. Aqui incidem expressões, como boa-fé, notável saber, reputação ilibada, boa conduta, notória especialização, moralidade pública, bem comum, probidade o que permite ao juiz avançar na interpretação, fixando novos sentidos à lei em função da variação das necessidades sociais, o que produziu o avanço do ativismo judicial em nossos tempos. O próprio conceito de interesse público é um conceito jurídico indeterminado, de forma que uma atividade que atenda ao interesse público em determinado lugar, em certo momento, pode vir a contrariá-lo em outro lugar ou outra época. Daí a discricionariedade de que sempre dispôs o parlamentar para mudar de partido, uma vez que tal atitude sempre foi tolerada em nosso sistema político, das as suas características. Na Alemanha, encontramos campo frutífero ao desenvolvimento dessa teoria, destacando-se diversos autores que se dedicaram a esse tema. Em Tezner, os conceitos legais indeterminados devem submeter-se a uma interpretação de cunho estritamente jurídico e, conseqüentemente, a correta aplicação de tais conceitos indeterminados poderá ser apreciada e fiscalizada pelo Poder Judiciário. Essa forma de interpretação não dá margem à criação de novas normas, devendo restringir-se ao sistema vigente sem inovações. A interpretação de cunho eminentemente jurídico é função própria do Supremo Tribunal Federal, que desempenha a atribuição de guardião da Constituição, zelando pelo respeito aos valores democráticos nela contidos. A interpretação política dos fatos e a conveniência e oportunidade das decisões políticas cabem àqueles que foram eleitos como representantes do povo. Quando o Supremo cria norma constitucional, não mais está interpretando juridicamente, mas assumindo o lugar do constituinte, missão essa que não lhe é prevista na Constituição. Dessa forma, quando a lei se utiliza de conceitos como interesse público, moralidade, bem comum e outros, há necessidade da presença do Poder Judiciário na aplicação e interpretação de tais conceitos, com o fim de resguardar os direitos dos cidadãos contra possíveis arbitrariedades. Não podemos dizer que a mudança de partido pelo eleito constitui arbitrariedade ou violação de direitos e garantias individuais. Ainda que se admita a mudança de panorama político, que levasse a essa conclusão, a proposta de mudança deveria partir dos interessados, os eleitores, e a alteração das regras políticas vigentes estariam a cargo de seus representantes eleitos. Otto Mayer, admite certa margem de liberdade, para agir, devendo a discricionariedade ser exercida de acordo com a conveniência e oportunidade exigidas pelo interesse público. Entende, todavia, este autor que a liberdade de ação deve ser pautada pelos fins, servindo os direitos individuais. como margeadores desses limites de atuação do Poder público. Mais uma vez são os fins e os direitos individuais que servem de balizamento para a interpretação judicial, não podendo o juiz fugir desses limites a todos impostos. Porém, como a ele compete definir o sentido desses conceitos, surge uma forma de discricionariedade extensa e quase insindicável de atribuir conteúdo a esses termos que resultem em sua total inversão. Por meio dessa interpretação, o juiz pode mudar o sentido da lei para dizer o contrário daquilo que está escrito e do que o legislador idealizou. A posição de Jellinek parte da oposição entre liberdade discricionária e vinculação. Apenas a vontade da lei poderá definir entre o conceito legal indeterminado discricionário e aquele de natureza jurídica, e, portanto, o controle judicial será a última e decisiva instância na interpretação da melhor vontade da lei. Na questão da fidelidade partidária, não há qualquer dispositivo na Constituição que autorize a perda de mandato por infidelidade partidária, o que demonstra que a decisão do Supremo não decorre de simples interpretação constitucional ou legal, mas de uma vontade manifesta de legislar. Ao extrapolar da liberdade interpretativa, a Corte transmudou-se em poder constituinte derivado, explicitando nova hipótese de perda de mandato, não contemplada até então em nosso sistema político. Jellinek destaca o primado da norma legal e o interesse público. A norma legal não prevê perda de mandato por infidelidade partidária. O interesse público, neste tema, pode melhor ser delineado por meio das urnas, com a direta manifestação do eleitor interessado. O Supremo não apenas limitou-se a interpretar o conceito de interesse público, mas passou também a determinar o seu conteúdo político em substituição ao titular do direito de sufrágio. Segundo Laun, ocorrendo a hipótese de conceitos legais indeterminados, o intérprete terá a missão de buscar a única solução adequada, não cabendo, neste caso, falar-se em discricionariedade, pois, a seu ver, trata-se de apreciação vinculada. Mesmo quando a lei determina apenas o fim, sem se reportar a motivo e objeto, não é apropriado falar em discricionariedade, uma vez que, na persecução do fim instituído, deverá ser aplicada a solução mais adequada, a única capaz de atingir tal objetivo pretendido pelo legislador. Poderíamos indagar se o Supremo estaria buscando essa única vontade que deveria prevalecer quanto ao exercício do mandato pelo eleito no seu partido de origem. Todavia, o citado autor vai buscar essa vontade única no legislador, e não no intérprete. Daí decorre que só o Poder Legislativo poderia estabelecer a vontade do eleitor no sentido da perda de mandato do infiel, como decorrência da vontade dos representados politicamente. Bernatzik considera a existência do poder discricionário nos conceitos legais indeterminados, em face da subjetividade presente quando de sua aplicação. A escolha feita estaria isenta da apreciação do Poder Judiciário, desde que não se afastasse dos fins sociais visados pelo legislador. Se o legislador não criou a obrigação de fidelidade partidária e não previu punição para tal prática, então a decisão é política e livre, não podendo o Judiciário dizer ao candidato eleito em que partido deve permanecer. Somente a atividade do legislador poderia mudar esse panorama político, por meio de uma reforma política, a fim de estabelecer conseqüências para a troca de partido. No sistema espanhol, merece destaque a obra de García de Enterría, que, nos moldes da doutrina alemã, distinge entre conceitos legais indeterminados e poder discricionário, entendendo que, em tais hipóteses, só há uma solução possível de ser adotada. Nesse sentido, assim se pronuncia o mestre espanhol: "Assim, conceitos como urgência, ordem pública, justo preço, calamidade pública, utilidade pública e até interesse público não permitem em sua aplicação uma pluralidade de soluções justas, senão uma só solução em cada caso. Observação com a qual se teriam convertido virtualmente (e a última doutrina alemã aceita esta conclusão extrema) a generalidade das potestades discricionais em reguladas, já que, explícita ou implicitamente, todas as potestades discricionais se outorgam para alcançar um interesse público, conceito indeterminado cuja aplicação só permitiria em cada caso uma única solução justa." Qual é a única solução justa no que tange à fidelidade partidária? É a solução permitida pela Constituição que, ao não limitar a atuação do eleito, deixou em aberto a possibilidade de troca de partido, sem a conseqüência da perda do mandato. A solução justa não pode ser aquela que se afaste da vontade popular soberana exercida diretamente ou por meio dos representantes eleitos. Na ausência dessa vontade manifestada, a soberania da vontade popular manifestada nas urnas não pode ser cassada por meio de regras de conduta criadas no bojo de um processo hermenêutico. A única solução justa deve atentar para o interesse público, no caso, a vontade do eleitor decorrente do voto. O voto não pode ser cassado por um processo interpretativo. Não só em relação ao motivo, mas também quanto à finalidade, poderá ocorrer a discricionariedade na aplicação de conceitos legais indeterminados. Dessa forma, se a finalidade estiver expressa mediante conceitos práticos, caberá uma margem de discricionariedade na solução do problema. Como se vê, haverá sempre, na aplicação de conceitos indeterminados, a possibilidade de certa margem de discricionariedade, diante do que a interpretação não será, por si só, a via definitiva na solução do esconder seus reais motivos, subtraindo-se à ação do Poder Judiciário. Exemplo importante neste sentido diz respeito à moralidade e à ética na política, como finalidade da lei. Não há dúvida de que o Supremo pode e deve debruçar-se sobre essa questão, a fim de que a atividade política seja pautada pela ética e pela moralidade. Todavia, não se pode chegar ao ponto de admitir a imposição de pena não prevista anteriormente como forma de punição por atos supostamente imorais e anti-éticos por parte dos políticos. Na linha defendia por Kant, os seres humanos são movidos a agir por leis elaboradas por eles próprios. Os homens legislam para si mesmos e a legislação racional se transmuda em legislação universal, que, por sua vez, constitui norma moral. Conclui-se pela indissociabilidade dos termos liberdade, moralidade, política e universalidade. Na verdade, a moralidade e a eficiência quando dizem respeito ao cumprimento de direitos fundamentais passam a ser sindicáveis pelo Poder Judiciário, sem qualquer violação do princípio da separação e independência dos Poderes. A expansão do Poder Judiciário, neste caso, é legítima e tem por fundamento a própria Constituição. É a própria democracia que se encontra em jogo, não sendo viável a circunscrição do tem à esfera de deliberação política. Assim o mérito administrativo quanto à conveniência e oportunidade se transmuda em vinculação, donde se infere que a tendência atual é a supressão da discricionariedade como concebida na doutrina clássica. Pode-se dizer que uma parte do mérito da atividade política - aquela em que a conveniência e oportunidade se subjugam a princípios constitucionais fundamentais, como a moralidade – possuem estreita ligação com a atividade hermenêutica desenvolvida e analisada no âmbito das Cortes. Trata-se de uma nova etapa na relação entre Estado e cidadãos. Desaparece a soberania do governante e, em seu lugar, se estabelece a soberania popular, com efetivo respeito aos princípios constitucionais, como os da moralidade e da ética na política. O Estado Democrático de Direito pressupõe a garantia do cidadão diante do poder estatal, em face das normas jurídicas. A soberania popular ganha realce e não se pode conceber qualquer ato emanado da autoridade pública que seja desconforme a essa vontade popular, nem mesmo do Poder Judiciário. Impossível conceber-se em que um ato administrativo imoral, a despeito de legal, venha ao encontro dos anseios populares, atendendo ao interesse público. Obviamente, deve repudiar ao interesse público o ato político imoral. Todavia, não se pode confundir o controle exercido pelo Judiciário sobre a atividade política com a substituição do critério de conveniência e oportunidade. O que se veda ao Poder Judiciário é substituir o critério de conveniência e oportunidade do administrador pelo do juiz. Neste sentido, a preocupação de Cappelletti, segundo o qual "escolha significa discricionariedade, embora não necessariamente arbitrariedade; significa valoração e balanceamento, significa ter presentes os resultados práticos e as implicações morais da própria escolha; significa que devem ser empregado não apenas os argumentos da lógica abstrata, ou talvez os decorrentes da análise lingüística puramente formal, mas também, e sobretudo, aqueles da História e da Economia, da Política e da Ética, da Sociologia e da Psicologia". A conclusão, desse modo, é a de que o princípio da moralidade permite ao juiz analisar a conveniência e a oportunidade da atividade política, mas não exercer o papel de legislador, de constituinte. O critério de conveniência e oportunidade tem seu limite traçado pelo atendimento à soberania da vontade popular. Assim , não se pode substituir o critério político do legislador pelo critério político do juiz, já que este não foi eleito para representar o eleitor. A supremacia técnica exercitada pelo Supremo, na criação de norma constitucional por meio de processo hermenêutico traz à baila um novo modelo de condução da política no Brasil, de cunho aristocrático, sendo os negócios políticos conduzidos e decididos, em última instância, por um órgão composto de técnicos, de especialistas em direito, que, dada a sua especialização técnica, passam a exercer um papel de constituinte derivado, corrigindo supostas distorções e omissões do Poder Legislativo. A Suprema Corte começa a desempenhar um papel político, que antes era atribuído apenas aos representantes do povo eleitos nas urnas. Mais recentemente, o Judiciário passou a reivindicar parcela dessa função legislativa por meio da atividade de interpretação, que, em determinado momento, evoluiu para criação positiva de normas, deixando de se ater ao campo da hermenêutica. Pode-se afirmar que, hoje, o Supremo não apenas julga, mas, também, emenda e revisa a constituição limitando a atuação dos homens políticos e encolhendo a força das urnas. CONCLUSÃO Questão de grande relevância, nos dias atuais, o ativismo do Supremo Tribunal Federal está rompendo com a clássica separação de poderes, em que o Judiciário tinha a função de intérprete da lei, respeitando a conveniência e a oportunidade política, como campo insindicável. Atualmente, há, comprovadamente, uma tendência por parte do Supremo Tribunal Federal a decidir sobre questões políticas, legislando em algumas hipóteses e inaugurando uma nova fase na atuação desse Tribunal, como órgão de deliberação política, função até então recusada por seus integrantes. Questões que antes eram decididas na seara política passaram a ser objeto de análise judicial, havendo possibilidade inclusive de que o Supremo determine a execução de determinada atividade, como, por exemplo, a instalação de CPI pelo Congresso. Estamos diante de uma realidade em que o juiz, não eleito pelo povo, passa a funcionar como seu representante criando normas e legislando. O ponto de equilíbrio, no exercício da atividade política, passou a oscilar entre a vontade expressa por meio do Constituinte originário, a vontade manifesta por meio do Constituinte derivado e o pronunciamento dos juízes da Suprema Corte. Na questão da verticalização, temos por evidente a importância da manifestação da vontade do titular da decisão política em jogo, a saber, os eleitores. A coligação entre partidos obedece a interesses políticos locais, regionais, que, em última instância, atinam com as conveniências políticas dos representados naquele Estado ou Município. As diferenças culturais, sociais, administrativas e políticas condicionam decisões tomadas pelos partidos, candidatos e eleitores no âmbito da política local. Cabe, assim, ao eleitor decidir se a coligação é de interesse público ou se fere a vontade do eleitor, o que deve ser decidido nas urnas. Outra possibilidade seria os próprios representantes do povo, em nome por conta deste, modificarem o ordenamento jurídico, a fim de contemplar a impossibilidade das coligações, em face de deliberações tomadas pelos partidos quanto ao lançamento de candidato à Presidência da República. Essa solução é legítima, uma vez que envolve o poder de legislar conferido pelo povo aos seus representantes no Congresso. Estabelecer essa questão em processo judicial representa o abocanhamento de uma fatia de poder do Legislativo pelo Judiciário. Significa que o Judiciário está exercendo uma função de legislador. Todavia, o Supremo Tribunal Federal manteve a verticalização, contrariando a vontade dos partidos, impedindo coligações entre partidos, no âmbito estadual e municipal, quando cada partido, isoladamente, dispusesse de candidato à Presidência da República,. Isto equivale a impedir que partidos de oposição ao Presidente eleito venham a prestar apoio, posteriormente às eleições, já que a violação dos princípios constitucionais não poderia ser validade depois de transcorridas as eleições. O Supremo passou a ser também representante do povo, ditando a condução dos assuntos políticos do Estado brasileiro e condicionando a liberdade dos partidos para decidirem quanto a realização de coligações, para concorrerem às eleições. Surge, no Brasil, uma nova instância de deliberação política, a saber, o Supremo Tribunal Federal, onde as questões políticas podem ter sua última palavra. A arena de deliberação política deixou de se concentrar no Parlamento e nos partidos, para se estender à Corte Suprema, como novo espaço público para as discussões e decisões políticas. A crise de legitimidade que tem-se abatido sobre o Congresso tem servido de cenário para uma expansão dos poderes do Supremo Tribunal Federal, como ente legítimo para deliberar sobre questões políticas. A baixa qualidade da produção legislativa vem sendo utilizada como argumento para essa interferência do Supremo na atividade política e legislativa. Trata-se evidentemente de uma avaliação subjetiva por parte de quem não é parte no processo de elaboração das normas. Assim, sempre que o Supremo julgar que determinada atividade política confronta-se com a ordem constitucional, estará habilitado a decidir sobre a conveniência desses atos questionados, fazendo desaparecer qualquer discricionariedade política até então exercida. Na questão da verticalização, devemos evidentemente questionar a importância da manifestação da vontade do titular da decisão política em jogo, a saber, os eleitores. A coligação entre partidos obedece a interesses políticos locais, regionais, que, em última instância, atinam com as conveniências políticas dos representados naquele Estado ou Município. As diferenças culturais, sociais, administrativas e políticas condicionam decisões tomadas pelos partidos, candidatos e eleitores no âmbito da política local. Cabe, assim, ao eleitor decidir se a coligação é de interesse público ou se fere a vontade do eleitor, o que deve ser decidido nas urnas. Essa postura do Supremo gerou reações no Congresso Nacional. Diante dessa atuação do Judiciário, o Congresso promulgou emenda constitucional, permitindo tais coligações e derrubando a verticalização imposta pelo Judiciário. Outro aspecto importante a analisar diz respeito à liberdade política das legendas e do próprio cidadão eleitor, o que passaremos a comentar, em face de sua importância para esta reflexão. A liberdade tem sido construída sobre bases diferentes do que ocorria no passado. Há uma nova configuração da liberdade, com reflexos na extensão das decisões judiciais sobre temas políticos, com visível limitação do campo de atuação das instituições políticas. A chamada "verticalização" retirava a liberdade das legendas e pode gerar um novo tipo de aliança, em que um partido apóia candidato de outra legenda, de forma extra-oficial. De fato, essa é a conclusão lógica: a coligação de legendas deve ser decidida no âmbito dos partidos e nas urnas pelos eleitores. A imposição de uma verticalização pelo Judiciário interfere diretamente na liberdade e autonomia dos partidos. Essa análise da questão da verticalização mostra claramente uma nova tendência do Supremo Tribunal Federal a se converter em arena de deliberação política, ao lado do Parlamento. Passemos a examinar um outro aspecto, em que aparece essa intenção expansionista do Supremo, que é a representação dos direitos das minorias. A defesa dos direitos das minorias tem levado o Supremo a interferir nos atos internos do Poder Legislativo, passando a examinar questões que, em tempos remotos, eram tratadas como matéria interna corporis, como a determinação de indicação de membros para as cpis. Ora, não há fundamento para a tomada de decisões por minorias, no âmbito da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Nem na Constituição nem nos regimentos das Casas Legislativas encontramos disposição autorizando a votação por minoria. Assim, como se poderia estabelecer o entendimento de que uma comissão pode, enquanto minoria, se opor à vontade da Casa Legislativa na qual foi constituída? Trata-se de um paradoxo de difícil compreensão. Desse modo, a decisão pela instalação ou não de cpi deveria ser do Parlamento e não do STF. Mais uma vez, observamos a disposição do Supremo de interferir em questões que antes eram deixadas à conveniência das Casas Legislativas. O terceiro caso a ser estudado, para constatar essa tendência do Supremo é a fidelidade partidária. O ativismo judicial ficou bem explícito na solução adotada para a questão da fidelidade partidária. O Tribunal legislou, criando uma nova hipótese de perda de mandato, que é a infidelidade partidária, até então não contemplada na Constituição nem nas leis eleitorais. A decisão do Supremo Tribunal Federal de considerar que o mandato de parlamentares eleitos pelo sistema proporcional (deputados e vereadores) pertence ao partido traçou um novo perfil do Supremo, como legislador, ao lado do Congresso Nacional, como um espaço público político. Podemos assim concluir em relação aos fatores que permitem esse ativismo judicial no Brasil: 1. Quanto à questão da verticalização. Em primeiro lugar, vem a hipótese de leitura errônea do fenômeno de expansão judicial. Neste caso, não se pode falar em falsa compreensão do papel do judiciário, uma vez que tal decisão não foi tomada sequer em face de leis existentes que permitissem tal interpretação extensiva. Houve, isto sim, um acréscimo de norma, a criação de novas regras de conduta política, estabelecidas pelo TSE, e não modificadas pelo STF. Ao contrário, essa decisão cabia internamente aos partidos. Os partido não estavam proibidos legalmente de se coligarem, diante do que tal solução política era perfeitamente viável e tolerável, além do que já vinha sendo praticada há algum tempo, sem que houvesse qualquer ato judicial questionando sua legalidade ou legitimidade. Assim, o Judiciário não estava exercendo um papel de intérprete da lei e de guardião da Constituição. Ao contrário, tomou uma decisão de natureza política, decidiu em substituição aos partido e à vontade dos eleitores manifestados nas urnas. A vontade política foi decidida com base no entendimento dos integrantes da Suprema Corte, em substituição à vontade dos partidos e do eleitorado. Se o Supremo levou em conta a vontade popular como elemento principal na adoção de uma solução para o caso, poderia ter esperado pela manifestação dos eleitores nas urnas, o que demonstraria se essa solução buscada pelos partidos coligados estava ou não consentânea com a vontade dos seus representados. O Supremo se antecipou à resposta das urnas e deliberou politicamente, decidindo pela impossibilidade de coligação entre os partidos, colocando-se como interlocutor da vontade popular. Não se pode concluir que essa decisão política foi mal interpretada, pois não havia lei ou norma constitucional que configurasse essa vedação aos partidos políticos. Não se trata, obviamente, de compreensão errônea acerca da função de controle e fiscalização do Judiciário sobre os demais Poderes, função esta constitucionalmente estabelecida e tutelada, em prol da manutenção e garantia dos princípios democráticos de direito. A atividade política, neste caso, encontrava-se dentro dos parâmetros constitucionais e legais e adequada à prática política vigente em nosso País até então. Não houve uma frontal violação da lei pelos partidos, em benefício próprio, com a subtração de direitos e garantias constitucionais do eleitorado por eles representados. Não se pode falar em círculos de imunidade da atividade política dos partidos, pois a própria Constituição e a lei consentiam nessa tomada de decisão pelos partidos que não obrigados legalmente a conduta diversa. Também não se pode falar em degradação das instituições políticas, já que os partidos representam a vontade dos eleitores e, como tal, estão sujeitos ao controle de seus representados. Cada vez que o partido agir em desconformidade com essa vontade, sofrerá uma derrota nas urnas, diante do que se aperfeiçoa a democracia. O aperfeiçoamento das instituições, nesse caso, é manifestada pela vontade verificada nas urnas, e não pelo entendimento esposado pelos tribunais. Se a prática das coligações era exercida em degradação das instituições democrática e prejuízo da vontade popular, os controladores e fiscalizadores dessa prestação de contas poderiam ter reagido com o afastamento dos partidos e dos candidatos, por meio do voto nas urnas. Se não o fizeram, é porque estavam satisfeitos com os resultados políticos obtidos com essa articulações políticas praticadas nas coligações. Não se pode dizer que as coligações são espúrias ou degradantes por fatores meramente externos ou subjetivos, que não levam em conta as circunstâncias regionais, as necessidades locais e os resultados obtidos pelo eleitorado. Tal visão ignora a vontade do povo e presume a incapacidade do eleitorado de decidir o que é melhor para ele e para sua comunidade. A idéia de que o povo brasileiro não sabe votar e, portanto, se revela como hipossuficiente político que merece ser protegido é falsa e não corresponde à realidade. Assim, também, é falsa a opinião de que os partidos pensam nos seus próprios interesses e tomam decisões contrárias à vontade do eleitorado para beneficiar seus integrantes. Essa atitude seria um suicídio eleitoral, punido nas urnas de forma severa, o que certamente não desejam os partidos e muito menos os candidatos. Cabe à população local decidir que articulações políticas representam melhor seus interesses e defendem melhor suas demandas. Não se pode partir do princípio de que esta ou aquela coligação degrada as instituições políticas, apenas porque feitas em moldes diversos daquele traçado para o plano das eleições federais. A realidade das regiões brasileiras é diferente de uma para outra e só o cidadão que convive com as dificuldades diárias de seu estado ou município é capaz de dizer se esta ou aquela solução política e benéfica ou prejudicial ao povo e às instituições políticas. Quanto ao exercício das liberdades públicas, a decisão do STF ficou ainda mais distanciada da vontade dos cidadãos, na medida em que cerceou essa liberdade dos partidos políticos e dos eleitores e chamou para si mesmo o exercício dessa liberdade política, em lugar dos cidadãos e da instituições políticas. Assim, fica afastada essa possibilidade de explicação do fenômeno de ativismo judicial, em relação à questão das verticalização. Também, não podemos dizer que a política, nesse caso, estava sendo exercida em proveito do governante, para atender a interesses escusos, seguindo a conveniência do detentor do poder. Ao contrário, a coligação maléfica aos interesses públicos, aos interesses dos eleitores certamente representaria um suicídio político com o fracasso dos partidos nela envolvidos. Mais uma vez, o interesse coletivo é ditado nas urnas, pelo eleitor, que dirá se considera que a coligação feita tem como objetivo premiar os partidos envolvidos, seus candidatos ou os detentores do poder. Se o eleitor entender que a coligação foi feita em benefício da coletividade, afastando divergências políticas em prol da melhor representação dos eleitores, essa solução será politicamente legítima e tese de representatividade do Supremo se torna vazia de sentido. Desse modo, fica afastada essa hipótese de explicação do fenômeno de expansão da atividade do Supremo, denominada de ativismo judicial. Passemos ao teste da segunda hipótese. Expansão da atividade legislativa. Em relação à questão da verticalização o que houve foi falta de maior atuação do Legislativo que já poderia ter tomado a atitude de regulamentar a matéria, não deixando margem à dúvida quanto a essa possibilidade. A hipótese de Grimm quanto à expansão da regulamentação e da normas, que tem levado, no modelo americano, à ampliação do ativismo judicial, deve ser lida ao reverso, neste caso da verticalização. A falta de uma postura mais arrojada do Congresso Nacional na questão da reforma política deixou em aberto um espaço que logo foi apropriado pelo Judiciário. Todavia, essas forma de omissão deve ser lida como uma atitude comissiva por omissão, o que significa dizer que, ao deixar as circunstâncias permanecerem como estavam, quis o legislador que a prática consolidada das coligações se mantivesse sem alterações. Até mesmo porque a legislação em vigor não vedava essa solução, antes a permitia expressamente. A ausência de nova regulamentação sobre a matéria poderia ser facilmente lida como manifestação de vontade do legislador de manter o status quo. Todavia, a vontade do Judiciário não era a mesma e havia uma disposição em mudar essa prática, daí a manifestação do Tribunal Superior Eleitoral, confirmada indiretamente pelo Supremo Tribunal Federal. O que demonstra essa intenção do legislador, em confirmar, a prática vigente da coligação, foi o advento da emenda constitucional n.º 52, que derrubou a verticalização. Assim, não houve expansão, porém retração do Poder Legislativo, dando margem a essa ocupação de espaço pelo Judiciário. A ausência de atuação do Poder Legislativo deixou margem para que esse espaço fosse ocupado pelo Judiciário. Esta hipótese contribuiu, em parte para o expansionismo da atividade do Judiciário. Todavia, como já foi dito antes, essa omissão, essa retração tinha um propósito de deixar as coisas como estavam, não se tratava de simples omissão, em face de uma necessidade de regulamentação, reclamada pela sociedade, pelos partidos, pelo eleitorado. Em certas matérias, os rumores, as discussões, as insatisfações e dúvidas manifestadas no seio das instituições democráticas e dos setores da sociedade civil deixam de ter repercussão nas Casas do Congresso Nacional A um certo torpor, um certo momento de surdez e de paralisia no âmbito das instituições legislativas, como se nada estivesse acontecendo.Com o passar do tempo, os problemas, os conflitos vão se agravando e acabam por estourar no Judiciário, que, diante da inércia do Legislativo, abocanha mais uma parcela de poder que antes lhe escapava. Esse caso da verticalização não é necessariamente uma exemplo desse cenário de descrédito e de crise de legitimidade do Poder Legislativo, que, diante de diversos questionamentos sociais e políticos, simplesmente decide ignorá-los, deixando que os problemas sigam seu próprio rumo. Em outros casos, essa tese pode ser válida para justificar a crise entre os Poderes Legislativo e Judiciário, principalmente quanto à garantia dos direitos fundamentais, como ocorre em algumas matérias, em que a omissão do legislador impede o cidadão de exercer plenamente os seus direitos. Essa hipótese, todavia, não é atual e já era observada nos primeiros estudos acerca da judicialização da política. Em relação a esses casos, a judicialização da política atende a uma necessidade de garantia dos próprios preceitos constitucionais, relativamente aos direitos e garantias fundamentais por ela tutelados. Em muitas dessas situações polêmicas, como o recente caso a respeito do aborto, o legislador, para evitar desgastes com o eleitor, prefere deixar ao juiz a decisão a respeito do tema. Trata-se de uma omissão estratégica, para evitar confronto com determinados segmentos da sociedade civil. Todavia, esses aspectos já foram bem explorados, em diversos estudos acerca da judicialização da política, e não pretendemos nos adentrar nesses tópicos. Este estudo está voltado para aquelas decisões do Judiciário de cunho político, em questões eminentemente políticas, cuja arena de deliberação deve ser o ambiente político. Então, pelo menos em relação à verticalização, não houve nenhum processo de regulação legislativo que tivesse dado margem a questionamentos judiciais em torno do respeito à Constituição. Nem é o caso de atribuições novas conferidas ao Judiciário pelos legisladores, pois, neste caso, diante de norma específica a esse respeito, as competências eram conferidas aos próprios partidos políticos, como matérias de deliberação partidária. Não houve atribuição de competências constitucionais ao Judiciário a fim de deliberar sobre a possibilidade ou não de coligação entre os partidos, quando houvesse acordo para candidato único na esfera do Executivo Federal. Em nenhum momento se concedeu ao Judiciário essa competência deliberativa, que deveria ser efetuada pelos partidos e legitimadas ou não nas urnas pelos eleitores. No discurso de posse do Ministro Gilmar Mendes como Presidente do STF, assim se pronunciou o Ministro Celso de Mello: “Práticas de ativismo judicial, embora moderadamente desempenhadas por esta Corte em momentos excepcionais, tornam-se uma necessidade institucional, quando os órgãos do Poder Público se omitem ou retardam, excessivamente, o cumprimento de obrigações a que estão sujeitos por expressa determinação do próprio estatuto constitucional, ainda mais se se tiver presente que o Poder Judiciário, tratando-se de comportamentos estatais ofensivos à Constituição, não pode se reduzir a uma posição de pura passividade.” Essa afirmação ressalta bem que há um vácuo deixado pelo Legislativo, no exercício de suas atribuições, que vem sendo preenchido pelo Supremo Tribunal Federal, o que tem contribuído para o ativismo do Supremo, embora não seja uma causa decisiva nesse sentido. Ratificamos, mais uma vez, que qualquer ausência de deliberação política nesta matéria deveria ser lida como intenção do legislador em manter o sistema de coligações. Todavia, não se pode negar que a promulgação da emenda 52, antes que o TSE proferisse sua decisão teria evitado essa celeuma e estabelecido de uma vez por todas o sistema de coligações, impedindo a determinação da verticalização pelo Judiciário. Assim fica afastada também essa hipótese de que a atividade do Parlamento teria gerado novos espaços de atuação para o Poder Judiciário decidir sobre questões políticas. Ao contrário, o que se observa, neste exemplo, é que a falta de atuação do Legislativo, o seu encolhimento diante de demandas sociais e políticas tem sido utilizados como fundamento pelo Judiciário para avançar sobre a atividade legislativa, emitindo normas positivas para o mundo político. Entretanto, essa omissão do Legislativo não foi o motivo decisivo para tal postura do Supremo Tribunal Federal, uma vez que essa prática de coligações já se verificava no Brasil, há algum tempo, de forma legítima, gerando inclusive nos partidos e entre os eleitores a convicção de se tratar de uma solução politicamente legitima. Em períodos anteriores, o próprio TSE, ao responder a consultas formuladas acerca dessa matéria, nunca entendeu que as coligações ameaçavam a democracia. Por essa razão, o Judiciário, para não adentrar em questões políticas, substituindo o legislador, deixava de emitir norma que viesse a modificar o sistema vigente. Somente em 2002, o TSE, contrariando orientações anteriormente formuladas, decidiu mudar as regras do jogo, legislando sobre a matéria e estabelecendo novas regras para as eleições que se seguiriam. Analisemos a terceira hipótese. A extrapolação da atividade legislativa. Assim como não houve expansão da atividade, também não pode ter havido extrapolação dessa atividade. Também no que tange à atuação dos partidos, em nenhum momento houve qualquer desvio ou abuso quanto às suas prerrogativas legais. As coligações procedidas encontravam-se dentro da margem de liberdade política concedida aos partidos pela legislação, a qual facultava a realização de coligações. Desse modo, a conveniência de realizar ou não coligações foi conferida aos partidos, como decisão política, e não ao juiz. Não havia a prática de qualquer arbitrariedade ou ilegitimidade partidária nas articulações políticas idealizadas pelos partidos. A regra imposta pelo TSE e confirmada pelo STF foi uma decisão política que substituiu a vontade dos partidos pela vontade do juiz. O Judiciário agiu como instância partidária superior, baseado numa vontade política de seus integrantes, e não em função da garantia de direitos fundamentais ou em virtude de descumprimento de norma constitucional. A decisão sobre verticalização criou, em nosso sistema político, uma nova atribuição do Judiciário, a saber, a manifestação de vontade política em substituição ao legislador e aos órgãos partidários. Os comandos políticos e partidários passaram a depender não mais apenas dos homens políticos e de seus partidos, mas também dos juízes, que podem, em determinadas circunstâncias, interferir no mundo político, para estabelecer condutas aos políticos e aos partidos, desde que a vontade política da Corte venha a sofrer alterações. A reação legislativa veio tardiamente, após a decisão do Supremo a respeito da verticalização. Essa norma posterior, de sede constitucional firmou-se como constitucional e legítima, modificando a decisão judicial anterior. Não houve qualquer ameaça à segurança constitucional e à estabilidade das instituições democráticas que justificasse uma intervenção política do Supremo nas eleições. Não houve nenhum momento de controle de constitucionalidade de leis que tivesse gerado a decisão política no sentido de estabelecer a verticalização. Não se trata de exercício da função de guardião da Constituição, já que não havia norma constitucional em vigor a respeito dessa matéria. Neste caso, a norma foi criada pelo Tribunal Superior Eleitoral, confirmada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal. Afastada também essa hipótese de extrapolação da atividade legislativa, passemos à próxima hipótese. A mudança na composição do Supremo Tribunal Federal estaria interferindo na expansão da sua atividade. Aqui reside uma das explicações desse fenômeno de expansionismo judicial. A composição da Corte modifica a sua postura em relação ao papel institucional. A entrevista feita com o Ministro Celso de Mello e transcrita anteriormente deixa claro que a saída de alguns Ministros mais conservadores e a entrada de outros de perfil mais arrojado levaram a uma mudança de atitude quanto ao papel desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal. Assim a saída de alguns Ministros mais conservadores e o ingresso de outros mais liberais e com ideologias políticas mais arrojadas estão influenciando a orientação do Tribunal, com impacto nas suas decisões. Passaremos a fazer uma rápida análise do perfil dos atuais Ministros do Supremo, a fim de entendermos melhor as mudanças pelas quais tem passado a Corte. Celso de Mello. Foi o mais jovem Presidente do Supremo, aos 51 anos, de 1997 a 1999. Seus votos tem contribuído fortemente para a consolidação da jurisprudência da Corte e influenciam significativamente as novas linhas de pensamento e orientações adotadas nos julgamentos e nas decisões do STF. Os votos proferidos pelo Ministro Celso de Mello também têm servido como referência doutrinária e jurisprudencial para o estudo e a pesquisa de relevantes temas de direito na atualidade, inclusive no campo do Direito Parlamentar. Na entrevista que se analisou, o Ministro Celso de Mello deixa clara a sua orientação no sentido de que compete ao STF pronunciar-se sobre questões políticas, eliminando qualquer discricionariedade do Parlamento. Essa postura do Ministro Celso de Mello tem servido de influência nas decisões do Tribunal, contagiando outros Ministros que têm adotado essa solução, levando a Corte a se tornar uma Casa Política. Marco Aurélio Mello. Iniciou sua carreira como advogado no Rio de Janeiro. Chefiou o Departamento de Assistência Jurídica e Judiciária do Conselho Federal dos Representantes Comerciais no Estado do Rio de Janeiro. Foi Membro do Ministério Público do Trabalho, integrou a Justiça do Trabalho da 1ª Região. Foi Juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, além de Corregedor- Geral da Justiça do Trabalho. Foi nomeado, em 1990, para o Supremo pelo Presidente Fernando Collor, Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral e ocupou a presidência do Supremo Tribunal Federal no biênio 2001/2003. A posição de independência manifestada em seus votos tem contribuído também para que haja uma renovação na orientação da Suprema Corte quanto às questões políticas. O seu poder argumentativo e a notória articulação de seus votos demonstram que o Ministro Marco Aurélio exerce significativa influência nas decisões da Corte, provocando mudança na postura clássica adotada no passado, quando outros Ministros lideravam as correntes jurisprudenciais prevalecentes quanto aos limites de atuação do Poder Judiciário, na análise de temas políticos. Ellen Gracie. Foi Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região por 11 anos. É considerada cautelosa, discreta e competente. A sua postura é mais influenciada pela neutralidade do juiz, por um maior distanciamento da política. Gilmar Mendes. Foi Procurador da República, Consultor-Jurídico da Secretaria Geral da Presidência da República nos anos de 1991/1992. Participou como Assessor Técnico na Relatoria da Revisão Constitucional na Câmara dos Deputados em 1993/1994. Em 1996 tornou-se Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil. Atuou como Advogado-Geral da União no período de 2000/2002. A experiência de Gilmar Mendes na Chefia Jurídica da Presidência da República e como Advogado-Geral da União certamente representa um aspecto importante na orientação de seus votos. A experiência próxima com a política influenciaram também a sua visão jurídica e a orientação de seus votos, fazendo com que a sua postura como Ministro seja diversa da de outros integrantes da Corte que tiveram, ao longo da sua vida, uma carreira mais voltada para a magistratura, com a visão de neutralidade própria do magistrado. Cezar Peluso. Ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, 65 anos, foi o primeiro ministro do STF indicado pelo presidente Lula, em 2003. Iniciou sua carreira como juiz substituto, da 14ª Circunscrição Judiciária de São Paulo, em Itapetininga. Foi juiz de direito da comarca de São Sebastião (1968 a 1970) e da comarca de Igarapava (1970 a 1972). Em 1972 passou a atuar na capital paulista, primeiro como 47º juiz substituto da Capital (1972 a 1975), depois como juiz de direito da 7ª Vara da Família e das Sucessões da Capital, de 1975 a 1982. Após passagens como juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, convocado pelo Conselho Superior da Magistratura, entre 1978 e 1979, e juiz do Segundo Tribunal de Alçada Civil, 5ª Câmara, entre 1982 e 1986, Cezar Peluso foi chamado para o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), para o cargo de desembargador. O ministro permaneceu no tribunal estadual de 1986 a 2003, atuando também como membro efetivo do Órgão Especial daquela Corte, até ser convidado pelo presidente Lula para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. A sua vivência como magistrado o coloca entre aqueles integrantes mais vinculados a uma postura magistral, distanciada da visão política. Carlos Britto. Ex-filiado do PT, é considerado a indicação mais partidária feita por Lula. A filiaçãono passado de Carlos Brito demonstra um forte envolvimento com as questões políticas, o que o colocam entre os que recebem uma influência marcante da política ao proferirem suas decisões. A experiência política vai exercer uma força significativa na orientação adotada, quando do julgamento de questões políticas submetidas ao exame da Corte. Joaquim Barbosa. Indicado por Lula. Trabalhou na gráfica do Correio Braziliense. Foi Procurador da República. Joaquim Barbosa assumiu em 2006 a relatoria da denúncia contra os acusados do mensalão e defendeu a aceitação das denúncias com perfeição, resultando na aceitação da denúncia contra os quarenta réus. O julgamento prossegue no Supremo, segundo acreditam a maioria da opinião pública, pelo menos até 2010, podendo reverter o fato histórico de o STF nunca ter condenado um político. Também foi de sua iniciativa a abertura de processo contra o deputado Ronaldo Cunha Lima, tendo sido esta decisão considerada história, pois foi a primeira vez em que o STF abriu processo contra um parlamentar. No dia seguinte, Cunha Lima renunciou ao mandato para escapar do processo, o que provocou duras críticas por parte de Joaquim Barbosa. No polêmico julgamento das células tronco, Joaquim Barbosa votou a favor da liberação de seu uso para fins de pesquisas.. No TSE, no mais polêmico julgamento desde que tomou posse no tribunal, Joaquim Barbosa votou a favor da tese de que políticos condenados em primeira instância poderiam ter sua candidatura anulada, sendo porém voto vencido nesta questão. A passagem pelo Ministério Público faz de Joaquim Barbosa um Ministro mais ousado no que tange ao controle da administração pública e da atividade política. A postura mais combativa do Ministério Público se refletirá numa postura mais ideológica quanto aos limites de atuação da Corte Suprema. Eros Grau. Apontado como um dos grandes constitucionalistas do País. Eros Grau, 67 anos, é esquerdista e o mais ideológico dos ministros do STF. Exerceu a advocacia, em São Paulo, de 1963 até a sua nomeação para Ministro do Supremo Tribunal Federal, em junho de 2004. Exerceu a função de árbitro junto à CCI – Cour Internacionale d’Arbitrage, com sede em Paris, e em tribunais ad hoc, nacionais e internacionais, sendo membro do Comité Français de l’Arbitrage. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, designado, para este último, pelo Presidente da República por decreto de 12 de fevereiro de 2003. Foi consultor da Bancada Paulista na Assembléia Nacional Constituinte [1.988] e membro da Comissão de Acompanhamento Constitucional, designada pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, bem assim membro da Comissão PósConstitucional, criada pelo Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em setembro de 1.988. A proximidade de Eros Grau com o mundo político e acadêmico é uma fator que não pode ser eliminado na análise da sua visão de magistrado, no controle e fiscalização da atividade política. Sua postura diferirá daquela mantida por um clássico juiz, cuja formação nas lides judiciais foi marcada pela neutralidade e imparcialidade magistral. Ricardo Lewandowski. Foi indicado pelo presidente Lula depois de consulta feita à Ordem dos Advogados do Brasil. Advogado militante, ocupou também, vários cargos públicos, como o de Secretário de Governo e de Assuntos Jurídicos de São Bernardo do Campo..Em 1990, foi indicado, pelo quinto constitucional, para compor o Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, cargo que ocupou até 1997, quando foi indicado para o Tribunal de Justiça de São Paulo. O envolvimento político de Lewndowski indica o tipo de postura que se deve esperar desse magistrado, quando do exame de questões política. A sua experiência prática com a política certamente influenciará o rumo de suas decisões acerca da atividade legislativa e política. Carmem Lúcia. Indicada por Lula, é ex-procuradora do estado de Minas Gerais. Tem 50 anos e é a mais jovem ministra do Tribunal. É conhecida por atuar nas comissões da OAB e em movimentos pela reforma política. Outra vez, vamos encontrar uma Ministra fortemente influenciada pela vida política e pela estreita experiência com a administração pública e com a criação e execução de atos políticos. Assim, suas decisões serão influenciadas por essa vivência política e sua postura será diversa daquela manifestada por um magistrado de carreira, moldado pelo ambiente próprio dos Tribunais. Carlos Alberto Direito. É considerado um jurista conservador. Foi Ministro do STJ. Pediu vista no processo que pedia a declaração de inconstitucionalidade do uso de células tronco embrionárias, o que fez com que o processo, que já aguardava votação a anos, fosse mais uma vez adiado. Em 28 de maio de 2008, Direito votou pela procedência em parte da ação, utilizando o mecanismo da "interpretação conforme" para que fosse permitida a pesquisa com células tronco embrionárias, observadas as restrições constantes em seu voto. Podemos incluí-lo entre os Ministros de tendência mais conservadora e mais distanciados de uma ideologia política. Alguns aspectos devem ser levados em conta nessa análise. Entre os atuais Ministros Supremo, sete foram indicados pelo Presidente Lula, o que acaba por provocar uma mudança no perfil da Corte. O Ministro Gilmar Mendes esteve por muitos anos à frente da Assessoria Jurídica do Planalto e foi Advogado-Geral da União. Essa visão de Executivo e o envolvimento na tomada de decisões políticas, como um dos principais articuladores do Planalto na edição de Medidas Provisórias e na elaboração de projetos de lei vai se refletir na sua atuação como Ministro e como Presidente do Supremo Tribunal Federal. A sua participação na Suprema Corte também tem o condão de gerar nova influência nas deliberações, criando uma orientação diversa daquela que vinha sendo capitaneada, por exemplo, pelo Ministro Moreira Alves, de estilo mais conservador. O próprio mandado de injunção, citado na entrevista transcrita com o Ministro Celso de Mello, teve sua interpretação constitucional fixada por influência do Ministro Moreira Alves, no caso líder sobre essa matéria, em que S. Exa. foi Relator. Daí para a frente, todas as decisões em mandado de injunção, proferidas no âmbito do Supremo, seguiam a orientação perfilhada por Moreira Alves. Com a sua saída, abriu-se uma espaço para mudanças nessa orientação, o que levou a uma nova interpretação do Supremo quanto ao alcance do mandado de injunção, agora capitaneada por novos ministros como Celso de Mello e Gilmar Mendes. A tese da argumentatividade como forma de representação popular vem sendo defendida por Gilmar Mendes, na qualidade de grande estudioso do Direito Constitucional e fortemente influenciado pela doutrina constitucional alemã. Esta hipótese, portanto, é válida na explicação do fenômeno do ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Observa-se, por parte da maioria dos integrantes da Suprema Corte, uma posição mais arrojada no que diz respeito às atribuições do Tribunal e uma disposição natural para uma atuação mais ampla, mais abrangente, levando a Corte a um patamar de maior ingerência na atividade política, o que vem colocando o Supremo como uma instância não apenas judicial, mas também política. Na visão desses Ministros mais arrojados, o Supremo deve ser uma instância de deliberação política. Aqui, podemos nos valer da observação de Ferejohn, no sentido de que o Judiciário está significativamente desejoso de controlar a atividade política, passando a decidir sobre questões políticas, como a conduta dos homens políticos, as regras a serem adotadas nas eleições, o financiamento de campanhas, entre outros temas. Igualmente válida a tese defendida por Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Júnior, de que há uma disposição natural do Judiciário para ocupar mais espaço no controle da competição político-partidária no Brasil. Afirma o citado Autor: “Assim respondendo à questão do porquê da judicialização da competição político-partidária, podemos concluir que ela se deu mais pelo voluntarismo do Judiciário, favorecido pela força institucional conferida pelo modelo de governança eleitoral que adotamos, do que por uma possível deficiência do Legislativo em tratar do tema. Havendo essa disposição de tomar deliberações políticas, aí, sim, o juiz buscará lacunas, em que possa atuar, valendo-se da omissão ou da retração do legislador. Descobrindo campos que permitem esse avanço, na oportunidade em que demandado por alguma parte interessada, o Judiciário estará apto e desejoso de expandir suas competências, ainda que para isso tenha de legislar positivamente, criando novas regras, modificando as existentes ou, até mesmo, revogando-as por meio do instrumento hermenêutico, com base na representatividade do cidadão pela argumentatividade. Falta-nos analisar a última hipótese. Supremacia do discurso técnico. A Suprema Corte vem adotando uma postura de supremacia técnica. Todavia, não podemos afirmar que o jurídico predomina sobre o político, mas que o jurídico converteu-se em político. A consciência de guardião da Constituição levou a Suprema Corte a transformar as decisões jurídicas em decisões políticas. Isto resta claro, quando o seu Presidente declara que essa Corte é a casa do povo. O Supremo, antigamente citado como órgão de cúpula do Judiciário, hoje ganha uma nova designação e converte-se em órgão de cúpula do Legislativo. Assim, compete-lhe, segundo declaração de seu Ministro e Presidente, Gilmar Mendes, corrigir as distorções verificadas no Legislativo. Não é por outro motivo que o Ministro Celso de Mello designou essa Corte de Poder Moderador. O Supremo passa a ser visto como um Poder Político superior, a quem compete revisar os atos dos outros Poderes, corrigir seus erros e substituí-los no exercício de suas funções, quando isso se fizer necessário. O novo Supremo não apenas interpreta as leis, mas também as elabora e corrige. A explicação de que compete ao Supremo corrigir os erros do Legislativo só pode se basear em uma concepção de supremacia técnica, em que os seus integrantes, por gozarem de elevada formação jurídica e de notório saber jurídico, estariam em melhores condições de ditar as leis, e não apenas intepretá-las. Tal formação técnica não é exigida dos membros dos demais Poderes, o que coloca o Supremo em posição de Casa revisora dos atos dos demais Poderes. Assim, se explica a designação de Poder Moderador, um Poder acima dos demais, em condições de resolver os seus conflitos e preencher suas lacunas.Essa situação privilegiada, em termos de formação técnica de alto nível permitiria a essa Corte definir o rumo político do País, com o que a última palavra em matéria política passaria a ser do Supremo Tribunal Federal. Daí as palavras do seu Presidente de que o Congresso Nacional não faz boas leis, a qualidade da produção legislativa é ruim e questionável e que, portanto, caberia ao Supremo proceder à correção dessa atividade. Essa hipótese também tem sido a causa do ativismo judicial por parte do Supremo: a adoção da tese da supremacia técnica do Supremo Tribunal Federal. Assim, conclui-se que, em relação à verticalização, três fatores contribuíram para transformar o Supremo em arena de deliberação política: a) a omissão do Poder Legislativo, b) a mudança na composição da Corte, c) a adoção da teoria da supremacia técnica, por meio da tese da argumentatividade. Quanto ao controle exercido sobre as comissões parlamentares de inquérito. Examinemos a hipótese de leitura errônea do fenômeno de expansão judicial. Aqui, podemos concluir que essa hipótese é parcialmente verdadeira. Com relação à defesa de direitos fundamentais, há uma leitura errônea quanto ao papel do Supremo por parte de alguns juristas e parlamentares, que se posicionam contra o controle e a fiscalização exercida pela Corte Suprema sobre os trabalhos das cpis. No que diz respeito, por exemplo, ao papel do advogado perante a comissão, aos poderes de busca e apreensão domiciliar, à determinação de prisão por falso testemunho, a atividade do Supremo tem por finalidade conter os excessos e abusos praticados no âmbito das comissões, impedindo a violação de direitos fundamentais e conformando a atividade legislativa aos preceitos constitucionais. Pode-se dizer mesmo que o Supremo tem impedido que o Parlamento abuse dos seus poderes e cometa atos políticos vedados ou não autorizados pelo nosso ordenamento constitucional. Não há, neste ponto, que se falar em ativismo judicial por parte do Supremo, uma vez que sua atividade, quanto a estes aspectos, não invadiu qualquer competência reservada a outros poderes. As decisões proferidas em habeas corpus e mandados de segurança contra atos de cpi se ajustam perfeitamente às suas atribuições como guardião da Constituição e como intérprete do sistema normativo vigente. A questões políticas também se transformam em questões jurídicas, diante do que se faz necessária a participação do Judiciário, a fim de expurgar o demérito dessa atividade política, dentro de uma processo legítimo de judicialização da política, porém, não de ativismo judicial. Entretanto, no tópico específico da indicação obrigatória de membros para as comissões parlamentares de inquérito, a atividade do Supremo é política e invade questão interna corporis, que diz respeito à conveniência e oportunidade política, e não a questão jurídica. Aqui, sim estamos diante de ativismo judicial, em que o Supremo avoca para si atribuições políticas do legislativo, transformando-se em arena de deliberação política, e não jurídica. Expansão da atividade legislativa. Esta hipótese também é responsável pelo ativismo judicial do Supremo, quanto ao controle das cpis. As cpis têm expandido sua atividade de fiscalização para além da atividade meramente política, chegando, em alguns casos, a se transformar em verdadeiras delegacias de polícia. Lembre-se que, em outros países, como é o caso da França, havendo investigação pelo Ministério Público ou pelo Judiciário, as comissões parlamentares de inquérito não podem continuar com a investigação política e, se esta estiver em andamento, deverá cessar. No Brasil, as comissões parlamentares de inquérito iniciam e prosseguem as investigações paralelas com as do Ministério Público, da Polícia e do Judiciário. Um exemplo típico disto é a comissão instituída, na Câmara dos Deputados, para investigar a ação de matadores de aluguel, uma investigação de caráter nitidamente policial. Não bastasse essa proliferação de comissões parlamentares de inquérito, que se tornaram populares e comuns no Parlamento brasileiro, as comissões têm procurado ampliar seus poderes. Como já tivemos oportunidade de mencionar, até mesmo em casos que o juiz considera de inviolabilidade, as comissões invadiam a privacidade dos investigados, sem qualquer constrangimento, fazendo busca e apreensão desautorizada pela lei e pela Constituição. Em muitos casos, a comissão se colocava acima dos poderes do Judiciário, como um poder sem limites. Essa expansão levou o Supremo a interferir com bastante freqüência nos trabalhos das comissões, a fim de ajustar suas investigações aos preceitos constitucionais e aos direitos fundamentais. A expansão da atividade legislativa é responsável, nesse aspecto, pelo avanço do controle do Judiciário. Essa hipótese pode ter servido de fundamento, também, para que o Supremo viesse a declarar a necessidade de instalação obrigatória da comissão, como uma forma de garantir direitos de minorias no Parlamento. Entretanto, não se pode dizer que a expansão legislativa levou a essa solução, uma vez que, neste caso, estamos diante de retração, e não expansão, do legislativo. Enquanto o Parlamento procura limitar o número de comissões em funcionamento, o Supremo trabalha para expandir essa atividade, obrigando à indicação dos membros da comissão. Para este caso, a hipótese não é válida, e o ativismo judicial não decorre de expansão de atividade política, mas de uma vontade do Supremo de ampliá-la. A extrapolação da atividade legislativa. É uma hipótese, também válida, para os exemplos citados de violação de direitos fundamentais pela cpi, levando o supremo a restaurar o Estado Democrático de Direito, em que o parlamentar que integra a cpi não pode estar acima da lei e da Constituição para fazer o que deseja. O entusiasmo na obtenção de votos ou o comportamento voltado para satisfazer ao clamor popular não pode justificar que os direitos fundamentais sejam violados, e que as técnicas de investigação da comissão deixem de obedecer a limites legais. A cpi não pode er um tribunal de exceção, em que tudo vale, a fim de obter a confissão dos investigados, convenientemente intimados como testemunhas, a fim de que possam ser lançados na armadilha do falso testemunho e tenham a sua prisão declarada em flagrante. Esse espetáculo arbitrário extrapola todos os poderes conferidos constitucionalmente às comissões parlamentares de inquérito, do que decorre logicamente a reação do Supremo, a fim de adequar os atos da comissão aos moldes legais e constitucionais impostos pelo Estado Democrático de Dirteito. Mais uma vez, quanto à indicação coercitiva de membros para as comissões, a hipótese é inválida, pois tal omissão do legislativo não configura extrapolação, mas sim uma atividade política legítima no embate de forças políticas dentro do Congresso Nacional. A mudança na composição do Supremo Tribunal Federal estaria interferindo na expansão da sua atividade. Esta hipótese também é válida apenas para a questão da instalação obrigatória da cpi. Somente uma vontade de agir politicamente por parte dos membros da Corte explicaria essa solução adotada. Uma vez eu se trata de conveniência e oportunidade políticas permitidas pelo Regimento Interno, a interferência do Supremo só pode decorrer de uma vontade da mais alta Corte do País de transformar em espaço de deliberação política, esquecendo a clássica divisão de poderes e avançando para se tornar igualmente um Tribunal político. No que tange ao controle dos demais atos da cpi, independentemente da composição da Corte, seus membros não deixariam de exercer o mister de guardião da Constituição e do ordenamento jurídico nacional, de pilares de sustentação dos direitos e garantias fundamentais, não servindo a hipótese para fundamentar esses casos que não são de ativismo judicial, mas de natural judicialização da política. Supremacia do discurso técnico. Esta hipótese é perfeitamente válida para explicar todos os casos de controle de atos da cpi. Por um lado, a supremacia técnica já é esperada no que diz respeito à interpretação dos limites traçados pela Constituição e pela lei para as investigações realizadas no âmbito do parlamento. A aplicação subsidiária do Código de Processo Penal aos trabalhos das cpis, pelo Regimento Interno, já leva a uma necessidade de interpretação técnica por parte do judiciário, quanto ao correto conteúdo da lei e de suas possibilidades de aplicação. Essa supremacia do discurso técnico é uma decorrência natural da atividade do juiz como intérprete da lei. Cabe ao Supremo dizer, em última análise qual a significação da lei e qual o alcance de sua interpretação e aplicação para os trabalhos desenvolvidos pelas comissões de investigação parlamentar. Não há que se falar em ativismo judicial, portanto, quando o juiz exerce sua função de intérprete e de guardião da lei. Entretanto, quando falamos de indicação compulsória de membros de uma comissão temporária ou quando se alude a estatura das minorias parlamentares, estamos diante da supremacia do discurso técnico, que funciona como fundamento para que o Supremo elabore leis que ele próprio irá aplicar. Não há um estatuto de minorias votado pelo Congresso Nacional, de forma que o estatuto a que alude o Supremo é aquele por ele mesmo criado, em questões concreta, por meio de sua jurisprudência. Esse é um típico caso de ativismo judicial, em que o Supremo se considera melhor aparelhado para criar as regras que irão governar a atividade das comissões parlamentares de inquérito e, até mesmo do presidente da Casa Legislativa, que deverá se submeter à vontade política do Supremo de criar comissão parlamentar de inquérito, que, no seu entender, é importante para a democracia. O Supremo substitui a vontade do eleitor e de seus representantes pela sua, considerando que seus integrantes estão em melhores condições de ditar a regras para o funcionamento do Congresso Nacional, quanto a esse tema. Finalmente quanto à fidelidade partidária. Examinemos a hipótese de leitura errônea do fenômeno de expansão judicial. Podemos concluir que essa hipótese não é verdadeira em relação à questão da fidelidade partidária. O papel de intérprete do Supremo não enseja a criação de hipótese de perda de mandato, sem que haja uma nova norma em vigor. No caso em tela, essa norma foi criada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que incluiu, entre os motivos para perda de mandato, a infidelidade partidária. Trata-se de ativismo judicial por parte da Corte, que legislou sobre a matéria. Expansão da atividade legislativa. Esta hipótese também não é responsável pelo ativismo do Supremo em matéria de fidelidade partidária. A Corte não tomou qualquer decisão com base em lei discutida e votada no Congresso Nacional. Ao contrário, as Casas Legislativas deixaram de prever essa hipótese de perda de mandato, por falta de interesse político, o que levou o Supremo a avançar nas suas competências para fixar regras de conduta política para os parlamentares e sanções pelo seu descumprimento. A reação do Congresso veio posteriormente com Projeto de Lei Complementar 124/07, do deputado Flávio Dino (PCdoB-MA), que regulamenta a cassação de mandato motivada pela troca de partido, quando caracterizada a infidelidade partidária. A proposta regulamenta a Constituição e permite a mudança partidária apenas durante um período de 30 dias, no último ano de mandato. Para este caso, a hipótese não é válida, e o ativismo judicial não decorre de expansão de atividade política, mas de uma vontade do Supremo de legislar sobre matéria de reforma política. A extrapolação da atividade legislativa. É uma hipótese, também inválida, para o caso em análise. A troca de partidos nunca representou extrapolação da atividade parlamentar ou política, uma vez que a legislação em vigor não vedava tal possibilidade. A decisão quanto a mudar ou não de partido se circunscrevia ao campo da conveniência e oportunidade políticas, ficando o partido com a possibilidade de expulsar o infiel dos seus quadros, não se podendo decretar, todavia, a perda de mandato, por falta de expressa determinação nesse sentido. A mudança na composição do Supremo Tribunal Federal estaria interferindo na expansão da sua atividade. Esta hipótese é válida para explicar o ativismo judicial do Supremo n questão da fidelidade partidária. A composição da Corte por Ministros mais arrojados, com disposição para avançar em relação às atribuições do Tribunal, tem levado à tomada de decisões mais amplas, de efeitos mais expandidos, rompendo com a clássica divisão de poderes. Como pudemos observar na afirmação do Presidente da Corte, o Tribunal representa o povo, em decorrência não do voto, mas da argumentatividade. Isto demonstra que há, por parte da atual composição do Tribunal, uma manifesta vontade de exercer um papel político, e não mais apenas interpretativo da Constituição. Isto significa dizer que, doravante, o Supremo passará a produzir normas. Preenchendo espaços vazios no ordenamento normativo. A integração da norma, por meio dos processos clássicos de hermenêutica, cede lugar à integração do ordenamento normativo, por meio da criação direta de leis pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive de caráter geral, como no caso da fidelidade partidária. Supremacia do discurso técnico. Esta hipótese é perfeitamente válida para explicar todos os casos de ativismo judicial até aqui estudados. Em todas as entrevistas analisadas, percebe-se, claramente, uma manifestação de tecnicismo que influencia esse processo, colocando o Supremo como revisor dos atos do legislativo. Outra não é a tese de Alexy, para quem cabe ao judiciário corrigir os atos do legislativo. Isto é exatamente o tecnicismo a favor da criação de normas pelo Supremo, como Corte especializada em matéria constitucional, o que lhe colocaria em condições de revisar os atos dos demais poderes e decidir por eles ainda que em questões políticas. Um dos elementos que viabilizam essa hipótese é a interpretação de conceitos vagos, imprecisos, a partir dos quais a Corte inicia seu processo de ativismo, deixando de lado a simples para criar, modificar e revisar, assumindo feições inclusive de constituinte derivado. O Supremo substitui a vontade do eleitor e de seus representantes pela sua, considerando que seus integrantes estão em melhores condições de ditar a regras para um melhor funcionamento do Congresso Nacional e o aprimoramento da democracia, que, nestes três casos estudados, tem a feição de democracia tecnocrata. Esses três exemplos não dão uma clara indicação quanto ao novo perfil do Supremo Tribunal Federal, no Brasil, como arena de deliberação política. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 1. ARISTÓTELES, Política. Editora Martin Claret, Sõ Paulo, 2001. 2. TOCQUEVILLE Alexis de, A Democracia na América. Ed. Itatiaia 3. BADINTER, Robert & BREYER, Stephen. Judges in Contemporary Democracy. New yiork University Press. 2004. 4. BERCOVICI, Gilberto. Constituição e política: uma relação difícil. Arito publicado na Lua Nova: Revista de Cultura e Política n.º 61, São Paulo, 2004. 5. CAPPELLETTI, M. 1993. Juizes legisladores? Porto Alegre : S. A. Fabris. 6. CASTRO, M. F. 1997. O Supremo Tribunal Federal e a judicialização da política. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 12, n. 34, jul. 7. DAHL, Robert A. Sobre a democracia. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 2001. 8. FEREJOHN, John. Judicializing politics, politicizing law. 9. FERNANDES DE OLIVEIRA & GONZAGA DE SOUZA, Nythamar & Draiton (Organizadores). Justiça e Política: homenagem a Otfried Höffe Porto Alegre. Ed. EDIPUCRS, 2003 10. GARAPON, A. 1999. O juiz e a democracia: o guardião de promessas. Rio de Janeiro : Revan. 11. McDOWELL, Gary. Equity and the Constitution. The Harvard Law Review Association, 1982. 12. MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. São Paulo, Martins Fontes, 1996. 13. PLATÃO, A República. Editora Martin Claret, São Paulo, 2000., Belo Horizonte, 1998. 14. QUEIROZ, Cristina M. M. Os actos políticos no Estado de Direito. O problema do controle jurídico do poder. Coimbra, Livraria Almedina, 1990. 15. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social. São Paulo, Martin Claret, 2000. 16. TATE, C. N. 1995. Why the Expansion of Judicial Power? In The Global Expansion of Judicial Power. New York : New York University. 17. VIEIRA, O. V. 1993. O Supremo Tribunal Federal e a consolidação da democracia : 1988 a 1993. São Paulo. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Universidade de São Paulo. 18. VALLINDER & TATE, Torbjorn & C. Neal. The Global Expansion of Judicial Power. The Judicialization of Politics. New York, New York University Press, 1995. 19. WERNECK VIANNA, Luiz, Organizador. A Democracia e os Três Poderes no Brasil. Belo Horizonte, Editora UFMG; Rio de Janeiro: IUPERJ/FAPERJ, 2002. 20. WERNECK VIANNA, L. 1999. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan. 21. Revista Eletrônica " Consultor Jurídico", edição de 15 de março de 2006.. 22. Revista Consultor Jurídico de 5 de abril de 2006 23. Revista Consultor Jurídico, de 9 de dezembro de 2007 24. Revista Veja, Edição 2.075, de 27 de agosto de 2008. 25. Folha de São Paulo, do dia 14 de maio de 2008. 26. MENDES, Gilmar. Fidelidade Partidária na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Download