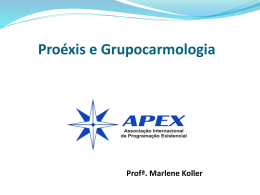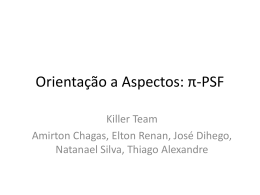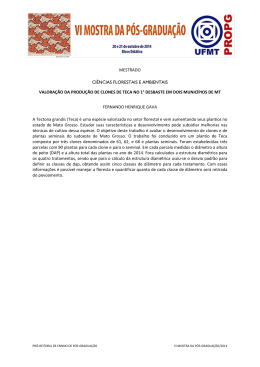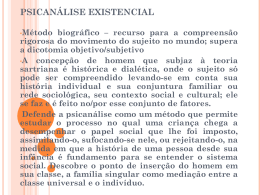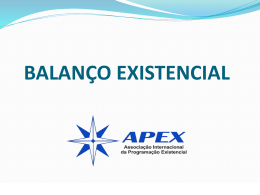SOBRE CLONES E CLÍNICA1 Questões clínicas sobre o texto de Olga Hack Monica Aiub São Vicente, agosto de 2002. “Como viver o mesmo dia duas vezes, se temos que fazer malabarismos para nos mantermos na corda bamba que a vida tem nos proporcionado? Fazer piruetas, dar cambalhotas, rolar, podem parecer coisas simples mas que se não tivemos a capacidade resolutiva na hora, podem resultar em grandes fraturas. O mesmo pode ocorrer na clínica, se não nos resguardamos aos devidos cuidados. Afinal, partilhar significa ir ao mundo do outro, andar lado a lado, seguir junto ao outro em sua historicidade e não tentar introjetar no outro as minhas opiniões, aquilo que eu ‘acredito’ que seja o melhor para ele. Construir para todos um modelo único de Estrutura de Pensamento, aquele que na minha representação seja o mais perfeito é determinar a criação do clone comportamental. Alertar, ainda penso eu seja o melhor método; respeitar, a melhor solução; o outro será sempre outro quando eu admitir a sua plasticidade, sua busca, expressividade, o seu direito de ser, igual a todos os outros em alguns quesitos, e muito diferente quando no homem são todos somados; simplesmente por ser um em cada um, e poder ser em si mesmo e naquilo que determinou como possibilidade de ser”. (Olga Hack) Minha amiga Olga Hack termina seu texto desta maneira. Lendo-o começo a pensar, a avaliar o trabalho clínico e tudo que tenho vivido desde que iniciei o trabalho em filosofia clínica. Avaliarme e ao meu trabalho tem sido uma constante em minha vida e com maior freqüência nos últimos meses. Um “clone comportamental”: além de apropriar-me do termo utilizado por Olga, tentarei ampliar seu significado, abordando outras possibilidades para esta expressão. Penso que “clones comportamentais” podem referir-se a padrões de comportamento que são impostos socialmente a todos nós. Muito já se discutiu sobre alienação, massificação, e esses processos aí estão, como realidades consumadas. O grande sofrimento é não se adequar ao padrão quando é essa adequação o que esperam de nós; ou ainda, desejar destrui-lo, com todas as forças, e não conseguir, vivendo cobranças, até daqueles que amamos, sobre o porque de sermos tão diferentes, tão alheios a essa padronização, tão nós mesmos. É muito mais fácil adaptar-se ao padrão, achar-se padrão, enquadrar o outro em padrões, como se esses fossem naturais e não criados socialmente. Quando assim fazemos estamos nos tornando “clones comportamentais”, perdemos nossa identidade, deixamos nosso modo de ser ofuscado e tentamos ser o que não somos, tentamos nos tornar o outro - um modelo idealizado de ser, um ser correto e outras coisas que, de fato, não existem. 1 Artigo publicado no site www.filosofiaclinica.com.br em 2002. Mas se avaliarmos como e por que tais padrões foram estabelecidos, encontraremos razões que vão muito além da pura circunstância, são “necessidades” inventadas pelo desejo de dominação, ou para incentivar um comércio, ou ainda para não ter que ver o “feio que não é espelho”; e só chamo feio porque não me vejo nele, afinal, é o outro, aquele que não sou eu. Não é fácil admitir que o vermelho também pode ser bonito, se vivo no mundo azul. Mais difícil ainda é mesclar ambas as cores e aceitar o roxo como possível. Assim vamos criando padrões de “azul” no “mundo azul”, de “vermelho” no “mundo vermelho”, e se, por acaso, por mera curiosidade, decidir adentrar num mundo que não é o meu, estarei errada, serei discriminada, julgada, criticada, condenada; simplesmente por gostar de “vermelho” no “mundo azul”. Observe, caro leitor, que estou apontando atitudes diferentes e nomeando da mesma maneira. Uma delas é a criação de um padrão, segundo uma perspectiva de mundo hegemônica, e a imposição desse modo de ser a todos os demais. A outra é nos enquadrarmos ao padrão, aceitando a hegemonia como natural, acatando esse modo de ser como o único possível, mesmo que isso cause sofrimento e dor. Assim entendo o “clone comportamental”, uma cópia, uma reprodução de um modo de ser. Se há um modo de ser correto, que nos encaminha ao bem, como sabê-lo? Quem garante que esse modo é o meu ou o seu? Se formos todos “clones comportamentais” não há problemas. Há um modo de ser dominante, somos todos iguais, naturalmente iguais, e quem não o for pode, talvez deva, ser adaptado, afastado, e em casos extremos, eliminado. O leitor já assistiu a esse filme, não? Nossa história está repleta de grandes exemplos disso. Ainda assim, muitos de nós não conseguem perceber que há vários modos de ser e, que, em si, esses modos não são melhores nem piores, apenas são. Mas o que tudo isso tem a ver com a filosofia clínica? Olga já nos alertou em seu texto: não há, em filosofia clínica, um modelo ao qual todos devam ser adaptados, ou ainda, modelos variáveis de acordo com a situação - que escolheremos para adaptar as pessoas como: Estrutura de Pensamento x, usar Submodo x, resultando em modo de ser x; Estrutura de Pensamento y, usar Submodo y, resultando em modo de ser y, etc. Isso não existe em nosso trabalho. O movimento existencial, que se dará a partir da clínica, será construído, única e exclusivamente, para cada partilhante. Nesse sentido, a grande dificuldade do filósofo clínico é suspender seus juízos, é deixar de lado suas concepções de mundo e de modos de ser corretos e incorretos, e entender que toda a sua vivência existencial pode valer nada diante da situação e do modo de ser do outro. Entender que o outro possui um modo de ser próprio, muitas vezes completamente diferente do dele, e que isso não é melhor ou pior, não é bem nem mal, simplesmente é assim. Isso exige uma grande compreensão de si mesmo, a ponto de identificar até onde é possível enxergar o outro e não a si mesmo no outro. Traçar a Estrutura de Pensamento do partilhante, e não a sua própria Estrutura de Pensamento como se o outro nada fosse além do próprio espelho. E, é claro, jamais impor seu modo de ser ao partilhante. Até aqui, nada afirmei que não conste nos princípios da Filosofia Clínica, mas, na prática, muitas vezes é necessário um exercício exaustivo para não fazer interferências que nada são além da minha visão de mundo, minha pura opinião, que não possuem valor clínico, ou melhor, podem ser até um crime, uma afronta à pessoa, causando conseqüências talvez fatais. Quantas vezes tive que me segurar para não dizer a um partilhante: Largue essa vida! Deixe esse canalha! Mude de emprego! Família é isso mesmo! Você, magrela desse jeito e ainda quer emagrecer! Deixe de ser mole! Tome vergonha na cara! Estude mais! Mexa-se! E muitas outras “observações” que eram, no momento, apenas minha opinião, sem nenhum fundamento no contexto e no modo de ser dessa pessoa. Tenho aprendido muito com essa prática e me surpreendido porque, ao segurar meu desejo de intervir antes da hora, possibilito à pessoa que mostre seu contexto, suas vivências. Diante delas, já ocorreu de eu perceber que, embora, para mim a melhor opção fosse “Largar essa vida!”, para o partilhante em questão, largá-la seria perder o sentido de sua existência, seria morrer em vida. Que “Deixar o canalha” seria deixar o que há de melhor em si mesmo, e assim por diante. Por outro lado, eu, filósofa clínica, também sou humana, também possuo minha visão de mundo, meu modo de ser, e posso, durante os cinqüenta minutos de consulta, suspender meus juízos, deixar essa visão de mundo e esse modo de ser de lado e “ir ao mundo existencial do outro”. A medida desse “ir ao mundo existencial do outro” não é total. Não é possível deixar de ser eu mesma para compreender o outro, compreendo-o a partir do que sou, e, por mais que suspenda juízos, que contenha meu desejo de torná-lo o que sou, que consiga vê-lo tal como é, o faço a partir de meu modo de ser, de minha compreensão de mundo. Por isso é um compartilhar a vida, um compreender que, via interseção, é possível respeitar o outro sem deixar de ser si mesmo. Outro dia alguém me perguntou: se um mesmo partilhante for atendido por filósofos clínicos diferentes, o trabalho pode variar? Penso que sim, uma vez que a interseção estabelecida será outra, e que o partilhar é sempre um “partilhar com”. Outra dificuldade que tenho enfrentado é o fato de compreender determinadas situações, entender que aquilo é assim para o partilhante, mas a situação afrontar-me de tal maneira que inviabilize a clínica. Posso entender certas atitudes mas não posso compactuar com elas, pois isso não é permitido por meu modo de ser. Mais difícil ainda é quando cobram essa postura de “aceitação” em minha vida pessoal. Já ouvi críticas como: “mas você, como filósofa clínica, tem que entender e aceitar que tal pessoa é assim!”. Aos que me dizem isso: eu entendo, mas não aceito. Posso compreender que devido a circunstâncias diversas, uma pessoa tenha se tornado o que é, mas isso não significa que, pelo simples fato de compreender eu deva aceitar isso. Há atitudes e modos de ser que não aceito, não quero para minha vida, embora compreenda. Mas a dificuldade maior, a que tem gerado a freqüente reflexão e avaliação de meu trabalho, é que, não raramente, tenho me deparado com questões que são comuns a mim e ao partilhante. Obviamente não perco de vista meu papel existencial de filósofa clínica e procuro exercê-lo sob a égide da ética, o que não me permite misturar os papéis ou tornar a clínica um espaço de produção de “clones comportamentais”. Mas, observar como essas questões são configuradas, como cada pessoa lida com elas, como afetam ou não o cotidiano e o modo de ser dessas pessoas, causa um movimento em minha Estrutura de Pensamento. Tenho aprendido muito, revisto muitos de meus conceitos, lições de vida e de humanidade. Mais do que isso, a prática clínica está se incorporando a meu cotidiano e, ao invés de impor meu “modo de ser” tentando criar “clones comportamentais”, tenho observado mais as pessoas, ouvido mais, tentado suspender meus juízos mais vezes e, nessas tentativas, sinto estar construindo um caminho existencial, um novo “ser si mesmo”, em eterna construção. Muitas dúvidas têm surgido, e são elas que alimentam o desejo de caminhar, embora muitas vezes o cansaço existencial de não se ter um “porto seguro”, nem um “espelho” para mirar, façame perceber uma imensa solidão, solidão de não ter a meu lado um “exército de clones” para lutar comigo, para detonar as “pedras do caminho”; solidão de não ter interlocução possível, que não queira enquadrar-me em padrões; solidão de não poder compartilhar o que tenho visto e sentido em clínica, por questões que vão da ética à falta de compreensão. Afinal, para compreender o outro é necessário ir até ele, sem deixar de ser si mesmo, e isso não se aprende da noite para o dia, é um exercício constante, que se dá somente depois de o termos descoberto como possibilidade e assumido como opção existencial.
Baixar