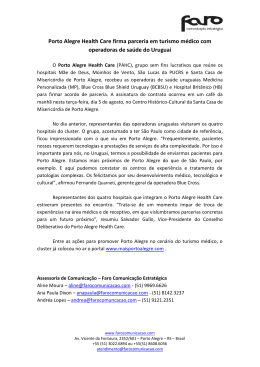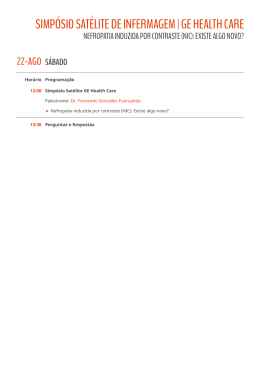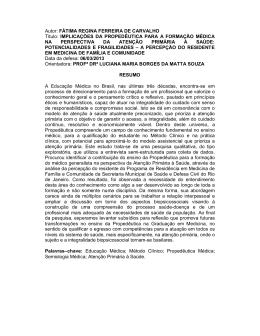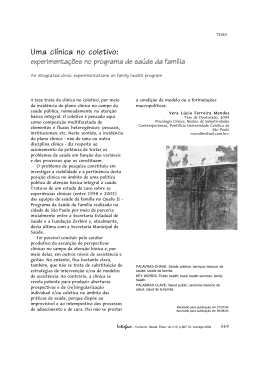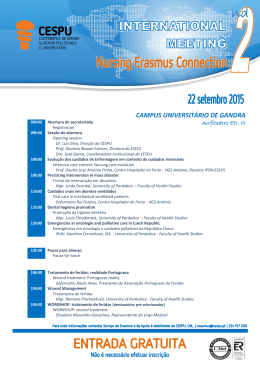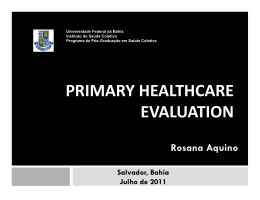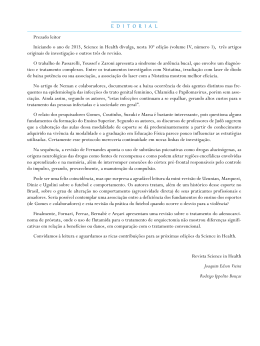Relatório do Grupo de Trabalho criado para a definição de proposta de metodologia de integração dos níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental - Trabalho realizado no âmbito do Despacho nº 9567/2013, de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 10 de Julho, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 139, de 22 de Julho de 2013 - - Fevereiro de 2014 - 1 O Grupo de Trabalho: Helena Lopes João Sequeira Carlos Miguel Rodrigues Ricardo Mestre Rui Santana Teresa Matias Vanessa Ribeiro Secretariado Marina Dias 2 Agradecimentos: Para a concretização do presente relatório receberam-se alguns contributos diretos e indiretos, de várias pessoas às quais gostaríamos de agradecer a sua ajuda. Em particular, o nosso agradecimento aos colegas: Dra. Adelaide Belo, Dra. Ana Jesus Barba, Dra. Ana Patrícia Marques, Prof. Henrique Martins, Dr. João Sarmento, Prof. Paulo Boto, Prof. Sílvia Lopes, Eng. Tiago Rua, Dra. Teresa Torres, Dr. Vítor Ramos, 3 Índice I. Introdução 9 II. Nota metodológica 13 III. Enquadramento teórico 17 IV. Situação em Portugal 77 4.1. Estudos anteriores 79 4.2. Boas práticas de integração 95 V. Medidas de promoção da integração 100 VI. Conclusão 152 4 Índice de quadros, tabelas e figuras Esquemas Esquema 1. Dimensões da integração 29 Esquema 2. Integração horizontal 30 Esquema 3. Integração vertical 31 Esquema 4. Estrutura organizacional de unidades prestadoras de 46 cuidados de saúde Esquema 5. Desenho matricial da organização de um Programa de 47 Gestão da Doença Psiquiátrica Esquema 6. Exemplo da organização de Programas de Gestão da 48 Doença Figuras Figura 1. Possíveis configurações de ACOs norte-americanas 58 Figura 2. Sistema de classificação de ACO com base no seu grau de evolução, partilha de risco financeiro e respetiva unidade de pagamento preferencial adstrita 60 Figura 3. Distribuição geográfica das ACOs à data de Janeiro de 2013 63 Figura 4. Potencial impacto do FTI sob diversas dimensões de análise. 68 Gráficos Gráfico 1. Evolução histórica das taxas de ICSA em Portugal de 2007 a 90 2011 de acordo com duas listas de CSCSP. Gráfico 2. Distribuição dos ICSCSP por patologia. 91 Tabelas Tabela 1. Consequências da fragmentação da estrutura de oferta de cuidados de saúde Tabela 2. Definição do conceito de integração de cuidados à luz de perspetivas diferentes Tabela 3. Mudança de paradigma Tabela 4. Distribuição do número de indicadores por componente em análise 26 29 43 61 Tabela 5. Proveniência das verbas financeiras alocadas à implementação 92 do FTI 5 Lista de Siglas ACES – Agrupamento de Centros de Saúde ACOs – Accountable Care Organizations ACSC – Ambulatory Care Sensitive Conditions ACSS – Administração Central do Sistema de Saúde ADASS – Association of Directors of Adult Services API – Associação de Prestadores Independentes ARS – Administração regional de Saúde CA – Conselho de Administração CC – Cuidados Continuados CCG – Clinical Comissioning Groups CCI – Cuidados Continuados Integrados CSH – Cuidados de Saúde Hospitalares CSP – Cuidados de Saúde Primários CTH – Consulta a Tempo e Horas DM – Demora Média DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica ECCI – Equipa de Cuidados Continuados Integrados (equipa de cuidados domiciliários) ECL – Equipa Coordenadora Local ECR – Equipa Coordenadora Regional EGA – Equipa de Gestão de Altas EGIOS – Estudo sobre o Grau de Integração de Organizações de Saúde ENSP – Escola Nacional de Saúde Pública ERS – Entidade Reguladora da Saúde EUA – Estados Unidos da América FTI – Fundo destinado à Transformação dos processos de Integração GdT – Grupo de Trabalho GMCH - Grupos de Médicos de Cuidados Hospitalares GMCP – Grupos de Médicos de Cuidados Primários GMPM – Grupos de Médicos de Prática Multidisciplinar HMOs – Health Maintenance Organizations HTA – Hipertensão Arterial ICEP – Insuficiência Cardíaca e Edema Agudo do Pulmão ICSA – Internamento por Causa Sensível de Ambulatório 6 ICSCSP - Internamento por Causa Sensível a Cuidados de Saúde Primários ITU – Infeções do Trato Urinário LGA – Local Government Association LHWB – Local Health and Wellbeing Boards MCDT – Meios Complementares de Diagnóstico MCSP – Missão dos Cuidados de Saúde Primários MdS – Ministério da Saúde MGF – Medicina Geral e Familiar NHS – National Health Service NOC – Normas de Orientação Clínica OMS – Organização Mundial de Saúde PAI – Processo Assistencial Integrado PDS – Plataforma de Dados da Saúde PIB – Produto Interno Bruto PPOs – Preferred Provider Organizations RNCCI – Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados SIDA – Síndrome de Imunodeficiência Adquirida SNS – Serviço Nacional de Saúde TMRG – Tempos Máximos de Resposta Garantidos UC – Unidade de Convalescença (até 30 dias de internamento) UCC – Unidade de Cuidados na Comunidade UCP – Unidade de Cuidados Paliativos UCSP – Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados UF – Unidade Funcional ULDM – Unidade de Longa Duração e Manutenção ULS – Unidade Local de Saúde ULSAM - Unidade Local de Saúde do Alto Minho ULSBA - Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo ULSCB - Unidade Local de Saúde de Castelo Branco ULSG - Unidade Local de Saúde da Guarda ULSM – Unidade Local de Saúde de Matosinhos ULSNA - Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano UMCCI – Unidade de Missão dos Cuidados Continuados Integrados UMDR – Unidade de Média Duração e Reabilitação (até 90 dias de internamento) 7 URAP – Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados USF – Unidade de Saúde Familiar USP – Unidade de Saúde Pública 8 CAPÍTULO I INTRODUÇÃO 9 I. Introdução O presente relatório pretende apresentar o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Trabalho constituído através do Despacho nº 9567/2013, de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 10 de Julho, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 139, de 22 de Julho de 2013, com o objetivo de proceder à definição de proposta de metodologia de integração dos níveis de cuidados de saúde para Portugal Continental. A reflexão sobre esta matéria no seio do Ministério da Saúde (MdS), poderá identificarse através da referência ao tema por diferentes grupos de trabalho, refletindo a visão dos seus autores sobre o assunto. Esta temática consta entre as oito iniciativas estratégicas identificadas como necessárias para o sistema de saúde português, no Relatório Final intitulado “Os cidadãos no centro do Sistema, os profissionais no centro da mudança”, apresentado pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar em novembro de 2011. Esta reflexão é também referida noutras iniciativas, como comprovam os trabalhos do Grupo Técnico para o desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários “Interligação e Integração entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares” realizado em Setembro de 2012. Estes trabalhos constituem sobretudo olhares sobre a integração na ótica dos agentes que atuam em cada nível de cuidados de saúde. Pretende-se, que o presente relatório não reflita uma visão dos diferentes níveis de cuidados sobre a sua forma de participar em iniciativas de integração, mas que exista uma equidistância face a esses níveis de cuidados de saúde. O posicionamento da ótica de análise despe-se de um posicionamento centrado nas instituições e nos níveis de cuidados de saúde, para pensar nas suas interligações, enquanto unidades pertencentes ao mesmo sistema de saúde. A importância não reside nas unidades em si, mas na forma como estas interagem, enquanto sistema com objetivos únicos. O crescente interesse que diversos atores manifestam na “integração de cuidados de saúde”, reside essencialmente no pressuposto de que uma prestação com melhores níveis de integração de cuidados de saúde permitirão alcançar também melhores níveis de desempenho nas organizações e nos sistemas de saúde. Ou não antagonicamente, que se deteta a presença de problemas relevantes, com consequências para os doentes, pela manifesta falta de integração de cuidados de saúde. De outra forma, acredita-se também que as iniciativas de integração de cuidados de saúde possam constituir uma resposta mais adequada aos novos desafios colocados pela evolução prevista das características da oferta e procura do mercado da saúde. Este interesse, tendencialmente crescente, pode ser comprovado pela disposição para a criação de iniciativas micro e macro, de diferente natureza, no âmbito da integração de cuidados de saúde. Trata-se de um tema que está na moda. Neste sentido, a criação de conhecimento, o debate informado e a discussão da presente temática é plenamente justificável e oportuna. A discussão sobre a integração de cuidados de saúde é intemporal. É relativamente fácil encontrar reflexões e debates sobre o tema numa perspetiva histórica, mas parece como uma problemática não resolvida, a julgar pela intensidade do seu 10 tratamento recente nos mais diversos fóruns de interesse, sejam estes de natureza politica, económica, social ou científica. A impossibilidade de alcance de realidades plenamente integradas, torna o tema inesgotável, com interesse futuro na prossecução dos grandes objetivos dos sistemas de saúde. A amplitude relativamente alargada do objetivo proposto, deverá ser balizada nas expectativas sobre a realidade passada, presente e previsível evolução futura do contexto de prestação de cuidados de saúde no nosso país: o presente relatório não tem como pretensão abordar todas as temáticas, nem as temáticas abordadas se esgotam no presente relatório. Independentemente da delimitação imposta, a realização de um trabalho sobre integração de cuidados de saúde, tal como a natureza do tema em si, dificilmente se esgotará apenas num relatório técnico. É particularmente importante que a política de saúde futura mantenha este tema na sua agenda de prioridades. O caminho da integração de cuidados de saúde apresenta uma natureza de médio e longo prazo, não se coadunando com respostas reativas de curto prazo a problemas imediatos de curto prazo. O presente documento deve ser encarado como um documento de trabalho, que poderá ser melhorado em função da discussão e debate que porventura possa proporcionar. As medidas propostas não se esgotam nesta apresentação, pelo que a análise crítica do documento é uma etapa que deverá ser cumprida, devendo este ser melhorado através da introdução de novas iniciativas substitutivas ou alternativas às propostas. Não podemos também olvidar o contexto de exceção vivido no nosso país nos últimos dois anos e meio. As consequências geradas pelo ajustamento financeiro realizado, irão fazer-se sentir nos próximos anos/ décadas, pelo que as escolhas sobre os caminhos a seguir, seja na área da integração de cuidados de saúde, seja noutra qualquer área da nossa sociedade deverão ponderar os factos históricos e o contexto vivido pela nossa sociedade. A estrutura do presente relatório está dividida em seis capítulos. Para além da presente introdução, pode-se encontrar uma nota metodológica, o enquadramento teórico, a descrição da situação em Portugal, a identificação das medidas propostas e a conclusão. Após a introdução, no capítulo relativo ao enquadramento teórico pretende-se descrever o estado de arte da temática que se encontra implícita ao relatório: a integração de cuidados de saúde. Aqui podem-se encontrar as principais razões que justificam a sua consideração, é abordada a sua vertente conceptual e descritas as dimensões críticas de integração. São ainda tratadas as principais alterações provocadas no sistema de produção, as suas potencialidades e as barreiras mais relevantes do seu processo de implementação1. 1 Parte deste capítulo encontra-se publicada no artigo de Santana e Costa denominado “A integração vertical de cuidados de saúde: aspectos conceptuais e organizacionais”, publicado na Revista Portuguesa de Saúde Pública, Volume Temático 7, 2008 11 No capítulo relativo à nota metodológica, são descritas as principais etapas que foram desenvolvidas ao longo do trabalho e que permitiram contribuir para o alcance do objetivo central definido. Por sua vez, no capítulo IV descreve-se sumariamente a situação atual em Portugal, sendo este composto por duas abordagens distintas: na primeira, são resumidos alguns dos trabalhos que foram realizados sobre o tema em causa no nosso contexto; na segunda, são apresentadas experiências de integração de cuidados de saúde identificadas pelas unidades prestadoras. No capítulo V são apresentadas as medidas de promoção da integração de cuidados de saúde Estas encontram-se estruturadas em função de cada uma das dimensões de integração (clínica, informação, financeira, administrativa, normativa e sistémica). No último capítulo deste trabalho, a conclusão, são sintetizadas as principais motivações que conduziram à realização do estudo, seus objetivos, aspetos metodológicos, resultados mais significativos e implicações. 12 CAPÍTULO II NOTA METODOLÓGICA 13 II. Nota Metodológica Após o enquadramento teórico, que consistiu na descrição do estado de arte através da realização de uma revisão de literatura sobre a temática em estudo e no sentido de se alcançar o objetivo definido, optou-se por utilizar uma metodologia que foi concretizada em duas etapas principais: A realização de um diagnóstico de situação; A definição de medidas promotoras de integração de cuidados de saúde. No que respeita ao diagnóstico de situação, centrado sobretudo na realidade portuguesa, foram desenvolvidos duas tarefas complementares: Uma breve descrição sobre os estudos anteriores realizados na área da integração de cuidados de saúde no nosso país. Sobretudo foram selecionados os estudos considerados mais relevantes que permitissem a realização de um diagnóstico da atual situação portuguesa; De forma a identificar boas experiências de integração que se encontrem em prática e que todavia não tenham sido divulgados em documentação de acesso público, foi solicitada a colaboração das unidades de saúde pertencentes ao SNS (hospitais, ARS e ULS), no sentido de estas identificarem três boas experiências de integração de cuidados de saúde em que a sua instituição esteja envolvida. Para a seleção destas experiências consideraram-se três características: inovação, impacto e implementação. Por sua vez, a definição de medidas promotoras de integração desenvolveu-se tendo em consideração: As principais conclusões das etapas anteriores, enquadramento teórico e diagnóstico de situação; Um conjunto de pressupostos de partida; O cumprimento de critérios de seleção; Debate e discussão das medidas entre os membros do GdT e com outros peritos de áreas consideradas relevantes para o efeito. Como pressupostos de partida para a definição de medidas promotoras de integração de cuidados de saúde, o GdT definiu o seguinte: De entre as inúmeras definições utilizadas para definir integração de cuidados de saúde, para a concretização do relatório, o GdT adotou a definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), estabelecida em 2008, a saber: “Entende-se como integração, as formas de interligação e cooperação na prestação e a garantia de continuidade assistencial dos utentes do SNS, tendo em vista a maximização da eficiência nas respostas e os melhores resultados em saúde.”; Para a definição das medidas tendentes à integração de cuidados de saúde, foi tido em consideração o atual contexto do sistema de saúde português, tentando-se efetuar um balanço racional entre o que seria um cenário desejável e o que é possível. Este balanço não impede, no entanto, que sejam 14 efetuadas propostas ambiciosas e que contenham elementos de rutura e mudança face à nossa realidade atual; A(s) mesma(s) solução(ões) podem não se aplicar de uma forma generalizada a todas as situações/ contextos, pois as necessidades de integração poderão ser diferentes, os pontos de partida poderão ser distintos. São as realidades, dinâmicas e atores locais os grandes promotores ou não da integração de cuidados de saúde. Neste sentido, a definição de medidas teve em consideração a ideia de que não é possível aplicar modelos únicos e genéricos em todas as realidades do nosso sistema de saúde. Devem encontrar-se disponíveis respostas organizacionais, instrumentais e técnicas gerais que por um lado facilitem a geração de iniciativas de integração, tal como por outro lado, permitam uma adoção ajustada e customizada em função das características próprias de cada contexto; Entende-se que a integração plena é inatingível, isto é, considera-se que existirá sempre uma atividade adicional que promova a integração de cuidados de saúde. A capacidade de fazer melhor e diferente será sempre o motor da inovação e capacidade de criação de novas soluções para os novos desafios colocados pela evolução das características da oferta e procura de cuidados de saúde; A perspetiva de integração de cuidados de saúde implica uma mudança de paradigma na resposta face aos novos desafios colocados pelas diferentes variáveis que influenciam a evolução dos utentes, das unidades de saúde e do mercado. A capacidade de benefício deverá ter sempre um alcance de médio e longo prazo; Outro pressuposto de partida, prende-se com o entendimento de que o processo de integração não deverá ser encarado como um resultado em si – não se trata de um objetivo em si mesmo - mas como um processo facilitador do alcance dos outcomes desejáveis para o sistema de saúde. As medidas são propostas e descritas como corpos únicos, no entanto, não deverão ser encaradas como variáveis binomiais (1 ou 0), é recomendável que existam experiências piloto, possibilidade de implementação faseada e avaliação de algumas das medidas propostas, As medidas apresentadas podem apresentar ordem de prioridades de implementação distintas, embora estas não sejam sinalizadas. Contudo, as medidas definidas nas áreas clinica, informação e financeira possam assumir particular relevância nesta seleção; A abordagem preconizada tenta desvalorizar as instituições per se, entendendo-se que estas são organismos vivos que fazem parte de um sistema complexo onde a relevância é alcançada nas suas relações funcionais. As organizações são importantes no contexto global do sistema, mas só conseguem prosseguir a sua atividade de forma efetiva se relacionadas entre si de forma coordenada. Assim, as atividades de integração de cuidados de saúde deverão ser neutrais, equidistantes na sua relação face aos níveis de cuidados de saúde que hoje se encontram estabelecidos no nosso sistema de saúde; 15 Apesar do seu cariz transversal, as propostas são individualizadas por dimensão de integração, sendo para o efeito consideradas seis dimensões principais: clínica, informação, financeira, normativa, administrativa e sistémica; O conjunto relativamente vasto de medidas que poderão ser tomadas no âmbito da integração de cuidados de saúde exigiu o recurso a critérios de seleção preferenciais que permitam um equilíbrio adequado entre o seu número e a sua qualidade. Neste sentido, foram definidos pelo GdT três critérios base: O impacto previsível: entende-se neste contexto “impacto” pela capacidade de alcance, ou seja, uma medida terá mais impacto quanto maior for o número de intervenientes que serão abrangidos pela medida; Capacidade de execução no nosso contexto: foi também tida em consideração a capacidade operacional de colocar em prática a medida; Sempre que possível, a escolha das medidas a adotar deverá basear-se em estudos que demonstrem a evidência científica dos seus benefícios. Após a definição das medidas, foi efetuado um processo de debate e discussão em várias sessões sobre as vantagens e desvantagens de cada uma das medidas. Esta consolidação e maturação das medidas, resulta não só da participação dos membros do GdT como também de peritos convidados que contribuíram com o seu conhecimento para melhorar o conjunto de ideias definido à partida Por uma questão de facilidade e uniformização de apresentação das medidas propostas, definiu-se uma estrutura semelhante entre estas, contemplando: a sua designação, justificação (rationale), descrição, condições de aplicação e resultados esperados. Sobre esta estrutura de apresentação, é relevante referir a importância particular das condições de aplicação para a concretização de cada medida. Aqui são identificadas algumas iniciativas que permitirão o desenvolvimento adequado da medida em causa e pode servir como um guião para o alcance de cada uma das medidas propostas. 16 CAPÍTULO III ENQUADRAMENTO TEÓRICO 17 III. Enquadramento teórico 3.1. Os principais desafios dos sistemas de saúde Os sistemas de saúde enquanto instrumentos sociais fundamentais na proteção à doença das populações que servem, são entidades abertas e sujeitas à realidade onde estão inseridas e sua dinâmica evolutiva. Estes, encontram-se inseridos num mundo cada vez mais onde a mudança acontece de forma mais frequente e rápida exigindo uma postura de pró-atividade e flexibilidade de adaptação a um ambiente contingencial das formas organizacionais sejam elas de natureza política, social ou económica. Neste contexto de complexidade global, os novos problemas inerentes ao processo de mudança interferem decisivamente nos sistemas de saúde, colocando-lhe novos desafios, moldando as suas características estruturantes. Um conjunto de fenómenos são geralmente aceites. É expectável que as próximas décadas fiquem marcadas por um conjunto de fenómenos cuja identificação é amplamente consensual. Entre eles destacam-se os seguintes desafios major: O envelhecimento da população: sobretudo nos países mais desenvolvidos, o prolongamento da duração média da vida humana acarreta uma maior necessidade de consumo de recursos em saúde. Surgirão também, com uma tendência crescente, discussões éticas sobre o prolongamento da vida humana (1); Mudança epidemiológica: A quarta fase da transição epidemiológica encontra fundamento em doenças crónicas, ligadas ao envelhecimento da população, onde deverá existir uma atuação dirigida a “dar não só mais anos à vida, mas também mais vida (qualidade) aos anos”. A previsível maior prevalência de doenças crónicas, associadas a condições de multimorbilidade e de comorbilidades, exigirá uma resposta estrutural que contemple uma gestão programada, definida em função dos níveis de risco de cada utente, e sobretudo um melhor nível de coordenação entre os diferentes níveis de cuidados (2). O sistema de prestação deve também apresentar capacidade de resposta mais rápida a situações de doença inesperadas, como são exemplo as doenças transmissíveis (SIDA); Alteração do perfil dos consumidores: a crescente globalização poderá potenciar uma multiplicidade de origens étnicas e culturas que carecerá de uma maior abertura na perceção das necessidades de cada grupo específico (1). Por outro lado, encontramo-nos num tempo onde as expectativas dos consumidores traduzidas em procura de valor – preço e qualidade – relativamente aos seus sistemas de saúde nunca foram tão elevadas (3). A diminuição da assimetria de informação (mais disponível) entre consumidor e prestador permite uma escolha mais racional, exigente e pró-activa dos agentes de procura; Avanços científicos no tratamento da doença: para além dos problemas éticos habitualmente associados ao desenvolvimento da tecnologia clínica e biológica, espera-se um crescimento dos custos inerentes a novas tecnologias. De outra forma, também se colocarão desafios à gestão de organizações de saúde na adaptação e resposta a novas técnicas e formas de tratamento da doença (crescimento do ambulatório); 18 As tecnologias de informação: têm apresentado um desenvolvimento muito significativo nas últimas décadas e constituem um imperativo de suporte funcional, quer estratégico, quer operacional das organizações prestadoras de cuidados de saúde. A sua aplicação ao sector poderá deter impacto ao nível da rapidez na disponibilização de informação e na partilha de conhecimento, permitindo melhores e mais rápidas decisões, uma melhor coordenação entre entidades e exigirá também, por outro lado, mais formação e capacidade para tratar problemas relacionados com a confidencialidade de informação; Alteração da definição de prestação de cuidados de saúde: o próprio conceito básico de “prestação” terá tendência para mudar de uma atuação centrada no antigo paradigma “tratamento da doença”, para um novo paradigma mais focalizado no “bem-estar geral do doente”. A oferta de cuidados polarizada nas estruturas hospitalares deverá dar lugar à promoção da saúde e prevenção da doença, sendo necessária uma maior coordenação das atividades produtivas e a criação de valor para o utente (1) (4). A reorientação da prestação de cuidados de saúde para as fases primárias de doença encontra-se no conceito de “P4 medicine” entendendo-se como preventiva, preditiva, personalizada e participativa (5) (6); Melhorar o nível de qualidade assistencial: atualmente os sistemas de saúde padecem de uma alarmante taxa de erros e cuidados desnecessários (7). A implementação de sistemas de qualidade permitirão utilizar protocolos e guidelines clínicos, processos de referenciação inter e multidisciplinares tendentes a minorar práticas erróneas, menos invasivas, indolores, onde as fronteiras entre a organização e o individuo sejam minimizadas; Reafectação de recursos: A opção estratégica de edificação de infra-estruturas hospitalares durante as décadas de 60 e 70 criou problemas de rentabilização da capacidade instalada numa perspetiva evolutiva do estado de arte tecnológico. A minimização da duração de internamento, incidindo preferencialmente em comportamentos produtivos tendentes a gerar um efeito substituição entre o internamento e o ambulatório programado/ domicílio do utente, parece garantir uma superior qualidade assistencial e um incremento da eficiência técnica e económica; O genoma humano e a medicina personalizada: os recentes avanços científicos na investigação do genoma humano conduzem a uma evolução tendente para alterar o atual paradigma da prestação de cuidados de saúde. A possibilidade de centrar a prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação em função das características individuais de cada doente, abrirá todo um conjunto de novos desafios na forma como a medicina é praticada e consequentemente na organização e gestão da prestação de cuidados de saúde. Esta epidemiologia genética (8), apesar de constituir uma área relativamente recente, constitui na atualidade uma área com grande intensidade científica no seu desenvolvimento e estudo, sendo de destacar o esforço na caracterização dos efeitos genéticos e suas interações em contextos populacionais (6); Sustentabilidade financeira e pressão de tesouraria. Num contexto global de recursos escassos, onde existe uma significativa e crescente afetação de recursos financeiros ao sector da saúde um pouco por todo o mundo, exige-se cada vez mais um elevado nível de eficiência e efetividade na prestação de 19 cuidados de saúde. Particularmente, o nosso país vive um contexto de ajuda financeira externa, pelo que a necessidade de ajuste rápido de organizações coletivas e individuais a níveis de endividamento suportáveis e índices de desenvolvimento sustentáveis é uma premissa básica com a qual temos e teremos de conviver nos próximos anos. A falta de liquidez dificulta a gestão quotidiana e hipoteca a capacidade de gerar riqueza a partir de novos ciclos de investimentos económicos. Para além da situação económico-financeira do país, salienta-se igualmente que o atual estado financeiro das organizações de saúde é extremamente preocupante, gerando défices operacionais significativos e sistemáticos, tendo existido ao longo dos últimos anos uma tendência de agravamento desta situação. Os problemas supra mencionados, eminentemente de procura de cuidados, ubíquos e concomitantes, partilham o predicado comum da sua emergente resolução, exigindo uma réplica efetiva ao nível da governação dos sistemas de saúde em geral. As organizações prestadoras de cuidados enquanto pilares estruturantes dos sistemas de saúde, detêm também um papel central e fundamental na capacidade de resposta a estes desafios, onde particularmente se salienta a necessidade da sua boa gestão para garantir uma resposta flexível e adaptativa constante ao novo meio envolvente emergente. Entre estas respostas, salientam-se as iniciativas pragmáticas de reestruturação organizacional da oferta de cuidados na qual se insere o movimento de integração de cuidados de saúde. De entre as diversas estratégias utilizadas ao longo do processo contínuo de reforma dos sistemas de saúde, destaca-se então a criação de organizações integradas em saúde, assumindo-se mesmo como uma forma de implementação dessa reforma (9), no intuito de combater o “conjunto de ilhas” onde assenta a atual estrutura fragmentada de oferta de cuidados de saúde (10). A integração de cuidados enquanto movimento de reforma dos sistemas de saúde tem tido nas últimas décadas um interesse crescente por parte de prestadores, pagadores, analistas, políticos (11) (12) e sofreu um desenvolvimento significativo um pouco por todo o mundo. A crença generalizada das suas potencialidades enquanto resposta aos grandes problemas dos sistemas de saúde (11), gerador de ganhos de qualidade assistencial e melhores resultados em saúde (13), conduziu ao seu agendamento político em muitos países europeus (14) (15). Neste sentido, os esforços dos gestores, políticos e investigadores em saúde têm sido dirigidos cada vez mais para as interligações das diferentes componentes do sistema, uma vez que a fraca integração de cuidados primários, secundários e terciários resultam em ineficiência e falta de qualidade, causando perturbações desnecessárias aos utentes (16). A integração constitui hoje uma buzzword a nível internacional (17) e a sua importância pode ser comprovada pela vasta literatura produzida sobre esta matéria através de publicações de cariz académico e cientifico donde se destaca o International Journal of Integrated Care. Também a Organização Mundial de Saúde reconheceu a sua relevância no âmbito da reforma dos sistemas de saúde, traduzindoa na criação de um Observatório específico sobre a presente temática, na cidade de Barcelona, em 2001. O objetivo principal deste Observatório consiste na identificação das estratégias utilizadas em cuidados de saúde em diferentes países, de forma a 20 facilitar e encorajar a coordenação entre os níveis de prestação de cuidados de saúde, proporcionando uma melhoria dos resultados dos sistemas de saúde (16). Porém, a importância do tema em questão nem sempre é acompanhada por uma unanimidade de apoio, pois se a grande maioria dos autores concorda com a integração vertical num plano meramente teórico – a integração tem uma conotação positiva, é algo que ao se atingir é positivo (18), já muitos por outro lado, duvidam do seu sucesso prático. Pela alteração profunda que provoca ao nível dos sistemas de saúde, a argumentação favorável e desfavorável traduz normalmente uma forte carga politica, institucional e técnica, tornando o tema controverso e eventualmente polémico, gerador de conflituosidades e contraposições (19). A integração pode ser vista de várias perspetivas e servir para atingir diversos fins, tratando-se de um tema vasto que não se encontra de forma alguma esgotado nos seus objetivos (18). De acordo com Grone e Garcia-Barbero (2001) (16), a integração de cuidados é um desafio dos sistemas de saúde europeus e um pouco por todo o mundo, sendo de registar o seu particular desenvolvimento ocorrido nas décadas de 70 e 80. O movimento de integração atingiu o seu apogeu na década de 90, nos EUA, que evoluiu para uma estrutura de oferta onde atualmente cerca de 92% dos americanos abrangidos pelo sistema segurador pertencem a sistemas integrados de prestação. Também em Portugal ocorreram movimentos de reforma tendentes a integrar cuidados de saúde, conforme comprova a constituição de Centros Hospitalares ou de Unidades Locais de Saúde um pouco por todo o território nacional. Atualmente, a integração de cuidados de saúde constitui mesmo uma das estratégias de reorganização da oferta de cuidados de saúde, conforme se pode comprovar pelas intenções manifestadas em sede de programa de governo (XVII) (20), que prevê: “o desenvolvimento de experiências de financiamento global, de base populacional, por capitação ajustada, integrando cuidados primários e hospitalares, numa linha de Unidades Integradas de Saúde, respeitando a autonomia e a cultura técnicoprofissional de cada instituição envolvida”. De uma forma genérica, o objetivo principal que está subjacente ao presente trabalho é contribuir para a discussão de matérias relacionadas com a integração de cuidados de saúde e sua influência ao nível da gestão de organizações de saúde, através de uma definição conceptual que todavia se encontra por concretizar no nosso país. 3.2. Porquê integrar? Habitualmente, são reconhecidos no sector da saúde três níveis de prestação de cuidados de saúde que estruturam a oferta, mas cuja designação poderá encontrar diferentes aceções, consoante o objetivo e o contexto em causa: Por nível de prestação: primária, secundária e terciária; Por tipo de cuidados: gerais, especializados e continuados; Por facilidades: Centros de Saúde, Hospitais e Unidades de Cuidados Continuados; Por natureza: pré-agudos, agudos e pós-agudos; Por utilização: primeira linha e segunda linha. 21 Em termos conceptuais2, a definição de Cuidados de Saúde Primários resultou da conferência de Alma – Ata (1978), onde participaram cerca de 134 países, entre os quais se encontrava Portugal. Os Cuidados Primários podem ser entendidos como “os cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, mediante a sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país podem manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e autodeterminação. Representam o primeiro nível de contacto dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de assistência à saúde”. Vuori (1983) (21) por seu turno, definiu os cuidados de saúde primários como um nível de cuidados de primeiro nível, isto é, a sua característica fundamental reside no primeiro contacto da população com os cuidados de saúde. A definição de Barbara Starfield (1998) (22) para cuidados primários identifica, por outro lado, quatro elementos estruturantes: são cuidados de primeiro contacto (gatekeepers); longitudinais (ao longo da vida); compreensivos (globais, holísticos); devem garantir a coordenação/ integração (com os restantes níveis de cuidados). Por sua vez, os cuidados secundários podem ser definidos pela representação do conjunto de ações de prevenção, diagnóstico e tratamento realizadas a doentes na fase aguda de doença, cujos episódios se caracterizam pela necessidade de intervenções especializadas, exigindo o recurso a meios/ recursos com tecnologia diferenciada. Habitualmente são prestados em unidades hospitalares e resultam em episódios de curta duração. Recentemente, foi também introduzido em Portugal o conceito de Cuidados Continuados Integrados, utilizado para designar o conjunto de intervenções sequenciais de saúde e/ ou de apoio social, decorrente de avaliação conjunta, centrado na recuperação global entendida como o processo terapêutico e de apoio social, ativo e contínuo, que visa promover a autonomia melhorando a funcionalidade da pessoa em situação de dependência, através da sua reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social (DR I Série-A nº109 DL nº101/2006 de 6 de Junho). Em termos organizacionais, segundo a Lei de Bases da Saúde (1990) (23), na sua Base XIII nº1, o sistema de saúde português assenta nos cuidados de saúde primários que devem situar-se junto das comunidades. De acordo com Ramos (1994) (24), a presente estrutura de oferta, ou seja, a plataforma organizacional onde assenta a prestação de cuidados de saúde à população, encontra-se orientada em função de bases epidemiológicas, em critérios de custo-efetividade bem como em princípios de acessibilidade, adequação, aceitabilidade e continuidade de cuidados. Silva (1983) (19) por seu turno, refere que a atual estrutura de oferta de cariz bipolar baseada sobretudo em cuidados primários e secundários foi determinada mormente por motivos de ordem técnica. 2 A este nível, importa salientar a ausência conceptual dos termos referidos no glossário oficial do Ministério da Saúde (DGS) publicados no INE. 22 Porém, esta estrutura organizacional da prestação de cuidados de saúde pode ser equacionada à luz de variados argumentos que importam salientar: Natureza económica: as especificidades intrínsecas identificadas em saúde, colocam em causa a natureza da estrutura de mercado apresentada anteriormente no que concerne à oferta de cuidados. De acordo com Evans (1981) (25), sub-mercados como os cuidados hospitalares, prescrição de medicamentos ou consultas médicas, tipificam uma forma de integração vertical incompleta que impedem a descrição de uma simples relação bilateral direta entre consumidores e uma classe aproximadamente homogénea de prestadores, ou seja, a conexão entre prestadores de primeira linha e segunda linha resulta da relação direta entre prestador/ utente ou produtor/ consumidor e não necessariamente da identidade da instituição ou da natureza do serviço prestado. O mercado funciona entre prestador e consumidor e não entre consumidor e cuidados primários ou entre consumidor e centro de saúde. A estrutura de mercado do lado da oferta deve ser então encarada como um pilar assente basicamente por prestadores de primeira e segunda linha. Salienta-se porém a este nível, que a fundamentação argumentativa mais característica entre os diferentes atores do sistema de saúde reside precisamente na sua separação técnica por um lado e pela perceção visual causada pelas diferentes estruturas físicas das unidades de saúde (centros de saúde e hospitais) por outro. Ainda ao nível económico, importa salientar que o mercado é o local onde se encontram as forças de oferta e procura com vista a encontrarem um equilíbrio que é fornecido através dos preços (26). No sector da saúde, o mercado é imperfeito devido a um conjunto de características intrínsecas, salientando-se no contexto da presente problemática: O facto de a procura ser derivada (27), isto é, procuram-se cuidados de saúde para se obter saúde. A atual estrutura de oferta por níveis de cuidados reflete esta limitação, uma vez que se encontra organizada de acordo com os níveis de cuidados prestados e não com o estado de saúde desejado. A falta de homogeneidade do bem e eventual interdependência no momento do consumo (28). De facto, quando são prestados serviços tão díspares como consultas, internamentos, consumo de medicamentos ou meios complementares de diagnóstico, conseguimos identificar uma pletora qualitativa geradora de vários mercados (não homogeneidade), mas também, um conjunto de consumos interdependentes entre si que criam uma cadeia de valor. A indivisibilidade do bem cuidados de saúde, resultado dessa interdependência multidisciplinar, é uma das características mais significativas do mercado para a abordagem à integração vertical de cuidados. Percetividade por parte do utente: para o consumidor assimetricamente informado face ao agente de oferta numa situação de doença, não existe a perceção e consecutivamente a capacidade de decisão em optar por consumos de serviços de saúde que oferecem diferentes níveis de cuidados. De acordo com Costa (1996) (29), a divisão entre cuidados primários e secundários de saúde corresponde essencialmente a uma preferência do prestador, uma vez que a perceção do 23 consumidor se centra em cuidados de saúde, desconhecendo se padece de um problema de natureza “primária” ou “secundária”. Autonomia produtiva: Se a fundamentação técnica da medicina geral e familiar enquanto disciplina científica onde se estrutura a prestação de primeira linha está bem sustentada nas suas onze características fundadoras (30), já as suas fronteiras e âmbito de atuação poderão ser questionáveis ao nível do pleno gozo de autonomia organizacional e de gestão. Salienta-se esta preocupação porque: A gestão comum de estruturas de produção (clínica, financeira e administrativa) entre campos de conhecimento técnico tão díspares como a oftalmologia, a pneumologia, neurologia, ortopedia, etc., deixando de fora a base assistencial do doente é atualmente justificável e geralmente aceite. No entanto, a título meramente exemplificativo, é facilmente percetível que a medicina interna hospitalar se encontra tecnicamente mais próxima da medicina geral e familiar do que da cirurgia cardio-torácica, não deixando estas de ser disciplinas tecnicamente autónomas mas geridas conjuntamente; A sua proximidade e consequente conhecimento das características dos consumidores são fundamentais para o continuum do processo de produção, nomeadamente para os prestadores de segunda linha com fortes implicações ao nível da eficiência (técnica e económica) e qualidade assistencial. Epidemiológicas: Dentro dos problemas levantados pela quarta fase de transição epidemiológica, destacam-se as doenças crónicas relacionadas com o envelhecimento da população. Estas doenças requerem uma resposta diferente da que atualmente podemos encontrar, centrada mormente nos cuidados agudos (31). Assim, é requerido um maior grau de integração entre os diferentes atores da estrutura de oferta de cuidados de saúde de forma a permitir uma melhor gestão das doenças que provocam maiores limitações aos utentes e gastos evitáveis à sociedade. Custo-Efetividade: As consequências da fragmentação da estrutura de oferta de cuidados de saúde em níveis conduz a uma possível duplicação de procedimentos e de custos de transação que não permite a gestão e decisão conjunta sobre processos clínicos ou de afetação de recursos. Se por um lado são reconhecidos os benefícios ao nível do custo-efetividade da intervenção de especialistas, por outro, deverão também ser tidas em consideração as vantagens da utilização do trabalho desenvolvido pelos clínicos gerais, elementos mais conhecedores do estado de saúde das populações que servem e que podem influenciar decisivamente o custoefetividade das intervenções em saúde. Prestação Episódica: a atual resposta dos serviços prestadores de cuidados de saúde caracteriza-se por ser episódica. A cada momento onde há manifestação de necessidades de cuidados de saúde por parte dos consumidores, existe uma resposta que corresponde a um episódio, ou seja, a resolução de determinado problema de saúde pode originar diversos contactos isolados e consequentemente procedimentos não integrados e não comunicantes entre si. Financeira: a separação dos instrumentos financeiros de suporte à gestão das organizações de saúde podem originar um desalinhamento estratégico entre estas: a 24 possível utilização de unidades de pagamento pela produção nos cuidados hospitalares gera (por exemplo) um conflito com os objetivos de promoção da saúde e prevenção da doença praticados pelos cuidados de saúde primários, uma vez que mais produção para o hospital significa também um maior volume de receita. Em termos pragmáticos, o resultado da atual dupla polaridade da estrutura de oferta resulta numa fragmentação entre as unidades prestadoras de cuidados de saúde (31). De acordo com Ahgren (2003) (32), a fragmentação sucessiva da prestação de cuidados de saúde, resulta de três causas principais: A descentralização da prestação centrada nos prestadores de primeira linha que agem de forma independente; A subespecialização dos cuidados de saúde desenvolvida a partir das preferências dos produtores (critérios de oferta), devido sobretudo ao avanço da ciência médica, onde os profissionais adquirem cada vez mais conhecimentos especializados em cada área e vêem diminuir o seu conhecimento e prática multidisciplinar. Esta situação tem como consequência lógica a falta de compreensão para o facto de a prestação de cuidados nem sempre requerer melhores profissionais, mas um melhor funcionamento do sistema (conjunto de elementos interligados entre si com o mesmo propósito); Principio de organização profissional, onde os enfermeiros, médicos e outros profissionais atuam no sentido de tratar o doente, assumindo a responsabilidade individual pelos atos realizados. Neste tipo de cultura organizacional, atingir objetivos globais comuns tem baixa prioridade; Estes fatores individualmente e conjuntamente contribuíram para o funcionamento autónomo da prestação de cuidados de saúde. A fragmentação é um obstáculo à coordenação de atividades, uma vez que os cuidados de saúde são prestados por diferentes funções e raramente um único elemento responde por todo o processo de forma integral (32). As consequências desta situação para os agentes do mercado poderão ser brevemente resumidas na seguinte tabela: Tabela 1 - Consequências da fragmentação da estrutura de oferta de cuidados de saúde Agentes Pagador Perda de eficiência Consequências Promoção da doença Fraca coordenação Prestador Apenas responsáveis pela sua intervenção Cultura própria Organização preferencial Consumidor Falta de acessibilidade Desorientação no sistema Perda qualidade assistencial Falta de percetividade A fragmentação, por outro lado, contraria o princípio de que as organizações de saúde não são concorrenciais entre si, devendo denotar, pelo contrário, preocupações de articulação, de integração e de complementaridade (33). 25 O Relatório do Institute National of Medicine dos EUA subordinado ao tema “Crossing the quality Chasm: A new health system for 21st Century” (2001) (34) refere a impossibilidade de continuar a prestar melhores cuidados de saúde baseados exclusivamente no aumento de competências técnicas, procedimentos clínicos ou inovação tecnológica. Para alcançar serviços seguros, eficientes, efetivos, oportunos, com equidade e centrados no cidadão deverá existir um esforço na consolidação e harmonização. Também a OMS menciona a este nível, que existe a necessidade de combater a atual fragmentação da prestação de cuidados de saúde de forma a orientar o sistema para as necessidades dos utentes, definindo prioridades e gerindo os recursos. Destaca igualmente, a importância de caminhar no sentido de uma integração dos sistemas de saúde, onde a promoção da saúde, o diagnóstico, tratamento e reabilitação devam ser etapas encaradas como uma interligação contínua de cuidados de forma a obter ganhos em saúde (31). A necessidade de reequacionar o modo de intervenção das organizações prestadoras com o intuito de evitar descontinuidades na prestação, reduzir a sua fragmentação atual e aumentar a eficiência (15) deverão constituir um desígnio estratégico. Em Portugal, esta necessidade encontra-se presente desde há alguns anos conforme se pode conferir no texto introdutório do estatuto do SNS (DL nº11/93 de 15 de Janeiro) em 1993: “A tradicional dicotomia entre cuidados primários e cuidados diferenciados revelou-se não só incorreta do ponto de vista médico mas também geradora de disfunções sob o ponto de vista organizativo. Daí a criação de unidades integradas de cuidados de saúde - unidades de saúde -, que hão-de viabilizar a imprescindível articulação entre grupos personalizados de centros de saúde e hospitais. A indivisibilidade da saúde, por um lado, e a criteriosa gestão de recursos, por outro, impõem a consagração de tal modelo, em que radica um dos aspetos essenciais da nova orgânica do Serviço Nacional de Saúde”. 3.3. A integração de cuidados de saúde 3.3.1. Definição de integração Etimologicamente, o verbo integrar provém do latim “integer” (inteiro) e o seu significado sugere uma ação ou movimento onde diferentes partes se fundem num todo (35). Em termos genéricos, a integração é um processo que envolve a criação e a manutenção ao longo do tempo de uma estrutura comum entre os parceiros (e organizações) independentes com o propósito de coordenar3 a sua interdependência4 no sentido de permitir o funcionamento conjunto no âmbito de um projeto coletivo (15). 3 A Coordenação representa a mão visível que controla as relações entre os elementos do sistema. De acordo com Alter e Hage (1993) (107) a coordenação deve garantir três pressupostos: todos os meios (recursos, serviços, competências) se encontram disponíveis; o acesso a todos os serviços e bens gerados pela organização está garantido; e os vários elementos interagem de forma harmoniosa ao longo do tempo. A coordenação implica a regulação dos intervenientes na produção no sentido de proporcionar uma melhor interligação funcional. Envolve a criação de planos terapêuticos comuns que integrem os diferentes inputs do processo, incluindo os profissionais médicos, enfermeiros, utentes, famílias para obtenção de um objectivo comum (77). 26 De acordo com uma revisão de literatura realizada por autores canadianos, verificouse que o conceito de integração de cuidados de saúde é utilizado de 175 formas diferentes em estudos publicados em revistas com validade científica (36). Também pode ser abordado através de várias perspetivas, ou utilizado como meio para alcançar objetivos diferentes (18). Neste sentido, não existe nem uma definição standard de integração de cuidados (37) nem uma forma de operacionalização perfeita. Vários autores definiram este conceito consoante a sua perspetiva. Desta forma, quando se aborda o tema da integração de cuidados de saúde, torna-se prudente considerar que existe um conjunto de outros conceitos que poderão estar associados a esta definição, entre os quais se destacam particularmente: continuidade de cuidados, coordenação de cuidados, colaboração de cuidados, gestão de cuidados, gestão da doença, gestão de caso, cuidado centrado no doente, entre outros (18) (38), dificultando a sua implementação. Tal como o próprio conceito de integração de cuidados, que como vimos anteriormente pode apresentar diversas aceções e limites conceptuais, também a denominação das organizações prestadoras de cuidados de saúde integradas podem ser descritas internacionalmente por várias designações, entre as quais se destacam “Integrated Delivery Networks” (39), “Integrated Health Networks” (40) (41), “Integrated Health Delivery Systems” (42), “Integrated Healthcare Delivery Systems” (43),“Integrated Delivery Systems” (44) (45), “Integrated Health Care Systems” (46), “Organized Delivery Systems” (47) (48) ou mais recentemente “Accountable Care Organizations” (49). Em 1967, Lawrence e Lorsch afirmaram que a integração de cuidados tinha origem na teoria organizacional e definiram-na como o processo de unificar esforços entre os vários subsistemas na realização dos objetivos da organização (50). Overtveit (1998) (51) define a integração de cuidados pelos métodos e tipos de organizações que oferecem os serviços preventivos com maior custo-efetividade e asseguram a continuidade e coorganização entre os diferentes serviços, à população necessitada. Em 2000, a integração de cuidados foi definida como um conjunto de técnicas e modelos organizacionais desenhados para criar colaboração, coordenação e cooperação dentro e entre os prestadores, em termos curativos e de cuidado, tanto na área financeira como administrativa (52). Em 2001, Grõne e Garcia (16) definiram a integração de cuidados como o conceito de agrupar inputs, oferta, gestão e organização de serviços relacionados com o diagnóstico, tratamento, cuidados, reabilitação e promoção de saúde. 4 Diz-se que estamos perante uma relação de Interdependência quando nenhum elemento (individuais ou organizacionais) domina todos os recursos e/ou técnicas para resolver determinado processo, existindo uma necessária complementaridade entre os diferentes elementos. 27 Para Kodner e Spreeuwenberg em 2002 (17) a integração é um conjunto coerente de métodos e modelos ao nível clínico, financeiro, administrativo, organizacional e de prestação de serviços desenhados para criar a conexão, alinhamento e colaboração dentro e entre os setores de saúde. Por outro lado, o conceito de desintegração também apresenta as mesmas dificuldades, referindo-se a um conjunto de noções como: decomposição, fragmentação, desregulamentação, falta de relações, falta de cooperação e autonomia. Assim, é possível verificar que os conceitos de integração e de desintegração estão associados a outros conceitos que não são nem exatos nem fixos. Esta falta de precisão na sua delimitação e âmbito contribui naturalmente para potenciar as divergências sobre objetivos, metas e meios de como alcançar a integração de cuidados (18). O conceito de integração de cuidados também varia consoante a perspetiva do utilizador (37), nomeadamente, do consumidor, do prestador, dos gestores e decisores, a nível organizacional e a nível profissional (tabela 2). Tabela 2 - Definição do conceito de integração de cuidados à luz de perspetivas diferentes Perspetiva Definição do conceito de integração Consumidores Envolve serviços de saúde transparentes, suaves e fáceis de navegar. Prestadores de saúde Supõe trabalhar com profissionais de diferentes áreas, coordenar tarefas e cuidados, ultrapassando as tradicionais tarefas dos profissionais. Gestores Traduz uma supervisão de fluxos de financiamento combinados; uma coordenação de metas de desempenho comuns, uma supervisão de um grande conjunto de pessoas profissionalmente diversificada, uma gestão de estruturas organizacionais complexas e uma construção e manutenção de cultura compartilhada. Decisores políticos Significa uma fusão de orçamentos e uma realização de avaliações de políticas, tendo em conta que certas intervenções numa área podem ter repercussões sobre outras devendo ser avaliadas de uma forma global. Fonte: adaptado de Lloyd e Wait (2006) (37) O conceito de integração pode ainda ser encarado através de diferentes dimensões, cuja lógica taxonómica não é consensual na literatura internacional. Propõe-se então uma organização conceptual que considera a existência de quatro dimensões básicas: estrutural, funcional, normativa e sistémica. 28 Esquema 1 - Dimensões da integração Horizontal Estrutural Funcional Vertical Clínica Informação Dimensões da Integração Financeira Normativa Administrativa Sistémica 3.3.2. Dimensão estrutural Diz-se que estamos na presença de um processo de integração estrutural quando os elementos que constituem a estrutura organizacional do sistema sofrem alterações no sentido da modificação dos organigramas individuais das entidades que constituem a nova estrutura, sendo alteradas responsabilidades, relações de comando e controlo, poder hierárquico (13) (54). A integração horizontal ou vertical no seu estado puro são exemplos característicos desta dimensão. Encontramo-nos perante um processo de integração horizontal, quando uma única entidade é responsável pela gestão de organizações que prestam o mesmo nível de cuidados de saúde (11) (16). Esta entidade resulta de uma fusão entre duas ou mais instituições que produzem o(s) mesmo(s) serviço(s) que são substitutos próximos. Os objetivos que norteiam este processo consubstanciam-se essencialmente pela tentativa de conseguir gerar economias de escala e poder de mercado (ascendentefornecedores-melhores condições de abastecimento e descendente-clientes – melhor serviço). Esquema 2- Integração horizontal Hospital A Hospital B Hospital C Adaptado de Conrad e Shortell (1996a) (54) 29 A integração horizontal dominou o mercado norte-americano durante a década de 70 e voltou a conquistar popularidade na década de 90, alargando o seu escopo da actividade, ganhando dimensão (18). No nosso país, a criação de centros hospitalares ou de agrupamentos de centros de saúde um pouco por todo o território nacional são exemplos típicos do movimento de integração horizontal em estruturas de oferta de cuidados de saúde. A evolução histórica diz-nos que em termos processuais a integração horizontal precede a integração vertical, uma vez que permite criar as condições de mercado (maior poder de mercado, efeito escala traduzido no domínio dos canais de distribuição) para obter ganhos de eficiência. Porém, a tipologia mais saliente e discutida no âmbito dos movimentos de integração organizacional, por vezes mesmo confundida com o próprio conceito genérico é a integração vertical, que pode ser definida à luz de várias ciências (15). Assim, de entre os vários conhecimentos que utilizam e aplicam o conceito de integração vertical, destaca-se para a presente problemática a definição económica do termo: diz-se que estamos na presença de integração vertical quando uma organização detém o controlo de pelo menos duas organizações sendo que pelo menos uma delas utiliza como input o output da outra (26). Esquema 3 - Integração vertical Centro de Saúde Hospital Unidade Cuidados Continuados Próxima, é também a sua definição no âmbito da estratégia organizacional, que entende a integração vertical como a execução de várias funções da cadeia operacional sob a égide de uma só empresa, inversamente, a desintegração vertical ocorre quando diferentes organizações são responsáveis pela execução de atividades distintas (55). Aplicado ao sector da saúde, o termo integração vertical é utilizado para designar um conjunto relativamente lato de movimentos e mudança (13). A integração vertical consiste na criação de uma única entidade gestora (propriedade e controlo) de duas ou mais entidades que prestam serviços em diferentes níveis de cuidados no intuito de melhorar o estado de saúde geral de uma população num determinado contexto regional geo-demográfico. (12) (54) (13) (45). Adaptado de Conrad e Shortell (1996a) (54) Na prática, a integração vertical é um mecanismo onde uma entidade é responsável por todos os elementos do continuum de cuidados (56) (57) ao longo dos diferentes níveis de cuidados de saúde – primários, hospitalares e continuados (2) (58) (12) (16) (59). No limite, diz-se que estamos na presença de uma integração completa quando um sistema de prestação de cuidados de saúde é capaz de prestar todos os serviços a todos os utentes que se apresentam a esse mesmo sistema (12). 30 O conceito OMS de integração vertical (16) considera a agregação de inputs, a prestação, e a gestão dos serviços relacionados com a prevenção, promoção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do estado de saúde. É um termo sinónimo dos serviços relacionados com o acesso, a qualidade, a satisfação do utente e da eficiência. Mais tarde, em 2008, a OMS define este conceito como "a gestão e prestação de serviços de saúde para que os doentes recebam um contínuo de serviços preventivos e curativos, de acordo com as suas necessidades ao longo do tempo e em diferentes níveis do sistema de saúde." (60) Existe também outra definição mais ampla para a integração vertical em cuidados de saúde, que se refere à interligação entre as funções de produção e de vendas, como acontece sobretudo no mercado norte americano, onde a estrutura de oferta de cuidados contempla para além da produção integrada de serviços, a sua venda, através da função seguradora (9) (61). Organizações como as Health Maintenance Organizations (HMO), Independent Practitioner Associations ou Preferred Provider Organizations (PPO) são exemplos da gestão conjunta entre o serviço prestado e comercializado. A este respeito, Stahl (1995) (62) argumenta que a função seguradora é a mais importante de uma organização integrada, derivando tal facto da colocação de todo o sistema sob o desígnio de um risco contratual. Sumariando, as condições concomitantes para podermos reconhecer a existência de um contexto de integração vertical são as seguintes: Quem: uma entidade única, responsável pelo estado de saúde; Onde: num espaço geográfico (regional) delimitado (12); Objeto: uma determinada população (15); O quê: coordenar em rede os elementos que fazem parte do sistema; Como: através da gestão dos vários níveis de prestação de cuidados; Porquê (rationale): para garantir uma prestação de cuidados de saúde com maior eficiência, qualidade e satisfação ao utente no sentido de acrescentar valor ao processo de produção e gerar ganhos em saúde para a população. Pode também encontrar-se, sobretudo nos países do Norte da Europa, a utilização do conceito de integração vertical num sentido mais abrangente que ultrapassa as fronteiras do sector da saúde stricto senso. Desta forma, a coordenação das atividades desenvolvidas pelos diversos sectores sociais que de alguma forma influenciam e podem determinar a condição de saúde das populações como é o caso da educação ou das autoridades municipais também pode ser entendida como sinónimo de integração, neste caso particular, dos serviços prestados à comunidade (36). Em Portugal, o conceito de integração de cuidados no âmbito do programa de Cuidados Continuados também contempla a conjugação das intervenções de saúde e de apoio social, assente numa avaliação e planeamento de intervenção conjuntos (DR I Série-A nº109 DL nº101/2006 de 6 de Junho). 31 3.3.3. Integração funcional A integração funcional consiste na coordenação, comunicação e cooperação efetiva das funções e atividades básicas desenvolvidas nas unidades operacionais do sistema de produção através da prestação de cuidados de saúde com valor para o utente (47) (9) (18). Esta dimensão é a componente fundamental da integração vertical, uma vez que sem a coordenação entre as diferentes unidades e prestadores dificilmente se atingirão as potenciais vantagens, ganhos de eficiência ou se reduzirão custos (13). Comparativamente com a dimensão estrutural da integração, esta realidade é mais difícil de ser alcançada e de ser medida, nomeadamente “porque se torna mais fácil juntar as peças do que fazer com que elas funcionem juntas”. Por outro lado, a integração funcional não implica necessariamente uma integração estrutural, uma vez que os elementos organizacionais ou individuais podem manter a sua independência mas criar interligações funcionais tendentes a garantir maior consistência na gestão de um episódio de doença, partilhando a responsabilidade por um problema coletivo (15). Os mecanismos utilizados pela dimensão funcional no sentido de promover a coordenação entre as atividades/ funções desenvolvidas pelas organizações em saúde, poderão, entre outros, passar pela: Criação de programas de gestão de doença; Partilha de planos de atividades e de orçamento; Partilha de procedimentos administrativos; Integração dos dados clínicos; Implementação de sistemas de comunicação; Gestão de casos (case management); Formação de equipas interdisciplinares; Programas de formação envolvendo os diferentes profissionais médicos; Criação de sistemas de referenciação dos doentes. A integração funcional é constituída basicamente pela integração clínica (contribui para a efetividade da prestação de cuidados de saúde), pela integração da informação, pela integração financeira e pela integração ao nível administrativo. Sobretudo as primeiras três dimensões são a verdadeira rede de suporte funcional de uma organização (clínica, financeira, informação) que pretende caminhar para uma realidade integrada, pois permitem a criação/ desenvolvimento de mecanismos tendentes a suportar/ melhorar o funcionamento conjunto do sistema, com especial enfoque nas suas interligações. 3.3.3.1. Integração clínica A evolução do conhecimento científico e o consequente incremento da complexidade ao nível do tratamento clínico, tornou impossível o processamento de toda a informação por parte de um único profissional, resultando este avanço processual na necessidade de recorrer à especialização e coordenação de procedimentos entre médicos pertencentes a diferentes níveis de cuidados e/ ou dentro do mesmo nível de 32 prestação, através de coordenação multidisciplinar (63). O carácter multiproduto da prestação de cuidados de saúde alarga esta constatação também a outras atividades desenvolvidas no âmbito do continuum produtivo, como os cuidados de enfermagem, os meios complementares de diagnóstico e terapêutica ou mesmo dos cuidados auxiliares e de apoio logístico e administrativo. Neste sentido, uma das dimensões de um processo de integração na área da saúde é necessariamente a integração de cuidados, que envolve a coordenação de práticas clínicas em torno de problemas específicos de saúde de cada doente de uma forma sustentável (15). Por outras palavras, devem ser garantidos os serviços prestados pelos vários profissionais, em vários locais ou organizações ao longo do tempo, de acordo com as necessidades específicas de cada utente segundo um determinado nível de conhecimento e tecnologia disponível. Convém igualmente referir que cada episódio de doença deve ser encarado separadamente, as etapas percorridas ao longo da vida são consideradas outputs finais e não intermédios de uma cadeia de produção ininterrupta (27). Contrariamente ao que porventura seria primariamente admissível, segundo Zuckerman, Kaluzny e Ricketts (1995) (64), as verdadeiras vantagens da integração vertical (sobretudo ao nível da redução de custos) advêm fundamentalmente da sua capacidade de integração clínica e não da dimensão funcional administrativa traduzida em economias de escala ou escopo. Trata-se da dimensão mais importante de integração, porque é através dela que se conseguem prestar cuidados mais custoefetivos com qualidade (11). A integração clínica pode então ser entendida como o grau de coordenação da prestação de cuidados de saúde no que respeita às funções, atividades e unidades operativas de um sistema e é constituída por seis componentes base (11): O desenvolvimento de protocolos clínicos; A uniformidade e acessibilidade aos registos médicos; A recolha e utilização de resultados clínicos; O esforço de programação e a planificação clínica; A partilha dos serviços clínicos de suporte; A partilha das linhas de produção clínicas. A integração clínica tem como objetivo o alcance de cuidados clínicos uniformes e consistentes ao longo de diferentes níveis de cuidados (65). Neste contexto, esta dimensão inclui o conceito de continuidade de cuidados, coordenação de cuidados, gestão da doença, boa comunicação entre prestadores, transferência de informação e registros médicos, resultando numa eliminação da duplicação de exames e de procedimentos. Além disso, garante a ligação entre estes conceitos em caso de lacunas dos sistemas de saúde (Shortell, 1993,1996 cit por (66)). A necessidade de gestão clínica da diversidade dos produtos ou conjunto de produtos homogéneos das unidades prestadoras de cuidados de saúde conduz a novas soluções organizacionais baseadas em linhas de produção de serviços (44). As linhas de produção de serviços clínicos podem ser definidas como uma família de disposições organizacionais baseados no output em substituição do tradicional input 33 (67), constituindo desta forma uma resposta genérica ao nível da organização coerente e racional das tarefas e responsabilidades. A forma de agrupamento de linhas de produção por significância clínica poderá ser conceptualizada, segundo Parker et al. (2001) (44), de acordo com três critérios: A gestão de doenças (por exemplo, o cancro ou doenças cardíacas); Por segmentos populacionais específicos (por exemplo, idosos ou crianças); Por procedimento ou intervenção (por exemplo, uma intervenção cirúrgica ou um transplante de órgãos). As linhas de produção por doença constituem um mecanismo que contribui para se atingir a integração clínica entre as unidades operacionais do sistema de prestação (9). A sua “formalização” deu origem ao conceito de disease management, que entre nós ficou conhecido como “gestão da doença”. A gestão da doença consiste na gestão e prestação de cuidados a uma população que se encontra em risco ou à qual já foi diagnosticada uma determinada doença, através de um sistema integrado compreensivo, que utiliza as melhores práticas clínicas, tecnologia de informação e outros recursos (68). Trata-se de uma abordagem mais centrada no doente para a provisão de todas as componentes de cuidados que este necessita, eliminando a perspetiva fragmentada, autónoma e parcial da atual estrutura de oferta de cuidados de saúde (69). A gestão da doença detém um foco pró-ativo de longo prazo em segmentos populacionais, substituindo a tradicional reatividade dos episódios de tratamento (70). Os componentes da gestão da doença integram standards e protocolos específicos por doença dirigidos sobretudo aos utentes com maior risco e maior potencial de gerar resultados clínicos e financeiros adversos (70). Algumas das mais importantes interligações verticais em cuidados de saúde não envolvem a integração da organização completa mas de uma linha de produto ou mix de serviços, através de programas integrados como é o caso da criação de um programa para as doenças cardiovasculares que incorpore todos os cuidados (primários, secundários e terciários) necessários ao tratamento deste tipo de doentes. Esta alteração estrutural deverá provocar uma redefinição estratégica de uma gestão centrada no ciclo de tratamento para fases anteriores como a promoção da saúde e a prevenção da doença (71), pois dessa forma evitar-se-ão maiores consumos posteriores permitindo simultaneamente controlar o acesso, os consumos e os custos globais (2). De entre os mecanismos de integração de cuidados mais reconhecidos, para além da gestão da doença, destacam-se também a formação de equipas multidisciplinares, a criação de um processo clínico único (permite a disponibilização da informação clínica ao longo do tempo, a interpretação dos resultados dos tratamentos realizados e captura os dados clínicos), a programação e planeamento das altas, a existência de programas de referenciação, a necessária informação ao consumidor, implementação de programas de qualidade e a formação médica continua e treino em serviço (9) 34 Um dos mecanismos identificados por Shortell et al. (1993) (9), como crítico para o sucesso da integração ao nível clínico, é o funcionamento de equipas multidisciplinares (a complementaridade de atuação entre diferentes especialidades profissionais) e interdisciplinares (a definição e assunção de objetivos comuns, orientadores das atuações, entre os profissionais da equipa de prestação de cuidados) podendo ser horizontal (profissionais do mesmo nível de prestação) ou vertical (profissionais de diferentes níveis de prestação). As equipas formadas pelos diferentes profissionais envolvidos no processo de continuum de doença (médicos, enfermeiros, auxiliares, administrativos, etc.) têm o propósito comum de produzir um conjunto compreensivo de serviços clínicos. A sua performance desenvolve-se a partir da existência de mecanismos que auxiliam na coordenação das competências e técnicas efetuadas por cada elemento de forma a gerarem valor ao longo da cadeia de produção (15). Neste capítulo, o envolvimento dos profissionais de saúde é fundamental, visto que os seus contributos individuais não são encarados como mais-valias se não funcionarem numa lógica conjunta e harmonizada (72) (71). Por outro lado, tal como referem Katzenbach e Smith (1993) (73), a formação de equipas multidisciplinares, funcionalmente cruzadas, permitem responder melhor aos problemas de saúde de cada indivíduo e contribuem para elevar o grau de conhecimento das organizações. Donohoe et al. (1999) (71), salientam a importância do papel dos médicos especialistas na formação dos seus colegas de clínica geral e no desenvolvimento do conhecimento (investigação). Também o envolvimento dos médicos generalistas na prestação de cuidados especializados geram a prestação de cuidados com mais custo-efetividade e melhor qualidade (72) (73) (74). Ambas as situações fazem prever que no futuro, os profissionais de saúde tenham um espectro de atuação mais amplo e muito provavelmente serão chamados a resolver um maior número de situações diferentes (75). Para que seja possível a criação de equipas dotadas de competências múltiplas, com uma capacidade de resposta superior aos problemas de saúde, numa perspetiva de integração clínica, pressupõe-se a existência de proximidade geográfica entre os elementos de um sistema e dos serviços de prestação (2) (44). A viabilidade da integração clínica depende igualmente dos instrumentos e facilidades proporcionadas pela integração funcional da unidade (15). Muito importante enquanto mecanismo de integração clínica é também o processo de referenciação médica entre prestadores de primeira e segunda linha, uma vez que um bom processo de referenciação melhora a qualidade e a eficiência dos cuidados prestados (79). Uma vasta literatura é descrita por Harold, Field e Gurwitz (1999) (80) que realizam um resumo dos padrões e resultados dos cuidados prestados entre clínicos gerais e especialistas. Referindo vários estudos anteriores, Donohoe et al., (1999) (74) aludem ao facto de as taxas de referenciação individual variarem significativamente entre clínicos gerais, situação que indica a incerteza relativamente ao nível adequado da prática de referenciação. Segundo os mesmos autores, um processo de referenciação 35 inadequada entre níveis de cuidados pode gerar uma perda de qualidade assistencial em dois sentidos: Sub-referenciação, significa que não foi realizado o procedimento de referenciação quando a complexidade e/ ou severidade do doente assim o exigiam, situação que pode originar indicações terapêuticas perigosas para o utente e tratamentos custo-inefetivos; Sobre-referenciação, que consiste na indicação inapropriada de referenciação entre diferentes níveis de cuidados, quando a situação poderia ser resolvida pelos prestadores de primeira linha. Os clínicos gerais podem não realizar todos os esforços para evitar a referenciação, não ponderando as mais-valias para o utente desse procedimento (81). Esta situação pode desaguar na fragmentação dos cuidados prestados, na repetição desnecessária de meios complementares de diagnóstico e terapêutica, numa perigosa poliprescrição medicamentosa, na confusão e isolamento dos doentes e mesmo numa quebra de motivação por parte dos clínicos gerais na atualização de conhecimento. Uma má referenciação pode conduzir a redundância de consultas, exames e testes de diagnóstico originando consequentemente um aumento evitável dos custos globais (79). Um estudo de Jenkins (1993) (81), menciona uma maior percentagem de erros na referenciação de casos médicos do que cirúrgicos. Esta situação pode ser justificada pela frequência de procedimentos definitivos que se podem encontrar nos casos cirúrgicos por um lado, e pela necessidade de auxílio no diagnóstico nos casos médicos por outro (significa que existe algum grau de incerteza associado). Apesar de se reconhecer à priori que uma boa referenciação envolve a transferência de informação clínica em ambas as direções (clínicos gerais para especialistas e viceversa), existindo um consenso generalizado entre profissionais sobre o conteúdo das cartas de referência - a declaração do problema, a medicação utilizada e a razão da referência (79) - a taxa ótima de referenciação continua a ser desconhecida, sobretudo devido: Ao facto dos mesmos médicos com taxas de referenciação similares poderem variar a sua decisão de referenciação em diferentes situações (81); À maior parte dos estudos existentes centrarem-se nas taxas de referenciação e não nas razões da referenciação; Aos clínicos gerais e especialistas frequentemente discordarem sobre quais as situações de referenciação que poderão ser evitadas (74). 3.3.3.2. Integração da informação A integração de cuidados de saúde pode não revestir um carácter exclusivamente físico, antes pelo contrário, existe todo um suporte virtual que é fundamental para garantir uma coordenação efetiva do trabalho realizado, sendo a informação entendida neste contexto como um dos recursos mais importantes de qualquer organização. Esta verdade é potenciada em sistemas complexos integrados como encontramos no 36 sector da saúde. Shortell et al. (2000) (82) referem que a ausência de sistemas de informação pode considerar-se mesmo uma barreira à integração, na medida em que a sua preponderância para o processo é fundamental no seu sucesso. A integração de informação desenvolve sistemas de informação clínicos e de gestão para suportar uma prática de cuidados uniformes ao longo dos vários níveis de cuidados. Assim, está relacionada com conceitos como comunicação entre as equipas clínicas, medição de resultados e gestão da performance (65). A falta de informação completa (registo médico histórico incluindo todos os serviços que foram prestados) relativa ao utente, de acordo com Grone e Garcia-Barbero (2001) (16), pode causar problemas em contextos de prestação de serviços fragmentados, entre os quais se destacam o aumento das listas de espera e a possível duplicação de procedimentos que originam gastos adicionais evitáveis. De forma antagónica, as potencialidades habitualmente associadas aos sistemas de informação tais como a criação de automatismos funcionais ou a conectividade entre os diferentes elementos do sistema podem contribuir decisivamente para o processo de integração vertical (78). Conforme se pode observar no estudo de Coile (1995) (83), um sistema de informação integrado é a chave para uma gestão clínica eficiente. A integração da dimensão informação pode ser definida pela interligação automatizada de toda a atividade desenvolvida, traduzida em dados e informação, com recurso a tecnologias de informação que possibilitem coligir, tratar e analisar dados e informação, no sentido de garantir um processo de tomada de decisões estratégicas e operacionais com o menor grau de risco associado e consequentemente potenciar a criação de valor e conhecimento para a organização e seus clientes. Um dos processos críticos referidos pela literatura no que concerne aos sistemas integrados de prestação sector da saúde, prende-se com a necessidade de existência de um processo clínico eletrónico por doente. Este gera a possibilidade de centralização de todos os dados necessários numa única entidade - processo clínico que suportado em ferramentas de tecnologias de informação pode reproduzir o novo conceito de cadeia de produção (e de valor) centrado no continuum e no acompanhamento do doente ao longo do processo de produção. Esta realidade representa uma evolução inevitável para a gestão mais eficiente e efetiva da interligação e coordenação dos elementos organizacionais. Para além de garantir um registo rigoroso (quantidade e qualidade) de toda a atividade realizada, um sistema de informação em contextos integrados deve igualmente atender às diferentes necessidades de informação dos seus utilizadores situados em distintos níveis de decisão organizacionais (estratégico, intermédio e operacional). Assim, a identificação das necessidades de informação é fundamental para o desenho e implementação de um sistema de informação em contexto de integração (71). A integração na dimensão de informação pode constituir um precioso auxílio na coordenação entre elementos físicos, humanos, técnicos, sendo mesmo encarada por alguns autores como uma condição fundamental para o processo de integração vertical sem a qual não é possível garantir as restantes dimensões funcionais, particularmente a clínica e a financeira. Trata-se do suporte tecnológico que conectado com o doente, permite a incorporação dos dados clínicos (processo clínico), 37 financeiros (custos e proveitos) e administrativos, garantindo que independentemente do local onde seja realizada a prestação de cuidados de saúde a informação se encontre disponível (70). As suas enormes potencialidades permitem mesmo transformar os sistemas de informação em veículos da própria mudança organizacional, podendo assumir-se como uma vantagem competitiva para as unidades prestadoras (84). 3.3.3.3. Integração financeira A realidade de um contexto integrado de prestação de cuidados de saúde conduz à responsabilidade pela saúde global de uma determinada população. Neste sentido, gerir um doente passa não só pela manutenção ou aumento do seu bem-estar geral, mas também por garantir as intervenções mais custo-efetivas possíveis, isto porque apesar dos objetivos not profit das nossas organizações de saúde, a verdade é que o desenvolvimento estratégico e operacional, a capacidade de renovação ao nível dos ciclos de exploração e investimento dependem da sua sustentabilidade económicofinanceira. No âmbito da prestação integrada de cuidados de saúde, surge então também o desafio de gerir financeiramente os diferentes elementos constituintes da organização como um todo. Conjuntamente com a integração clínica e de informação, encerra a trilogia essencial para garantir o sucesso e a coerência da integração funcional da organização. Em termos conceptuais, a integração financeira corresponde à coordenação das atividades desenvolvidas na obtenção regular e oportuna de recursos financeiros necessários ao funcionamento da organização, bem como à maximização de rendibilidade (leia-se eficiência económica) desses mesmos recursos ao longo do continuum de doença. A visão global da organização traduzida financeiramente em instrumentos (demonstrações financeiras) comuns de apoio, dá coerência a nível macro e tenta eliminar as barreiras naturais da possível organização tradicional funcional baseada na especialização do trabalho, ou seja, a gestão financeira é um poderoso instrumento que pode promover o abandono da lógica fragmentada e individualizada de ganhos parciais resultantes da interpretação exclusiva dos resultados de uma unidade. A título meramente exemplificativo, pode-se referir que o efeito substituição entre um doente atendido em ambulatório relativamente ao internamento representa em termos diretos uma perda de receita, mas numa lógica de eficiência económica, em contexto de financiamento por capitação, pode constituir um ganho substancial para a unidade integrada (85) e para o doente. Com a integração vertical deverá proceder-se a uma alteração de enfoque, que se direcionará não sobre os recursos necessários para tratar um doente (variáveis de oferta), mas nos recursos que um doente necessita para ser tratado (variável de procura), ou seja, o elo de ligação a acompanhar e a gerir ao longo da produção deverá ser em primeira instância o doente – os recursos existem porque existem doentes. 38 Da necessária interligação entre processo clínico como estrutura e sistemas de informação como suporte/veículo, torna-se crucial proceder à valorização de cada etapa do processo de produção de forma a se conseguir, em todo o momento, conhecer os custos associados ao doente. A mudança da atual filosofia de gestão financeira nas organizações de saúde originada por um movimento de integração vertical acarretará também, necessariamente, uma alteração ao nível das metodologias de apuramento de custos atualmente implementadas em contextos de funcionamento organizacional não integrado, onde predomina a informação financeira centrada em departamentos, serviços ou natureza de custos. A lógica de acompanhamento do doente ao longo de todo um continuum de doença, exigirá que a determinação dos custos que lhe estão associados se centre nos doentes e nas suas doenças. Se esta prática é dificultada pela complexa cadeia de produção de cuidados de saúde, constituída por um conjunto relativamente vasto de inputs, também é certo que no caso da sua concretização, permitirá: Diminuir o risco, através desta dimensão acompanhamos os consumos esperados ao longo do processo de produção, reduzindo a incerteza (e o risco) presente na relação entre produtor e consumidor. Por outro lado, o maior controlo sobre todo o processo de produção permite também disseminar o risco financeiro entre as diversas etapas; Uma decisão produtiva mais informada e racional entre linhas de produção que permitam a utilização de bens substitutos, como por exemplo entre internamento e o ambulatório. A condição de maximização (proveitos vs custos) mantém-se numa perspetiva integrada, mas as variáveis implícitas (fatores de produção) são mais alargadas quantitativa e qualitativamente; Uma melhor gestão financeira, mais específica e próxima do doente, possibilitando que os recursos sejam canalizados para outras finalidades como a formação ou a investigação (custos de oportunidade de recursos ineficientes). Inicialmente, o processo de integração acarreta intrinsecamente alguns problemas ao nível da sua dimensão financeira, entre os quais se destaca a predominância da componente hospitalar enquanto geradora de receitas e de capacidade orçamental (fator escala) no seio de uma organização integrada. A tentação de obter vantagens financeiras a curto prazo pode potenciar a tendência natural para um enfoque erróneo nos cuidados especializados, investindo em técnicas diferenciadas e geradoras de lucro numa perspetiva de pagamento pela produção. Recorde-se que a condição de maximização presente neste contexto integrado não é baseada no volume de produção mas de acordo com a melhoria obtida no estado de saúde da população. 39 3.3.3.4. Integração administrativa A tarefa do gestor do doente não é exclusivamente clínica, outras dimensões requeridas como contactos com entidades externas ou atividades de carácter administrativo também são de necessário desenvolvimento, não poucas vezes consumidoras de esforço efetivo recompensado por pouco valor acrescentado no resultado final (63). Apesar de constituir uma dimensão cujos resultados são habitualmente menos visíveis quando comparados com as outras componentes da dimensão funcional da integração, a uniformização de procedimentos administrativos entre as diferentes unidades funcionais de um sistema integrado é um fator de referência que contribuí para a solidificação de uma cultura organizacional vocacionada para o alcance de metas comuns. Inserem-se também nesta dimensão a centralização dos procedimentos logísticos: de compras, aprovisionamento, transportes, farmácia, etc…que poderão, dependendo da dimensão do sistema, gerar economias de escala e consecutivamente ganhos de eficiência económica. Estes ganhos, apesar de serem obtidos no curto prazo, são limitados no seu volume e numa perspetiva evolutiva. 3.3.4. Integração normativa Quando a integração funcional é reduzida a um conjunto de procedimentos e normas escritas conhecidas por todos os elementos que a constituem, estamos na presença de um movimento de integração normativa. Esta dimensão permite a uniformidade de procedimentos internos e o estabelecimento de um sistema de referência de valores comuns (15). Através da integração normativa, podem então ser criados complexos sistemas organizacionais e inter-organizaconais onde as diferentes partes se dispõem a realizar as várias tarefas, alcançadas não exclusivamente via a existência de um chapéu organizacional, mas através de outras formas de interdependência inter-organizacional como joint-ventures, contratos formais, parcerias ou acordos de afiliação (18). A forma jurídica do acordo bem como a variedade de questões contratuais e legais no âmbito da integração vertical assumem assim um papel muito importante na definição do compromisso mútuo entre os elementos que integram a organização de saúde (86). Dependendo da fórmula jurídica escolhida, poderão surgir organizações integradas “virtualmente” onde é mantida a sua identidade jurídica através de um conjunto de acordos e protocolos que formam uma rede funcional com interesses e alguns objetivos comuns (61). Em termos conceptuais puros, esta forma de integração não poderá, no entanto, ser considerada per si como integração de cuidados de saúde, uma vez que pode existir sem se verificar uma gestão comum dos elementos constituintes. 40 3.3.5. Integração sistémica O estado de arte da gestão de organizações de saúde conduz-nos a entender a sua estrutura como um sistema, composto por vários elementos que através do seu funcionamento conjunto harmonioso beneficiam de sinergias para alcançar um determinado objetivo comum, num determinado contexto ambiental (87). Esta definição baseia-se na Teoria Geral dos Sistemas, desenvolvida nas décadas de 40 e 50 por Ludwig von Bertallanfy que procurou perceber a organização sistémica do mundo biológico. Habitualmente aplicada às organizações hospitalares, a perspetiva sistémica das organizações, suas características e propriedades predominantes são replicáveis e potenciadas em contextos de integração vertical no sector da saúde: a) As características fundamentais de qualquer sistema assentam na existência de elementos, na sua relação, seu objetivo comum e envolvimento num determinado contexto meio-ambiental: o processo de integração vertical baseia-se exatamente na coordenação de vários elementos (prestadores de cuidados de saúde – numa aceção mais ampla podem considerar-se também as entidades seguradoras ou outras organizações não pertencentes ao sector da saúde) que fortalecem a sua interligação através de um objetivo comum, a manutenção ou melhoria do estado de saúde das populações. Também o meio-ambiental que partilham é semelhante, quer pelo sistema onde se encontram integradas, quer pelo carácter eminentemente regional que assumem; b) Holismo, homeostase e retroação: entende-se holismo pela não interpretação do resultado final como a soma das partes, isto é, devem existir sinergias resultantes da interação entre os elementos do sistema que consigam garantir algo mais do que a soma dos resultados individuais (2+2=5). O entendimento de cadeia de valor em saúde e uma coordenação do continuum entre diferentes níveis de cuidados, contribui efetivamente para eliminar a interpretação individual de resultados parcelares promovendo a lógica holística do desempenho global enquanto conjunto integrado gerador de sinergias (85). A homeostase é a tendência que todos os organismos e organizações têm de autorregular-se, isto é, de retornarem a um equilíbrio estável e dinâmico após alguma perturbação ou influência externa. A maior flexibilidade resultante de uma gestão ao longo de todo o continuum por parte de um sistema integrado, garante uma maior capacidade de adaptação a novos contextos, fatores e desafios ambientais externos. Por sua vez, a retroação é o mecanismo que fornece informações relativas ao desempenho passado ou presente de uma organização. É através da retroação que se obtêm as informações necessárias para fazer o ajustamento contínuo do sistema (88). Só através de um sistema integrado de prestação, onde se controlam todas as etapas do processo de produção, se consegue avaliar os resultados finais e proceder de uma forma dinâmica às correções necessárias para garantir uma aplicação do ciclo de qualidade nas organizações de saúde. 41 Tabela 3 – Mudança de paradigma Definição Subsistema técnico ou de produção inclui o conhecimento necessário para a realização das tarefas, incluindo também as técnicas utilizadas na transformação do inputs em outputs. Antigo Paradigma Novo Paradigma Maximização da produção Maximização da eficiência eficiente Especialização em Especialização do trabalho contexto de multidisciplinariedade do Outputs por nível de conhecimento cuidados Cadeia de Valor Atos médicos sem continuidade Interdependência de atos Subsistema psicossocial, Trabalho individual incorpora a interação entre financeiros indivíduos e grupos, seus Incentivos distintos comportamentos, motivações, relações, dinâmica e influência para o sistema. Integração em multidisciplinares Programa uniformes de equipas incentivos Subsistema estrutural contempla as formas e que as tarefas organizacionais se dividem (diferenciação) e como se coordenam (integração). Baseado em Programas de doença departamentos e serviços Organização Matricial Determinado pelas pelas preferências dos Determinado necessidades dos produtores consumidores Subsistema de finalidades, objetivos e valores: a razão de ser das organizações, é o interface entre a organização e o exterior. Ênfase agudos Subsistema de gestão: responsável por todos os subsistemas organizacionais, dando-lhe coerência e sentido comum. Enfoque nas organizações nos cuidados Ênfase no continuum de cuidados Tratamento de doenças Responsabilidade indivíduos. Manutenção do bem-estar pelos Responsabilidade por uma população Enfoque nas interligações, na coordenação dos Enfoque nos recursos elementos e na rede de estruturais, produtividade prestação para a adequar (taxa de ocupação) e às necessidades eficiência interna Fonte: Adaptado de Shortell e Kaluzny (2006) (1) 42 A partir deste enquadramento teórico, foi desenvolvida a abordagem contingencial das organizações e da sua gestão, que se baseia no pressuposto de que a organização é um sistema composto por vários subsistemas, sendo concomitantemente delimitada por um supra sistema ambiental envolvente com o qual interage. Shortell e Kaluzny (2006) (1) referem uma tendência evolutiva dos sistemas de saúde à luz de um conjunto de novos paradigmas que importa salientar no âmbito dos 5 subsistemas organizacionais identificados por Katz e Kahn (1976) (89): dos objetivos, finalidades e valores, o técnico, o psicossocial, o estrutural e o de gestão. Conforme se verifica na tabela 3, abaixo disponibilizada, o processo de integração de cuidados de saúde de saúde pode constituir uma poderosa solução para responder aos novos desafios preconizados pelos autores em causa. 3.3.6. A integração do sistema de produção O movimento de integração, sobretudo tipo vertical, provoca uma alteração da estrutura de oferta que implica uma mudança significativa na forma de encarar a gestão da prestação de cuidados de saúde a todos os níveis, mormente motivada por alterações de carácter produtivo. A integração vertical pressupõe não fazer as coisas de forma tradicional (90). A integração vertical nos serviços de saúde é um instrumento, não um resultado (86), cujo principal objetivo reside no aumento do grau das interligações (coordenação) entre as diferentes etapas do processo de produção (2) (27). É na concentração da gestão dessas interligações que poderão surgir os benefícios da integração vertical, através do fortalecimento das conexões entre os parceiros inseridos no sistema organizacional que funcionam conjuntamente num projeto coletivo. Sabendo à partida que a produção de cuidados de saúde de cada nível de prestação implica um sistema de produção altamente diverso e complexo – motivado por um conjunto de características específicas do mercado da saúde (de oferta e procura) - o grau de dificuldade de gestão de um processo de integração de cuidados cresce significativamente. Resulta esta constatação não só pelo maior número de elementos e de interligações a gerir, mas sobretudo pela alteração registada ao nível do processo de produção: a integração vertical no sector da saúde pode ser entendida como uma forma de estruturar todo o sistema de produção sob a responsabilidade de uma única entidade organizacional que deverá contemplar todas as atividades necessárias à melhoria do estado de saúde dos doentes (13). A diferença entre o objeto e o objetivo subjacentes a este processo, consiste no facto da integração vertical pretender contribuir para a melhoria do estado de saúde dos utentes, utilizando para o efeito a gestão da interligação entre as suas diferentes etapas para o conseguir. A lógica de produção integrada pressupõe que os produtos ou serviços gerados anteriormente por cada um dos níveis de cuidados passem a constituir um produto intermédio do continum de doença, caso haja lugar a múltiplos contactos entre os diferentes níveis de prestação no mesmo episódio. O produto final deixa de ser um doente saído de internamento ou um episódio de consulta em ambulatório para um pacote de serviços (mais amplo) que resulta da integração das etapas de produção. 43 Num sistema integrado de serviços de saúde, os utentes podem movimentar-se entre os diferentes níveis de cuidados, sem necessariamente seguir uma trajetória linear, cuja entidade responsável pela sua saúde é a mesma (12) (27). Nesta realidade, não podemos afirmar que as unidades prestadoras de cuidados de saúde tem como produto final o bem “saúde”, uma vez que seria sinónimo de não contemplar a significância crítica da não standardização do input e da incerteza (risco) presente na prestação de cuidados. A hereditariedade, a prévia morbilidade, as comorbilidades são razões para justificar que os mesmos procedimentos produtivos possam não gerar necessariamente os mesmos resultados (27), portanto deverão ser geridos numa perspetiva de coordenação. O fomento da interdependência entre os níveis de cuidados suscitado pela integração da função produção encontra estritamente conectado com o conceito de cadeia de valor, que pode ser definida como o conjunto de atividades desenvolvidas para desenhar, produzir, promover, distribuir um determinado produto representando a sequência relacional dos processos de produção de uma organização (91). A necessidade de cada ato/ atividade acrescentar valor à sua cadeia de produção (ou cadeia de produção de valor), permite, de acordo com Foreman e Roberts (1991) (92) ser aplicada a um sector cujo serviço seja um continuum. Em saúde, a cadeia de valor é sinónimo do continuum dos cuidados prestados e inclui não só os serviços de prestação direta de cuidados mas também as atividades de suporte. A aplicação prática deste conceito nas organizações de saúde, resulta da necessidade dos serviços e bens incorporados na cadeia de produção de prestação de cuidados deverem contribuir para a geração de valor global do output final. A realização de determinada análise clínica, a prescrição de um medicamento ou a decisão de internar ou não um doente são atos que apenas deverão ser executados se acrescentarem valor (qualidade e eficiência) ao processo de produção. A perspetiva interna da gestão da produção é apenas uma das suas componentes. Mormente motivado por fatores associados ao financiamento, o “novo” sistema de produção exige das organizações integradas uma maior atenção para a gestão da procura (variáveis externas), no sentido do seu estudo casuístico, suas características de severidade, seus determinantes de saúde, pois se em rigor, em esquemas de pagamento pela produção, mais volume significa mais receitas, em modelos capitacionais, mais volume significa menos lucro (9). O desenvolvimento de sistemas de ajustamento pelo risco e de modelos de avaliação de desempenho das organizações constituem duas peças fundamentais para a criação de valor em saúde (4). 3.3.8. Aspectos organizacionais da integração de cuidados Por motivos relacionados com a estrutura de mercado da saúde (oferta, procura e bem), as suas organizações predicam particularidades e especificidades que lhe conferem um elevado grau de complexidade na sua gestão face a outras organizações ditas “convencionais” (93) (94). Se o grau de complexidade da gestão organizacional individual é elevado, este parâmetro ainda se torna mais problemático quando 44 encaramos a função prestação como integrante de um sistema que deve gerir todo o conjunto de organizações diferentes níveis de cuidados. Um dos aspetos centrais na gestão de unidades que prestam cuidados de saúde é a definição das suas funções, responsabilidades e incentivos ao nível interno (95). A forma como estas atribuições se encontram dispostas na organização é habitualmente traduzida num organigrama e vulgarmente conhecida como a sua estrutura organizacional. Segundo Williams (1992) (78), um bom desenho da estrutura organizacional não garante o sucesso mas um mau impede-o. De acordo com Leatt, Shortell e Kimberly (2000) (96), a estrutura organizacional é uma realidade dinâmica e evolutiva que pode sofrer influências, quando: a organização atravessa problemas ao nível dos resultados obtidos; existe uma alteração do contexto externo; são criados novas linhas de produtos ou serviços ou; há uma mudança na liderança da organização. Da aplicação da teoria da contingência às organizações, resulta a necessidade destas lidarem simultaneamente com a diferenciação e integração do trabalho desenvolvido. A diferenciação passa pela necessária divisão do trabalho em funções específicas e a integração pela coordenação das diferentes unidades operacionais ou funções (67). Para representação dos diferentes desenhos organizacionais utilizados pelas unidades prestadoras na tradução do seu processo de produção - continuum de cuidados -, Charns e Tewksbury (1993) (67), identificam a escala que pode ir de um desenho funcional a um desenho por programa de doença. Esquema 4 - Estrutura organizacional de unidades prestadoras de cuidados de saúde Integração por programa Diferenciação por função Desenho Funcional Desenho Divisional Desenho Matricial Desenho Paralelo Desenho por Programa Fonte: Adaptado de Shortell e Kaluzny (2006) (1) e Parker et al. (2001) (44) O desenho divisional é a forma organizacional mais tradicional e próxima da que existe atualmente nos hospitais portugueses, onde são formadas unidades de acordo com a natureza das especialidades (eminentemente) médicas ou cirúrgicas. Com este 45 desenho organizacional, consegue-se descentralizar a tomada de decisões e garantir um elevado grau de autonomia clínica. Por sua vez, o desenho matricial envolve a implementação de mecanismos de coordenação lateral e fluência de informação na organização. Baseia-se num sistema de autoridade duplo, por programa e por função. O esquema 5 reflete esta forma organizacional, aplicado à doença psiquiátrica. Esquema 5 - Desenho matricial da organização de um Programa de Gestão da Doença Psiquiátrica CEO Gestão de Programas Doença de Alzheimer Depressão Esquizofrenia Enfermagem Gestão Funcional Psicologia Terapia Ocupacional Fonte: Adaptado de Shortell e Kaluzny (2006) (1) Diz-se que estamos na presença de um desenho por programa ou por linha de produto quando existe um responsável pela gestão de um produto ou grupo de produtos. Na prática trata-se de um centro de responsabilidades, com custos e proveitos associados, onde devem ser considerados os recursos disponíveis e a sua coordenação funcional em torno de determinado problema de saúde. É a forma organizacional predominante em sistemas integrados como é o caso da Kaiser Permanente. Um dos aspetos fundamentais desta forma organizacional é a escolha dos produtos que integram, de forma agrupada, determinado programa. Similaridades relacionadas 46 com a sua natureza de produção, tecnológicas, de mercado, de distribuição ou de utilização de recursos (sobretudo humanos) poderão constituir critérios que darão coerência à lógica de formação dos programas oferecidos por uma unidade prestadora de cuidados de saúde. Segundo Leatt, Shortell e Kimberly (2000) (96) os programas mais comuns poderão ser: cardiologia, oncologia, reabilitação, promoção da saúde, abuso de substâncias, cuidados da mulher e da criança e cuidados continuados. Os fatores críticos de sucesso de uma estrutura organizacional assente em programas de saúde são (96): A gestão de um sistema de informação que interligue dados clínicos, financeiros e de produção por doente; Bom sistema de contabilidade que permita desagregar custos e proveitos de forma a serem corretamente imputados às respetivas unidades; Suporte em áreas como o planeamento, marketing e finanças; Existência de sistemas de incentivos que encorajem a inovação e o risco; Envolvimento dos profissionais no processo de produção dirigido ao consumidor; Alinhamento entre autoridade e responsabilidade; Capacidade de comunicação entre diferentes unidades operacionais e flexibilidade para o trabalho em equipas multidisciplinares; Esquema 6 - Exemplo da organização de Programas de Gestão da Doença Programas por Doença Serviços Clínicos Hotelaria Diabetes Cancro Asma MCDT Farmácia Gestão e incentivos comuns Fonte: Adaptado de Piro e Doctor (1997) (97) 3.3.9. Grau de integração Uma das questões frequentes no âmbito da integração vertical prende-se com o grau de integração das organizações que prestam cuidados de saúde. Deste tema resultam duas perguntas pragmáticas: 47 Qual o grau ótimo de integração para determinada realidade? Qual o grau de integração atual de determinada organização? No que respeita à primeira questão, pode afirmar-se que o movimento de integração deve ser implementado até ao ponto onde não existam mais ganhos em saúde para a população mediante um determinado nível de eficiência económica e técnica ou viceversa. A este respeito, Rocha (1997) (94) afirma que a integração deve realizar-se até ao momento em que esta se possa fazer sem excessos, adiantando também que a integração completa é uma dimensão não alcançável pelos esquemas densos, impenetráveis e complexos que as soluções integradas acabam por gerar. De acordo com Brown e McCool (1986) (12), dificilmente face à complexidade das organizações prestadoras se atingirão plenos graus de integração. No mesmo sentido, Galvin (1995) (71) considera que ainda nenhuma organização atingiu uma integração completa. Se é possível saber até onde se pretende ir, porém, a decisão de integrar não é uma simples decisão binomial de um ou zero, extrema, mas envolve um balanço entre os níveis intermédios de integração (2). A assunção de que não existem soluções perfeitas nem modelos puros, detém de forma inerente a necessidade de existência de escala gradativa que permita classificar o grau de integração das organizações de saúde. Foram realizados diversos estudos, abordando várias perspetivas (estrutura, processos e resultados) que tentaram estipular o grau de integração das organizações prestadoras de cuidados de saúde (98) (82) (59) (99). A este nível, destaca-se o modelo específico desenvolvido por Ahgren e Axelsson (2005) (100) para medição da integração funcional, cujas fases são representadas pelos seguintes graus: Completa segregação: não existe nenhuma espécie de integração entre unidades e serviços, o seu funcionamento é autónomo e independente; Interligação: diz-se que estamos na presença desta fase de integração quando existe uma boa comunicação entre profissionais e uma adequada referenciação de doentes para as devidas unidades no tempo certo. As diferentes unidades reconhecem quem é responsável por cada unidade. O exemplo prático de presença de Interligação é a existência de guidelines que descrevam quais os procedimentos a realizar e por quem; Coordenação em rede: apesar de se tratar de um grau de integração mais estruturado, continuamos nesta realidade a deter unidades autónomas, habitualmente as que já existiam antes do movimento de integração. Neste grau, pretende-se coordenar os diferentes serviços de saúde através da partilha de informação e simultaneamente gerir o processo de transição entre diferentes unidades de produção. Habitualmente não existem, no entanto, gestores destas redes. As “cadeias de cuidados” são exemplos deste grau de integração; Cooperação: trata-se de um grau de integração semelhante à Coordenação em Rede, mas difere deste no que respeita à alocação de gestores de cada uma 48 das redes existentes. Consegue-se identificar em cada uma das redes quem é o seu responsável, mantendo, no entanto, as diferentes unidades existentes; Integração completa: significa que os recursos de diferentes unidades são dispostos de forma a gerar apenas uma unidade responsável pela gestão dos recursos no seu conjunto criando desta forma uma nova organização. O grau de integração entre organizações pode, de acordo com os autores, variar entre a completa segregação e a integração completa. O grau de integração atribuído pela aplicação desta escala não é sinónimo do ótimo funcionamento do continuum, porque na verdade uma interligação entre unidades pode obter melhores resultados do que uma integração completa. 3.3.7. Potencialidades da integração vertical O processo de integração vertical de cuidados de saúde traduz uma atuação que intrinsecamente detém algumas potencialidades tendentes a justificarem a sua utilização enquanto instrumento de gestão em organizações prestadoras de cuidados de saúde. De uma forma não hierarquizada, resumem-se de seguida alguns dos objetivos perseguidos/ potenciais ganhos proporcionados pela integração de cuidados de saúde: Poder de mercado: com o alargamento do escopo das atividades desenvolvidas anteriormente, emerge de forma natural uma estrutura ampliada com maior poder de intervenção no mercado, que se traduz numa vantagem negocial face aos parceiros externos – sobretudo fornecedores -, seja no ciclo operacional de exploração, seja na capacidade de recurso ao capital (condições mais vantajosas) (12) (92) (101) (45). Esta capacidade permite também ao nível da gestão interna responder de uma forma mais célere e flexível a alterações dos condicionalismos externos, visto que o domínio de todo o processo de produção permite um impacto com efeitos mais profundos e mais abrangentes das decisões tomadas. Qualidade assistencial: ao existir uma organização vocacionada para os problemas de saúde, tentando evitá-los e resolvê-los de uma forma coordenada, inter e multidisciplinar, com facilidade de comunicação ascendente e descendente, fluidez na disponibilização da informação e existência de protocolos e guidelines de atuação técnica standardizada assiste-se a uma redução do risco de má prática clínica. Através da integração consegue-se reduzir a variação clínica, os erros médicos e consequentemente incrementar os padrões de qualidade assistencial (86) (63). Para além de uma maior responsabilidade coletiva (trabalho em equipa), o desenvolvimento do trabalho de uma forma multidisciplinar permite uma permanente formação onde a troca e partilha de conhecimento interpares eleva o know-how individual e necessariamente a sua capacidade de resolução dos problemas de saúde dos utentes. Assim, conseguem-se organizações mais dotadas, mais preparadas e mais evoluídas, parâmetros que permitem incrementar a qualidade assistencial aos consumidores. 49 Focalização no utente: com um sistema de prestação integrado, entende-se a produção como um processo contínuo mais centrado nas necessidades dos consumidores (suas doenças) do que nos prestadores (nas especialidades e serviços de saúde). Esta mudança permite responder melhor às especificidades e características individuais de cada utente através de processos de ajustamento pelo risco (severidade da doença, a sua morbilidade e co-morbilidade). Por outro lado, as características holísticas da organização permitem criar um sentimento de unidade que transparece como um holograma para o utente, onde a interligação e coordenação entre os diferentes níveis de prestação não deverá ser percecionado pelos clientes. A facilidade de acesso a uma única entidade, sem fronteiras identificáveis, reduz o sentimento de desorientação característico do consumidor de cuidados de saúde. Desta forma, conseguir-se-á atingir um maior grau de satisfação por parte dos utentes que pode, em larga escala, criar outputs sociais altamente valorizados para a comunidade que serve (101), beneficiando a dicotomia relacional entre organização prestadora e consumidores de cuidados de saúde. Promoção do Bem-estar: as realidades integradas são conectadas com sistemas de financiamento de base capitacional, situação que conduz a uma prioridade de atuação ao nível das fases primárias de doença, onde são privilegiadas a atividades relacionadas com a promoção da saúde e prevenção da doença. A mudança de paradigma dos atuais sistemas de saúde centrados no tratamento da doença é provocada por um novo core business centrado na manutenção do bemestar geral da população. Com uma nova realidade organizacional, deve-se caminhar para uma visão integrada onde o objetivo não é resolver especificamente determinada situação de doença, mas contribuir para um melhor estado de saúde global do indivíduo (13). Disseminação do risco de negócio: é alcançado pela “não colocação de todos os ovos no mesmo cesto”, isto é, com o domínio do processo de produção pelos diferentes níveis de cuidados de saúde poderemos utilizar a subsidiarização cruzada entre as atividades desenvolvidas ao longo do continnum. Em termos práticos, significa que poderemos sustentar uma linha não eficiente através de outras mais eficientes. A redução dos custos de transação pode ser encarada a dois níveis: na vertente do esforço despendido na comunicação e na contratualização externa de cada nível produtivo ou; na vertente em que são evitadas ou eliminadas as transferências (etapas) entre níveis de cuidados. A redução dos atos e procedimentos desnecessários ao longo do processo de produção é considerada uma das justificações mais salientes das estruturas integradas. O carácter multiproduto do bem saúde e a complexidade inerente ao processo produtivo (por razões de oferta e procura de cuidados) potencia naturalmente a repetição de atos e procedimentos ao longo da cadeia de valor de sistemas de prestação não integrados. A consideração do processo de produção ao longo de todo o continuum permite, antagonicamente, a realização de atividades que evitam a repetição de atos já realizados anteriormente, isto porque existem registos históricos integrados que 50 permitem a uma equipa multidisciplinar a planificação e programação conjunta de toda a atividade a desenvolver (27) (72) (12) (102). A disponibilidade de um processo clínico único integrado, onde coexista informação financeira e clínica potencia os ganhos obtidos nesta realidade. Aqui, as decisões de produção são ponderadas para que apenas sejam efetuados os atos ou procedimentos que acrescentem valor para o consumidor. Por exemplo, a prescrição de determinado fármaco ou a realização de um exame complementar de diagnóstico diferenciado, são decisões que deverão ser ponderadas no contexto global do processo de produção e na possível mais-valia gerada para o consumidor. A redução das atividades mais dispendiosas pode ser conseguida através de duas estratégias: ou pela aplicação de tecnologia substitutiva de ambulatório só possível num contexto estrutural integrado de apoio robusto e coordenação das atividades ou; pelo controlo do processo de produção centrado nos prestadores de primeira linha que potenciará a racionalidade de utilização de cuidados através da incorporação de critérios de custo-efetividade na abordagem a situações de doença. Conrad e Dowling (1990) (2) referem que os ganhos de eficiência não se centram tanto ao nível dos custos unitários, mas na relação de utilização de inputs entre as diferentes etapas da prestação de cuidados, através da substituição do uso menos dispendioso das modalidades de tratamento dos doentes agudos, através do aumento de promoção e prevenção ou da utilização de cuidados ambulatórios. Economias de escala: através da coordenação dos vários níveis de cuidados e um aumento significativo de poder de penetração no mercado, poderão surgir economias de escala (administrativas e/ou clínicas) resultantes do crescimento da produção em termos quantitativos e qualitativos. Esta potencialidade permite melhorar os níveis de eficiência económica via redução do custo da unidade de produção e simultaneamente rentabilizar a capacidade tecnológica instalada. Tipicamente, conseguem-se atingir economias de escala em fenómenos de integração horizontal de cuidados de saúde. Minimização de conflitos: A gestão conjunta de dimensões tão significativas e críticas para a gestão de organizações de saúde como a sua produção, financiamento e avaliação de desempenho, potencia um alinhamento estratégico e operacional comum das etapas do continuum que uma boa articulação entre diferentes níveis de cuidados de saúde dificilmente conseguirá alcançar. A gestão autónoma das entidades responsáveis pela prestação de serviços de saúde nas diferentes etapas de produção pode proporcionar divergências estratégicas, competição por recursos comuns ou perdas de qualidade assistencial (desresponsabilização pelo output produzido). 3.3.10. Barreiras à integração vertical de cuidados de saúde Apesar das potencialidades inerentes ao processo de integração, a verdade é que de uma forma geral os estudos apresentados sobre os resultados da integração de cuidados, produzidos sobretudo nos EUA, não são conclusivos (103). Se encontramos evidência que poderá aduzir algum ceticismo associado ao movimento de integração, como são os casos dos estudos de Conrad e Dowling (1990) (2), Cody (1996) (102), McCue e Lynch (1987) (104), Walston, Kimberly e Burns (1996) (105) ou Shortell (1988) (106), também o estudo de Feachem, Sekhri e White (2002) (107) por outro 51 lado, evidenciou as vantagens comparativas do exemplo mais proeminente de prestação de cuidados integrados nos Estados Unidos, a Kaiser Permanente, face ao NHS inglês: neste estudo concluiu-se que o sistema norte americano conseguiu atingir uma melhor performance ao mesmo custo, utilizando-se como possíveis fatores explicativos a real integração de cuidados, a tecnologia de informação utilizada, as condições concorrenciais de mercado e um superior nível de custo-efetividade nos tratamentos hospitalares. Importa também salientar a este nível que muitos estudos sobre o impacto da coordenação na prestação de cuidados limitaram a sua amostra a doentes onde é evidente uma única doença, opção que limita a sua capacidade de demonstração da coordenação na obtenção de outcomes em saúde com necessidades complexas (63). O mesmo autor propõe a realização de estudos que incluam uma ou mais comorbilidades em doentes crónicos para deteção do valor da coordenação de cuidados. As principais dificuldades sentidas nos processos de integração vertical de cuidados que poderão ter influenciado alguns argumentos menos favoráveis foram identificadas por Shortell et al. (2000) (82) e resumem-se: Na falha de interpretação do novo core business originado pelas realidades integradas. Durante a primeira metade da década de 90, a prioridade da American Hospital Association residiu na mudança de paradigma nos serviços prestados até então, devendo ser redirecionado para uma prestação de cuidados centrada na rede de cuidados à comunidade (108). Sistemas integrados de prestação como a Kaiser Permanente, Mayo, Geisinger, Lovelace ou Scott & White consideram a sua expansão da rede de cuidados primários como uma das estratégias mais importantes da última década (86). O novo enfoque estratégico, sobretudo direcionado para os cuidados de primeira linha em detrimento da utilização de cuidados diferenciados que exigem mais consumos e técnicas diferenciadas, não foi compreendido nem executado por muitas HMOs que consequentemente não se conseguiram afirmar neste novo contexto. A alteração da prioridade estratégica, agora centrada nos cuidados de saúde primários é um aspeto extremamente difícil de concretizar, uma vez que o hospital continua a ser encarado pelos diferentes atores do sistema como uma “cash cow” (85). Por outro lado, algumas HMO concentraram esforços estratégicos, erradamente, sobretudo nas dimensões administrativas que permitiram obter ganhos imediatos oriundos da geração de economias de escala e de uma maior capacidade negocial, mas que foram limitados no tempo. As verdadeiras dimensões de integração, aquelas que se prendem com as dimensões funcionais, foram também as mais difíceis de colocar em prática. Na resistência provocada pelas diferentes culturas organizacionais das unidades que integraram a nova organização. As unidades integradas surgiram historicamente da agregação de diferentes organizações prestadoras de cuidados de saúde, não tiveram origem em novas realidades sem histórico. Neste contexto, a realidade integrada contempla todo o conjunto de culturas e valores provenientes das anteriores formas organizacionais, que naturalmente 52 devem ser adaptadas a uma nova situação. Os aspetos culturais são os mais difíceis de transformar e alterar, pelo que as diferenças existentes nem sempre conviveram de forma pacífica e conciliadora. Ao foco nas “cash-cows”. Outra das dificuldades identificadas ao nível do processo de implementação de realidades integradas, prende-se com o facto de serem concentrados esforços estratégicos nas “cash-cows”, ou seja, nas organizações que detém o maior orçamento e consequente capacidade para gerar o maior volume de lucro financeiro – habitualmente os grandes hospitais. Se anteriormente, mais produção significava mais lucro, em ambientes integrados com pagamento capitacional, mais produção significa mais recursos e mais custos empregues. À proximidade polar existente entre as organizações. Naturalmente, a integração vertical de cuidados de saúde ocorre numa perspetiva geográfica de proximidade. As organizações que constituíram novas realidades integradas, formaram-se a partir de outras instituições que anteriormente se situavam geograficamente próximas e que se habituaram a concorrer entre si por recursos humanos, técnicos ou mesmo orçamentais. Esta situação, aliada a um grau de desconfiança inicial, conduziu a posturas que enveredaram por uma competição pelos recursos disponíveis em detrimento de estratégias de partilha e concertação. Também a posse de informação privilegiada sobre cada realidade individual foi utilizada em benefício próprio, não permitindo uma cooperação mútua. À desigualdade relativa existente entre instituições. Outra das barreiras identificadas ao nível da integração vertical, deveu-se aos problemas criados com a agregação de organizações com diferentes dimensões estruturais. Os processos de integração em termos históricos partiram da iniciativa hospitalar (82). Uma das consequências decorrentes desta situação foi a “guerrilha” constante habitualmente proporcionada pelas entidades com menor dimensão, reivindicando a perda do controlo dos processos de gestão e produção ou a discriminação não preferencial ao nível orçamental. Esta postura, para além de contrariar o prosseguimento dos objetivos genéricos da instituição dificulta a operacionalização das estratégias definidas no sentido da obtenção de ganhos comuns. 3.4. Integração de cuidados: reformas em curso nos EUA e Inglaterra Após o enquadramento conceptual sobre a integração de cuidados de saúde, importa também rever qual o estado de arte do seu desenvolvimento aplicacional. Para o efeito são tratadas sobretudo duas realidades: a americana (Estados Unidos da América) e a inglesa. 3.4.1. Estados Unidos da América (EUA) Os EUA apresentam uma elevada despesa em saúde, cifrada - em 2011 - em 17,9% do Produto Interno Bruto (PIB) (109). Em adição, o sistema de saúde norte-americano tem apresentado elevadas - ainda que tendencialmente decrescentes - taxas de 53 crescimento da despesa. Assim, no contexto de um sistema de saúde dominado por uma matriz competitiva com pagadores e prestadores de natureza privada, um dos principais objetivos das principais reformas elencadas ao longo das últimas décadas visou aumentar os níveis de eficiência e conter a despesa de saúde. Entre estas reformas, destacam-se transformações de índole organizacional, designadamente as HMOs (Health Maintenance Organization), PPOS (Preferred Provider Organizations), e mais recentemente, as ACOs (Accoutanble Care Organizations). De seguida detalha-se a reforma consubstanciada pelas ACOs, incluindo uma breve descrição do processo evolutivo histórico corporizado pelas HMOs e PPOs. As HMOs - criadas em 1973 - visaram potenciar a integração vertical de cuidados de saúde (com um pacote de serviços fixo variável) para um determinado número de utentes. Primariamente, as HMOs visaram colmatar o crescimento da despesa em saúde, mediante um maior controlo dos níveis de utilização de cuidados de saúde. No entanto, as restrições de acessibilidade exercidas sobretudo através do ponto de contacto entre o utente e o sistema – i.e. o médico de cuidados primários – promoveu uma crescente insatisfação do utente e dos prestadores face ao sistema de saúde protagonizado pelo HMOs. Pelo referido, e segundo Miller e Luft (2002) (110), no cômputo geral e apesar da controvérsia verificada, os HMOs parecem não ter atingindo os objetivos a que se propuseram. Como consequência da insatisfação crescente, os utentes dos seguros norteamericanos abandonaram progressivamente o modelo organizacional corporizado nas HMOs em prol de sistemas com menor controlo do nível de utilização, designadamente as PPOs. As PPOs eram semelhantes ao modelo presente nos HMOs, com duas diferenças fundamentais: (1) o utente detinha uma maior liberdade de decisão, podendo recorrer com maior liberdade aos prestadores sem o controlo exercido pelo médico de cuidados primários (presente no modelo HMOs) e a rede prestadora previamente definida; e (2) os prestadores eram remunerados maioritariamente pela produção realizada, numa lógica de pagamento por ato. A análise retrospetiva da despesa total de saúde permite concluir que a redução histórica das taxas de crescimento da despesa se deveu mais à evolução favorável dos custos (por via do preço) do que propriamente a uma superior gestão dos cuidados de saúde. De facto, as reformas organizacionais, seja as HMOs ou as PPOs, foram incapazes de reverter a espiral de crescimento da despesa, devido à incipiente integração de cuidados sobre a dimensão clínica. De facto, a manutenção de reduzidos níveis de integração, a par do crescimento da despesa em contexto de insuficiência financeira, agudizou a necessidade de mudanças estruturais no fragmentado sistema de saúde norte-americano. Para melhor ilustrar esta necessidade 54 de reformas, basta referir que a manutenção das taxas históricas de crescimento de despesa levaria à bancarrota da Medicare Trust Fund no ano de 2017 (111). No topo destas reformas, situa-se as ACO, corporizadas num diploma legal de 2010 (comummente designado de ObamaCare, em referência ao atual presidente dos EUA). De seguida procede-se a uma análise descritiva da(o)s: (i) descrição e objetivos da reforma; (ii) estrutura organizacional das ACOs; (iii) respetivo modelo de financiamento, a nível organizacional e individual; e (iv) impacto esperado e observado sob diversas dimensões de análise. A presente metodologia de análise baseou-se numa revisão de literatura, procurando transmitir uma perceção holística da realidade das organizações ACO e não a especificidade relativa a uma determinada área assistencial ou grupo profissional. i. Descrição do conceito e objetivos da reforma A ACO compreende a agregação legal voluntária de um conjunto de prestadores, dos cuidados primários aos hospitalares, responsáveis pelo contínuo de cuidados de saúde para uma população não inferior a cinco mil habitantes (112). As ACOs visam dar resposta a beneficiários do programa Medicare e/ou sistemas de seguro privados. Por seu lado, na perspetiva dos utentes, verifica-se que a atribuição dos beneficiários a uma ACO específica é realizada tendo por base os cuidados primários de saúde. Por conseguinte, o papel dos cuidados primários no contexto dos ACOs é nuclear (113) (114). No entanto, ao contrário das HMOs, os utentes detêm total liberdade de escolha do seu prestador independentemente da ACO a que se encontram adstritos (conceito de alinhamento e não consignação obrigatória) (115) A ACO corporiza uma componente chave da iniciativa “Value-based purchasing” levada a cabo pela Medicare que visa uma maior criação de valor por unidade monetária despendida. As ACOs apresentam como objetivos potenciar – em simultâneo - o aumento dos índices de qualidade e eficiência (111). No que respeita à eficiência importa referir o claro enfoque na redução dos custos totais (111). Para atingir estes objetivos, e ao contrário de reformas anteriores, concebeu-se a criação de um modelo de incentivos financeiros em prol da integração e coordenação clínica, promovendo a accountability de todo e qualquer prestador integrante de uma ACO. Tanto na perspetiva dos pagadores como dos prestadores, as ACOs representam uma solução intermédia entre as HMOs, com um elevado controlo dos níveis de utilização, e as PPOs, com maior liberdade de escolha, menor controlo de utilização e, por conseguinte, um maior custo adstrito. No entanto, por oposição às HMOs, nas ACOs salientam-se importantes divergências como a existência de liberdade de escolha sem rede de prestadores pré-definidas e de um modelo de financiamento baseado em medidas de desempenho. Esta última novidade estrutural visa assegurar a efetiva accountability, isto é, a responsabilização das ACOs, complementando potenciais unidades de pagamento pré-existentes. 55 Em jeito de síntese, o modelo das ACOs baseia-se em três princípios basilares: (1) organizações constituídas por diferentes tipologias de entidades prestadoras e coletivamente responsáveis pelos níveis de eficiência e qualidade ao longo do contínuo de cuidados de uma determinada população; (2) reforma do modelo de financiamento, tanto ao nível das instituições como dos indivíduos, que premeie a melhoria contínua de qualidade e redução do crescimento da despesa de saúde em contexto de partilha de risco financeiro; e (3) a implementação de modelos de avaliação de desempenho fiáveis que suportem as ACOs (111) (116). ii. Estrutura organizacional Conforme referido, as ACOs são estruturas legais que compreendem a integração – real ou virtual - de hospitais, unidades de cuidados primários e/ou conjunto de médicos hospitalares para a prestação de cuidados integrados de saúde. De salientar ainda que as entidades integrantes da ACO tem de assinar um contrato válido por uma duração de três anos com a Medicare, sem possibilidade prévia de opting-out (117). Os requisitos supracitados são obrigatórios para assegurar a accountability, ou seja, a responsabilização pelos resultados obtidos. Tal apenas é possível se a nova organização detiver a capacidade legal para, em primeiro lugar, deter incentivos próprios e, em segundo, distribuir incentivos financeiros ao nível individual. Diferentes tipologias de entidades prestadoras podem – de forma isolada ou coletiva constituir uma ACO. De acordo com Shortell e Casalino (2008) (118) e Shortell, Casalino e Fisher (2010) (111) existem diversos tipos de organizações que podem incorporar um ACO, a saber: 1. Diferentes tipos de grupos de médicos ou organizações sob a tutela de médicos prestadores. Nesta chancela inclui-se Grupos Médicos de Prática Multidisciplinar (GMPM) e Associações de Prestadores Independentes (API); 2. Organizações de saúde centradas numa unidade hospitalar. De referir a importância do hospital deter médicos com vínculo laboral com a unidade e não em regime de prestação de serviços. Esta situação decorre da necessidade previamente referida da liderança e capacidade de decisão da ACO residir em entidades diretamente envolvidas (e responsabilizáveis) pelo processo de prestação de cuidados; 3. Organizações integradas de planeamento e prestação de cuidados de saúde, compreendendo unidades hospitalares, médicos adstritos à unidade e outro tipo de prestadores. A Figura 1 apresenta quatro potenciais combinações de prestadores que podem constituir um ACO. Apesar de ser esperado que as ACOS se baseiem nas quatro estruturas previamente listadas, poderá verificar-se o agrupamento diverso de entidades em função da realidade específica de cada região. 56 Figura 5. Possíveis configurações de ACOs norte-americanas (112) (115). De acordo com Devers e Berenson (2009) (112) – e independentemente da estrutura organizacional - existem três caraterísticas essenciais para o adequado funcionamento de uma organização ACO, a saber: (1) a capacidade de proceder a uma gestão integral de cuidados ao longo de diversas instituições de saúde; (2) a gestão prospetiva de recursos financeiros; e (3) a utilização de indicadores de desempenho holísticos, robustos e exequíveis. No entanto, ainda segundo os mesmos autores, diversas estruturas organizacionais norte-americanas têm potencial para deter estas caraterísticas. Por conseguinte, diversas estruturas existentes podem ser consideradas adequadas para constituir uma ACO. Traçando um paralelismo com a realidade nacional, as Unidades Locais de Saúde (ULS) compreendem – em teoria - o equivalente ao estabelecido no modelo 4, ou seja, são responsáveis não só pelo planeamento como pela própria prestação de cuidados de saúde à sua população adstrita. No entanto, na prática, a integração vertical corporizada pelas ULS, ainda carece de um verdadeira integração sob diferentes dimensões e insuficiente autonomia no planeamento de cuidados. Assim, as diferentes ULS nacionais, atualmente em distintos estadios de evolução, podem ser equiparadas aos modelos 3 e 4 ilustrados na região. Apesar das diferentes possibilidades organizacionais de ACOs, a presente reforma foi concebida de forma a garantir que apenas prestadores possam criar estas organizações. Assim, visou-se garantir que o controlo e liderança efetiva da ACO permaneça na esfera de entidades prestadoras. Por outras palavras, visou-se impedir que entidades pagadoras, designadamente seguradoras, possam ter um controlo efetivo da nova sociedade criada (i.e. o novo ACO). O supracitado não significa que as entidades seguradoras devam ser excluídas da reforma. Pelo contrário, considerou-se relevante o seu papel potencial enquanto parceiro sinérgico da reforma (sobretudo em ACOs de menor dimensão) sempre e quando a sua participação societária não seja maioritária. Por outro lado, a dimensão da ACO é comummente apontada como um fator competitivo devido a economias de escala diversas, designadamente ao nível da implementação de plataformas informáticas ou programas de integração (119). No 57 entanto, o inverso, ou seja, deseconomias de escala também devem ser salientadas. ACOs de elevada dimensão tendem a apresentar uma menor coesão cultural e um sentimento de menor pertença e dedicação por parte dos médicos prestadores (119). Assim, também no que respeita à dimensão, parece não haver uma solução ótima para todo e qualquer tipo de prestador e ACO. Em suma, considera-se a existência de uma variedade de tipologias de organizações que apresentam potencial para prestar cuidados de forma custo-efetiva sobre a égide de uma ACO (119). Para além do tipo de estrutura, outras variáveis como a sua evolução e cultura enquanto organização ou o devido alinhamento dos objetivos da própria ACO e os seus profissionais, em particular os médicos, são igualmente importantes (119). iii. Modelo de financiamento a) Institucional Conforme referido, diversas ACOs apresentam uma elevada diversidade na sua estrutura organizacional. Por este motivo, a par da realidade variável no que respeita ao modelo de financiamento pré-existente (e.g. pagamento por ato, produto ou capita), considera-se que diferentes ACOs devem apresentar modelos de financiamento (e unidades de pagamento) diversos. Shortell, Casalino e Fisher (2010) (111) propõem um sistema de classificação baseado em três níveis: ACO de nível 1, 2 ou 3 (ver Figura 6). A classificação atribuída varia em função do: (1) risco financeiro assumido pela ACO; e (2) nível de partilha dos resultados entre o pagador e a ACO. Figura 6. Sistema de classificação de ACO com base no seu grau de evolução, partilha de risco financeiro e respetiva unidade de pagamento preferencial adstrita (111) (117). 58 Em simultâneo, e de acordo com o estadio evolutivo de cada ACO, a unidade de pagamento preferencial do modelo de financiamento adstrito aos diversos tipos de ACOs é também variável. Assim, conforme ilustrado na Figura 6, as ACOs de nível 1, 2 e 3 devem ser financiados através de modelos cuja unidade de pagamento preferencial é, respetivamente, o pagamento por ato, pagamento por episódio e capitação total ou parcial (111). O grau de flexibilidade do modelo de financiamento, a par da estrutura organizacional das ACO, decorre da manifesta variação do mercado de saúde no espetro norte-americano, permitindo – em teoria – um processo gradual de ajustamento do mercado (115). Paralelamente, quanto maior o risco financeiro transferido do pagador para a ACO, maior será também a potencial recompensa financeira. Todas as ACOs com acordo de beneficiários da Medicare participam num esquema de partilha das poupanças geradas (programa Shared Savings, que sucedeu ao programa ACO Pioneer, a experiência piloto que durante três anos abrangeu 32 ACOs) (120). Esta (re)distribuição de verbas financeiras decorre de um mecanismo de pagamento por desempenho onde o pagador e a ACO partilham uma proporção das poupanças decorrentes de uma despesa total inferior à estimativa estabelecida como meta. A referida proporção de poupanças a distribuir baseia-se em duas variáveis: (1) a estratégia de partilha de risco financeiro inicialmente adotada (estipulando-se como percentagem máxima de partilha 50% ou 60% do valor total de poupanças geradas) (114); e (2) um sistema de classificação de pontos por indicador em análise. Este sistema, conforme ilustrado na Tabela 4, encontra-se corporizado por 33 indicadores distribuídos por quatro componentes (121) (122) (123). Tabela 4. Distribuição do número de indicadores por componente em análise (123) Componente em análise Número de indicadores Satisfação do utente com os cuidados prestados Coordenação de cuidados Medicina preventiva População em risco 6 8 12 Total 33 7 Caso o nível de despesa total tenha decrescido face ao estabelecido como meta, a ACO encontra-se elegível para ser ressarcida numa proporção do valor absoluto de poupança gerado. No entanto, se esta poupança tiver sido obtida em detrimento de determinados indicadores de qualidade, a ACO receberá apenas uma percentagem do nível máximo elegível, na direta proporção da sua pontuação com base no sistema de pontos expresso em (2). A título exemplificativo, se uma ACO apenas obtiver uma proporção dos pontos possíveis, apenas terá lugar ao pagamento parcial do valor máximo elegível (50% ou 60%) de poupanças geradas (115) (124). No entanto, há 59 exceções ao referido, visto que o nível total de incentivos (positivos ou negativos) de cada ACO não pode superar entre 7,5% a 10% do seu orçamento (120). b) Individual Para o sucesso desta reforma é igualmente nuclear que a (re)definição do modelo de financiamento não se esgote na organização, i.e. na ACO, repercutindo-se igualmente no interior da mesma, ou seja a nível individual, dos diversos colaboradores das ACOs. O racional implícito reside numa relação de compromisso entre: (1) a responsabilidade multidisciplinar pelo contínuo de cuidados; e (2) a responsabilização individual com base em indicadores de desempenho e produtividade individual (112) (113). Enquanto a opção (1) potencia o trabalho multidisciplinar, esta também apresenta como desvantagem a exposição de cada indivíduo ao risco de não desempenho coletivo e a consequente menor adesão a este tipo de incentivos. Por outro lado, a opção (2) reforça comportamentos individualistas e não de trabalho em equipa, como seria desejável no contexto holístico de prestação de cuidados (115). Assim, as ACOs tendem a apresentar modelos híbridos, com incentivos de: (a) grupo com base em indicadores de desempenho do ACO; e (b) individuais por via do desempenho individual (112). iv. Impacto esperado e observado A evidência empírica relativa às ACOs é, devido ao breve período temporal decorrido após a sua introdução, naturalmente reduzida. Em adição, qualquer reforma compreende um processo evolutivo de aprendizagem, pelo que seria redutor basear o retorno de uma reforma estrutural unicamente no seu impacto de curto-prazo. a) Impacto teórico esperado As ACOs visam obter um impacto positivo sobretudo ao nível de duas dimensões de análise: eficiência e qualidade de cuidados. Por qualidade subentende-se duas componentes interrelacionadas, a qualidade dos cuidados de saúde prestados e a qualidade de vida da população. O referido significa que os ACOs visam promover a saúde e cuidados preventivos dos seus beneficiários e não apenas – como sucedia anteriormente – prestar cuidados de saúde de elevada qualidade em caso de doença. Por outro lado, no que respeita à eficiência, visou-se, com a transferência de risco financeiro do pagador para o prestador, incutir um incentivo com vista a reduzir o nível de despesa total do sistema de saúde e, consequentemente melhorar os níveis de eficiência. De acordo com Berenson e Burton (2012) (120), as estimativas de poupanças geradas pelos programas de ACO da Medicare, o ACO Pioneers e ACO Shared Savings, ascendem a um total superior a $2 mil milhões durante os primeiros cinco anos de implementação. 60 No que respeita a outra dimensão de análise, a acessibilidade, foi considerado a existência de um impacto neutro (ver tabela 2-6 em Medicare Payment Advisory Commission, 2009) (115). Tal resulta do facto das ACOs, ao contrário de reformas anteriores (como os HMOs), não apresentarem limitações de acesso a uma rede de prestadores pré-definida. Por último, apesar de não referido como foco principal da reforma, é expectável que a reforma apresente impacto positivo ao nível da satisfação do utente (115). b) Impacto observado O Centers for Medicare & Medicaid Services, agência federal norte-americana responsável pelo programa Medicare, anunciou, em comunicado de imprensa a 16 de Julho de 2013, os resultados positivos do primeiro ano do programa ACO Pioneers reforma piloto que antecedeu o atual programa de ACO Shared Savings (125). De referir o alinhamento global positivo entre o impacto teórico e o observado ao nível das dimensões eficiência e qualidade. No que respeita à dimensão qualidade verificou-se que todas as 32 (100,0%) ACO pioneiras obtiveram níveis de qualidade superiores para os 15 indicadores com informação de comparação disponível. No que respeita a dimensão eficiência, e de forma alinhada com o impacto esperado, verificou-se uma redução das despesas totais na perspetiva do pagador, ou seja, da Medicare. Em termos relativos, verificou-se que as ACOs pioneiras apresentaram um crescimento de 0,3% da despesa total por beneficiário (para um universo de 669 mil beneficiários), por oposição aos 0,8% observados ao nível de beneficiários equivalentes adstritos a outro tipo de entidades (125). Em termos absolutos, os níveis de poupança brutos gerados pelos ACOs estimam-se na ordem dos $87,8 milhões, dos quais $33 milhões permaneceram na esfera da Medicare. A redução proporcional da despesa por beneficiário resultou maioritariamente da redução das: (1) taxas de utilização de internamento; e (2) readmissões hospitalares. No entanto, os resultados supracitados para a dimensão eficiência encerram em si uma importante variabilidade individual. De um universo de 32 ACOs pioneiras, 13 (40,6%) receberam incentivos financeiros adicionais resultantes da partilha das poupanças geradas para a Medicare. No extremo oposto, apenas 2 (6,3%) apresentaram um aumento da despesa superior à meta estabelecida, tendo por conseguinte, recebido incentivos negativos decorrentes da partilha dos prejuízos gerados (125). Para um maior detalhe individual, aconselha-se a leitura de Patel e Lieberman (2013) (126). Um total de 30 das 32 (93,8%) ACOs pioneiras pretendem continuar a participar na reforma. Esta situação, amplamente publicitada pelo Centers for Medicare & Medicaid Services, é fundamental para garantir a evolução e maturação da reforma. Conforme se ilustra na 61 Figura 7, referente à distribuição geográfica das ACOs norte-americanas à data de Janeiro de 2013, verifica-se uma importante assimetria nacional no ritmo de formação de ACOs, permanecendo uma vasta área territorial por cobrir. Estados com uma maior proporção de modelos integrados de prestação de saúde, como a Califórnia e a Flórida, apresentaram uma maior adesão inicial à reforma, por oposição a outros Estados, nos quais são dominantes entidades individuais, sem integração vertical de cuidados. Para o supracitado convergem diversas limitações e barreiras à mudança que importa elencar. Figura 7. Distribuição geográfica das ACOs à data de Janeiro de 2013 (RUPRI Center for Rural Health Policy Analysis 2013). Entre as principais limitações e barreiras à implementação de um superior número de ACOs e, não menos importante, a uma maior disseminação territorial, destaca-se a(o): Desconhecimento e utilização do conceito ACO em contextos diversos (114); Utilização histórica da unidade de pagamento de pagamento por ato. As ACOs consubstanciam uma nova estrutura organizacional e um novo modelo de negócio implícito que deverá resultar de um ajustamento temporal progressivo; Dimensão mínima da ACO em termos de número de beneficiários necessária com vista a garantir a sua viabilidade financeira (115). Apesar do critério de elegibilidade contemplar um mínimo de apenas cinco mil beneficiários, evidência financeira apontam para uma dimensão mínima crítica superior a este número (115); Importantes assimetrias e limitações de infraestruturas físicas. Esta situação, a par do papel dominante do hospital na prestação de cuidados, dificulta a 62 constituição de ACOs que não sejam centralizados em torno de uma unidade hospitalar (127); Existência de problemas do foro legal, em particular ao nível da obtenção do consentimento dos diversos beneficiários para partilha dos seus dados (128); Falta de liderança e envolvimento em particular ao nível dos prestadores de menor dimensão. Esta situação pode colocar entraves ao desenvolvimento de novas iniciativas de ACOs, em particular numa fase inicial da reforma; Dificuldade de integração, em particular ao nível da informação. Por motivos similares aos supracitados, organizações de menor dimensão e, por conseguinte, menor capacidade financeira tendem a deter menor capacidade de economias de escala e capacidade de investimento inicial para o desenvolvimento de diversas iniciativas, como registo clínico eletrónico ou plataformas únicas de partilha de informação (clínica e não clínica). Em suma, a literatura analisada, bem como os resultados das ACOs pioneiras e – ainda que de forma não sistemática - das ACOs recentemente cobertos pelo programa da Medicare Shared Savings, converge no sentido de apontar potenciais mais-valias às ACOs. O referido decorre do impacto positivo ao nível da qualidade de cuidados e respetivos níveis de eficiência. No entanto, importa ressalvar-se importantes níveis de variabilidade individual, decorrentes de diversas variáveis específicas à estrutura organizacional de cada ACO. Por fim, e apesar de consubstanciarem uma reforma nuclear, as ACOs não devem ser entendidas como a resposta única e definitiva para o controlo das taxas de crescimento da despesa em saúde. 3.4.2. Inglaterra O serviço nacional de saúde em Inglaterra (designado de NHS - National Health Service) apresenta, à semelhança dos demais sistemas de saúde de países designados por desenvolvidos, importantes limitações e desafios. Em particular, destaca-se a insuficiente integração de cuidados de saúde, não só entre os cuidados primários e hospitalares, mas também entre estes e o setor social. É precisamente neste contexto que têm surgido diversas reformas, de entre as quais se realça o Fundo destinado à Transformação dos processos de Integração (doravante designado de FTI). Em Junho de 2013, o governo inglês criou o FTI, cujo principal objetivo passa por potenciar a integração entre o setor social e o da saúde (129). Neste sentido, o FTI deve ser encarado como um meio para um fim há muito definido. Na prática, o FTI consubstancia o esforço financeiro para operacionalizar a integração entre setores transversais no tratamento e/ou apoio a utentes e/ou cidadãos, particularmente os mais desfavorecidos. No contexto da presente reforma, por integração entende-se a disposição de um conjunto de cuidados e/ou serviços ao dispor do doente, respetivo cuidador e/ou residente que se adapte às suas necessidades específicas e maximize o seu nível de independência (130). O FTI visa primariamente potenciar a qualidade dos cuidados prestados, no âmbito social e de saúde, aos diferentes residentes, utentes e respetivos cuidadores. No entanto, o FTI não se esgota na dimensão qualidade. De facto, a crescente pressão 63 demográfica coloca uma ênfase acrescida na dimensão eficiência e consequente utilização de recursos com base em critérios de custo-efetividade. Assim, o FTI visa contribuir para o aumento dos índices de eficiência ao potenciar o alinhamento entre interesses complementares dos setores social e da saúde. Previamente à atribuição de qualquer verba financeira, as entidades interessadas devem apresentar - até Março de 2014 - um plano detalhado de implementação. Este plano deverá decorrer sob a égide de regulação de conselhos diretivos locais, os Local Health and Wellbeing Boards (LHWB), e compreender o envolvimento de diversos responsáveis, designadamente do: 1. Setor da Saúde, em particular os Clinical Comissioning Groups (CCG). Estes atuam como estruturas intermédias, responsáveis pelo fluxo financeiro de incentivos do orçamento do NHS England para as diversas entidades prestadoras; 2. Setor Social, como a Local Government Association (LGA) e a Association of Directors of Adult Services (ADASS). Ainda no que respeita ao plano de implementação, o FTI compreende duas fases: (1) um período de transição, até 2014/15; e (2) o roll-out ou implementação do programa, em vigor a partir do ano financeiro de 2015/16 (129). Tabela 5. Proveniência das verbas financeiras alocadas à implementação do FTI (129) (131). £1,9 mil milhões de fundo pré-existente em 2014/15, composto por: £130 milhões, previamente adstritos ao setor social, destinados a promover o descanso temporário aos cuidadores; £300 milhões oriundos do fundo de reabilitação previamente alocado ao setor da saúde, por via da contratualização entre o NHS England e os diversos prestadores, negociação essa mediada pelos CCGs; £350 milhões realocados a partir projetos específicos com dotação financeira própria, incluindo £220 milhões destinados à adaptação de instalações para pessoas com deficiências; £1,1 mil milhões provenientes da transferência de verbas do NHS England (£200 milhões atualmente realocados e os remanescentes £900 milhões durante o período de transição em 2014/15). £1,9 mil milhões de realocação adicional de verbas financeiras procedentes do NHS England. £ 1,0 mil milhões destinados ao pagamento, em duas fases, de incentivos com base no desempenho. Apesar das métricas e indicadores específicos ainda se encontrarem por definir, as áreas em análise decorrem de: (1) atrasos na transferência de cuidados; (2) admissões urgentes; (3) efetividade cuidados de reabilitação; (4) admissões em unidades de cuidados de enfermagem e residências assistidas; e (5) satisfação do utilizador do serviço (131). 64 O presente período de transição destina-se a suportar o processo de transformação, com a articulação entre as diversas entidades intervenientes supracitada (129). Como este processo envolve o consumo de recursos, o FTI compreende a atribuição de incentivos anuais na ordem dos £200 milhões, incentivos esses retirados do orçamento do NHS England (129). Atualmente, o programa encontra-se em fase de desenvolvimento junto de 14 unidades piloto que abrangem todo o território inglês (130). Posteriormente, após a fase de implementação, o FTI irá compreender uma dotação financeira anual adstrita na ordem dos £3,8 mil milhões (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.) (129). No entanto, à semelhança do disposto para o cenário de transição, as verbas financeiras disponibilizadas derivam da (re)utilização de verbas financeiras pré-existentes. Conforme expresso na Erro! A origem da referência não foi encontrada.5, cerca de 80% do total, ou seja, cerca de £3 mil milhões decorrem de verbas previamente adstritas ao NHS England. Deste valor, cerca de 37% (£1,1 mil milhões) foi previamente realocado do setor da saúde para o setor social, sendo que os remanescentes 63% (£1,9 mil milhões) correspondem a uma nova realocação de verbas do NHS England para o FTI (129). Ainda que em menor magnitude, importa ainda salientar a alocação de verbas financeiras num total de 21% (£800 milhões) decorrentes primordialmente de diversos fundos previamente adstritos ao setor social (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada.5). Ainda no que respeita à estrutura, designadamente à distribuição das verbas financeiras do FTI – ainda em fase de desenvolvimento - deverá compreender diversas variáveis, designadamente: (1) de índole demográfica; (2) de indicadores de desempenho; e (3) da avaliação qualitativa pelo LHWB da proposta de integração apresentada pelos diversos intervenientes (131). Dada a magnitude global fixa do FTI e as variáveis previamente listadas, depreende-se a existência de mecanismos competitivos de alocação de verbas, onde as melhores propostas de integração tenderão a apresentar um superior nível relativo de financiamento. Para potenciar o seu objetivo chave, o FTI apresenta como uma das principais novidades estruturais a distribuição das verbas financeiras mediante um pool partilhado de recursos entre os cuidados de saúde e o setor social, ou seja, uma utilização comum por parte das entidades pertencentes aos setores social e da saúde (129). Esta decisão estratégica encerra em si a capacidade de potenciar a articulação e integração entre as entidades de ambos os setores. Embora a definição da estrutura e componente legal adstrita ao referido pool não se encontre – no momento da escrita do presente texto - definida na íntegra, verifica-se uma eminente tendência de partilha do risco financeiro entre diversas entidades de ambos os setores. O referido significa que as organizações envolvidas devem efetivamente articular-se entre si com vista a aceder às verbas financeiras contempladas no FTI. Esta situação é tão mais importante visto que a dotação orçamental do FTI foi obtida mediante o desvio de verbas previamente consignadas ao setor social e, sobretudo, da saúde (ver Erro! A origem da referência não foi encontrada. para maior detalhe). Por isso mesmo, os diversos intervenientes não podem ficar imunes ao custo de oportunidade decorrente da não transposição do consubstanciado no FTI. 65 Conforme referido, o governo inglês transfere implicitamente risco financeiro do NHS England, ou seja, do orçamento total adstrito ao NHS England para as diversas entidades intermédias responsáveis pela contratualização de cuidados ao nível dos cuidados hospitalares, no caso os CCG. No entanto, é previsível que esta reforma não se esgote apenas nos CCGs. De facto, é expectável que estes procurem partilhar o risco financeiro com outros parceiros, no caso os próprios prestadores de cuidados de saúde e/ou sociais. Assim, a reforma consubstanciada pelo FTI deverá, num regime de cascata vertical, afetar todos os intervenientes, incluindo as entidades prestadoras de cuidados. Por último, importa referir que 26% das verbas totais do FTI decorre de atribuição de incentivos de pagamento por desempenho. Apesar de se conhecer a magnitude dos incentivos, desconhece-se, de momento, as métricas ou indicadores de desempenho a avaliar. No entanto, dada a brevidade do período de transição, é expectável que, num primeiro momento, os indicadores de desempenho se baseiem exclusivamente em informação pré-existente, isto é, atualmente em vigor (131). Em síntese, a reforma corporizada pelo FTI visa – de uma forma transparente, objetiva e adaptada à realidade de cada local – conceder às entidades do setor social e de saúde uma dotação orçamental que potencie um maior nível de integração efetiva entre os diferentes stakeholders. O racional implícito nesta opção estratégica é o de que um nível superior de integração potenciará, em última instância, a transformação e melhoria dos cuidados prestados na perspetiva dos residentes, utentes e/ou cuidadores sob diversas dimensões. Entre essas dimensões destaca-se, conforme ilustrado na satisfação do utente. Figura 8. Potencial impacto do FTI sob diversas dimensões de análise. Qualidade • Melhoria da qualidade de vida dos seus residentes, utentes e/ou cuidadores, mediante o (re)alinhamento da resposta às respetivas necessidades específicas (no âmbito do setor da saúde e social); • Reforço da partilha de conhecimento a diversos níveis, em particular ao nível da informação. Eficiência •Aumento dos níveis de eficiência em função da maior integração entre setores de atividade transversais e complementares. O FTI deverá atuar como um catalisador para potenciar o value for money; •Redução dos custos totais por utilizador, mediante o reforço de uma resposta holística (a título de exemplo, a abertura de serviços sociais e/ou de saúde sete dias por semana permite agilizar o processo de alta do doente dos cuidados agudos durante o fim-de-semana). Satisfação do utente • Reforço do sentimento de satisfação mediante a utilização de uma resposta efetiva e resolutiva em função das suas necessidades específicas e/ou da comunidade. Em termos de critérios de elegibilidade – e ainda que apenas concretizado de forma genérica (o detalhe da reforma apenas será divulgado no início de 2014) – o FTI apenas estará disponível para quem enderece determinadas condições nacionais como a(o) NHS England e Local Government Association, 2013a (129): 66 Desenvolvimento e acordo conjunto por parte das entidades envolvidas do futuro dos serviços a prestar e um plano de ações específicas a implementar; Definição de planos locais que visem a criação de respostas no setor da saúde e/ou social durante 7 dias por semana; Melhoria da partilha de recursos entre os setores da saúde e social, designadamente ao nível da informação; Definição de princípios de partilha de risco e planos de contingência em função de não obtenção de acordo entre as entidades envolvidas; Estimativa do impacto das mudanças planeadas, em particular nos cuidados agudos. Não obstante, como qualquer reforma estrutural, o FTI apresenta potenciais desvantagens e/ou ameaças à sua implementação que importa atentar. Em primeiro lugar, salienta-se a atual incerteza e opacidade que rodeia a estrutura e o detalhe da reforma corporizada pelo FTI. De facto, a menos de quatro meses do prazo estabelecido para a entrega de propostas de integração, desconhece-se o número ou tipo de indicadores incluídos ou a fórmula de cálculo inerente ao modelo de incentivos com base no desempenho. Embora esta situação deva ser obviada no curto prazo (no início de 2014), importa atentar: (1) o elevado nível de entropia introduzido durante este período de transição; e, não menos importante, (2) o reduzido espaço temporal para os diversos intervenientes produzirem um programa de integração adequado às expectativas das entidades governamentais. Por outro lado, a própria composição da dotação financeira do FTI potencia a criação de clivagens entre entidades, cenário diametralmente oposto ao estabelecido como objetivo chave da reforma. De facto, a criação do FTI com recurso a verbas préexistentes, sobretudo provenientes do setor da saúde pode – ainda que inapropriado – originar cisões entre as entidades responsáveis pela integração. No entanto, o risco financeiro resultante da não cooperação entre as entidades envolvidas afigura-se como um incentivo negativo que deverá funcionar como um motor indutor de mudança, obviando por conseguinte a limitação referida. Como corolário, o FTI corporiza uma reforma estrutural que visa transformar os processos de integração - a diversos níveis (inclusivamente financeiro) – entre os setores sociais e de saúde para o benefício do individuo e da comunidade. Para tal, a estrutura do FTI compreende a (re)alocação financeira competitiva de fundos financeiros num pool partilhado a partir de verbas financeiras previamente adstritos – de forma isolada – ao setor social ou da saúde. Bibliografia 1. Shortell, S e Kaluzny, A. Health care management organization design and behaviour. [ed.] Thomson Delmar Learning. 5th Edition. 2006. 2. Conrad, D e Dowling, W. Vertical integration in health services: theory and managerial implications. Health Care Mangement Review. 1990, Vol. 15:4, pp. 9-22. 67 3. Nolan, T e Bisognano, M. Fiding the balance between quality and cost. Healthcare Financial Management. 2006, Vol. 60:4, pp. 66-72. 4. Porter, M e Teisberg, E. Redefinig health care creating value-based competetion on results. Boston : Harvard Business School Press, 2006. 5. Ibrahim, M e et al. Population-based health prniciples in medical and public health practice. Journal of Public Management Practice. May de 2001, Vol. 7:3, pp. 75-81. 6. Khoury, M e et al. A population approach to precision medicine. American Journal of Preventive Medicine. june de 2012, Vol. 42:6, pp. 693-45. 7. Leape, L. Error in medicine. JAMA. 1994, Vol. 272:23, pp. 1851-1857. 8. Little, J e Hawken, S. On track? Using the human genome epidemiology roadmap. Public Health Genomics. 2010, Vol. 13, pp. 256-66. 9. Shortell, S e et al. Creating organized delivery systems: the barriers and facilitators. Hospital and Health Services Administration. 1993, Vol. 38:4, pp. 447-466. 10. Reis, V. Vamos reconstruir o arquipélago? Revista Prémio. 2005, Vol. 45. 11. Devers, K e et al. Implementing organized delivery systems: an integration scorecard. Health Care Management Review. 1994, Vol. 19:3, pp. 7-20 12. Brown, M e McCool, B. Vertical integration: exploration of a popular strategic concept. Health Care Management Review. 1986, Vol. 11:4, pp. 7-19. 13. Byrne, M e Ashton, C. Incentives for vertical integration in healthcare: the effect of reimbursement systems. Journal of Health Care Management. 1999, Vol. 44:1, pp. 3446. 14. Leichsenring, K. Developing integrated health and social care services for older persons in Europe. International Journal of Integrated Care. 2004, Vol. 4:3, pp. 1-15. 15. Contrandiopoulos, A e et al. The integration of health care: dimensions and implementation. [ed.] Université de Montreal. Working Paper Group de Recherché Interdisciplinaire en Santé. 2003. 16. Grone, J e Garcia-Barbero, M. Integrated care: a position paper of the WHO European Office for integrated health care services. International Journal of Integrated Care. 2001, Vol. 1:1, pp. 1-10. 17. Kodner, D e Spreeuwenberg, C. Integrated care: meaning, logic, applications and implications: a discussion paper. International Journal of Integrated Care. 2002, Vol. 2:14, pp. 1-16. 18. Sobczak, A. Oportunities for and constraints to integration of health services in Poland. International Journal of Integrated Care. 2002, Vol. 2:1, pp. 1-10. 19. Silva, JMC. O papel dos hospitais em cuidados de saúde primários. Revista Portuguesa de Saúde Pública. 1983, Vol. 1:2, pp. 5-10. 20. Portugal. Programa do XVII Governo Constitucional. 2005. 21. Primary health care in Europe: problems and solutions. in Vuori, H. Tokyo : s.n., 11-12 June 1983. 6th Annual Conference of the Japanese Society of Primary Health Care. 22. Starfield, B. Primary care: balancing health needs, services and technology. Oxford : Oxford University Press, 1998. 23. Lei de Bases da Saúde. Lei 48/90 de 24 de agosto.DR. 68 24. Ramos, V. Problemas éticos da distribuição de recursos para a saúde. Cadernos de BioÉtica. 1994, Vol. 6, pp. 31-43. 25. Evans, R. Incomplete vertical integration: the distintive structure of the healthcare industry. s.l. : Health, Economics and Health Economics North Holland Publishing Company, 1981. pp. 329-354. 26. Samuelson, P e Nordhaus, W. Economia. 12ª. New York : McGraw-Hill, 1988. 27. Clement, J. Vertical integration and diversification of acute care hospitals: conceptual definitions. Hospital and Health Services Administration. 1988, Vol. 33:1, pp. 99-110. 28. Matias, A. O mercado de cuidados de saúde. Documento de trabalho 5/95. Lisboa : s.n., 1995. 29. Costa, C. Os consumidores e as organizações de saúde: participação ou satisfação? Que sistema de saúde para o futuro da organizção dos hospitais na sua relação com a sociedade. s.l. : Liga dos Amigos do Hospital Geral de Santo antónio, 1996. 30. WONCA. Definição Europeia de Medicina Geral e familiar (Clinica Geral/Medicina Familiar). Euopa : WONCA, 2002. 31. Delnoij, D, Klazinga, N e Velden, K. Building integrated health system in Central and Eastern Europe: an analysis of WHO and World Bank views and their relevance for health systems in transition. European Journal of Public Health. 2003, Vol. 13:3, pp. 240-245. 32. Ahgren, B. Chain of care development in Sweden: results of a national study. International Journal of Integrated Care. 2003, Vol. 3:7, pp. 1-8. 33. Reis, V e Costa, C. O hospital: um sistema aberto. Revista Portuguesa de Saúde Pública. 1985, Vol. 3:1, pp. 11-18. 34. Institute of Medicine. Crossing the quality chasm. A New Health System for the 21st Century . Washington DC : s.n., 2001. 35. Koogan Larousse Seleções. Dicionário Enciclopédico. [ed.] Brasil. Rio de Janeiro : Larousse, 1978. Vol. 1. 36. Armitage, G e et al. Health Systems Integration: state of evidence. International Journal of Integrated Care. june de 2009, Vol. 17:9, p. e82. 37. Lloyd, J e Walt, S. Integrated care: a guide for policymakers . London : Aliance for Health and the Future, 2005. 38. McKee, M e Nolte, E. Caring for people with chronic conditions: a health system perspective. The European Observatory on Health Systems and Policies. [Online] 2008. [Citação: 21 de nov de 2012.] http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/96468/E91878.pdf. 39. Burns, L e Pauly, M. Integrated delivery networks: a detiur on the road to integrated health care? Health Affairs. july-august de 2002, Vol. 21:4, pp. 128-43. 40. Friedman, L e Goes, J. Why integrated health networks have failed. Front Health Serv Manage. Summer de 2001, Vol. 17:4, pp. 3-28. 41. Luke, R e Begun, J. Permeating organizational boundaries: the challenge of integration in healthcare. Frontiers of Health Services Management. 1996, Vol. 13:1, pp. 46-49. 42. Leggat, S e Leatt, P. A framework for assessing the performance of integrated health delivery systems. Health Care Mangement Forum. 1997, Vol. 10:1. 69 43. Lin, B e Want, T. Analysis of integrated healthcare networks´performance: a contingencystrategic management perspective. Journal of Medical Systems. 1999, Vol. 23:6, pp. 467-485. 44. Parker, V e et al. Clinical service lines in integrated delivery systems: an initial framework and exploration. Journal of Healthcare Management. 2001, Vol. 46:4, pp. 261-275. 45. Wan, T, Lin, B e Ma, A. Integrationmechanisms and hospital efficiency in integrated health care delivery systems. Journal of Medical Systems. 2002, Vol. 26:2, pp. 127-143. 46. Coddington, D, Moore, K e Fischer, E. Vertical integration: is the bloom off the rose? Healthcare Forum Journal. 1996, Vol. 39:5, pp. 42-47. 47. Gillies, R e et al. Conscptualizing and measuring integration: findings from the health systems integration study. Hospital and Health Services Adminsitration. 1993, Vol. 38:4, pp. 467-489. 48. Conrad, DA e Shortell, SM. Integrated health systems: promise and performance. Front Health Serv Mange. Fall de 1996, Vol. 13 (1), pp. 3-40; discussion 57-8. Review. 49. Fisher, E e et al. Creating accountable care organizations. the extended hospital medical staff. Health Affairs. jan-feb de 2007, Vol. 26:1, pp. w44-57. 50. Lawrence, P e Lorsh, J. Differentiation and integration in complex organizations. Administrative Science Quarterly. jun de 1967, Vol. 12:1, pp. 1-47. 51. Ovretveit, J. INtegrated care: models and issues. Briefing paper. Gothenburg: The Nordic School of Public Health : s.n., 1998. 52. Kodner, D e Kyriacou, C. Fully integrated care for frail elderly: two American models. International Journal of Integrated Care. nov de 2000, Vol. 1, pp. 1-19. 53. Kodner, D. All together now: a conceptual exploration of integrated care. Alberta Health Services. [Online] 2009. [Citação: 21 de nov de 2012.] http://www.albertahealthservices.ca/Publications/ahs-pub-hc-quarterly.pdf. 54. Conrad, D e Shortell, S. Integrated health systems: promise and performance. Frontiers of Health Services Management. 1996a, Vol. 13:1, pp. 3-40. 55. Freire, A. Estratégia Sucesso em Portugal. s.l. : Editorial Verbo, 1998. 56. Mick e et al. Horizontal and vertical integration-diversification in rural hospitals: a national study of strategic activity, 1983-1988. J Rural Health. 1993 Spring; Vol. 9:2, pp. 99-119. Review. 57. Lifton, J. Assessing options for developing the continuum of care. Healthcare Financial Management. 1996, Vol. 50:10, pp. 38-40. 58. Shortell, S, Morrison, E e Friedman, B. Key requirements for success in a changing health care environment in strategic choices for America´s hospitals. San Francisco : California Jossey-Bass, 1990. 59. Devers, K e et al. Implementing organized delivery systems: an integration scorecard. Health Care Management Review. 1994, Vol. 19:3, pp. 7-20. 60. WHO. Integrated health services - What and why? Technical brief. 2008, Vol. 1. 61. Zimba, D. Vertical versus virtual integration. 1998. 62. Stahl, DA. Integrated deivery system: an opportunity or a dilema. Nursing Management. 1995, Vol. 26:7, pp. 22-23. 63. Stille, C e et al. Coodrdinating care across diseases and clinicians: a key role for the generalist in practice. Annals of Intern Medicine. 2005, Vol. 142:8, pp. 700-708. 70 64. Zuckerman, H, Kaluzny, A e Ricketts, T. Alliances in health care: what we know, what we think we know and what we should know. Health Care Mangement Review. 1995, Vol. 20:1, pp. 54-64. 65. Rosen, A e et al. Identifying future high-healthcare users. Disease Management and Health Outcomes. 2011, Vol. 13:2, pp. 117-127. 66. Leatt, P, Pink, G e Guerriere, M. Towards a Canadian model of integrated healthcare. Healthc Pap. Spring de 2000, Vol. 1:2, pp. 13-35. 67. Charns, M e Tewksbury, L. Collaborative management in health care: implementing the integrative organization. s.l. : San Francisco Jossey-Bass, 1993. 68. The Boston Consulting Group. The Changing Environment for US Pharmaceuticals. 1993. 69. Powell, S. Advance case management: outcomes and beyond. s.l. : Lippincott Williams & Wilkins, 2000. 70. Harvey, N e DePue, D. Disease management: a continuum. Healthcare Financial Management. 1997, Vol. 51:6, pp. 35-37. 71. Galvin, L. Achieving successful integration. Healthcare Executive. 1995, Vol. 10:1, pp. 3839. 72. Ackerman, K III. The movement toward vertically integrated regional systems. Health Care Mangement Review. 1992, Vol. 17:3, pp. 81-88. 73. Katzenbach, J e Smith, D. The wisdom of teams. New York : HapperCollins, 1993. 74. Donohoe, M e et al. Reasons for outpatient referrals from generalists to specialists. Journal of General Internal Medicine. 1999, Vol. 14:5, pp. 281-286. 75. Ayanian, J e et al. Specialty of ambulatory care physicians and mortality among elderly patients after myocardial infarction. New English Journal of Medicine. 2002, Vol. 347:21, pp. 1678-1686. 76. Christakis, D e et al. Continuity and quality of care for children with diabetes who are covered by Medicaid. Ambulatory pediatrics. 2001, Vol. 1:2, pp. 99-103. 77. Starfield, B. primary care: participants or gatekeepers? Diabetes Care. 1994, Vol. 17: suplement 1, pp. 12-17. 78. Williams, J. Guidelines for managing integration. Healthcare Forum Journal. 1992, Vol. 35:2, pp. 39-47. 79. Gandi, T e et al. Communication breakdown in the outpatient referral process. Journal of General Internal Medicine. 2000, Vol. 15:9, pp. 626-631. 80. Harold, L, Field, T e Gurwitz, J. Knowledge patterns of care, and outcomes of care for generalists and specialists. Journal of General Internal Medicine. 1999, Vol. 14:8, pp. 499-511. 81. Jenkins, R. Quality of genral practitioner referrals to outpatient departments: assessment by specialists and a general practitioner. The British Journal of General Practice. 1993, Vol. 43:368, pp. 111-113. 82. Shortell, S e et al. INtegrating health care delivery. Health Care Forum Journal. 2000, Vol. 43:6, pp. 35-39. 83. Coile, R. The future of American health care in the post reform era. Physician Executive. 1995, Vol. 21:5, pp. 3-6. 84. Duffy, J. Information technology needs for integrated delivery systems. Healthcare Financial Management. 1996, Vol. 50:7, pp. 30-31. 71 85. Young, D e Barrett, D. Managing clinical integration in integrated delivery systems: a framework for action. Hospital and Health services Adminsitration. 1997, Vol. 42:2, pp. 255-279. 86. Coddington, D, Moore, K e Fischer, E. Vertical integration: is the bloom off the rose? Healthcare Forum Journal. 1996, Vol. 39:5, pp. 42-47. 87. Kast, F e Rosenzweig, J. Organization and management: a system and contingency approach. 3rd edition. New York : McGraw-Hill, 1979. 88. Chiavenato, I. Administração de empresas uma abordagem contingencial. 2ª edição. Brasil : MacGraw-Hill, 1987. 89. Katz, D e Kahn, R. Psicologia social das organizações. São Paulo : Atlas, 1976. 90. de Jong, I e Jackson, C. An evaluation approach for a new paradigm-health care integration. Journal Eval Clin Pract. feb de 2001, Vol. 7:1, pp. 71-9. 91. Porter, M. Competitive Advantage. New York : Free Press, 1985. 92. Foreman, S e Roberts, R. The power health care value-adding partnerships: meeting competition through cooperation. Hospital and Health Services Administration. 1991, Vol. 36:2, pp. 175-190. 93. Butler, J. Hospital cost analysis. The Netherlands : Kluwer Academic Publishers, 1995. 94. Rocha, J. A estrtutura do hospital tendências. Docuemnto de trabalho. s.l. : Escola Nacional de Saúde Pública, 1997. 95. Daft, R. Organization theory and design. Cincinnati : South-Western College Publishing, 1998. 96. Leatt, P, Shortell, S e Kimberly, J. Issues in organization design. [autor do livro] S Shortell e A Kaluzny. Healthcare management: a text in organization theory and behaviour. 4th edition. Delmar : s.n., 2000, pp. 274-306. 97. Piro, L e Doctor, J. Managed oncology care: the disease management model. Illinois : American Cancer Society. National Conference on Purchasing Services: Current methods and models in the marketplace, 1997. 98. Burns, L e et al. How integrated are integrated delivery systems?results from a national survey. Health Care Mangement Review. 2001, Vol. 26:1, pp. 20-39. 99. Herber, R e Veil, A. Monitoring the degree of implementation of an integrated delivery system. International Journal of Integrated Care. 2004, Vol. 4:20, pp. 1-7. 100. Ahgren, B e Axelsson, R. Evaluating integrated health care: a model for measurement. International Journal of Integrated Care. 2005, Vol. 5:31, pp. 1-9. 101. Wheeler, J e et al. Financial and organizational determinants of hospitals diversification into sub-acute care. Health Services Research. 1999, Vol. 34:1 pt1, pp. 61-81. 102. Cody, M. Vertical integration strategies: Revenue effects in hospital and Medicare markets. Hospital and Health Services Administration. 1996, Vol. 41:3, pp. 343-357. 103. Tjerbo, T e Kjekshus, L. Coordinating health care: lessnos from Norway. International Journal of Integrated Care. 2005, Vol. 5:2, pp. 1-9. 104. McCue, M e Lynch, J. Financial assessment of small multihospitals systems. Hospital and Health Services Administration. 1987, Vol. 32:2, pp. 181-189. 105. Walston, S, Kimberly, J e Burns, L. Owned vertical integration and health care: promise and performance. Health Care Mangement Review. 1996, Vol. 21:1, pp. 83-82. 72 106. Shortell, S. Management partneships: improving patient care in healthcare organizations of the future. Health Care Mangement Forum. 1988, Vol. 1:2 suppl, pp. 17-20. 107. Feachem, R, Sekhri, N e White, K. Getting more for their dollar: a comparison of the NHS with California´s Keiser Permanent. BMJ. 2002, Vol. 324:7353, pp. 135-143. 108. Anderson, H. Hospitals seek new ways to integrate health care. Hospitals. 1992, Vol. 66:7, pp. 26-36. 109. The World Bank. Health expenditure, total (% http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS.. of GDP). [Online] 2013. 110. Miller, R e Luft, H. HMO plan performance update: an analysis of the literature 19972001. Health Affairs. 2002, Vol. 21:4, pp. 63-86. 111. Shortell, S, Casalino, L e Fisher, E. Implementing Accuontable Care Organizations. [ed.] Economic and Family Security BerkelyLaw. Berkely Centre on Health. Advancing National Health Reform. Policy brief. may de 2010. 112. Devers, K e Berenson, R. Can accountable care organizationsimprove the value of health care by solving the cost and Quality Quandaries? [Online] 2009. [Citação: 20 de 02 de 2014.] http:77www.urban.org/publications/411975.html. 113. McWilliams, J. Accountable care organizations: a challenging opportunity for primary careto demonstrate its value. [Online] 2013. [Citação: 01 de 02 de 2014.] http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11606-013-2713-9. 114. McClellan, M e et al. A national strategy to put accountable care into practice. Health Affairs (Project Hope). May de 2010, Vol. 29:5, pp. 982-990. 115. Medicare Payment Advisory Comission. Report to the congress: Improving incentives in the Medicare program. [Online] 2009. [Citação: 03 de 02 de 2014.] http:77www.medpac.gov/documents/jun09_entirereport.pdf. 116. Fisher, E e et al. Fostering accountable halth care: moving forward in medicare. Health affairs (Project Hope). april de 2009, Vol. 28:2, pp. w219-231. 117. Deloitte Centre for Health Solutions. Accountable Care Organizations: A new model for sustainable innovation. s.l. : Deloitte Center for Health Solutions, 2010. 118. Shortel, S e Casalino, L. Health care reform requires accountable care systems. JAMA. 2 de july de 2008, Vol. 300:1, pp. 95-97. 119. Robinson, J e Dolan, E. Accountable care organizations in California: Lessons for the national debate on delivery system reform. Integrated Health Care Association. 2010. 120. Berenson, R e Burton, R. Next steps for ACOs. Heatlh Affairs - Health Policy Briefs. 2012, Vol. 32:12. 121. Bao, Y e et al. Behavioral health and health care reform models: patient centered medical home, health home and accountable care organization. The Journal of Behavioral Health services & Reseacr. 2012, Vol. 40:1, pp. 121-132. 122. Lowell, K e Bertko, J. The accountable care organization (ACO) Model: building blocks for success. Journal of Ambulatory Care Management Payment Reform. 2010, Vol. 33:1, pp. 81-88. 123. Quality Measurement & Health Assessment Group. Accountable care organizations 2012 program analysis: Quaity performance standards narrative measurement specifications (final report). s.l. : Quality Measurement & Health Assessment Group, 2011. 73 124. Meyer, H. Accountable care organization prototypes: Winners and losers? Health Affairs. 1 de july de 2011, Vol. 30:7, pp. 1227-1231. 125. Centers for Medicare and Medicaid services. Pioneer accountable Care organizations succeed in improving care, lowering costs. [Online] 16 de 07 de 2013. [Citação: 2014 de 12 de 2013.] http://www.cms.gov/Newsroom/MediaReleaseDatabase/PressReleases/2013-Press-Releases-Items/2013-07-16.html. 126. Patel, K e Lieberman, S. Taking stock of initial year one results for pioneer ACOs. Health Affairs blog. [Online] 2013. [Citação: 12 de 01 de 2014.] http://healthaffairs.org/blog/2013/07/25/taking-stock-of-initial-year-one-results-forpioneer-acos/. 127. Goldsmith, J. Accountable care organizations: the casee for flexible partnerships between health plans and providers. Health Affairs (Project Hope). 2011, Vol. 30:1, pp. 32-40. 128. Meyer, H. Many accountable care organizations are now up and running, if not off to the races. Health Affairs. 1 de november de 2012, Vol. 31:11, pp. 2363-2367. 129. NHS England and Local Government Association. Statement on the health and social care: integration transformation fund. [Online] 2013a. [Citação: 10 de 01 de 2014.] http://www.local.gov.uk/c/document_library/get_file?uuid=b20e023f-fabb-4f46-b88131bbe92e74a4&groupId=10180.. 130. PSNC. PSNC briefing 100/13: The integration transformation fund. [Online] 2013. http://psnc.org.uk/wp-content/uploads/2013/10/PSNC-Briefing-100.13-The-IntegrationTransformation-Fund-Oct-2013.pdf. 131. NHS England and Local Government Association. Next steps on implementing the integration transformation fund. [Online] 2013b. [Citação: 20 de 01 de 2014.] http://www.local.gov.uk/documents/10180/5572443/Next+steps+on+implementing+the+ Integration+Transformation+Fund/4e797e4b-0f1a-4d53-a87d-6a384a86792d.. 132. Rutstein, D e et al. Measuring the quality of medical care. A clinical method. New English Journal of Medicine. 11 de mar de 1976, Vol. 294:11, pp. 582-8. 133. Nedel, F e et al. Conceptual and methodological aspects in the study of hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions. Ciência Saúde. 2011, Vol. 16:supl 1, pp. 114554. 134. Caminal, J e et al. The role of primary care in preventing ambulatory care sensitive conditions. Oxford Journals. 2004, Vol. 14:3, pp. 246-51. 135. Homar, J e Matutano, C. La evaluación de la atención primaria y las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions. Marco conceptual. Aten. Primaria. 2003, Vol. 31:1, pp. 61-5. 136. Caminal, J e et al. Las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions: selección del listado de códigos de diagnóstico válidos para España. Gac Sanit. 2001, Vol. 15:2, pp. 128-41. 137. Solberg, L e et al. The Minnesota project: a focused approach to ambulatory quality assessment. Inquiry. Inquiry. jan de 1990, Vol. 27:4, pp. 359-67. 138. Weissman, J. Rates of Avoidable Hospitalization by Insurance Status in Massachusetts and Maryland. Journal of America Medical Association. 4 de nov de 1992, Vols. 268-17, p. 2388. 139. Ansari, Z e et al. The Victorian ambulatory care sensitive conditions study: rural and urban perspectives. Soz Praventivmed. 2003, Vol. 48:1, pp. 33-43. 74 140. Rizza, P e et al. Preventable hospitalization and access to primary health care in an area of Southern Italy. BMC Health Serv Res. 2007, Vol. 7:134. 141. Hossain, M e Laditka, J. Using hospitalization for ambulatory care sensitive conditions to measure access to primary health care: an application of spatial structural equation modeling. [Online] 2009. [Citação: 19 de dec de 2013.] http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2745375&tool=pmcentrez&re ndertype=abstract. 142. Menec, V e et al. Does continuity of care with a family physician reduce hospitalizations among older adults? J. Health Serv. Res. Policy. 2006, Vol. 11:4, pp. 196-201. 143. Roos, L e et al. Physician visits, hospitalizations, and socioeconomic status: ambulatory care sensitive conditions in a canadian setting. Health Serv Res. Vol. 40:4, pp. 1167-85. 144. Pirani, M e et al. Potentially avoidable hospitalisation in Bologna, 1997-2000: temporal trend and differences by income level. Epidemiol. Prev. 2006, Vol. 30:3, pp. 169-77. 145. Agabiti, N e et al. Income level and chronic ambulatory care sensitive conditions in adults: a multicity population-based study in Italy. BMC Public Health. 2009, Vol. 9:1, p. 457. 146. Magan, P e et al. Geographic variations in avoidable hospitalizations in the elderly, in a health system with universal coverage. BMC Health Serv. Res. 2008, Vol. 8:1, p. 42. 147. Bermudez-Tamayo, C e et al. Organizational characteristics of primary care and hospitalization for to the main ambulatory care sensitive conditions. Aten. Primaria. 2004, Vol. 33:6, pp. 305-11. 148. Millman, M. Access to health care in America. 1st ed. Washington DC : National Academy Press, 1993. 149. Billings, J e et al. Impact of socioeconomic status on hospital use in New York City. Health Affairs. 1993, Vol. 12:1, pp. 162-73. 150. Sanderson, C e Dixon, J. Conditions for which onset or hospital admission is potentially preventable by timely and effective ambulatory care. [Online] 2000. [Citação: 18 de dec de 2013.] http://researchonline.lshtm.ac.uk/19704/. 151. Brown, A e et al. Hospitalization for ambulatory care-sensitive conditions: a method for comparative access and quality studies using routinely collected statistics. Can J. Public Health. 2001, Vol. 92:2, pp. 155-9. 152. Quality Afhra. Ahrq Guide to Prevention Quality Indicators: Hospital Admission for Ambulatory Care Sensitive Conditions. 4th rev. Rockville : Agency for Healthcare Research and Quality, 2004. 153. Information CIFH. Technical Note: Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC). [Online] 2008. [Citação: 20 de nov de 2011.] INFORMATION CIFH. Technical Note: Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) [Inhttp://www.cihi.ca/cihi-extportal/internet/en/document/health+system+performance/indicators/health/tech_acsc_2 011. 154. —. Information CI for H. Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSCs). [Online] 2008. [Citação: 20 de nov de 2011.] http://www.cihi.ca/cihi-extportal/internet/en/document/health+system+performance/indicators/health/ind_tech_2.5 _2012. 155. Tian, Y, Dixon, A e Gao, H. Emergency Hospital Admissions for Ambulatory CareSensitive Conditions: Identifying the potential for reductions. [Online] 2012. [Citação: 22 de nov de 2013.] http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Emergency+hospital+ 75 admissions+for+ambulatory+caresensitive+conditions+:+identifying+the+potential+for+reductions#4. 156. Sarmento, J. Internamentos por causas sensíveis a cuidados de ambulatório em contexto de integração vertical. [Online] 2013. http://run.unl.pt/bitstream/10362/9631/1/RUN Tese de Mestrado - João Sarmento.pdf. 157. Comissão Eurpeia. Europa 2020: estratégias para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Comissão Europeia. [Online] [Citação: 10 de 02 de 20147.] http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_pt.htm. 158. Begun, J e Kaissi, A. An exploratory study of healthcare strategic planning in two mwtropolitan areas. Jurnal of healthcare management. 2005, Vol. 50 (4), pp. 264-75. 159. Mick, S e et al. A horizontal and vertical integratino diversification in rural hospitals: a national study of strategic activity 1983-88. The Journal of Rural Health. 1990, Vol. 9:2, pp. 99-119. 160. Alter, C e Hage, J – Organizations working together. Sage Publications. 1993. 76 CAPÍTULO IV SITUAÇÃO EM PORTUGAL 77 Uma das respostas que traduz operacionalmente a política de saúde em matéria de reorganização da estrutura de oferta de cuidados de saúde, como tentativa de resposta a problemas sistémicos cada vez mais prementes, profundos e céleres, é a integração de cuidados de saúde. O nosso país não escapa a esta tendência global, sendo possível observar nos últimos anos, movimentos de integração quer horizontal, quer vertical. Os exemplos típicos destas realidades podem ser encontrados na criação de Centros Hospitalares ou Agrupamentos de Centros de Saúde no caso da integração horizontal e na criação de Unidades Locais de Saúde no caso da integração vertical. A necessidade de integração de cuidados de saúde no nosso país é uma preocupação presente desde há alguns anos, conforme se pode conferir no texto introdutório do estatuto do SNS (DL nº11/93 de 15 de Janeiro) em 1993: “A tradicional dicotomia entre cuidados primários e cuidados diferenciados revelou-se não só incorrecta do ponto de vista médico mas também geradora de disfunções sob o ponto de vista organizativo. Daí a criação de unidades integradas de cuidados de saúde - unidades de saúde -, que hão-de viabilizar a imprescindível articulação entre grupos personalizados de centros de saúde e hospitais. A indivisibilidade da saúde, por um lado, e a criteriosa gestão de recursos, por outro, impõem a consagração de tal modelo, em que radica um dos aspectos essenciais da nova orgânica do Serviço Nacional de Saúde”. A integração de cuidados de saúde constitui uma das estratégias de reorganização da oferta de cuidados de saúde em Portugal, conforme se podia comprovar pelas intenções manifestadas em sede de programa de governo (XVII), que prevê: “o desenvolvimento de experiências de financiamento global, de base populacional, por capitação ajustada, integrando cuidados primários e hospitalares, numa linha de Unidades Integradas de Saúde, respeitando a autonomia e a cultura técnicoprofissional de cada instituição envolvida”. No que respeita ao enquadramento do presente tema no nosso país, importa ainda referir que de forma antagónica ao que sucedeu anteriormente em cada um dos níveis de cuidados de saúde reconhecidos no nosso país, não existiu nenhuma estrutura de suporte específica para o desenvolvimento das unidades integradas de prestação de cuidados de saúde. Estruturas que apoiaram as reformas do sistema de saúde português, como são os casos das Unidades de Missão dos Hospitais SA e EPE (2002), Missão dos Cuidados de Saúde Primários (MCSP) (2006) ou Unidade de Missão dos Cuidados Continuados Integrados (UMCCI) (2006), fundamentais para o desenvolvimento de todo um conjunto de conhecimento associado às novas realidades que entretanto surgiram, não obtiveram paralelo no que respeita por exemplo às ULS. Até ao momento, a evidência empírica relativa aos resultados alcançados pelos modelos de organização vertical ou horizontalmente desenvolvidos no nosso país é bastante incipiente. Aliás, tal como sucede com a generalidade dos resultados alcançados pelas reformas preconizadas nos últimos anos. 78 4.1. Estudos anteriores No nosso país, e apesar do interesse manifesto em diferentes fóruns de natureza distinta (política, prestadores de cuidados, associação, grupos técnicos, etc) a evidência científica sobre integração de cuidados de saúde todavia não reúne uma robustez significativa que permita inferir conclusões significativas nas mais diversas temáticas e sub-temáticas da integração de cuidados. Adiante são referidos alguns trabalhos que de alguma forma se encontram relacionados com a integração de cuidados de saúde e que foram desenvolvidos nos últimos anos, importando rever nas suas principais características e conclusões. Selecionaram-se Grupos técnicos reforma hospitalar e desenvolvimento dos cuidados de saúde primários; Transferência de Cuidados de Saúde Prestados em meio hospitalar para as redes de cuidados primários e continuados; Estudo sobre a organização e desempenho das Unidades Locais de Saúde; Estudo sobre o grau de integração de cuidados de saúde; Estimativa dos internamentos evitáveis em Portugal. 4.1.1. Grupos Técnicos A primeira referência tida em consideração baseia-se no relatório publicado em 2011, denominado de “Os cidadãos no centro do sistema Os profissionais no centro da mudança”. Este relatório foi realizado pelo Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar, tendo-se identificado sete iniciativas que tendencialmente poderão contribuir para a integração de cuidados de saúde, a saber: Definição de critérios de referenciação entre a rede de cuidados primários e a rede hospitalar; Promover a consulta de especialidades hospitalares nos centros de saúde; Promover protocolos de atuação entre os ACES e os hospitais e eventual criação das Unidades Coordenadoras Funcionais; Promover consultas com recurso às novas tecnologias em situações específicas; Atender os doentes triados como não urgentes fora das urgências hospitalares; Agilizar a referenciação de utentes para a RNCCI; Adequar a contratualização de consultas e de cirurgias à respetiva procura. Por sua vez, e o Grupo Técnico para o Desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários, nomeado pelo Despacho n.º 13312/2011, de 4 de outubro, no seu relatório Interligação e integração entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares” em Setembro de 2012, definiu como premissas-chave que: a) a integração de cuidados não significa nem pressupõe integração organizacional e esta não assegura a primeira, pelo que devem ser claramente distinguidas; 79 b) ambas as estruturas (cuidados de saúde primários e hospitalares) têm culturas organizacionais e missões distintas. Assim, as medidas propostas assentam na condição prévia de que não há necessidade de existir uma integração organizacional, para que seja possível atingir os fins propostos. Tendo por base este enquadramento, são apontadas como medidas que podem contribuir para a integração de cuidados de saúde: O acesso a informação essencial disponível: avaliação clínica e problemas ativos, resultados de exames, incluindo os de imagem, terapêuticas, riscos e alertas específicos entre outros; Garantir uma gestão eficiente de “altas”, é o doente que deve se encontrar no centro do processo de continuidade de cuidados; Desenvolvimento de contactos privilegiados entre cada especialidade ou unidade autónoma de estão, a nível hospitalar, e a equipa de saúde familiar de cada doente; Desenvolvimento de um mecanismo de referenciação numa lógica de ciclo completo da referenciação. Isto é, um ciclo de “partida-avaliação‐respostachegada‐avaliação” e conclusão do episódio pelos CSP; Partilha de recursos e aumento do intercâmbio de internos de especialidade (pediatria, obstetrícia, medicina interna e medicina geral e familiar), com o objetivo de melhorar o processo de referenciação, a resolução imediata de alguns problemas e o apoio de consultoria; Reforço da presença de médicos generalistas (medicina interna e pediatria geral) que atuem como “gestores de caso” e elementos primordiais do contacto, comunicação e continuidade de cuidados com os CSP e os cuidados continuados, em especial nas situações mais complexas; Partilha de recursos de MCDT entre hospitais e os CSP, nomeadamente através da realização de alguns MCD nos CSP e na utilização dos laboratórios dos hospitais de referência dos ACES; Planos de ação conjunta e processos assistenciais integrados, através da articulação entre o Conselho Clínico dos ACES e a Direção Clínica dos Hospitais, param alguns tipos de patologias; Identificação conjunta das necessidades de serviços e de recursos, isto é, das necessidades de cuidados de saúde das populações abrangidas, com previsão de necessidades anuais em cuidados secundários, terciários e continuados, para uma vigilância e resposta epidemiológica mais efetiva; Definição de indicadores partilhados entre os CSP e hospitais e o desenvolvimento de mecanismos de contratualização inter-institucional, de forma clara; Expansão e aplicação do conceito das Unidades Coordenadoras Funcionais para áreas chave, com a incumbência de desenvolverem normas clínicas e de enfermagem, processos assistenciais integrados, esquemas de referenciação prioritários; Desenvolvimento de mecanismos de auditoria, num claro reforço da cultura de avaliação e de qualidade, bem como na elaboração de planos de formação e de desenvolvimento entre as direções clínicas dos ACES e hospitais, com claro ênfase nos processos de interface entre os níveis de cuidados; 80 Afinação geodemográfica de alguns ACES e hospitais de referência, com a correção da constituição de alguns ACES e a redefinição das suas relações interinstitucionais preferenciais; Promoção da telemedicina, com a rentabilização dos equipamentos existentes. 4.1.2. Estudo sobre o grau de integração de cuidados de saúde http://gos.ensp.unl.pt/sites/gos.ensp.unl.pt/files/36_Projecto_ULS.pdf No âmbito de um estudo realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública para a Administração Central do Sistema de Saúde, durante o ano de 2010, pretendeu-se determinar o grau de integração das ULS no nosso país. Os seus objetivos específicos foram: i) descrever e caracterizar as metodologias existentes para determinar o grau de integração de organizações prestadoras de cuidados de saúde; ii) propor e validar uma metodologia para a obtenção do grau de integração adequada à nossa realidade; iii) obter de forma quantitativa o nível de integração das ULS e; iv) discutir os resultados obtidos no contexto da gestão de organizações de saúde. Para concretizar os objetivos supra descritos, foi necessário desenvolver e aplicar um instrumento que permitisse obter o nível de integração percebida dos colaboradores das ULS no nosso país. Por razões relacionadas com a sua aplicabilidade e experiência anterior durante a na revisão de literatura, foi utilizado um inquérito estruturalmente adaptado do Health System Integration Study (Devers et al., 1994) tendo sido consideradas 6 dimensões de integração (clínica, informação, normativa, administrativa, financeira e sistémica) e 53 itens no total. Utilizou-se tal como na metodologia original deste estudo, uma escala de Likert composta por 5 opções. O EGIOS foi dirigido aos órgãos de gestão e profissionais médicos das ULS a funcionar no nosso país. O inquérito foi aplicado durante os meses de Abril a Julho em colaboração com cada ULS, tendo-se obtido um N = 544 e uma taxa de resposta global na ordem dos 51%. A validação de conteúdo efectuada para cada um dos 53 itens, bem como os valores alcançados de Alpha de Cronbach, Split-Half, validade convergente-discriminante e pré-teste efetuado, permitem afirmar que se trata de uma metodologia válida para determinar o nível de integração de cuidados de saúde em realidades que estruturam a sua oferta numa perspetiva vertical. Os resultados mais significativos foram os seguintes: Segundo as respostas obtidas, de uma forma geral existe uma perepção de integração reduzida nas ULS a nível nacional; Apesar de existir uma maior percentagem de concentração de respostas nas opções relativas a uma moderada ou baixa integração, não se deverá ignorar também as respostas inversas. Ou seja, cerca de 70% das respostas concentram-se nos extremos e as restantes inquéritos não permitem ser conclusivos quanto ao nível de integração existente. As dimensões que apresentam uma menor integração percebida por parte dos profissionais da ULS são a informação e a clínica. Por outro lado, foi reportado um maior nível de integração na dimensão normativa; 81 Os resultados são distintos entre ULS, o que prenuncia diferentes níveis de integração em termos totais e em cada dimensão analisada. A ULS onde existe uma maior integração percebida é a ULSM, cujos resultados são bastante diferentes das restantes unidade. Poderá daqui inferir-se que a integração é um processo tipicamente de médio e longo prazo, não concretizável a curto prazo. No futuro, os resultados em saúde obtidos nestes contextos deverão ter em consideração esta conclusão; Os CA apresentam uma maior perceção de integração do que os seus colaboradores. Também os profissionais hospitalares reportam maiores níveis de integração face aos colegas dos cuidados de saúde primários (esta realidade só é contrariada na ULSBA); A partilha de experiências sobre o processo de integração de cuidados é uma condição importante no desenvolvimento dos processo individuais. Esta constatação é reforçada pela existência de uma ULS a nível nacional que apresenta resultados diferentes (tendencialmente mais desejáveis) face às restantes ULS, devendo as suas boas práticas ser identificadas e eventualmente replicadas noutros contextos. Para que seja possível este benchmarking sugere-se a criação de estruturas/ mecanismos encarregues por este “laboratório “de partilha de experiências. No processo de gestão da integração em cada ULS, destaca-se particularmente a necessidade de se proceder ao ciclo de planeamento, execução, monitorização e avaliação. Segundo os objetivos intrínsecos do presente projeto, o desenvolvimento de metodologias e instrumentos que auxiliem na monitorização e acompanhamento das atividades relacionadas com a integração parece fundamental. A consensualização de protocolos e guidelines clínicas, a implementação de planos de coordenação entre unidades funcionais, a existência de equipas inter e multidisciplinares ou a estruturação da oferta de cuidados em programas de gestão de doença são atividades que se mostraram particularmente deficitárias no âmbito da dimensão de integração clínica. Também o recurso a gestores de caso se mostrou um procedimento inexistente no nosso contexto. Dois itens relativos à dimensão informação merecem particular relevo por se encontrarem em extremos opostos relativos às respostas obtidas: ao mesmo tempo que parecem existir infra-estruturas informáticas que garantem a existência de redes de informação comum (intranets), não foi contemplada a informação relativa aos utentes (processo clínico único eletrónico); Como recomendações deste estudo destacam-se fundamentalmente: A criação de uma equipa de gestão do projeto de integração em cada ULS que dinamize e coordene as atividades a desenvolver no âmbito deste processo pode contribuir para encarar a integração como um processo fundamental e não paralelo ao funcionamento ordinal das ULS. Implicitamente a esta recomendação encontra-se a necessidade de implementar um processo de monitorização e acompanhamento específico do processo de integração que seja aplicado de forma sistemática; A existência de mecanismos estruturados a nível nacional que permitam a partilha de processos e/ou atividades que foram aplicados em realidades 82 integradas nacionais ou internacionais com sucesso. O reporte de um maior nível de integração por parte de uma ULS deverá ser devidamente considerado e partilhado com as restantes ULS. As boas práticas de integração poderão ser um motor de desenvolvimento de boas práticas; Em termos estratégicos, a concentração de esforços das ULS deverá direcionar-se para as dimensões clínica e informação, onde foram alcançados os menores níveis de integração. Estas são efetivamente as dimensões onde a literatura identifica maiores ganhos potenciais ao nível do processo de integração; Há margem para no curto prazo, ser melhorado o nível de integração nas dimensões financeira, administrativa e sistémica. É nestas dimensões que poderão ser obtidas as quick wins; A criação de sistemas de incentivos internos focalizados na coordenação entre as unidades orgânicas é uma potencialidade que continua por explorar nas ULS; Uma melhor política de comunicação e envolvimento dos profissionais no processo de integração. Parece existir um distanciamento significativo entre a realidade reportada pelos CA e seus colaboradores, que sinalizaram um desconhecimento generalizado pelos instrumentos de planeamento estratégico e operacional das ULS. A criação de uma cultura de integração nos profissionais é crítica para a interligação e coordenação das unidades funcionais; Sendo a dimensão informação aquela onde foi obtido um menor nível de integração, a aposta particularmente na aplicação de um processo clínico único eletrónico é crítica para garantir o continuum de cuidados prestados aos utentes; Desenvolvimento desta linha de investigação como suporte ao conhecimento criado sobre integração vertical de cuidados de saúde; Por último, salienta-se que o presente estudo deve constituir apenas o ponto de partida para a problemática da gestão do processo de integração vertical de cuidados de saúde em Portugal. Outras linhas de investigação poderão no futuro prosseguir o estudo agora realizado. Nomeadamente a aplicação do EGIOS em realidades articuladas, em contexto internacional, a atribuição de valorização às dimensões e itens utilizados ou mesmo a comparação dos níveis de integração obtidos com os resultados em saúde alcançados. 4.1.3. Transferência de Cuidados de Saúde Prestados em meio hospitalar para as redes de cuidados primários e continuados http://www.aped-dor.com/up/ficheiros-bin2_ficheiro_pt_0541251001357131431-58.pdf. Outro dos estudos mais recentes que foram desenvolvidos no nosso contexto e que poderá ser enquadrável no âmbito do processo de integração de cuidados de saúde é o trabalho realizado no Centro de Estudos aplicados da Católica Lisboa School of Business and Economics, Centro de Estudos de Medicina Baseada na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa, em Novembro de 2012, pela equipa de investigadores, composta por Prof. Miguel Gouveia, Dra. Margarida Borges, Dra. 83 Margarida Augusto e Dra. Raquel Ascensão. Este estudo teve como objetivo estimar o impacto orçamental para o Estado português da transferência de cuidados de saúde de entidades prestadoras hospitalares para os CSP e RNCCI. Para a concretização do objetivo definido, foram identificados e quantificados os episódios de urgência, as consultas externas, os casos sociais, e os episódios que incluem uma demora excessiva na referenciação para a RNCCI. A sua valorização monetária traduzida em custos unitários e totais permitiu alcançar uma estimativa sobre o impacto orçamental da transferência de cuidados. De acordo com este estudo, estima-se que perante o atual contexto do SNS português, poderá representar uma poupança de 148 milhões de euros no curto prazo e cerca de 372 milhões de euros no médio e longo prazo. De acordo com os autores o alcance desta estimativa no médio e longo prazo implicaria um ajustamento da capacidade de oferta dos diferentes níveis de cuidados de saúde, bem como realçam a necessidade de melhorar a sua comunicação e alterar a abordagem segundo a qual os doentes são transferidos. 4.1.4. Estudo sobre a organização e desempenho das Unidades Locais de Saúde – Relatório Preliminar https://www.ers.pt/pages/18?news_id=15 Este estudo, realizado pela Entidade Reguladora da Saúde em 2011, incide sobre a análise da estrutura organizacional das Unidades Locais de Saúde (ULS), nomeadamente ao nível da sua descrição estrutural, do seu enquadramento legislativo e do seu potencial impacto no acesso dos utentes. Este modelo foi lançado com a criação da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE (ULSM) há 11 anos (1999), e pretende otimizar a resposta dos serviços através de uma gestão integrada das várias unidades de saúde de uma região. Em 2007, foi criada a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE (ULSNA), no ano seguinte, foram criadas a Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE (ULSAM), a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) e a Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE (ULSG). Em 2009, foi criada a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE (ULSCB). Revela-se de primordial importância analisar o modelo ULS, em especial a sua característica intrínseca, que consiste na integração da prestação dos cuidados de saúde, e verificar se a mesma é suscetível de ser potenciadora de impactos positivos no acesso dos utentes residentes na área de influência de uma ULS, até quando comparados com os demais utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), ou seja, se o objetivo de criação das ULS tem potenciado a melhoria do acesso dos cuidados de saúde dos utentes abrangidos por este sistema de gestão. Efetivamente, na génese das ULS esteve o objetivo de criar, através de uma prestação e gestão integrada de todos os serviços, uma via para melhorar a interligação dos Centros de Saúde com os Hospitais e, eventualmente, com outras 84 entidades, designadamente, com unidades de cuidados continuados, por intermédio de um processo de integração vertical desses diferentes níveis de cuidados. A integração de cuidados de saúde no âmbito das ULS tem tido a sua principal expressão em matéria de MCDT, designadamente mediante a internalização da realização dos mesmos, e consequente melhoria do aproveitamento da respetiva capacidade instalada, sendo uma medida que surge como inovadora, já que a opção política, desde os primórdios da criação do SNS, foi no sentido da contratualização com o sector privado, através de convenções, da realização dos MCDT. A possibilidade de integração de serviços pelas ULS é um resultado direto e imediato da sua criação, e representa uma opção de política de saúde que, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 127/2009, de 27 de Maio, a ERS deve respeitar, sendo nessa estrita medida que eventuais limitações à liberdade de escolha decorrentes do próprio conceito de ULS devem ser compatibilizadas com outros valores que compete à ERS defender. Nessa medida, deve ser acompanhada com especial cuidado por tais procedimentos serem suscetíveis de prejudicar os utentes quando coloquem em crise o direito de acesso universal e em tempo útil dos utentes das ULS, revelando-se fundamental assegurar que tais cuidados de saúde sejam prestados pelas ULS nas melhores condições de acesso, isto é, não inferiores àquelas que se verificavam antes da criação das ULS. Embora fosse expectável que da integração vertical através de ULS resultasse uma melhor articulação entre os diferentes níveis de cuidados de saúde, e consequentemente maiores benefícios, em termos de acesso aos cuidados de saúde dos utentes residentes na área de influência de ULS, o que se verificou foi que no acesso aos cuidados de saúde primários e hospitalares não existem, em termos legais (na legislação sobre acesso), e em termos práticos, diferenças nos procedimentos adotados no seio das ULS face aos demais estabelecimentos do SNS. A metodologia de avaliação de acesso que serviu de base ao presente estudo tem em consideração a análise dos indicadores de proximidade, de capacidade e da análise temporal. O indicador de proximidade analisado corresponde ao número de pontos de oferta em cada ULS, por quilómetro quadrado, da área geográfica abrangida. Pretende-se assim caracterizar a densidade da rede de pontos de oferta de cuidados de saúde pertencentes a cada ULS. Considera-se um maior número de prestadores por quilómetro quadrado como indicador de maior proximidade da oferta de cuidados de saúde aos utentes. Posto isto, e analisados todos os pontos de oferta de cuidados de saúde, é constatado que a ULSM apresenta o índice de proximidade mais elevado e a ULSBA, por sua vez, tem o índice mais baixo. Torna-se importante referir que a ULSM, embora apresente um número baixo de prestadores, é a que apresenta uma superfície menor, resultando, assim, um índice de proximidade elevado. Por sua vez, a ULSBA é a ULS com uma maior superfície, mas por outro lado, tem uma menor densidade 85 populacional, o que poderá não pôr em causa a proximidade da população, se esta, em termos médios, se encontrar próxima de um prestador de cuidados de saúde. Outra realidade observada na ULSAM é um baixo índice de proximidade, que é justificado pelo número reduzido de prestadores. Para avaliar a dimensão capacidade, foram construídos dois indicadores: (i) o rácio entre o número de médicos e a densidade populacional (Capacidade I); e (ii) o rácio entre o número de médicos pela população com mais de 65 anos de idade (Capacidade II). Estes indicadores permitem avaliar a dimensão da estrutura das ULS face às necessidades dos utentes aí residentes, traduzindo a capacidade de resposta do sistema integrado das ULS às necessidades da população. É observado que as ULS que apresentam os índices de Capacidade I mais elevados são a ULSAM e a ULSBA, mas as razões deste resultado não são idênticas. O índice da ULSAM é justificado pelo elevado número de médicos que possui em relação à densidade populacional, e o índice de Capacidade I da ULSBA justifica-se pela densidade populacional mais baixa de todas as ULS. A ULSM tem um índice baixo porque embora apresentando um número de médicos elevado, possui a maior densidade populacional da sua área de abrangência. No índice capacidade II, a ULSM apresenta o melhor indicador, por possuir o maior número de médicos (599) conjugado com um número baixo (comparativamente às outras ULS) da população com mais de 65 anos. Verifica-se, assim, que em relação aos rácios que avaliam as dimensões espaciais, a realidade entre as ULS é muito heterogénea. A ULSM apresenta, globalmente, os melhores indicadores de proximidade e de capacidade. Por seu turno, a análise econométrica dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos (TMRG), teve como objetivo principal analisar a equidade de acesso entre os utentes que fazem parte de uma ULS e os que não estão incluídos, para se retirarem conclusões práticas, numa perspetiva temporal, sobre a aplicação deste modelo de organização. Para ser possível comparar os hospitais que pertencem às ULS com hospitais que não pertencem a este modelo de organização, foi criado um grupo de controlo para o qual se tiveram em consideração os seguintes critérios: a proximidade geográfica e o número de especialidades de cada prestador. Da análise econométrica efetuada retiram-se as seguintes conclusões: (i) as consultas realizadas fora dos TMRG aumentam (consultas out) em 4,7 pontos percentuais se os hospitais pertencerem a uma ULS em relação aos hospitais do grupo de controlo (i.e. em relação aos hospitais que não estão incluídos numa ULS). Se o número de pedidos aumentar fora dos TMRG (pedidos out) as consultas realizadas fora dos TMRG (consultas out) também aumentam em 11,7 pontos percentuais. Também se constata que se o número de especialidades (especialidades) aumentar, as consultas realizadas fora dos TMRG (consultas out) também aumentam em 1,01 pontos percentuais; (ii) o tempo médio entre o pedido de consulta até à data do seu agendamento aumenta em sete (7) dias, se os hospitais pertencerem a uma ULS e quando comparado com o grupo de controlo. Se o número 86 de pedidos aumentar fora dos TMRG (pedidos out), as consultas realizadas fora dos TMRG também aumentam em 0,12 dias. Também se constata que se o número de especialidades (especialidades) aumentar, as consultas realizadas fora dos TMRG também aumentam em 0,86 dias; (iii) o tempo máximo entre o pedido de consulta até à data do seu agendamento aumenta em 5,9 pontos percentuais, se os hospitais pertencerem a uma ULS e quando comparado com o grupo de controlo. Se o número de pedidos aumentar fora dos TMRG (pedidos out), o tempo máximo até à data de agendamento aumenta em 1,5 pontos percentuais. Também se constata que se o número de especialidades (especialidades) aumentar, o tempo máximo até à data de agendamento aumenta em 2 pontos percentuais. Verifica-se, então, que se o hospital pertencer a uma ULS, o número de consultas realizadas fora do TMRG aumenta, o tempo médio e o tempo máximo entre o pedido de consulta até à data do seu agendamento, também aumentam, quando comparados com os hospitais que não pertencem a este modelo de gestão integrado. Este resultado pode revelar um problema de acesso dentro das ULS, podendo este sistema integrado não estar a dar a resposta mais eficiente no que diz respeito às primeiras consultas por especialidade. No entanto, este resultado pode ficar a deverse não tanto ao modelo em si mesmo, mas à sua incompleta ou lenta concretização, aliás conforme também corroborado pelo estudo EGIOS. Torna-se importante referir que o horizonte temporal (um ano e três meses) é pequeno para se poderem retirar conclusões mais robustas (embora estas revelem um nível de significância estatístico elevado), sendo, assim, pertinente realizar relatórios futuros de acompanhamento, com horizontes temporais mais alargado, para se aferir do desempenho das ULS. 4.1.4. Internamentos evitáveis Por último, é também apresentado um trabalho de investigação relativo ao estudo de um importante indicador que poderá ser utilizado para diferentes propósitos no âmbito da integração de cuidados de saúde: os internamentos por causas sensíveis a cuidados de ambulatório. Este trabalho foi desenvolvido por João Sarmento, Rui Santana, Conceição Alves, Paula Oliveira e Rita Sebastião, e trata-se de um estudo todavia não publicado. As Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) ou os internamentos por causas sensíveis a cuidados de ambulatório (ICSA) são definidas como um conjunto de patologias que podem e devem ser prevenidas e/ou tratadas ao nível dos cuidados de primeira linha (1). Assim sendo, a falta de acesso a estes cuidados, ou a sua falta de efetividade, resultam em internamentos evitáveis (2). As diferentes patologias serão sensíveis a diferentes atividades, sendo as principais: a prevenção primária (p.ex. vacinação), o diagnóstico e tratamento precoce e bom controlo e gestão da doença crónica. Os ICSA são influenciados por vários fatores relacionados com o contexto onde são medidos, sendo ampla a evidência neste campo. Sistematicamente é possível 87 organizar estes fatores em quatro grandes grupos: características ligadas aos prestadores; características socioeconómicas e demográficas; características geográficas e; características epidemiológicas. A estrutura e processos dos prestadores de cuidados de saúde influenciam os ICSA, tanto ao nível dos CSP, hospitais e cuidados continuados, bem como na relação entre estes. Ao nível dos CSP existe uma relação inversa entre o número de ICSA e o número de médicos de família por 100.000 hab. (8,9), bem como o número de visitas ao médico de família (8–10). Outro aspeto fundamental ligado aos CSP é a continuidade de cuidados pelo médico de família. Verificou-se que os utentes com mais de 75% das suas consultas com o mesmo médico de família tinham uma menor probabilidade de serem internados, quando comparados com utentes que tiveram menos de 75% de consultas com o mesmo médico (11) . As características socioeconómicas e demográficas da população utilizadora dos cuidados de Saúde têm influência nos ICSA. Estes são mais frequentes nos elementos do sexo masculino, com dois picos de incidência, nomeadamente nas faixas etárias superiores aos 65 anos e inferiores aos 15 anos (5,9). Recentemente a associação entre o número de ICSA e os indicadores socioeconómicos tem sido alvo de vários estudos por todo o mundo (8,12–15). Todos eles têm evidenciado uma relação inversa. Níveis mais baixos de escolaridade também parecem relacionar-se com taxas de ICSA mais elevadas (8), assim como níveis mais elevados de desemprego (5). As características geográficas das regiões onde se inserem os prestadores também influenciam os ICSA. A distância ao hospital parece influenciar os internamentos, nomeadamente, aumentando o seu número quanto mais próximo se estiver deste (5,16). Segundo Ansari(8), analisando áreas rurais, a menor densidade populacional e o maior isolamento parecem ser preditores de maiores taxas de ICSA. Finalmente, as características epidemiológicas das patologias em determinada área geográfica estão inegavelmente relacionadas com as taxas de ICSA, nomeadamente prevalência e severidade das doenças(8). Na literatura estão disponíveis várias listas de ICSA criadas para diferentes realidades (3,5,7,17–22). Este facto cria uma dificuldade de comparação internacional dos resultados, no entanto, ganha-se especificidade pela maior adequação da lista às responsabilidades e ações dos CSP de cada país. Em Portugal, o Alto Comissariado da Saúde propôs a utilização da metodologia desenvolvida pelo Canadian Institute for Health Information. Contudo, não é do conhecimento dos autores qualquer trabalho de validação de uma lista de ICSA adaptada à realidade portuguesa. Assim, através do presente estudo pretendeu-se: Determinar e caracterizar os Internamentos por Causas Sensíveis a Cuidados de Saúde Primários (ICSA) em Portugal Caracterizar a evolução histórica da taxa ICSA Avaliar o impacto da utilização de diferentes listas de ICSA 88 Para a sua concretização foi realizado um estudo observacional, descritivo e analítico utilizando os dados relativos a 4.754.560 internamentos de cidadãos residentes no território continental português, entre o ano de 2007 e 2011. Os dados foram cedidos pela Administração Central dos Serviços de Saúde (ACSS), sendo provenientes das bases de dados de resumos de altas. Os ICSA foram determinados de acordo com duas listas internacionais, nomeadamente a do Canadian Institute for Health Information (23) e a validada por Caminal et al. (5)em Espanha. Para cálculo das taxas ICSA foram utilizados os dados do Instituto Nacional de Estatística referentes às estimativas populacionais anuais, com detalhe por concelho. Os resultados diferem de acordo com a lista de ICSA utilizada. De acordo com a lista canadiana, que inclui apenas doenças crónicas, existiu um decréscimo constante da taxa de ICSA desde 2007, de 244,2 para 218,5 int./100.000 hab. (Gráfico 3). No entanto, segundo a lista espanhola, que inclui patologias agudas e imunizáveis, houve um crescimento da taxa de internamentos de 2007 (1539,6 int./100.000 hab.) a 2009 (1608,3 int./100.000 hab.), seguindo-se uma ligeira redução nos dois anos subsequentes, determinando-se em 2011 1577,5 int./100.000 hab. Gráfico 3: Evolução histórica das taxas de ICSA em Portugal de 2007 a 2011 de acordo com duas listas de CSA. 1.620,00 250 245 1.600,00 240 1.580,00 235 230 1.560,00 225 1.540,00 220 Lista Espanhola 1.520,00 215 Lista Canadiana 210 1.500,00 205 2007 2008 2009 2010 2011 Int./100.000 hab. Observando o ano de 2011 com mais detalhe, pode constatar-se que os ICSA representaram 4,4% e 31,8% dos internamentos por causas médicas segundo a lista canadiana e espanhola respetivamente. Os internamentos foram mais frequentes no sexo masculino 58,1% (lista canadiana) e 52,8% (lista espanhola). A distribuição dos ICSA pelas classes etárias revela o padrão descrito na literatura, com dois picos de maior frequência, o primeiro em idade pediátrica e o segundo a partir da quinta década de vida. O primeiro deve-se essencialmente aos internamentos causados por asma, sendo o segundo pico determinado pelo surgimento de internamentos por doenças cardiovasculares. As patologias que mais frequentemente motivaram internamentos são, naturalmente, diferentes consoante a lista utilizada. Segundo a metodologia Canadiana a insuficiência cardíaca e edema agudo do pulmão foram responsáveis por 89 23,3% dos ICSA, seguindo-se a DPOC e a diabetes (Gráfico 4). Segundo a lista espanhola, a pneumonia (24%) e a cardiopatia hipertensiva (21,2%) antecedem a insuficiência cardíaca (11,7%) e a DPOC (10,8%) como causas mais frequentes de internamento. Gráfico 4: Distribuição dos ICSA por patologia. (ITU- Infeções do Trato Urinário; DPOC- doença pulmonar obstrutiva crónica; HTAHipertensão arterial; ICEP- insurdíaca e edema agudo do pulmão) A análise das taxas de internamento por município permite outro detalhe na observação. Utilizando a lista Canadiana as taxas (brutas) de internamento variam entre 51,5 e 732,5 int./100.000 hab. (x=225,5 dp=92,9). Após realizar uma estratificação em cinco percentis, é percetível que existem aglomerados regionais de boa e má performance. Pela positiva destacam-se os distritos de Évora, Beja, Porto e Braga, bem como a região do Algarve com resultados inferiores à média nacional. Pela negativa destacam-se os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Leira e a Região de Trás-Os-Montes e Alto Douro. Segundo a lista Espanhola o panorama é ligeiramente diferente, apesar de algumas tendências se manterem, nomeadamente os bons resultados em alguns municípios do Alentejo, Algarve, Porto e Braga, bem como a tendência para resultados abaixo da média nacional na região de Trás-OsMontes e Alto Douro bem como na Beira Baixa e Litoral. Os valores da taxa de internamento variaram entre 720 e 3.705,6 int./100.000 hab. (x=1733,5 dp=488,1). 90 Figura 9: Distribuição dos ICSCSP no território continental português de acordo com o percentil da taxa de internamento (bruta). (O percentil corresponde àscontinental taxas de internamentos mais baixas) ICSA no 1território Português Lista Canadiana Lista Espanhola Foram calculados dois cenários de melhoria (24). O cenário “up the ladder” pressupõe que é possível que cada concelho melhore até ao nível médio do percentil seguinte. O cenário “all the best” calcula uma melhoria de todos os conselhos até à média do percentil mais baixo. Assim, estima-se uma melhoria possível de acordo com a lista canadiana, entre 20% e 45% e de 13% a 27% segundo a lista espanhola. Isto significa uma redução entre 4.443 e 43.656 internamentos. Um estudo anterior estabeleceu uma estimativa grosseira do custo médio dos ICSA (segundo o preço estabelecido pela portaria 839-A/2009) em 2.445€ (25). Com base nessa estimativa, a poupança financeira potencial para o SNS oscilará entre 10,8M€ e 106,7M€. Ao nível dos argumentos utilizados para a discussão, constata-se desde logo que a primeira questão do presente estudo prende-se com aspetos metodológicos: a definição dos ICSA é determinante dos resultados finais e dessa forma é urgente realizar em Portugal a discussão sobre quais os internamentos evitáveis pela ação dos CSP. As listas utilizadas neste estudo têm diferenças conceptuais profundas, em primeiro lugar pelas dimensões avaliadas. Enquanto a lista Canadiana avalia apenas a capacidade de gestão e controle das doenças crónicas por parte dos CSP, a lista Espanhola reflete também a capacidade de diagnóstico precoce de situações clínicas bem como a capacidade de prevenção primária dos CSP. Além disso, as listas diferem 91 nos códigos específicos da ICD9-CM dentro da mesma patologia. Existe também uma diferença substancial na especificidade das metodologias. Por exemplo, na lista canadiana, os casos de internamento por doença cardiovascular (hipertensão, angina e insuficiência cardíaca) em que ocorreu um procedimento cardíaco (p.ex. um procedimento valvular) são excluídos da análise, por corresponderem à realização de um procedimento “não-evitável”. Analisadas as questões metodológicas, importa discutir as tendências apuradas. Em primeiro lugar parece haver uma evolução favorável no controlo das doenças crónicas, uma vez que as taxas de ICSA segundo a lista Canadiana revelaram uma diminuição constante no período da análise. Importa também realçar a importância do impacto das doenças crónicas, mesmo quando analisadas no conjunto mais alargado de ICSA representam cerca de metade destes. Por outro lado, no cenário de avaliação mais alargado (lista Espanhola), a tendência é oposta, parecendo haver um aumento dos ICSA até 2009 com uma subsequente diminuição, o que pode significar uma diminuição na efetividade ou no acesso aos CSP durante o período analisado. A análise da distribuição regional dos internamentos permite tirar conclusões interessantes, uma vez que se conseguem identificar agregados de melhor e pior performance. Estes resultados também variam conforme a metodologia aplicada, no entanto parece haver concordância na identificação dos distritos de Évora, Beja, Porto e Braga como regiões de performance acima da média e pelo contrário os distritos de Portalegre, Castelo Branco e Leira, bem como a região de Trás-Os-Montes e Alto Douro, como locais de performance abaixo da média. Estes resultados merecem aprofundamento. Finalmente, os cenários de melhoria estimam reduções potencialmente significativas, quer em resultados de saúde quer em termos financeiros. Em termos resumidos, este trabalho permitiu concluir o seguinte: É fundamental discutir e validar a lista de ICSA em Portugal; Existiu um decréscimo na taxa de ICSA no nosso país para o período em análise, segundo a lista Canadiana; Existiu um aumento da taxa de ICSA, segundo a lista Espanhola, até 2009 com um subsequente decréscimo; Existem resultados regionais que indiciam diferenças na sua distribuição geográfica; Existe um potencial de redução dos ICSA entre 13% e 45%; Existe um potencial estimado de poupança entre 10,8M€ e 106,7M€. Bibliografia 1. Rutstein D e et al. Measuring the quality of medical care. A clinical method. N. Engl. J. Med. 1976, Vol. 294:11, pp, 582–8. 2. Nedel F e et al. Conceptual and methodological aspects in the study of hospitalizations for ambulatory care sensitive conditions. Ciência Saúde. 2011, Vol.16:Supl 1, pp.1145– 54. 3. Caminal J e et al. The role of primary care in preventing ambulatory care sensitive conditions. Eur. 2004, Vol. 14:3, pp.246–51 92 4. Homar J, Matutano C. La evaluación de la atención primaria y las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions. Marco conceptual. Aten. Primaria. 2003, Vol. 31:1, pp.61–5. 5. Caminal J, e et al. Las hospitalizaciones por ambulatory care sensitive conditions: selección del listado de códigos de diagnóstico válidos para España. Gac. Sanit. Vol.15:2, pp.128–41. 6. Solberg L e et al. The Minnesota project: a focused approach to ambulatory quality assessment. Inquiry. 1990, Vol. 27:4, pp. 359–67. 7. Weissman J. Rates of Avoidable Hospitalization by Insurance Status in Massachusetts and Maryland. JAMA. 1992, Vol. 18:17, pp.2388. 8. Ansari Z e et al. The Victorian ambulatory care sensitive conditions study: rural and urban perspectives. Soz. Praventivmed. 2003, Vol. 48:1, pp.33–43. 9. Rizza P e et al. Preventable hospitalization and access to primary health care in an area of Southern Italy. BMC Health Serv. Res. 2007, Vol. 7:134. 10. Hossain M, Laditka J. Using hospitalization for ambulatory care sensitive conditions to measure access to primary health care: an application of spatial structural equation modeling. Int. J. Health Geogr. [Online] . 2009 Jan [citação 2013 Dec 19] 8:51.http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2745375&tool=pmcentre z&rendertype=abstract 11. Menec V e et al. Does continuity of care with a family physician reduce hospitalizations among older adults? J. Health Serv. Res. Policy. 2006, Vol. 11:4, pp.196–201. 12. Roos L e et al. Physician visits, hospitalizations, and socioeconomic status: ambulatory care sensitive conditions in a canadian setting. Health Serv. Res. 2005, Vol. 40:4, pp. 1167–85. 13. Pirani M e et al. Potentially avoidable hospitalisation in Bologna, 1997-2000: temporal trend and differences by income level. Epidemiol. Prev. 2006, Vol. 30:3, pp.169–77. 14. Agabiti N e et al.. Income level and chronic ambulatory care sensitive conditions in adults: a multicity population-based study in Italy. BMC Public Health. 2009, Vol. 9:1, p.457. 15. Magan P e et al. Geographic variations in avoidable hospitalizations in the elderly, in a health system with universal coverage. BMC Health Serv. Res. 2008, Vol. 8:1, p.42. 16. Bermúdez-Tamayo C e et al., Organizational characteristics of primary care and hospitalization for to the main ambulatory care sensitive conditions. Aten. Primaria. 2004Vol. 33:6, pp. 305–11. 17. Millman M. Access to health care in America. 1st ed. Washington DC: National Academy Press; 1993. 18. Billings J e et al. Impact of socioeconomic status on hospital use in New York City. Health Aff. (Millwood). 1993. Vol. 12:1, pp. 162–73. 93 19. Sanderson C, Dixon J. Conditions for which onset or hospital admission is potentially preventable by timely and effective ambulatory care. [Online]. J. Health Serv. Res. Policy. 2000 [citação 2013 Dec 18] http://researchonline.lshtm.ac.uk/19704/ 20. Brown A e et al. Hospitalization for ambulatory care-sensitive conditions: a method for comparative access and quality studies using routinely collected statistics. Can. J. Public Health. Vol. 92:2, pp.155–9. 21. QUALITY AFHRA. AHRQ Quality Indicators – Guide to Prevention Quality Indicators: Hospital Admission for Ambulatory Care Sensitive Conditions. 4th rev. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality; 2004. 22. INFORMATION CIFH. Technical Note: Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSC) [Online]. 2008 [citação 2011 Nov 20]. Available from: http://www.cihi.ca/cihi-extportal/internet/en/document/health+system+performance/indicators/health/tech_acsc_20 11 23. Information CI for H. Ambulatory Care Sensitive Conditions (ACSCs) Hospitalization Rate Technical Note [Online]. http://www.cihi.ca/cihi-extportal/internet/en/document/health+system+performance/indicators/health/ind_tech_2.5_ 2012 24. Tian Y, Dixon A, Gao H. Emergency Hospital Admissions for Ambulatory CareSensitive Conditions: Identifying the potential for reductions. [Online] 2012 [citação 2013 Nov 22] http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Emergency+hospital+a dmissions+for+ambulatory+caresensitive+conditions+:+identifying+the+potential+for+reductions#4 (24) 25. Sarmento J. Internamentos por causas sensíveis a cuidados de ambulatório em contexto de integração vertical. [Online . Universidade Nova de Lisboa; 013. p. 55. http://run.unl.pt/bitstream/1036 /9631/1/RUN - Tese de Mestrado - João Sarmento.pdf 94 4.2. Boas práticas de integração Tal como foi mencionado anteriormente, na nota metodológica do presente relatório, foi solicitado às unidades prestadoras de cuidados de saúde - ULS, Hospitais e ARS (ACES) - que identificassem boas experiências de integração de cuidados de saúde e que estas apresentassem características de reprodutividade noutros contextos. A informação reportada, deveria obedecer às seguintes dimensões de análise: pertinência da experiência, objetivos, metodologia de implementação e resultados esperados/alcançados. Desde logo, a necessidade de desenvolver esta tarefa é consequência da ausência de mecanismos de identificação e partilha de boas práticas realizadas nos mais diversos contextos, pelo que a sua divulgação, partilha e aprendizagem deverão fazer parte de um processo de melhoria contínua das organizações. Do conjunto de 20 respostas obtidas (cerca de 40 medidas), foram selecionadas pelos membros do GdT, as que tendo como critérios de seleção a inovação, seu impacto e capacidade de implementação, mais se destacaram. De uma forma genérica e transversal, as experiências reportadas podem tipificar-se por um conjunto de características comuns, entre as quais se salientam particularmente: Ausência generalizada de planeamento e programação das atividades de integração de cuidados de saúde, numa perspetiva macro (sistema de saúde) e micro (unidades e prestadores de cuidados de saúde); De entre as experiências reportadas, verifica-se que na sua maioria se tratam de iniciativas cuja origem são os cuidados hospitalares, importando, igualmente assinalar o facto de poucos projetos relativos aos cuidados de saúde primários terem sido remetidos ao presente GdT; Pontuais, não generalizáveis; Projetos de iniciativa individual, não sistémica; Ausência de identificação da necessidade que existe em gerir o processo de integração de cuidados de saúde. Da análise realizada a todas as iniciativas de integração, foram selecionadas quatro, que no parecer do GdT, eram as que melhor incorporavam o sentido de integração, numa ou em várias das suas dimensões (Clínica, Informação, Financeira, Administrativa e Normativa). A breve descrição das iniciativas a seguir identificadas não segue qualquer critério de valorização. a) Centro Hospitalar Tâmega Sousa, EPE – Comissão de Gestão de Interface do Centro Hospitalar Tâmega Sousa, EPE/Cuidados Primários A iniciativa enviada e desenvolvida pelo Centro Hospitalar Tâmega Sousa, EPE, procura o aprofundamento de uma cultura de governação clínica entre o Centro Hospitalar e os Agrupamentos de Centros de Saúde da área de influência, garantindo 95 um sistema de intercomunicação comum, uma articulação estreita entre direções clínicas (cuidados primários e hospitalares), uma resposta mais adequada à população e o desenvolvimento de estratégias comuns. Esta iniciativa passa pela concretização e implementação de guidelines práticas baseadas na evidência e incorporadas nos sistemas de informação, na educação do doente para a autogestão, e na medição de medição de indicadores de processo e de resultados. Os profissionais envolvidos, beneficiam de formação e reforça-se a integração dos diferentes serviços intervenientes. No terreno encontram-se já implementados os protocolos de referenciação e alta com a respetiva divulgação no hospital e nos cuidados de saúde primários. Foi também disponibilizada teleconsulta para as especialidades de Medicina Física e de Reabilitação, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica e Diabetes. Esta, igualmente, implementada a ligação com os Cuidados Respiratórios Domiciliários e os Protocolos de Articulação e Referenciação para a Consulta de Hipocoagulação. Salienta-se particularmente nesta experiência, o facto de existir uma agenda programada, tendo sido definida e partilhada por uma equipa de trabalho conjunta entre os diferentes agentes com responsabilidades executivas de diferentes níveis de cuidados de saúde. A existência de uma estrutura formal que permita evidenciar a necessidade de deter um espaço comum de atuação, parece ser crucial para a dinâmica de trabalho da iniciativa apresentada. b) Centro Hospitalar do Oeste – Programa de notícia de nascimento A iniciativa enviada e desenvolvida pelo Centro Hospitalar do Oeste, permite a notificação do nascimento de todos os recém-nascidos, no dia em que ocorre a alta do Serviço de Obstetrícia, para a respetiva Unidade de Saúde Familiar ou Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, onde a parturiente está inscrita. Este projeto permite a notificação automática de todos os nascimentos ocorridos naquela unidade hospitalar, garantindo que a unidade de cuidados de saúde primários onde a mãe está registada, obtém, em tempo útil, a informação relativa a um recémnascido que passará a integrar aquela unidade. Naturalmente, que existem óbvios benefícios para a programação da tipologia de cuidados necessários para estas situações, assegurando um contínuo de cuidados na transição entre o ambiente hospitalar e os cuidados de saúde primários e o reporte de toda a informação considerada essencial. Esta medida é especialmente importante, pois permite que sejam sinalizados todas as situações que envolvam uma eventual falta de comparência na unidade de saúde, sendo despoletado um alerta para a avaliação da situação e contactados os pais. c) Centro Hospitalar de Setúbal, EPE – Consulta Aberta/Consultadoria aos Médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) dos Cuidados de Saúde Primários (CSP) O Centro Hospitalar de Setúbal, EPE, enviou, como iniciativa de integração já implementada a Consulta Aberta/Consultadoria aos Médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF) dos Cuidados de Saúde Primários (CSP). Este projeto visa responder 96 à necessidade de melhorar o nível da informação de referenciação de doentes dos cuidados de saúde primários para a especialidade de Cardiologia, garantindo que é atribuído o correto nível de prioridade aos doentes ou que é definida a sua manutenção no nível dos cuidados de saúde primários. Esta iniciativa procura garantir que os doentes com patologias mais severas têm acesso ao serviço de Cardiologia, independentemente do nível de cuidados onde se encontram. Foi criada uma consulta aberta e disponibilizado um contacto telefónico com o médico do serviço de Cardiologia, que serve quer para a referenciação urgente, quer para a consultadoria junto dos médicos de Medicina Geral e Familiar. Em casos de referenciação urgente, o doente poderá ser visto no próprio dia da consulta aberta. Desta forma, procura-se assegurar uma maior acessibilidade dos doentes aos cuidados hospitalares, tendo por base critérios de referenciação bem definidos e uma articulação estreita entre profissionais dos diferentes níveis de prestação de cuidados. d) Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE – Maternidade mais próxima da Comunidade A Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, EPE enviou a iniciativa Maternidade mais próxima da Comunidade, que procura disponibilizar à população da área de influência da Unidade Local de Saúde um aumento da qualidade dos cuidados de saúde no âmbito da saúde materna, através da disponibilização de mais e melhor informação, de ensino de técnicas para a participação/colaboração no trabalho de parto, na aquisição de competências pelo casal, dotando-o, igualmente, de maior autonomia no processo de tomada de decisão em saúde. Esta intervenção passa pela deslocalização de profissionais hospitalares, que se deslocam às unidades de cuidados de saúde primários, procurando, desta forma, promover a transmissão de informação e conhecimento mais próximo da comunidade e procurando aumentar o nível de conforto do casal, evitando a deslocação à unidade hospitalar e assegurando a realização de diferentes ações de forma compatível com as necessidades da população abrangida. Esta iniciativa encontra-se implementada nos ACES da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano e procura contribuir para o reforço de importância da ligação entre as estruturas dos cuidados de saúde primários e a maternidade, garantindo o contínuo de informação e cuidados. e) Telemedicina na região Alentejo A Região de Saúde do Alentejo foi uma das regiões pioneiras na implementação da telemedicina no nosso país, iniciando em 1998 uma série de investimentos em sistemas de telemedicina que permanecem ativos até aos dias de hoje. Esta região apresenta especificidades sócio demográficas que potenciam a utilização da telemedicina tal como, uma grande dispersão geográfica da população, uma baixa densidade populacional, um elevado índice de envelhecimento, um reduzido número 97 de médicos por 1.000 habitantes e a significativa distância geográfica entre prestadores de cuidados de saúde. Desde 2000 que a Rede de Telemedicina no Alentejo está a funcionar de forma sistemática realizando teleconsultas em diversas especialidades médicas bem como telediagnóstico e mais especificamente teleradiologia e telepatologia. A rede de Telemedicina desta região foi implementada em 6 etapas que decorreram entre 1998-2011. O investimento destas infraestruturas foi suportado, nomeadamente, através de co-financiamento comunitário do Programa Operacional da Sociedade do Conhecimento (POS_C) e INAlentejo/ QREN. Em 2011 existiam 27 plataformas de Telemedicina em funcionamento espalhadas pelos diferentes prestadores, Unidades Locais de Saúde, Agrupamentos de Centros de Saúde e Hospitais situados em 24 concelhos e abrangendo um total de cerca de 350 mil habitantes. As plataformas existentes permitem a realização de diversas atividades de telemedicina, ligando diferentes tipos de prestadores e diferentes níveis de cuidados. São realizadas atividades entre hospitais (atividades de âmbito horizontal) e entre hospitais e centros de saúde (atividades de âmbito vertical). As atividades de telemedicina/teleconsulta em 2011 abrangeram as seguintes especialidades: Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Fisiatria, Gastroentrologia, Imunoalergologia, Neurologia, Psiquiatria, Ortopedia e Tiróide. O número de atos de telemedicina realizados na região apresenta um crescimento sustentado no período 1998 a 2011 perfazendo um total acumulado de 168.427 atos. A utilização da telemedicina na região permitiu uma melhoria da informação sobre os doentes, um aumento significativo da acessibilidade às consultas de especialidades médicas, uma drástica diminuição do tempo de espera, uma redução do tempo de consulta, uma agilização do seguimento dos doentes, uma atualização da formação específica dos médicos de família, uma redução dos custos de transporte, uma redução das despesas associadas às consultas hospitalares, uma diminuição dos custos sociais associados aos doentes (custos de acompanhamento, alojamento e alimentação) e um aumento significativo do grau de satisfação dos doentes. Esta experiência demonstra uma importante dimensão de integração, através de tecnologias de informação e comunicação. Para além de constituir uma realidade concretizada, com uma ligação ampla entre cuidados de saúde primários e cuidados hospitalares, esta área tem um potencial de desenvolvimento bastante significativo, sendo crucial para o processo de integração de cuidados de saúde. Da análise das experiências reportadas pelas Instituições, verifica-se que todas são meritórias quanto aos objetivos definidos e aos resultados expectáveis. São, na sua maioria, projetos bem estruturados e com claros benefícios para a população e para a articulação entre os níveis de cuidados. 98 Contudo, e considerando o propósito deste Grupo, importa referir que as iniciativas pecam por não se enquadrarem num âmbito mais abrangente, de carácter regional ou nacional. São, em muitos casos, implementadas como projetos individuais, fruto de vontades de alguns profissionais, sem qualquer ligação a necessidades de atuação claramente definidas (Plano Nacional de Saúde). Correspondem, em muitas situações à premência de supressão de necessidades locais, que, fazendo sentido naquela esfera de atuação, por vezes se podem revelar incoerentes com a restante realidade não só da região onde se inserem, mas também, da própria unidade de saúde. Seria útil promover a partilha destas experiências ou definir um guião para a inovação em saúde, que permitisse o enquadramento destas iniciativas, garantindo, por um lado, a correta identificação de objetivos, recursos necessários, entidades envolvidas e resultados esperados e por outro a avaliação destas iniciativas. 99 CAPÍTULO V MEDIDAS DE INTEGRAÇÃO 100 5. Medidas Em função da metodologia descrita no capítulo II, são apresentadas em seguida as medidas consideradas como promotoras de integração de cuidados de saúde pelo GdT. Estas medidas são as consideradas prioritárias no largo espectro de iniciativas que poderão ser propostas tendo por base um melhor nível de integração de cuidados de saúde. As medidas que adiante são detalhadas, deverão ser encaradas como ideias base que necessitam de ser posteriormente desenvolvidas, caso obtenham o reconhecimento do seu mérito, no sentido da sua operacionalização. Não poderão ser encaradas como um produto final acabado, pelo contrário, deverão constituir apenas o princípio para o seu debate e discussão. Nem todas as dimensões referidas anteriormente se encontram contempladas na apresentação das medidas. Especificamente, as medidas relacionadas com as dimensões normativas e de informação não se encontram detalhadas na presente proposta. A razão pela qual se optou por esta formulação, prende-se com a transversalidade da presença das iniciativas destas dimensões em praticamente todas as medidas sugeridas. A sua não individualização centra-se não na sua falta de importância, antes pelo contrário, mas na sua natureza indissociável face às restantes medidas, pelo que a sua presença deve ser ubíqua, sendo fundamental para a concretização das medidas propostas e do seu sucesso esperado. Tal como referido anteriormente, as medidas são apresentadas segundo uma estrutura uniforme, onde se detalha a sua denominação, o seu rationale, a descrição, as condições de aplicação e o impacto previsto. De uma forma resumida, o quadro seguinte enuncia as medidas em cada uma das dimensões consideradas. Dimensão Clínica Introdução do conceito de gestor do doente. Criação de sistema nacional de gestão de referenciações em saúde. Aplicação de normas, guidelines e protocolos clínicos. Dimensão Financeira Incentivos conjuntos: aplicação da unidade de pagamento capitação. Desenvolvimento e aplicação de um sistema de custeio por utente. Dimensão Administrativa Formação específica em integração de cuidados. Uniformização e centralização de procedimentos administrativos. Incentivar a criação de conhecimento sobre integração de cuidados de saúde (investigação). 101 Dimensão Sistémica Criação de estruturas de integração. Reforço de uma cultura organizacional integrada. Planeamento estratégico comum. 102 5.1. Dimensão Clínica 5.1.1. Introdução do conceito de gestor do doente Medida Introdução do conceito de gestor do doente. Rationale A transição epidemiológica que vivemos, onde se observa uma mudança de paradigma entre a centralidade na doença aguda para a doença crónica e simultaneamente o crescimento da prevalência de multimorbilidade nas populações, obriga a uma visão integral do doente em detrimento da visão fragmentada por patologia. Estes novos problemas, globais e cada vez mais complexos, constituem novos desafios aos sistemas de saúde um pouco por todo o mundo (1). O estudo de Anderson (2007) (2), que pretendeu caracterizar os cuidados de saúde prestados a doentes nos EUA, revela-nos alguma informação relevante para identificação dos problemas inerentes a este fenómeno, nomeadamente: As doenças crónicas assumirem-se como as grandes responsáveis pela mortalidade e morbilidade existente. Em 2005, cerca de 133 milhões de americanos apresentavam pelo menos uma condição crónica, prevendo-se que este número suba para os 157 milhões em 2020. Em 2004, 26% dos americanos apresentavam duas ou mais condições crónicas; Utentes com mais do que cinco condições crónicas apresentam uma probabilidade dez vezes superior de serem hospitalizados relativamente ao conjunto de utentes sem patologia crónica; Os custos médios per capita dos doentes que apresentam uma ou mais doenças crónicas são cinco vezes superiores aos restantes doentes. A evolução prevista destas condições, apresenta uma tendência crescente ao nível da sua prevalência, com consumos e custos diretos e indiretos superiores à média das restantes. Estas requerem uma resposta diferente da que atualmente podemos encontrar, centrada mormente nos cuidados agudos (3). No nosso país, a prevalência auto-declarada de doenças crónicas pode ser encontrada no estudo de Branco, Nogueira e Contreiras (2005) (4), onde se estimaram as seguintes taxas: Condição crónica Hipertensão arterial Diabetes Asma/bronquite asmática Doenças reumáticas Taxa 18%. 5%. 9%. 24%. Alguns trabalhos posteriores – em cada patologia – revelaram o seu crescimento. De facto, o crescimento da prevalência e incidência das doenças crónicas e da 103 multimorbilidade é uma realidade evidente: o relatório do observatório nacional da diabetes de 2012 revela o aumento de um ponto percentual na prevalência da diabetes entre 2009 e 2011 e estima um aumento da incidência em 80% entre 2000 e 2011 (5). No que respeita à hipertensão arterial, verifica-se que entre 1999 e 2006, a população que reportou a presença desta condição crónica, aumentou cerca de 34% (6). Em Portugal, num estudo de caso que recorre a dados de 2010 de uma USF modelo B, verificou-se uma concentração relativa da produção e dos custos na lista de inscritos: 93% da produção (contactos diretos e indiretos) e 97% dos custos (medicamentos, MCDT e recursos humanos) concentram-se em 50% dos cerca de 15.000 inscritos da USF. Por outras palavras, cerca de metade dos utentes apenas consomem 7% da produção e 3% dos custos totais desta unidade. Estes valores indiciam uma poole de riscos diferenciada entre a lista de utentes, exigindo respostas organizacionais diferentes das atuais e que permitam direcionar o serviço prestado de forma adequada ao perfil das necessidades dos utentes que servem (7). Face a esta realidade, a necessidade de um acompanhamento mais próximo e personalizado de doentes com elevado nível de risco pode contribuir para reduzir a fragmentação de cuidados, garantir a continuidade ao longo de todos os níveis de cuidados (clínicos e não clínicos) e locais de prestação. O recurso a uma resposta organizacional que passe pela presença de gestores de doentes com elevado risco, clínico e financeiro, de acordo com alguns estudos, permite alcançar uma redução da utilização dos cuidados hospitalares, nomeadamente redução do número de internamentos desnecessários, redução da demora média, redução da recorrência à urgência e até da necessidade de cuidados continuados (8). Descrição A gestão de caso pode definir-se como um processo colaborativo que avalia, planeia, implementa, coordena, monitoriza e avalia opções e serviços para satisfazer necessidades de saúde individuais através da comunicação e recursos disponíveis para promover resultados de qualidade e custo-efetivos (adaptado de CMSA, 1994) (9).É importante referir que a gestão de caso se trata de um conceito distinto de gestão da doença, na medida em que o primeiro tem seguido uma abordagem dirigida ao individuo com múltiplas condições crónicas e necessidades complexas, enquanto a gestão da doença é baseada na população ficando-se em grupos específicos de indivíduos com uma determinada patologia. O conceito de gestor do doente que se propõe nesta medida engloba a definição de CMSA e consiste numa figura que acompanha personalizadamente o doente com condições clínicas e socioeconómicas complexas ao longo de um continuum de cuidados. A literatura descreve algumas das funções do gestor do doente e que se elencam em seguida (8) (10). Naturalmente que, tendo o sistema de saúde português as suas particularidades, estas funções requerem alguma discussão no sentido da sua adaptação à realidade nacional. 104 Assumir todo o processo de referenciação: a partir do momento em que o doente tem indicação para ser referenciado, cabe ao gestor do doente assegurar todo o processo; Coordenar cuidados, garantindo a continuidade: o gestor do doente tem a responsabilidade, de coordenar os vários cuidados, facilitando a ligação entre os elementos das equipas de saúde. Cabe ainda ao gestor do doente conhecer os recursos da comunidade e saber tirar o melhor partido em benefício do doente; Promover o empowerment/educação do doente: o papel do gestor do doente passa também por promover o autocuidado, capacitando o doente para a gestão autónoma da sua doença; Garantir a adesão terapêutica: a adesão terapêutica, fator de sucesso para o controlo da doença crónica, é assegurada através de contacto telefónico periódico e visitas ao domicílio, entre outros; Acompanhamento desde a admissão ao internamento hospitalar e colaboração no planeamento da alta. O prolongamento dos internamentos além do tempo clinicamente necessário é uma realidade que pode ser otimizada com o planeamento da alta o mais precocemente possível. O gestor do doente, conhecendo os seus recursos, da família e da comunidade, poderá providenciar os meios necessários após a alta, evitando que a mesma seja prolongada além da duração apropriada; Gerir a utilização adequada dos serviços e recursos, em função das noemas e processos assistenciais; Assegurar a qualidade de cuidados de acordo com os standards e garantir a prestação dos melhores cuidados ao mais baixo custo, tendo também em conta as escolhas do doente; Sempre que se justifique, possibilidade de proceder à renovação do receituário crónico dos doente e revisão dos resultados de parâmetros de análises clínicas (supervisão clínica e farmacêutica no âmbito da equipa de saúde); Reportar a evolução dos outcomes; Condições de aplicação Uma vez que não existe em Portugal a figura do gestor do doente tal como proposta nesta medida, a sua implementação requer algumas adaptações, desde a reorganização de cuidados até ao seu enquadramento legal. No entanto, e recorrendo à experiência internacional sugere-se que: 1. O gestor do doente se encontre “sediado” nos cuidados de saúde primários e faça parte da equipa de saúde nos cuidados de primeira linha; 2. Estes profissionais disponham de uma formação específica, dirigida à sua futura prática profissional (8), pois o gestor do doente requer um conjunto de competências técnicas, comportamentais e científicas para o adequado desempenho das suas funções, que transcendem a formação especializada em saúde. Entre as competências descritas na literatura, podem salientar-se como exemplos um bom nível de conhecimento do sistema de saúde, a capacidade de 105 3. 4. 5. 6. selecionar as intervenções mais custo-efetivas e de coordenar os vários cuidados. Também competências como a comunicação inter-pessoal, assertividade e capacidade de negociação são referidas (10); Sejam definidos critérios para acompanhamento dos doentes por um gestor. Estes devem consubstanciar-se em perfis específicos de doença crónica, comorbilidades e propensão elevada para a utilização de recursos. Neste sentido, apresentam-se alguns critérios a considerar para a elegibilidade dos doentes, conforme descritos na literatura internacional (8) (10): Número de comorbilidades; Consumo de recursos; Utilizadores frequentes do serviço de urgência; Readmissões hospitalares frequentes; Demora média dos internamentos hospitalares; Necessidades complexas após a alta, nível de independência funcional e severidade da doença; Condições sociais complexas (por exemplo, pessoas que vivam sozinhas e sem suporte familiar ou social); Comportamento colaborante do doente; Tendo em conta o conhecimento que a equipa de saúde sediada nos cuidados de saúde primários tem dos seus doentes, esta parece ser a estrutura responsável pela referenciação para o gestor do doente. Não obstante, sempre que identificada a necessidade de um doente ser acompanhado por gestor do doente, quer no contexto hospitalar ou nos cuidados continuados, a mesma deve ser comunicada aos cuidados primários que melhor avaliarão a situação; Sejam criadas as condições necessárias para a existência desta função. As recomendações internacionais indicam que um gestor do doente pode acompanhar entre 50 a 80 doentes (11). Considerando que um gestor do doente acompanha 80 casos, e aplicando o gestor do doente apenas ao grupo de pessoas com mais de 5 doenças crónicas (6% da população (10)), seriam necessários aproximadamente 7.500 gestores de caso a nível nacional. A intervenção destes profissionais visa o acompanhamento dos doentes mais consumidores de recursos, permitindo assim a prazo controlar o desperdício de recursos através de um melhor controlo do estado do doente. Face à elevada variação da complexidade dos doentes, e no sentido de garantir um serviço de qualidade e equilibrar o esforço exigido por cada gestor de doente, a distribuição dos doentes por cada gestor do doente requerem a inclusão de uma componente de ajustamento pelo risco; A implementação do gestor do doente decorra através de um processo gradual, tendo no seu início, uma componente de formação e prosseguindo através de experiências piloto. A avaliação das experiências piloto e a determinação do seu custo-efetividade permitirão assim determinar o modelo mais adequado à realidade portuguesa. O processo de adaptação e avaliação destas experiências é crucial, uma vez que também é possível encontrar contextos onde a implementação destes programas não gerou os resultados esperados (12). 106 Impacto previsto Prevê-se que a gestão do doente adequada contribua essencialmente para a prestação de cuidados com mais qualidade e mais eficiência, através de (10) (12): Acompanhamento personalizado num sistema de saúde complexo e impessoal; Definição de um plano de cuidados personalizado; Potencial otimização da qualidade de vida e autonomia; Educação sobre o processo de doença de acordo com as necessidades individuais; Educação para o autocuidado, promovendo o retorno à máxima funcionalidade apoiando a família na obtenção de cuidados de suporte; Melhor adesão terapêutica, reduzindo episódios de agudização; Melhores outcomes clínicos; Redução da fragmentação, da duplicação de cuidados e consequente desperdício de recursos; Utilização menos intensiva dos contactos com a medicina geral e familiar, sendo apenas justificadas as consultas de agudização e renovação; Incremento da colaboração e coordenação e comunicação entre membros da equipa de saúde; Eficiência nos cuidados através do posicionamento do doente no nível de cuidados que necessita. Neste âmbito, um estudo de Okin, 2000 (13) revela um decréscimo de custos médios hospitalares de $21,022 para $14,910; A gestão otimizada em ambulatório, através da identificação de alterações no estado de saúde, permite um atuação precoce evitando ou reduzindo recorrência/readmissões ao hospital. Peikes, 2009 refere no seu estudo que a taxa de hospitalização per capita é superior no grupo de controlo (0,98) face ao grupo da gestão de caso (0,82) (14). Num outro estudo, o grupo da gestão de caso passou em média menos 36% do tempo no hospital por todas as causas (15); Melhor planeamento das altas, o que permite reduzir a demora média hospitalar destes casos. A título de exemplo, no estudo de Poole, 2001 verifica-se uma redução da demora média de 5,6 dias para 3,5 dias (15) nos doentes em programa de gestão de caso; Utilização mais adequada das urgências. Wetta-Hall, 2007 (16) reporta uma redução de 48% na recorrência à urgência; 107 Bibliografia 1. OECD. Health Reform: meeting the challeng of ageing and multiple morbidities. http://dx.doi.org/10.1787/9789264122314-en : OECD publishing, 2011. 2. Anderson, G. Chronic conditions: making the case for ongoing care. Baltimore : John Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2007. 3. Delnoij, D, Klazinga, N e Velden, K. Building integrated health system in Central and Eastern Europe: an analysis of WHO and World Bank views and their relevance for health systems in transition. European Journal of Public Health. 2003, Vol. 13:3, pp. 240-245. 4. Branco, M, Nogueira, P e Contreiras, T. Uma observação sobre estimativas da prevalência de algumas doenças crónicas, em Portugal Continental. s.l. : INSA, 2005. 5. Gardete, L e et al. Diabetes: factos e números 2012. Relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes. s.l. : Sociedade Portuguesa de Diabetologia, 2012. 6. DGS. Plano Nacional de Saúde 2012-2016. Perfil de Saúde em Portugal. [Online] [Citação: 10 de 02 de 2014.] http://pns.dgs.pt/files/2012/02/Perfil_Saude_2013-01-17.pdf. 7. Santana, R. Estimação do grau de concentração de produção e custos numa USF modelo B. Documento de trabalho. s.l. : Departamento de contratualização. Administração Regional de Saúde do Alentejo, 2012. 8. Ross, Shilpa, Curry, Natasha e Goodwin, Nick. Case management: what it is and how it can best be implemented. s.l. : The King´s Fund, 2011. 9. Case Management Society of America. Standards of Practice for case management. Revisão 2010. Arkansas : CASE MANAGEMENT SOCIETY OF AMERICA, 2010. p. 29. 10. Powell, Suzanne. Case Management: A pratical Guide to Success in Managed Care. 2nd. Washington : Lippincott Williams & Wilkins, 2000. 11. Portugal, Ministério da Saúde, INSA, INE. Inquérito Nacional de Saúde 2005/2006. Lisboa : Instituto Nacional de Saúde; Instituto Nacional de Estatística, 2009. 12. Totten, Annete M e et al. Outpatient Case Management for Adults With Medical Illnesses and Complex Care Needs. Rockville : Agency for Healthcare Research and Quality, 2013. Future Research Needs Paper No. 30. www.effectivehealthcare.ahrq.gov/reports/final.cfm. 13. Okin , R e et al. The effects of clinical case management on hospital service use among ED frequent users. American Journal Emerg. Med. 2000, Vol. 18:15, pp. 603-8. 14. Peikes, D e et al. Efects of care coordination on hospitalization, quality of care, and health care expenditures among Medicare beneficiaires. JAMA. 2009, Vol. 301:6, pp. 603-18. 15. Rice, K e et al. Disease management program for chronic obstructive pulmonary disease: a randomized controlled trial. Am J Respir Crit Care Med. 2010, Vol. 182:7, pp. 890-6. 16. Poole, P e et al. Case management may reduce length of hospital stay in patients with recurrent admissions forchronic obstructive pulmonary disease. Respirology. 2001, Vol. 6:1, pp. 37-42. 17. Wetta-Hall, R. Impact of a collaborative comunity case management program on a lowincome uninsured population in Sedgwick County. App Nurse Res. 2007, Vol. 20:4, pp. 188-94. 108 5.1.2. Criação de sistema nacional de gestão de referenciações em saúde Medida Criação de sistema nacional de gestão de referenciações em saúde Rationale O processo de referenciação garante a transição de um doente entre diferentes serviços e níveis de cuidados de saúde. O processo ocorre comummente entre CSP, os CSH e a RNCCI. Este pode também ocorrer entre diferentes serviços do mesmo nível assistencial. Anualmente, registam-se milhões de contactos diretos e indiretos, formais e informais, clínicos e não clínicos, entre doentes e prestadores de cuidados de saúde no nosso SNS. De entre estes, uma percentagem significativa necessita de intervenções complementares de outros prestadores, sendo necessário assegurar a continuidade dos cuidados prestados. As reais necessidades de referenciação de doentes é um fenómeno difícil de mensurar em termos exatos, mesmo porque nem todas se encontram efetivamente registadas. O fenómeno da maior necessidade de complementaridade das respostas proporcionadas é ainda potenciado, por um lado pelo aumento da especialização clínica e por outro pela crescente presença de multimorbilidade nas populações. A evolução das características das necessidades dos utentes e da reposta oferecida tende a aumentar o hiato já existente, exigindo uma resposta diferente, mais direcionada para a continuidade de cuidados em função dos perfis de risco dos utentes. Estão descritos na literatura internacional diversos tipos e modelos de referenciação, e o tema tem sido objeto de estudos de investigação e relatórios de consenso (1) (2) (3). A multiplicidade de mecanismos de transição do doente na rede de cuidados de saúde explica-se pelo facto do processo estar intimamente relacionado com a organização do sistema de saúde em cada país. Apesar desta diversidade, os objetivos da referenciação estão bem identificados e são universais. Um doente é referenciado entre serviços e profissionais de saúde para uma ação ou procedimento complementar de tratamento, diagnóstico ou reabilitação. As transições são efetuadas habitualmente entre médicos mas também podem ser estabelecidas por outros profissionais de saúde - enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, médicos dentistas, entre outros. Estas transições são momentos sensíveis de grande impacto nos doentes e nas suas famílias. Na atual complexidade dos sistemas de saúde o processo de referenciação é frequentemente prejudicado pela deficiente comunicação entre profissionais envolvidos e pela fragmentação de cuidados existente (1) (2). É neste contexto que surgem interferências claras na eficiência e na qualidade dos cuidados prestados com duplicação de esforços, riscos para a segurança do doente e desperdício de recursos 109 (1). O fenómeno está descrito à escala global com características dependentes da organização de cada sistema de saúde. A otimização do processo de referenciação deve ser pensada no sentido de contrariar estes factos promovendo o continuum de cuidados ao doente no sistema de saúde. De facto, existe alguma literatura que comprova cientificamente que a continuidade de cuidados aumenta a efetividade dos cuidados (4). A definição deste processo assenta num suporte tecnológico adequado e numa reorganização e reafectação de recursos já existentes, com uma estratégia sistémica centrada no doente e não nas instituições. É ainda necessário o desenvolvimento de uma nova cultura interprofissional indissociável da evolução da cultura organizacional transversal aos diferentes serviços e níveis de cuidados de saúde. Contudo, a garantia de continuidade de cuidados de saúde no nosso país não se poderá considerar uma prioridade, uma vez que a medição da produção, o seu pagamento ou a sua avaliação de desempenho centram mormente as suas atenções nos eventos em si mais do que na existência e sucesso do processo de referenciação, seja este horizontal ou vertical. A referenciação não é assegurada em todo o espectro possível nem da mesma forma, utilizando-se sistemas (sobretudo de natureza informática) que funcionam em paralelo, sendo distintos e por vezes não interoperáveis. A necessidade de criar um sistema de âmbito nacional que permita gerir os processos de referenciação de doentes entre unidades prestadoras, independentemente do nível de cuidados onde se situem ou da tipologia de cuidados que se esteja a considerar parece então uma iniciativa que tenderá a melhorar os níveis de integração de cuidados com todas as vantagens associadas ao nível da oferta e procura de cuidados de saúde. Há evidência robusta de que no atual contexto organizacional dos sistemas de saúde as tecnologias de informação e comunicação são o elemento fulcral para que o processo de referenciação seja eficiente, melhore a qualidade dos cuidados prestados e promova a segurança do doente (1) (2). Os resultados da revisão da literatura são menos claros no que concerne aos aspetos organizativos e financeiros (1). Descrição Sugere-se a criação de um sistema nacional de gestão de referenciações em saúde. Este sistema consiste num conjunto de recursos humanos, técnicos, informáticos ou outros, que suportam o processo de referenciação entre prestadores de cuidados de saúde, garantindo a continuidade de cuidados prestados aos utentes no intuito de melhorar os níveis de acesso, eficiência e efetividade dos cuidados prestados. Com a criação deste sistema, deverão ser uniformizados os sistemas que atualmente existem no contexto do nosso SNS, devendo dar origem apenas a um único sistema consolidado. 110 Este sistema deverá ver reconhecida a importância da referenciação na continuidade de cuidados e consecutivamente na qualidade dos serviços prestados. O entendimento deverá passar pelo princípio de que a referenciação é tão relevante como o ato de prestação de cuidados de saúde em si. A estrutura de funcionamento deste sistema deveria contemplar um nível nacional, outro regional e ainda outro local, com as suas atribuições e responsabilidades devidamente definidas em função da sua área de atuação. Um sistema que seja responsável pela gestão das referenciações entre prestadores implica também a relação direta com os utentes e seus familiares, na tentativa de fornecer um apoio em presença física (balcão) para os esclarecimentos devidos, evitando-se a desorientação do doente na rede de prestação de cuidados existente e contribuindo para a transparência do processo de produção. O processo de referenciação pode ter diversos objetivos ao garantir uma adequada continuação de cuidados a um doente durante as transições no sistema de saúde e nas seguintes tipologias: Consulta programada nos CSP ou CSH; Consulta de urgência; Consultadoria; Reuniões de decisão terapêutica; Realização de exames complementares de diagnósticos; Realização de procedimentos terapêuticos; Internamento em unidades hospitalares; Intervenções e procedimentos de reabilitação; Admissão em unidades da RNCCI; “Regresso” ao médico e à equipa que coordena e integra a informação e os cuidados ao doente; Como pressupostos que possa contribuir para a otimização do processo de referenciação, sugere-se particularmente: Definição de áreas geodemográficas de prestação preferencial de cuidados, com atualização das redes constituídas pelos ACES, hospitais de referência e unidades da RNCCI; Delineamento de princípios e de regras práticas de referenciação para fora dessas áreas, com monitorização dos efeitos dessa possibilidade; Atualização das redes de referenciação; Reforço do papel da equipa dos CSP – médico de família e enfermeiro de família atribuído. Função de coordenação sistémica dos processos assistenciais à população; Definição do papel do gestor do doente (case manager) na coordenação de cuidados com ação direta na promoção de um processo de referenciação em ciclo completo; Protocolos de referenciação com critérios clínicos e administrativos estabelecidos em acordos de consenso entre profissionais de saúde dos 111 diferentes serviços envolvidos; Sistemas de informação com garantia de interoperabilidade entre os níveis de cuidados envolvidos no processo de referenciação; Sem prejuízo dos pontos anteriores devem ser proporcionadas oportunidades de comunicação presencial entre os agentes envolvidos no processo de referenciação (reuniões e contactos telefónicos) para promoção de redes colaborativas ágeis e eficazes entre os profissionais; Identificação de interlocutores nos CSH e CSP para criação de canais de comunicação privilegiada em cada especialidade ou área funcional; Especificidades: CSP CSH – fluxo pelo qual é desencadeado habitualmente o processo de referenciação. O doente deve ser informado sobre o circuito de referenciação e acerca dos resultados esperados. No futuro, o doente deve poder consultar (usando a sua password pessoal confidencial SNS) qual a situação das suas referenciações. A comunicação através da plataforma de partilha de dados não deve subtrair o interesse de outros mecanismos de contacto, nomeadamente a interação presencial ou por telefone. A receção da informação nos CSH deverá desencadear a ação conducente à prestação de cuidados em contexto hospitalar. Os CSP devem ser informados (alerta no sistema de informação) acerca da situação do doente referenciado (consulta, serviço de urgência, cirurgia, internamento). CSH CSP – o processo de referenciação é bidirecional e como tal a contrareferenciação é parte integrante do ciclo completo. A sua ausência deve ter consequências, quer na contabilização como ato assistencial incompleto, quer retributivas. Na sequência de cuidados é exigido a transmissão de dados para a origem da referenciação idealmente através da plataforma de comunicação. A informação transmitida deve conter os dados referentes ao internamento (nota de alta), à consulta (programada/urgente), ao episódio de urgência ou a procedimentos e terapêuticas efetuadas. A informação é recebida nos CSP, devendo ser desencadeada ação referente ao plano de cuidados a observar de acordo com as orientações emanadas dos CSH. Por princípio, deve ser agendada avaliação com a equipa dos CSP no prazo máximo de 1 semana (tempo definido de acordo com a situação clínica e contexto biopsicossocial do doente). Sistema de alertas/notificações em modo real time – admissões no serviço de urgência, internamentos e altas. CSP/CSH RNCCI – a referenciação para a RNCCI pode ser efetuada pelos CSP ou pelos CSH. A sequência pela qual ocorre o ciclo de referenciação pode assumir características distintas de acordo com o critério clínico e objetivos assistenciais. Independentemente da sequência deve estar assegurado um mecanismo de comunicação sobreponível ao que está descrito para o processo de referenciação entre os CSP e os CSH. 112 Deve ainda ser considerada como especificidade do processo de referenciação a transição de doentes entre serviços e profissionais de saúde no mesmo nível de cuidados – CSP, CSH e RNCCI. Não é despicienda, no contexto sociodemográfico atual, a utilização de serviços de saúde no sector privado pelo que será de considerar essa especificidade adicional para não excluir qualquer prestador ou utilizador do sistema de saúde. Condições de aplicação A abrangência transversal da medida requer um esforço significativo em várias áreas. Assim, uma das atividades necessárias para garantir o funcionamento do sistema de referenciação, é a definição e aplicação de critérios de referenciação e prioridades em cada área de prestação de serviços de saúde que façam parte da rede SNS ou por si convencionada. A abrangência transversal da medida requer um esforço significativo em várias áreas, sendo por isso recomendável, numa tentativa de melhor gestão dos circuitos, a consideração primária das sete especialidades básicas: Medicina Geral e Familiar, Medicina Interna, Cirurgia Geral, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia e Psiquiatria, Podemos associar ainda a especialidade de Saúde Pública como especialidade médica num âmbito mais vasto de Saúde. Estas especialidades, independentemente do local físico ou da organização onde estão inseridas, são especialidades médicas com competências distintas, que não se sobrepõem mas que se complementam. Sugere-se assim a simplificação do sistema de referenciação, tendo por base nos adultos as três especialidades básicas - que seriam as especialidades integradores e essas sim referenciadoras para cuidados “superespecializados” observada a necessidade de cuidados diferenciados, mas mantendo a necessidade de integração e envolvimento das especialidades referenciadoras. Uma organização da prestação alinhada com estes princípios facilitaria a sua aplicação. Em termos operacionais, a estrutura de recursos humanos de suporte ao funcionamento deste sistema torna-se fundamental, sendo necessário dispor de equipas nos diferentes níveis referidos (nacional, regional e local) de forma a poder cobrir-se todo o espectro vertical do sistema. Outro dos recursos sem o qual não será possível conceber um sistema desta dimensão são as tecnologias de informação e comunicação. Todo o suporte funcional do sistema deverá ser garantido pela fluidez de informação entre prestadores, pelo que a disponibilidade de recursos nesta área é crucial para criar as ligações que hoje não existem ou não funcionam como desejaríamos. Os conceitos que hoje utilizamos em termos de produção, financiamento e avaliação de desempenho deverão ser questionados à luz de um sistema de referenciação de doentes cujos elos de ligação deverão ter associados uma responsabilização efetiva. A garantia de continuidade de cuidados sempre que tal se justifique deverá constituir 113 uma boa prática da produção de um episódio (consulta, internamento, urgência, etc), o seu financiamento e a avaliação de desempenho também deverão incorporar nos seus instrumentos, esta mesma filosofia. Um dos aspetos considerados cruciais pelo GdT para garantir o sucesso da medida é a associação do processo de referenciação a uma valorização financeira do mesmo. Através do entendimento de que os episódios deverão garantir a continuidade de cuidados, sempre que esta for necessária, poderá existir uma afetação financeira quer à adequação do procedimento, quer ao pagamento do episódio em si. Da mesma forma, a monitorização ou avaliação e os prémios associados deverão igualmente refletir esta importância (a utilização por exemplo do indicador ICOC – Index of Continuity of Care poderá contribuir para este processo). Impacto previsto É expectável que o impacto seja bastante significativo em espectro e profundidade, nas diferentes dimensões de análise e avaliação de um sistema de saúde. O primeiro impacto esperado com o desenvolvimento desta medida será a integração de um maior espectro de prestadores e serviços de saúde numa rede gerida de forma integrada, com regras de funcionamento uniformes e comuns. Para além dos benefícios diretos decorrentes desta integração, as externalidades positivas geradas por esta gestão comum poderão suceder em diferentes áreas. É expectável que o maior impacto seja sentido na amenização das consequências geradas pelos lapsos de referenciação e falta de continuidade administrativa, técnica e clínica das prestações de saúde para os utentes. Neste sentido, as dimensões de acesso, eficiência e efetividade dos cuidados prestados poderão beneficiar deste processo. Outro impacto esperado, é a valorização do processo de referenciação: pretende-se que através da implementação de um sistema nacional de referenciação seja valorizado o próprio ato de referenciação, suas características, arquitetura e funcionalidades. Espera-se também obter uma resposta mais adequada ao nível de prioridade de cada doente: a uniformização de critérios de acompanhamento em cada situação e a definição dos momentos adequados de referenciação entre prestadores, poderá trazer uma resposta mais “calibrada” a cada doente. Este sistema deve ser “mais inteligente”, sensível às diferenças entre doentes, identificando prioridades e necessidades de resposta. De uma forma genérica, os benefícios de um processo de referenciação adequado e funcional encontram-se estão bem descritos na literatura internacional e a evidência disponível é robusta, sendo expectável alcançar: Aumento da qualidade e eficiência da prestação de cuidados de saúde; Maior segurança dos doentes; 114 Aumento da satisfação dos doentes e dos profissionais de saúde; Reforço da capacidade assistencial em todos os pontos do sistema; Promove a cooperação entre CSP, CSH e RNCCI; Diminuição das readmissões hospitalares; Gestão racional dos recursos; Bibliografia 1. Ramos, V. A interface entre cuidados de saúde primários e o hospital. [autor do livro] L Campos e M Borges. Governação dos hospitais. Alfragide : Casa das Letras/Oficina do Livro-Sociedade Editorial, Lda, 2009. 2. The European study of referrals from primary to secindary care. Concerned Action Comittee of Health Services research for the European Community. Occas Pap R Coll Gen Pract. Vol. Apr:56, pp. 1-75. 3. Ministério da Saúde. Relatório do Grupo Técnico para o desenvolvimento dos Cuidados de Saúde Primários. 2012. 4. Starfield, B et al.. Continuity and coordination in primary care: Their achievement and utility. Medical Care 1976, Vol. 14:7, pp.625-36. 115 5.1.3. Aplicação de normas, guidelines e protocolos clínicos Medida Aplicação de normas, guidelines e protocolos clínicos Rationale A implementação de normas clínicas, como um método de apoio à decisão clínica, constitui um instrumento de qualidade de prestação de serviços pelos profissionais de saúde, contribuindo, igualmente, para a melhoria dos sistemas de saúde. A elaboração de normas clinicas, baseada na melhor evidência científica disponível, respeita o princípio do uso racional de tecnologias da saúde e orientam a adoção de atuações terapêuticas custo-efetivas, ao mesmo tempo que se garante ao cidadão a qualidade clínica que é consagrada como um dos seus principais direitos. Estes instrumentos normativos para além de garantirem a segurança ao prescritor, sobre o seu ato, permitem ainda a obtenção de ganhos de saúde, equidade no tratamento e a racionalização na utilização de recursos do sistema de saúde. As Normas Clínicas, deverão, sempre que possível, constituir-se como componente indissociável de um processo assistencial integrado (PAI), onde o cidadão é colocado, de acordo com as suas necessidades e expectativas, no centro do sistema. A continuidade assistencial e a coordenação entre os diferentes níveis de cuidados, são reconhecidos como elementos essenciais para garantir que o doente recebe os melhores cuidados de saúde, atempados e efetivos. Considerando-se a publicação de regulamentação desta natureza como essencial, a sua implementação efetiva terá de ser suportada em mecanismos de monitorização e avaliação do seu impacto no sistema de saúde, através da incorporação dos seus elementos em mecanismos de financiamento, bem como através da realização de auditorias clínicas, como uma atividade de auxílio à implementação das Normas na prática médica e potenciadoras da governação clínica no sistema de saúde português. Descrição A prática clínica tem sido apontada como uma das principais componentes da estrutura da prestação de cuidados de saúde. Esta tem sido, igualmente, uma área onde a ausência de protocolos, ou de elementos reguladores, é constantemente invocada para demonstrar diferenças na forma da prestação de cuidados e justificar práticas distintas. Igualmente, a prescrição deve ser, cada vez mais, enquadrada uma prática clínica baseada em normas e protocolos que tendam a uniformizar práticas, salvaguardandose, as especificidades, desde que, devidamente fundamentadas clinica e 116 cientificamente. As normas clínicas possuem o potencial de melhorar os resultados, aumentar a eficiência clínica e minimizar os riscos através da diminuição de intervenções desnecessárias, ineficazes ou mesmo prejudiciais. Sendo elaboradas, tendo em atenção princípios fundamentais de ética universal, e considerando o contexto para o qual se destinam, deverão, igualmente, acautelar, as possíveis consequências para a sociedade e para o indivíduo, das alterações, em intervenções de cuidados de saúde, que venham a introduzir. A produção de normas numa perspetiva integradora, é uma abordagem multidisciplinar que pressupõe a reanálise de todas as atuações de que o doente é alvo em qualquer ponto do Serviço Nacional de Saúde, do início ao fim do processo assistencial. Estes documentos normativos deverão constituir-se como: Uma base da mudança organizacional, com o envolvimento de todos os profissionais implicados na prestação de cuidados, acreditando na sua capacidade e vontade de melhorar continuamente a qualidade e de centrar os seus esforços nas pessoas. Uma ferramenta que permitirá analisar as diferentes componentes que intervêm na prestação de cuidados de saúde e ordenar os diferentes fluxos de trabalho, integrando o conhecimento atualizado, homogeneizando as atuações e colocando ênfase nos resultados, a fim de dar resposta às expectativas quer dos cidadãos quer dos profissionais de saúde. Um suporte clínico indissociável de mecanismos de contratualização, com a indexação de indicadores a valores de referência, condicionantes de linhas de financiamento. Um elemento chave para a realização de auditorias clínicas a todo o sistema de saúde. As auditorias clínicas apresentam-se como uma ferramenta indispensável à melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde prestados, através da avaliação do desempenho dos serviços e profissionais, nesse processo, e permitem a realização de análises comparativas do desempenho, de acordo com referenciais pré-definidos, conducentes à melhoria da qualidade do serviço disponibilizado, a uma atualização permanente da prática face à evidência e boa prática definida. Os níveis de conformidade da prática clínica face ao preconizado pelas entidades competentes, através da aferição da taxa de conformidade, poderão constituir-se como elementos diferenciadores das unidades prestadoras. Condições de aplicação Os documentos regulamentadores dos PAI deverão apresentar um enquadramento normativo adequado, por forma a que a sua aplicação, gradual e faseada, seja de caracter obrigatório para todos os níveis do sistema de saúde português. 117 Igualmente, a sua definição deverá estar ligada aos mecanismos de contratualização, dado que pressupõe uma estreita ligação entre níveis de cuidados, no seguimento adequado do doente. A implementação destes fluxos nos sistemas de informação existentes, facilitariam o processo de referenciação e seguimento dos doentes entre níveis de cuidados e permitiriam a existência de informação relativa aos cuidados prestados em cada nível, bem como a referenciação que é dada ao doente em cada fase. Recursos A elaboração de Normas Clínicas, de forma sustentada, deverá ser uma das diretrizes do Ministério da Saúde, devendo dotar os serviços competentes dos recursos necessários à prossecução deste fim; A definição de áreas prioritárias de atuação, quer pela sua incidência ou prevalência, quer pelo volume de recursos associados; O processo de elaboração de Normas Clínicas criará a necessidade de garantir um mecanismo que assegure a permanente atualização das Normas; A constituição de um grupo de auditores, com recurso a profissionais já formados, de preferência pelos corpos reguladores e em parceria, sempre que adequada, com a respetiva Ordem Profissional, se possível. Modo de implementação A implementação, deverá estar sempre sujeita à concretização de projetospiloto que permitam a avaliação dos ganhos introduzidos, das dificuldades identificadas e das correções necessárias; As normas clínicas deverão ser integradas nos sistemas informáticos da Saúde, como suporte à decisão clínica; A contratualização deverá incorporar componentes de processo e de resultado previstos nas normas; Será necessário parametrizar adequadamente os indicadores de avaliação da implementação das Normas; Será necessário preparar auditores e mecanismos de auditoria. Impacto previsto As normas clínicas estando em permanente evolução, de acordo com a leges artis e com a evidência científica, devem ser entendidas como um mecanismo de facilitação científica e uma forma de representar uma gestão rigorosa dos recursos em saúde. A par da elaboração de Normas, a sua efetiva aplicação, através da incorporação dos seus princípios nos mecanismos de contratualização e, sobretudo, com a efetivação de um sistema de auditorias clínicas, poderá esperar-se: Uniformização da prática clínica em todo o sistema de saúde; Definição dos mecanismos de circulação do doente por todo o sistema de saúde; 118 Identificação das áreas de atuação de cada nível do sistema de saúde. Utilização racional dos recursos em saúde; Garantia de salvaguarda da decisão clínica, fundamentada nos princípios das normas e/ou protocolos; Prescrição de medicamentos e meios complementares de diagnóstico e terapêutica realizada de acordo com a evidência científica; Desenvolvimento de indicadores, a incluir na contratualização com as unidades de saúde, que incorporem os critérios normalizados naqueles referenciais normativos, como mecanismo de incentivo ao correto registo da informação clínica e à prática de acordo com a Norma; Benchmarking entre entidades; Auto-avaliação do profissional de saúde, integrado em equipa multidisciplinar; Garantia ao cidadão da prestação de cuidados de saúde de qualidade; Identificação de níveis de conformidade da prática clínica face ao preconizado pelas entidades competentes do MdS, através da realização de auditorias clínicas; Promoção dos serviços/departamentos que evidenciem taxas de conformidade elevadas e penalização dos respetivos dirigentes quando se verificar a prática reiterada de princípios não conformes com as Normas, sem fundamentação clínica para tal; Garantia que o órgão dirigente assegura a implementação de medidas corretivas às não conformidades. Alguns destes resultados esperados, podem encontrar-se em estudos científicos que demonstram essa evidência. Entre os quais destacam-se as revisões realizadas: Para a OMS, por Haddadsm (2010) (1), num trabalho intitulado de “Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, length of stay and hospital costs”, que abrangeu sobretudo países em vias de desenvolvimento, ficou demonstrado que a utilização de processos assistenciais integrados permitem obter melhores resultados de saúde para os doentes, nomeadamente na diminuição da demora de internamento, nos custos inerentes a esse internamento e na ausência de quaisquer eventos adversos resultantes da sua utilização. Contudo, os autores referem a necessidade de adaptações à realidade local, face à escassez de recursos materiais e humanos, como uma limitação na utilização destes processos assistenciais integrados; Por Browne GJ et al. (2001) (2), onde os autores referem que a utilização de .processos assistenciais integrados (no caso específico para patologias agudas comuns em idade pediátrica, com recurso a serviços de urgência – asma, gastroenterites), possibilita a obtenção de melhores resultados em saúde, nomeadamente, ao nível da mais rápida estabilização dos doentes, numa redução das taxas de admissão, numa diminuição da duração do internamento, numa redução das readmissões e numa maior satisfação dos pais. 119 Bibliografia 1. Haddadsm. Clinical pathways: effects on professional practice, patient outcomes, lenght of stay and hospital costs. Rhl comentary. [ed.] WHO. The WHO reproductive Health Library. 2010. 2. Browne, G e et al. The benefits of using clinical pathways for managing acute paediatric illness in a emergency department. Journal of Quality Practice. 2001, Vol. 21:3, pp. 505. 120 5.2. Dimensão Financeira 5.2.1. Incentivos comuns: aplicação da unidade de pagamento capitação Medida Incentivos conjuntos: aplicação da unidade de pagamento capitação Rationale O sistema de financiamento de organizações de saúde é um dos instrumentos com capacidade para criar um conjunto de incentivos tendentes ao alcance dos objetivos principais dos sistemas de saúde (1). Particularmente no que respeita a um dos seus elementos estruturantes, a unidade de pagamento, verifica-se que aquela que parece melhor responder a uma realidade organizacional integrada é a capitação (2) (3) (4) (5), ou não antagonicamente, a forma organizacional que melhor responde aos incentivos do risco pela prestação – característica típica da capitação - são os sistemas integrados (6). A autonomia produtiva de cada nível de cuidados pode gerar excesso de produção não necessária numa lógica de consideração do output final por nível de cuidados. Caso não exista um financiamento baseado no output final, debatemo-nos com a situação indesejável da existência de financiamento autónomo por nível de cuidados, podendo esta realidade ser agravada por esses níveis serem remunerados através de unidades de pagamento diferentes. O sistema de pagamento através do fee-forservice, tendente a gerar faturação acrescida, investimento em tecnologia, complexidade, sendo indutor da existência de doença e intrinsecamente desalinhado com os objetivos de coordenação de cuidados de saúde, constitui uma barreira real ao fenómeno de integração vertical. O atual modelo de financiamento de organizações de saúde no nosso país, recorre à utilização de diferentes unidades de pagamento para os diferentes níveis de cuidados, nem sempre criando os incentivos adequados tendentes à integração de cuidados de saúde. De facto, para além do afastamento físico e cultural entre profissionais que desenvolvem a sua atividade nas unidades prestadoras de cuidados de saúde, os instrumentos de gestão que foram criados e são utilizados atualmente, no domínio da gestão da produção, financiamento e avaliação de desempenho replicam e promovem esta clara separação existente entre “níveis de cuidados”. A alteração do sistema de pagamento baseado na produção para capitação obriga as instituições a mudarem o seu paradigma de funcionamento, libertando-se do enfoque na resposta à doença para uma visão centrada no estado geral de saúde da população. 121 Descrição Através desta medida pretende-se que se recorra a uma unidade de pagamento per capita, que agregue a remuneração às unidades prestadoras de cuidados de saúde e seja criado um conjunto de incentivos comuns e partilhados entre si. A capitação é um sistema de remuneração onde o médico ou unidade de saúde recebem um pagamento fixo por utente inscrito na sua lista, independentemente da quantidade de serviços a prestar (7). Trata-se de uma unidade predominantemente centrada na procura, sendo o financiamento estabelecido em função da dimensão da população previamente definida ou que o prestador escolheu. Na prática, trata-se de uma forma de transferência de risco para níveis mais próximos dos prestadores, aumentando as responsabilidades financeiras das entidades prestadoras de cuidados de saúde (8). A unidade de pagamento capitação deverá ser ajustada pelo risco, isto é, deve incorporar uma ponderação relativa face ao risco previsto associado a cada utente ou conjunto de utentes. O recurso à capitação ajustada pelo risco, deverá de forma complementar, incorporar uma componente baseada no desempenho institucional. O conjunto de objetivos colocados neste âmbito deverá ser partilhado e comum entre os produtores de cuidados de saúde, independentemente do nível de cuidados em que estejam categorizados. Condições de aplicação Para que seja possível a aplicação da medida proposta torna-se fundamental que sejam garantidas algumas condições, entre as quais se destacam particularmente: Previamente à aplicação de um modelo de financiamento per capita, é fundamental garantir a estabilização e validação da informação utilizada para se proceder à quantificação populacional e suas respetivas características influenciadoras dos consumos de recursos nomeadamente as variáveis género, idade, diagnósticos, perfil de consumo de medicamentos e perfil de resultados de análises clínicas. As imprecisões verificadas nestas variáveis poderão provocar diferenças futuras na afetação orçamental – situação não desejável; Após a disponibilidade de informação, a aplicação desta medida deverá também ser precedida de um estudo comparativo entre os diferentes modelos de ajustamento pelo risco existentes, de forma a ser possível identificar os seus valores preditivos e adequação à nossa realidade; Tal como sucede com outras unidades de pagamento, a combinação com o pagamento pelos resultados alcançados poderá auxiliar na amenização ou eliminação de alguns dos efeitos adversos que poderão resultar da aplicação da capitação. A aplicação de objetivos, indicadores e metas de forma conjunta e partilhada entre prestadores poderá favorecer o alcance de um interesse 122 comum; Outra das condições necessárias para a implementação de um sistema capitacional é a disponibilização de informação acerca dos fluxos de utentes entre unidades prestadoras de cuidados de saúde, de forma a ser possível quantificar este movimento e realizar os acertos necessários sob o ponto de vista orçamental e financeiro; Os efeitos esperados e descritos na literatura sobre a capitação só serão efetivamente alcançados se outras regras de natureza administrativa não se sobreponham à sua aplicação, mitigando esses mesmos efeitos desejados; A discussão e argumentação sobre a aplicação da capitação em contextos de integração vertical no nosso país, nem sempre são suportadas em evidência científica criada nas mais diversas publicações existentes sobre esta temática. A evolução para um modelo capitacional requer formação e difusão de conhecimento, sobre quais as suas características típicas, suas vantagens, desvantagens e sobretudo quais os incentivos proporcionados; Para além destas áreas, também outros instrumentos relevantes, como o próprio planeamento estratégico e operacional (definição, monitorização e avaliação), os sistemas de informação utilizados ou o próprio processo negocial desenvolvido entre financiadores, negociadores e prestadores também se apresentam distintos. A gestão conjunta prevista num cenário de integração vertical associada à capitação ajustada pelo risco, deverá igualmente prever uma uniformização das linhas de produção e o desenvolvimento de procedimentos de avaliação de desempenho únicos; O recurso à capitação ajustada pelo risco é favorecido em contextos organizacionais e funcionais verticalmente integrados, pelo que a existência destas realidades, favorece o alcance conjunto dos incentivos pretendidos; Impacto previsto Com a introdução de um modelo capitacional, é expectável que se favoreça o alcance de um conjunto de objetivos desejáveis, entre as quais se destacam: O alinhamento e partilha dos incentivos entre prestadores, tornando a sua atuação dirigida a propósitos comuns. O incentivo criado através de um pagamento integral do estado de saúde do utente, conduz necessariamente a uma reorganização estrutural onde a estratégia é dirigida a uma concentração de esforços nas fases primárias da doença (prevenção da doença e promoção da saúde). Na prática, quanto mais atividades (e mais dispendiosas) forem necessárias executar, mais complexo e oneroso se torna o processo de produção; A utilização da capitação incentiva a eliminação da produção redundante desnecessária: quanto mais reduzidos forem os inputs incorridos no processo de produção, menor será o nível de risco decorrente da maximização da razão entre financiamento e custos do processo, ou seja, existe uma sinalização que potencia a eficiência técnica e económica (Byrne e Ashton, 1999) (9). São também esperados ganhos de eficiência resultantes de uma coordenação do processo de produção e da redução dos custos de transação associados aos movimentos dos doentes entre etapas de produção; 123 Sendo o processo de produção considerado como um continuum indivisível, não são atribuídas diferentes valorizações monetárias às diferentes etapas do processo, seja através de uma diferenciação relativa ou através da aplicação de distintas unidades de pagamento aos elos da cadeia de produção. Eliminam-se assim diferentes formas de sinalização produtiva ao longo do processo, sendo o risco transferido para o produtor, induzindo a eficiência não só em etapas específicas do processo mas em todo o sistema de produção (nos seus elementos constituintes e nas suas interligações); A capitação pode surgir como catalisador de uma minimização de conflitos entre níveis de cuidados na cadeia de valor, consequência de uma maior explicitação e eliminação das diferenças existentes – leia-se privilégios comparativos - entre prestadores diretos de cuidados. A contratualização implícita atual, autónoma para cada um dos diferentes níveis assistenciais, esbate-se, passa a ser explícita, clara e tendencialmente uniforme para todos os intervenientes, que trabalham conjuntamente para um objetivo comum. Esta assunção permite obter referências de gestão com menor grau de incerteza, e pode constituir o elo de ligação entre objetivos e ações de organizações e profissionais, na criação de incentivos para trabalharem de forma comum. Bibliografia 1. Berki, S. The design of case-based hospital paymentsystems. Medical Care. 1983, Vol. 21:1, pp. 1-13. 2. Ackerman, K III. The movement toward vertically integrated regional systems. Health Care Mangement Review. 1992, Vol. 17:3, pp. 81-88. 3. Devers, K e et al. Implementing organized delivery systems: an integration scorecard. Health Care Management Review. 1994, Vol. 19:3, pp. 7-20. 4. Shortell, S e et al. INtegrating health care delivery. Health Care Forum Journal. 2000, Vol. 43:6, pp. 35-39. 5. Sobczak, A. Oportunities for and constraints to integration of health services in Poland. International Journal of Integrated Care. 2002, Vol. 2:1, pp. 1-10. 6. Coddington, D, Moore, K e Fischer, E. Vertical integration: is the bloom off the rose? Healthcare Forum Journal. 1996, Vol. 39:5, pp. 42-47. 7. Pereira, J. Economia da saúde: um glossario de termos e conceitos. [ed.] Documento de trabalho 1/93 - versão revista e atualizada. Lisboa : Associação Portuguesa de Economia da Saúde, 2004. 8. Schokkaert, E, Dhaene, G e Van de Voorde, C. Risk adjustment and the trade-off between efficiency and risk selection: an application of the theory of fair compensation. Health Economics. 1998, Vol. 7:5, pp. 465-480. 9. Byrne, M e Ashton, C. Incentives for vertical integration in healthcare: the effect of reimbursement systems. Journal of Health Care Management. 1999, Vol. 44:1, pp. 3446. 5.2.2. Desenvolvimento e aplicação de um sistema de custeio por utente 124 Medida Desenvolvimento e aplicação de um sistema de custeio por utente Rationale Em Setembro de 2011, Michael Porter (1) refere na HBR que um dos problemas cruciais dos sistemas de saúde atuais prende-se com o facto de todavia não estarmos a medir os custos da forma adequada, pelo que as escolhas nos diferentes níveis de decisão também apresentarão lacunas quando incorporarem informação desta natureza. Se poderá existir uma focalização inadequada sobre os objetos e métodos de custeio, também em termos práticos, a utilização de informação proveniente da contabilidade de custos nas organizações de saúde do nosso país poderá considerar-se incipiente. Tipifica-se mais por constituir um processo administrativo, diferido no tempo, considerado pouco rigoroso no que se refere à capacidade de ilustrar os custos reais ou aproximados dessa realidade. O esforço em determinar, conhecer e gerir os custos é um pressuposto fundamental para o processo decisional, operacional e estratégico, isto porque apesar de as unidades prestadoras em contexto de SNS prosseguirem objetivos não lucrativos, a renovação dos seus ciclos de exploração e investimento dependem de um equilíbrio económico e financeiro sustentado. De entre a utilização relativamente ampla que o conhecimento do nível de custos de determinada organização prestadora de cuidados de saúde pode proporcionar para o processo de tomada de decisões, segundo Hawkins e Baker (2004) (2) destacam-se particularmente no que respeita às necessidades de informação rotineiras: o apuramento de custos por produtos ou linhas de produtos, programas, centros organizacionais (departamentos, serviços), pagadores específicos, clínicos individuais que têm capacidade para gerar consumo de bens, atividades ou serviços e utentes e/ou populações. Descrição Através desta medida, sugere-se o desenvolvimento e aplicação de um sistema de custeio por utente. Esta opção é justificada de entre as alternativas metodológicas existentes para se proceder ao apuramento de custos em organizações de saúde, isto é, parece não existirem dúvidas substanciais ao facto do nível de detalhe desejado se situar no custo por utente (3) (4). A sua operacionalização poderá ser efetuada em função da aplicação de dois métodos: um indireto, de natureza top-down, que permitirá através da alocação de custos a obtenção de estimativas de custos por utente através do recurso a bases de dados informáticas (grandes números) e; um método direto, de natureza bottom-up, 125 através do qual se identificariam unidades de observação piloto onde seriam recolhidos dados e informação dos consumos de recursos por utente (a apresentação de um resumo de consumo de recursos deveria acompanhar a atual folha de admissão e alta). Em qualquer um destes métodos, a filosofia deste sistema deverá basear-se na centralização de informação por utente, independentemente das unidades onde ocorra o consumo de recursos. Condições de aplicação Algumas condições poderão contribuir para a implementação dos métodos que são sugeridos. Por facilidade de abordagem, categorizam-se em condições de natureza filosófica, estrutural e técnica. A primeira condição que será necessária reunir consubstancia-se na exigível alteração de paradigma face ao estado de arte atual. As metodologias de custeio deverão ser colocadas num patamar de prioridade de gestão, em que é necessário coligir, estruturar e analisar informação sobre diferentes unidades de prestação de cuidados de saúde (as funções de uniformização e consolidação de informação do acionista é fulcral a este nível). A segunda condição de aplicação, estrutural, assenta no desenvolvimento dos sistemas de informação existentes nas unidades prestadoras de cuidados de saúde, sobretudo ao nível da capacidade que estes apresentam de automatização, interoperabilidade e sua fiabilidade. De facto, o nível de precisão no apuramento de custos depende em grande medida da qualidade dos sistemas de informação que são utilizados. Ao nível estrutural, a existência de uma equipa interna profissional especialmente alocada ao sistema de custeio pode favorecer a implementação das medidas sugeridas. A terceira condição, de natureza técnica, deverá passar pela criação de um plano de contabilidade analítica comum para unidades prestadoras de cuidados de saúde (independentemente do nível de prestação), o que implicaria a revisão dos objetos de custeio, dos centros de custos, dos critérios de imputação, no sentido da sua utilização flexível individual e globalmente uniforme em unidades que prestam cuidados de saúde no âmbito do nosso SNS. Impacto previsto A centralização da informação de custos no utente permitirá todo um conjunto de melhorias qualitativas face à atual situação, entre as quais se destacam: A prática de processos de tomada de decisão com menor grau de risco associado; Permitir desenvolver metodologias de definição de preços e de financiamento dos serviços de saúde com maior rigor e fiabilidade; Melhor informação para o desenvolvimento de processos de avaliação económica (custo da doença, custo-benefício, custo-utilidade, custo126 efetividade); A informação sobre os custos por utente permitirá um melhor conhecimento quando cruzados com dados de outra natureza (qualidade, produção, avaliação de desempenho); A possibilidade de realizar análises de eficiência (custos observados versus custos esperados) para níveis semelhantes de resultados e de recursos utilizados; A possibilidade de realizar análises de sustentabilidade económico-financeira (custos versus proveitos). A consolidação da informação de custos por utente apresenta um potencial significativo na identificação da estratific ação do risco numa base populacional. Neste sentido, esta informação deverá encontrar-se devidamente acautelada no seu acesso. Por último, importa referir que um esforço dirigido exclusivamente à análise de custos poderá não dar prioridade ao processo de criação de valor em saúde. Focus on value not just in costs é uma expressão utilizada por Porter e Teisberg (2007) (1), que referem a necessidade de ponderar a relação entre os resultados alcançados e os custos obtidos pelas organizações de saúde. Bibliografia 1. Porter, M e Teisberg, E. How physicians can change the future of health care. Journal of American Medical Association. 2007, Vol. 297:10, pp. 1103-1111. 2. Hawkins,R e Baker, J. Management accounting for health care organizations : tools and st techniques for decision support. 1 ed. Sudbury, MA : Jones and Bartlett Publishers, 2004. 3. Phelan, P e et al. DRG cost weights: getting it right. Medical Journal of Australia. [Online] 1998. [Citação: 24 de 02 de 2002.] www.mja.com.au/public/issues/oct19/casemix/casemix/phelan/phelan.html. 4. Vertrees, J. El uso de los grupos de diagnostico relacionados como instrumento de fnanciación. [autor do livro] Ministerio de Sanidad y Consumo. Analisis y desarrollo de los GDR en el Sistema Nacional de Salud. Madrid : Centro de publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo, 1998. 127 5.3. Dimensão Administrativa 5.3.1. Uniformização e centralização de procedimentos administrativos Medida Uniformização e centralização de procedimentos Rationale O crescimento das despesas em saúde, em particular no sector hospitalar, mas também ao nível dos cuidados de saúde primários, tem levado à realização de diferente estudos nacionais e internacionais, no sentido de identificar, analisar e avaliar as causas inerentes àquela tendência. Perante o atual contexto de contenção de gastos no sector da saúde, como descreve Azevedo H. (2011) (1), e a consequente preocupação com a eficiência do sistema, tem-se assistido a algumas mudanças no modelo de gestão e organizacional do sistema de saúde. Com o objetivo de melhorar a prestação de cuidados de saúde prestados aos cidadãos, os diferentes governos têm apostado na criação de centros hospitalares, a agregação de centros de saúde e a criação das unidades locais de saúde. Estas políticas tendentes à racionalização de recursos internos, têm promovido as fusões de unidades (em centros hospitalares ou em ACES), conduziram a uma redução significativa do número de unidades hospitalares e de CSP, tendo os primeiros passado de 90 para cerca de 50 unidades e os segundos de cerca de 70 para 50. Importa, contudo referir que as fusões ocorridas nem sempre produziram quaisquer alterações no número de estruturas físicas existentes. De acordo com Azevedo H. (2011) (1), Portugal apresenta como um dos seus grandes problemas a ineficiência do sistema, na medida em que gasta mal os recursos disponíveis (2), nomeadamente quando existem unidades demasiado pequenas para gozar de economias de escala e outras exageradamente grandes que levam à subutilização de recursos (3). Surge assim a necessidade de ajustar a escala de produção de forma a haver ganhos de eficiência (4). A alteração do volume de produção pode ser obtida através do investimento de recursos necessários à construção, de forma a obter a capacidade suficiente para se criarem economias de escala, ou pela fusão entre dois ou mais hospitais, havendo concentração dos meios de produção e oportunidade de especialização. Porém, a formação destas entidades não garante por si só o seu funcionamento .integrado, pelo que há que fomentar a criação de condições que possibilitem a melhor gestão e articulação das várias instituições que as constituem (com cultura e estrutura organizacional próprias) e a melhor articulação dessas instituições com outras instituições que prestam cuidados de saúde ou desenvolvem atividades conexas, designadamente do sector social, na mesma área geográfica. 128 Descrição Como refere Campos (2008) (5), uma das medidas mais importantes passa pela concentração de unidades dispersas, de forma a obter uma estratégia e uma hierarquia de grupo conducente à poupança de recursos e à implementação de instrumentos de gestão subutilizados, em combinações destituídas de qualidade e eficácia em cada unidade. Neste contexto, a melhoria e a promoção da integração de cuidados, deverá passar por uma identificação conjunta de necessidades e dos recursos existentes (humanos e materiais). Realizada esta avaliação, deverá avançar-se para a emissão de documentos reguladores ao nível dos procedimentos administrativos e para a centralização de áreas chave (não clínicas e de enfermagem), nos diferentes níveis, no sentido de aumentar o potencial de economias de escala, através da rentabilização dos recursos humanos e materiais existentes. Contudo, a centralização de procedimentos deverá ter sempre em consideração os custos variáveis, pois, mesmo verificando-se a diminuição dos custos fixos/unitários, em algumas situações, o acréscimo decorrente dos custos variáveis, poderão comprometer o sucesso de uma integração. Condições de aplicação Considerando que as áreas não clínicas são aquelas que se encontram mais propensas à mudança, são também aquelas em que a gestão, habitualmente tende a concentrar-se numa primeira fase de um processo de integração. Nestas áreas, considerando que existem regulamentos transversais e replicáveis aos diferentes níveis, a uniformização de procedimentos e a centralização de processos, embora complexas, tornam-se exequíveis num curto espaço de tempo, em comparação com as áreas clínicas. Estes processos, para além dos recursos humanos envolvidos, obriga igualmente, a um acompanhamento da área informática, no sentido da compatibilização de sistemas, conducente à implementação/criação de um sistema único, uniformizado e transversal a toda a entidade. Assim, esta medida concretizar-se-á através de: Elaboração de normas de uniformização de procedimentos administrativos nas unidades de saúde que integram o SNS, nomeadamente ao nível dos Recursos Humanos, Serviços Financeiros e Aprovisionamento; Criação de centros de gestão únicos (à semelhança do que se verifica em alguns Centros Hospitalares e ULS), extensíveis a todas as entidades do SNS, com recurso ao estabelecimento de acordos ou parcerias, nomeadamente para as seguintes áreas: Gestão de materiais (compras centralizadas, controlo de stocks, armazenamento único, distribuição partilhada e eliminação conjunta); Gestão de transportes (central de marcações, parque de viaturas único); Gestão de farmácia (uma farmácia central e pontos de distribuição, 129 abastecidos pela farmácia central, de acordo com uma calendarização de necessidades e salvaguardando as necessidades emergentes e não programadas); Gestão de recursos humanos (para o processamento de férias, vencimentos e demais questões processuais, permitindo igualmente, uma otimização na gestão de recursos, onde estes são mais necessários, atendendo aos pedidos; Gestão hoteleira (existência de um único contrato de prestação de serviços, para cada uma das áreas – alimentação, limpeza, segurança – sendo possível ajustar o fornecimento às necessidades variáveis de cada unidade); Gestão financeira e contabilidade (a possibilidade de realizar uma gestão financeira mais efetiva, com um controlo centralizado da realização de despesa e de apuramento de receitas) Gestão da esterilização (criação de uma central de esterilização única, com a disponibilização de pontos de recolha de sujos e de distribuição de material esterilizado, eliminando as centrais existentes localmente); Gestão de instalações e equipamentos (otimização dos recursos humanos e materiais, nomeadamente das oficinas existentes, e na criação de verdadeiras equipas de prevenção para todos as unidades integradas). Desenvolvimento de experiências piloto de aplicação destas medidas em hospitais/centros hospitalares, cuidados primários e continuados de uma determinada área geográfica (por exemplo: área de influência direta das unidades hospitalares). Impacto previsto A uniformização dos procedimentos administrativos e a centralização dos procedimentos logísticos são descritas como potenciadoras de economias de escala nas unidades de saúde e poderão contribuir para: Reforçar a capacidade negocial das novas entidades com os parceiros externos; Eliminar serviços redundantes; Obter ganhos de eficiência económica; Rentabilizar os recursos humanos e técnicos; Promover a cultura organizacional; Facilitar a troca de informação; Contudo, como refere a Dranove (1998) (6), para que uma fusão produza eficiência, a entidade tem de funcionar como se fosse uma única unidade, dado que os resultados esperados só serão alcançados se houver integração das funções clínicas e/ou administrativas. 130 Apesar dos diferentes argumentos apresentados por vários autores, defendendo a fusão de unidades, há ainda uma insuficiente avaliação da obtenção dos objetivos implícitos à racionalização de recursos, às sinergias entre instituições e serviços integrados, aos aumentos de eficiência, à melhoria do acesso aos cuidados, à melhoria da qualidade e à integração dos cuidados. Porém Azevedo H., Mateus C. (2013) (1), referem que as fusões e as decorrentes centralizações de serviços poderão dar origem a um aumento de custos, na casa dos 8%, dado que se criam entidades grandes demais ao ponto de não ser possível explorar as economias de escalas expectáveis no início. As autoras sugerem que a dimensão ideal para a criação de centros está situada por volta das 230 camas. Bibliografia 1. Azevedo, H. Economias de escala em centros hospitalares. V Curso de Mestrado em Gestão da Saúde. [ed.] Escola Nacional de Saúde Pública - Universidade Nova de Lisboa. 2. Barros, P. Economia da Saúde - conceitos e comportamentos. Coimbra : Almedina. 3. Sinay, U. Pre and Post merger investigation of hospital mergers. Eastern Economic journal. 1998, Vol. 24, pp. 83-97. 4. Aletras, V. A comparison of hospital scale effects in short run and long run cost functions. Health Economics. Vol. 8, pp. 521-530. 5. Campos, A. Reformas da Saúde - o fio condutor. s.l. : Almedina, 2008. 6. Dranove, D. Economies of scale in non-revenue producing cost centres: implications for hospital mergers. Journal of Healt Economics. Vol. 17, pp. 68-83. 131 5.3.2. Formação específica em integração de cuidados de saúde Medida Formação específica em integração de cuidados de saúde Rationale As necessidades da população têm vindo a evoluir ao longo do tempo, assumindo hoje particularidades diferentes. Tais necessidades exigem assim, atualmente, novos modelos de prestação de cuidados que consigam dar respostas adequadas aos problemas existentes e futuros. A integração de cuidados surge pois como um modelo de prestação que visa responder adequadamente aos desafios decorrentes das tendências epidemiológicas e sociodemográficas. O desempenho global do sector da saúde é fortemente dependente dos recursos humanos, pelo que a implementação de novos modelos de prestação de cuidados requer profissionais dotados de conhecimentos, aptidões e atitudes conducentes ao exercício adequado das suas funções e consequente satisfação das necessidades dos doentes (1) (2) Deste modo, a integração de cuidados deve estar incluída na formação de profissionais de saúde, permitindo o desenvolvimento de competências nos domínios pessoal, comportamental e organizacional. O tema deve assumir um carácter obrigatório, constituindo-se como área curricular específica na formação pré-graduada na área da saúde e social. Na sequência do ciclo de formação ao longo da vida, é importante proporcionar aos profissionais em exercício, programas de formação pós-graduada específica que vise ajustar as competências aos novos modelos de prestação de cuidados (2). Os conteúdos formativos devem promover a visão integral do doente e o papel central do cidadão no sistema de saúde, promovendo a mudança e estimulando a disseminação de uma cultura organizacional adequada à integração de cuidados. Descrição A formação assume-se como fator de sucesso na integração de cuidados (1) não podendo estar dissociada da medida referente à criação de um espaço de gestão do conhecimento sobre o tema. Por um lado, o repositório pode fornecer conteúdos para a formação, por outro lado, os profissionais vão implementando experiências progressivamente mais baseadas em evidência e melhorando a qualidade da informação disponível. 132 Relativamente à formação superior em saúde e serviços sociais, quer elementar quer pós graduada, defende-se a inclusão de conteúdos sistematizados relacionados com a integração de cuidados, como, por exemplo, a formação abrangente sobre a organização do sistema de saúde e seus circuitos, desmistificando a hierarquia entre níveis de cuidados, noções sobre gestão dos recursos em saúde e prestação de cuidados custo-efetivos, sem compromisso da qualidade. Não menos importante, em qualquer dos moldes de formação, é o treino das competências para a integração de cuidados, sendo que a literatura identifica um conjunto de competências indispensáveis (1) (3): - Comunicação eficaz entre grupos de profissionais e capacidade de trabalhar de forma colaborativa interprofissional; - Importância do trabalho em parceria com outros serviços de saúde e social; - Gestão da mudança contínua, através do reforço de parcerias entre instituições de ensino superior e organizações de saúde e de assistência social - Capacidade de envolver doentes, cuidadores e prestadores; Não será objetivo desta medida elencar as técnicas pedagógicas que devem ser usadas, no entanto, necessitam de ser exploradas formas inovadoras de ensino e aprendizagem, nomeadamente as que promovam o trabalho inter-profissional (1) (3).Algumas técnicas podem ser encontradas no estudo de Elisabeth e Samia, 2013 (3). Condições de aplicação As condições de aplicação passam pela garantia dos recursos essenciais para a concretização deste processo formativo, entre os quais se destacam: a existência de um corpo docente qualificado, de currículos académicos com rigor científico, de condições logísticas genéricas e naturalmente de alunos interessados na presente temática. A própria formação, tal como a prestação, deve ser integrada, incluindo profissionais das várias áreas, especializados nas competências acima referidas. Os locais onde estejam implementadas experiências organizativas com resultados positivos podem ser laboratórios de formação nos quais seja possível a realização de estágios para contacto direto com modelos de Integração de Cuidados. Este contato cria em cada formando o potencial de transmitir boas práticas a outros profissionais promovendo a disseminação do conhecimento com efeito amplificador da formação. O período de formação dos diferentes profissionais de saúde deve ser realizado em ambiente multidisciplinar e em diferentes unidades prestadoras de cuidados de saúde independentemente do nível de cuidados onde estejam inseridas. O período de formação deverá ser adequado, no sentido de garantir um conhecimento suficiente das especificidades de cada realidade. 133 Associado ao processo de formação, é crucial garantir o incentivo á investigação sobre a presente temática. A criação de iniciativas tendentes à produção de conhecimento científico e investigação, deverão ser devidamente apoiados no sentido do aumento do seu volume, qualidade e difusão. Impacto previsto Como impacto previsto desta medida, é expectável que exista: O aumento da massa crítica sobre integração de cuidados de saúde; O incremento e disseminação do conhecimento entre policy-makers, gestores, prestadores, profissionais e todos os intervenientes no sistema de saúde; Sensibilização para a necessidade de mudança da cultura de prestação de cuidados, para um trabalho mais multidisciplinar em equipa, colaborativo, centrado nas necessidades específicas dos utilizadores dos serviços de saúde (4); Uma resposta mais eficiente às necessidades, contribuindo para a eficiência do sistema; O incremento da satisfação dos doentes devido a uma resposta mais adequada às suas necessidades; O incremento da qualidade dos cuidados prestados (4); Bibliografia 1. Howarth, M, Holland, K e Grant, MJ. Education needs for integrated care: a literature review. Journal of Advanced Nursing. 56, oct de 2006, Vol. 2, pp. 144-56. 2. NHS. Integrated care and support: our shared commitment. s.l. : National Collaboration for Integrated Care and Support , 2013. 3. Elisabeth, P e Samia, Hasan. Educating for integrated care. London Journal of Primary Care. 2013, Vol. 5, pp. 41-4. 4. Frenk e al, et. Health professionals for a new century - transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. The Lancet. 2010, Vol. 10:61, pp. 854-5. 134 5.3.3. Criação de um espaço de gestão de conhecimento sobre integração de cuidados de saúde Medida Criação de um espaço de gestão de conhecimento sobre integração de cuidados de saúde Rationale A nível internacional, é vasta a evidência sobre a integração de cuidados de saúde, encontrando-se descritas diversas experiências de unidades que funcionam com sucesso (1). Também ao nível nacional, existem algumas experiências em contextos específicos, tal como referido no capítulo 4.2.. Como se trata de um tema transversal a várias áreas do conhecimento e aos diferentes pontos da rede prestadora de cuidados, a informação está dispersa e não se encontra organizada e sistematizada sob a designação única de integração de cuidados de saúde. Sendo a integração de cuidados de saúde um meio reconhecido como fundamental para atingir objetivos de qualidade e eficiência do sistema de saúde (2), afigura-se pertinente agregar informação sobre o tema num espaço de gestão do conhecimento, acessível numa plataforma digital, mas também com ações presenciais associadas. A “Estratégia Europa 0 0 – Estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo” (3) fundamenta a necessidade de partilha de experiências, boas práticas e conhecimentos especializados para compreender e dar resposta adequada às necessidades crescentes e mutáveis no domínio da saúde. Neste sentido, a criação de um espaço de informação sobre a integração de cuidados com informação sistematizada, incluindo estudos, exemplos de boas práticas, benchmarking de experiências, entre outros, iria contribuir para a disseminação do conceito e das formas de o operacionalizar. Sabendo que ao nível da organização da formação existe também uma lacuna relacionada com a dispersão do tema por várias áreas, este espaço de informação sobre a integração de cuidados seria complementar à medida da formação específica. Descrição Sugere-se assim a criação de um espaço de informação especializado na integração de cuidados de saúde que conduza à disseminação do conhecimento e à implementação mais célere da integração em contexto prático. Propõe-se que este espaço inclua duas componentes complementares entre si: 1. Uma componente virtual na internet, que pode assumir, por exemplo, um formato semelhante à plataforma da International Foundation for Integrated 135 Care (4). Esta plataforma congrega diversas ferramentas como uma página de notícias sobre integração de cuidados, a divulgação de conferências e eventos, repositório de publicações científicas, cursos e tem ainda a função de observatório. É de salientar o carácter interativo desta plataforma digital, facto que expande a função de repositório de informação e que permite criar redes de comunicação em tempo real entre os utilizadores. Deste modo é promovida a partilha de experiências e conhecimento sob a forma de fórum de discussão, blog, e-learning e webcasts. 2. Uma componente física presencial, com a realização de eventos dedicados exclusivamente à Integração de Cuidados: Fórum anual sobre Integração de cuidados de saúde; Ações de formação das equipas prestadoras de cuidados integrados; Workshops e sessões em eventos científicos (congressos, jornadas, seminários, simpósios, Think Thanks) das áreas profissionais envolvidas. Condições de aplicação Para a implementação da primeira componente é necessário identificar o suporte informático adequado bem como garantir a sua manutenção e atualização permanentes. Dado que estas tecnologias implicam um elevado investimento e considerando a atual situação económica do país, poderia ponderar-se inclusive o recurso a fundos comunitários, nomeadamente no âmbito do Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) (5) e do Programa Saúde para o Crescimento, terceiro programa plurianual de acção da UE no domínio da saúde para o período 2014-2020 (6). Um prémio de boas práticas para a integração de cuidados pode constituir-se como um incentivo à partilha de experiências e conhecimento. Neste sentido, propõe-se que seja criado um prémio de boas práticas específico ou, em alternativa, que sejam incorporados critérios que valorizem experiências sobre integração de cuidados nos prémios de boas práticas já existentes. Impacto previsto Sistematização da informação sobre integração de cuidados (4) e exemplos de boas práticas a seguir. Incremento e disseminação do conhecimento entre policy-makers, gestores, prestadores, profissionais e todos os intervenientes no sistema de saúde (4). Empowerment dos doentes para tomar decisões informadas (3). Os doentes passam a dispor de informação, por exemplo sobre a circulação dentro do sistema de saúde, sobre o nível de cuidados ao qual se devem dirigir em cada situação, entre outros relevantes. Como consequência, o acesso à informação pode ainda contribuir para a melhoria da experiência enquanto utilizador. 136 Bibliografia 1. Feachem, R, Sekhri, N e White, K. Getting more for their dollar: a comparison of the NHS with California´s Keiser Permanent. BMJ. 2002, Vol. 324:7353, pp. 135-143. 2. Santana, R e Costa, C. A integração vertical de cuidados de saúde: aspetos concetuais e organizacionais . Revista Portuguesa de Saúde Pública. 2008, Vol. 7. 3. Comissão Eurpeia. Europa 2020: estratégias para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Comissão Europeia. [Online] [Citação: 10 de 02 de 20147.] http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_pt.htm. 4. International Foundation for Integrated Care. [Online] [Citação: 15 de 02 de 2014.] http://www.integratedcarefoundation.org/. 5. Comissão Europeia. Regulamento (ue) n. 1291/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro de 2013 que cria o Horizonte 2020 – Programa-Quadro de Investigação e Inovação (2014-2020) e que revoga a Decisão n. o 1982/2006/CE. Comissão Europeia. [Online] [Citação: 15 de 02 de 2014.] https://infoeuropa.eurocid.pt/registo/000055834/documento/0001/ 6. Comissão Europeia. Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o programa Saúde para o Crescimento, o terceiro programa plurianual de acção da UE no domínio da saúde para o período 2014-2020. Comissão Europeia 9.11.2011. [Online] [Citação: 15 de 02 de 2014.] http://www.eurocid.pt/pls/wsd/docs/F30633/programa_saude.pdf 137 5.4. Dimensão Sistémica 5.4.1. Implementação de estruturas organizacionais integradas Medida Implementação de estruturas organizacionais integradas. Rationale Os constrangimentos da atual estrutura de oferta de cuidados de saúde e os novos desafios colocados aos sistemas de saúde, provocados pela evolução constante e cada vez mais rápida do seu ambiente externo, exigem uma resposta efetiva por parte dos responsáveis pela gestão desses mesmos sistemas. A integração de cuidados de saúde pode constituir uma resposta organizacional aos novos paradigmas. As suas potencialidades são amplamente reconhecidas, sobretudo na sua dimensão estrutural vertical, que permite uma focalização na criação de valor para o utente e necessariamente na concentração do desenvolvimento das atividades nas fases primárias da doença. A integração de cuidados tem o principal objetivo de criar coerência e sinergias entre as várias partes das organizações de saúde de forma a alcançar eficiência, qualidade assistencial, qualidade de vida e satisfação, especialmente num contexto de complexidade e multipatologia dos doentes. A possível criação de equipas responsáveis pela gestão do processo de integração em cada contexto populacional e geográfico, que dinamize e coordene as atividades a desenvolver, pode contribuir para encarar a integração como um processo fundamental e não paralelo ao funcionamento regular das unidades. Implicitamente a esta recomendação, encontra-se a necessidade de implementar um processo de monitorização e acompanhamento específico do processo de integração que seja aplicado de forma sistemática. Descrição Através desta medida, sugere-se o desenvolvimento e aplicação de estruturas de integração vertical de cuidados de saúde que incorporem os cuidados de saúde primários, os cuidados hospitalares e os cuidados continuados. Estas poderão assumir diferentes composições (complementares): No que respeita à sua gestão (formação de equipas): A integração vertical pressupõe a gestão conjunta dos diferentes níveis de cuidados de saúde. O processo de tomada de decisão pode assumir um cenário onde a equipa de gestão tem capacidade de gerir conjuntamente diferentes níveis de cuidados de saúde, existindo poder executivo com autonomia financeira e administrativa numa só unidade. Neste cenário os instrumentos de apoio ao processo de tomada de decisão são semelhantes; ou poderemos encontrar-nos perante situações onde existem equipas de 138 gestão separadas com autonomia individual por nível de cuidados, mas que participam conjuntamente no processo de tomada de decisões; No que respeita ao nível de decisão: As equipas de integração poderão situar-se em qualquer um dos níveis que habitualmente se consideram em formações organizacionais: estratégica (gestão de topo); tático (gestão intermédia) e; operacional (unidades funcionais); No que respeita às suas dimensões: A formação de equipas poderá situar-se em qualquer uma das dimensões tratadas ao longo do presente relatório: clínica, informação, financeira, administrativa, normativa ou sistémica; No que respeita à sua constituição: A constituição de equipas de integração poderá assumir um carácter formal ou informal. O reconhecimento formal implica a identificação destas equipas no organograma das unidades com reconhecimento normativo no regulamento de funcionamento das unidades. As equipas poderão constituir-se também informalmente, existindo um acordo tácito entre unidades para a sua existência mas sem a transposição efetiva para as suas estruturas organizacionais internas; No que respeita ao seu âmbito: As equipas de integração poderão constituir-se em função de um espectro restrito para realização de determinados procedimentos, produtos, serviços ou áreas específicas de interesse comum, até à prestação integral de cuidados num determinado contexto populacional. Quando a integração abrange todos os serviços prestados diz-se que estamos na presença de integração completa. A integração incompleta reflete a incompletude dos serviços prestados; Em qualquer uma destas opções, poderemos também ter soluções parciais ou totais, ou seja, que considerem apenas dois ou os três níveis de cuidados que identificamos no nosso SNS. Não existem modelos ótimos nem aplicáveis a todas as realidades, sendo o menu de soluções organizacionais relativamente vasto. Existe evidência que comprova as vantagens e simultaneamente as desvantagens de cada uma das configurações possíveis. O GdT considera que a criação de estruturas de integração poderá constituir um elemento facilitador do processo, sendo fundamental para garantir a identificação da necessidade de gerir o processo de integração. Condições de aplicação Algumas condições serão necessárias para a implementação de estruturas de 139 integração de cuidados de saúde, em que a coordenação entre os níveis de cuidados configura-se essencial para a melhoria de todos os processos de assistência e acompanhamento dos utentes. A primeira condição que será necessária reunir consubstancia-se na exigível alteração de paradigma face ao estado de arte da atual organização de todos os intervenientes no processo de cuidados. A desintegração dos vários níveis de cuidados está vincada não só ao nível clínico, mas também nos modelos de gestão, organização e de financiamento. O sucesso da alteração de uma componente do sistema só é possível se for integrada na mudança ou adaptação dos restantes elementos que compõem esse mesmo sistema. Qualquer estrutura que pretenda ser integrada, assenta no desenvolvimento dos sistemas de informação existentes nas unidades prestadoras de cuidados de saúde, dos cuidados primários aos cuidados continuados e sociais. Passa pela utilização das mesmas nomenclaturas e classificações, planos de ação, objetivos, metas, método de avaliação de desempenho e sistema de financiamento. Qualquer um destes parâmetros obriga a um sistema de comunicação em rede único. Uma estrutura integrada deverá passar pela criação de uma equipa de integração com representantes que intervêm em cada um dos níveis de cuidados. As Unidades Integradas de Saúde têm de ser funcionais, constituídas por elementos operacionais no exercício da prestação de cuidados, com capacidade para identificar e resolver os novos desafios que se colocam em cada área geográfica. Por último, importa salientar a necessidade de criar condições para que as diferentes formas organizacionais possíveis possam surgir: através da revisão do enquadramento legal existente, particularmente no que respeita às unidades prestadoras de cuidados de saúde existentes, na revisão das metodologias de contratualização, no sentido de permitirem a partilha de objetivos, indicadores e metas ou na criação de incentivos específicos que promovam o surgimento de estruturas de integração. Impacto previsto A integração vertical de cuidados permite todo um conjunto de melhorias qualitativas face à atual situação, entre as quais se destacam: O conhecimento da dimensão real do nível de cuidados de saúde necessário, variável em cada região que permita processos de tomada de decisão com menor grau de risco associado. A utilização do nível de cuidados ajustado a cada utente em cada fase da vida e da doença, diminuindo a sobre utilização de cuidados diferenciados com internamentos evitáveis e dias de internamento inapropriados. A promoção da interligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares e continuados com o intuito de melhorar o acesso e a qualidade e o desenvolvimento de metodologias de trabalho e saber desde a 140 definição da adequação e integração dos cuidados de saúde, ao financiamento dos serviços de saúde num processo de crescimento e melhoria contínua; Melhor informação para o desenvolvimento de processos de avaliação económica (custo da doença, custo-benefício, custo-utilidade, custoefetividade). 141 5.4.2. Planeamento Estratégico numa perspetiva de integração Medida Planeamento Estratégico numa perspetiva de integração Rationale Apesar da evidência sobre o aumento do desempenho associado ao planeamento estratégico ser escassa, este continua a ser considerado um importante instrumento de gestão vastamente utilizado (1). A sua importância assenta sobretudo no incremento da capacidade de adaptação das organizações em contexto de incerteza, caraterizado por condições de mercado e circunstâncias económicas instáveis e constantes inovações tecnológicas. No atual contexto nacional, se por um lado não se perspetivam incremento de recursos, nomeadamente na área da saúde, por outro verificam-se alterações demográficas e epidemiológicas que conduzem ao aumento da procura de cuidados. Simultaneamente existe uma pressão constante para a incorporação de novas tecnologias que são habitualmente dispendiosas. Esta situação confronta inevitavelmente as instituições de saúde com a necessidade de criar mais valor num cenário de poucos recursos e necessidades crescentes. A integração de cuidados tem sido uma estratégia seguida por outros países no sentido de responder mais eficientemente a estas circunstâncias. O planeamento é hoje efetuado para cada nível de cuidados, permanecendo esquecida a ligação entre esses níveis de cuidados de modo a garantir a continuidade dos cuidados e a ligação entre eles, razão pela qual a sua inclusão no planeamento estratégico se torna iminente. Assim, considera-se que o planeamento estratégico deva ser pensado integrando todos os níveis de cuidados no sentido de delinear estratégias mais eficazes para obter melhores resultados com os recursos existentes, centralizados no utente /doente. Neste sentido, parece pertinente considerar não só os cuidados primários, hospitalares e continuados, mas ainda a saúde pública e outros setores como o setor social ou autarquias, uma vez conhecida a influência de fatores externos na saúde e bem-estar (2). Se não se pensar estrategicamente, a integração de cuidados acaba por ter uma evolução muito lenta ou não evoluir. Descrição Evashwick and Evashwick (1988) (3) define planeamento estratégico como “o processo para avaliar um ambiente em mudança no sentido de criar uma visão do futuro; determinando como a organização se encaixa no ambiente antecipado baseado na missão institucional, forças e fraquezas; e põe em curso um plano de 142 ação para posicionar a organização em concordância”. É tão importante a avaliação sistemática das atividades operacionais, que sustentam hoje o SNS, como pensar no que se pode e deve fazer para alterar e melhorar os resultados do desempenho e estabelecer uma estratégica de integração de cuidados na perspetiva de melhoria contínua da qualidade, eficiência, organização e satisfação dos utentes. Quanto à sua operacionalização, entende-se que o planeamento estratégico inclua todos os níveis de cuidados: Medicina Geral e Familiar – garantir a cobertura a toda a população e dotar com RH suficientes para uma cobertura efetiva dos cuidados de ambulatório e domiciliários. Garantir a formação, diferenciação e especialização de equipas. Implementar a referenciação para a RNCCI. Cuidados Hospitalares – garantir o acesso e definir uma “porta de entrada” restrita para um processo de referenciação mais eficaz com garantia de um circuito integrado; Cuidados continuados de curta, média ou longa duração e paliativos – garantir a referenciação e aproximar as equipas multiprofissionais intervenientes no terreno. Saúde pública - definir as necessidades de cada zona geográfica com base nas características epidemiológicas e socio demográficas, que servem de base à determinação dos serviços necessários para aquela população. É também a este nível, em conjunto com os recursos locais e os cuidados primários que podem ser definidas as estratégias de promoção da saúde. Para que seja possível a existência de um alinhamento entre as opções estratégicas de cada unidade prestadora de cuidados de saúde no âmbito do nosso SNS, parece existir espaço para a criação de um Programa Nacional de Integração de Cuidados de Saúde, onde se encontrem detalhadas as atividades estratégicas numa perspetiva de médio e longo prazo que serão desenvolvidas pelos elementos que constituem o sistema de saúde português, tendo como base a tentativa de criar um sistema mais integrado, entre os seus órgãos internos e externos com os quais interagem. Associado à esta possibilidade, e tal como se pode identificar noutros países como por exemplo o NHS inglês, poderemos Considerando, por exemplo, os internamentos evitáveis e as readmissões ao nível dos cuidados hospitalares, o planeamento pode ser efetuado, explorando uma melhor sinergia entre os recursos dos cuidados primários, dos cuidados hospitalares e dos cuidados continuados. Condições de aplicação No sentido de implementar o planeamento estratégico considerando a integração de cuidados, sugere-se que a elaboração dos planos estratégicos seja efetuada de forma conjunta entre os ACES, hospitais e cuidados continuados da mesma área 143 geográfica, bem como devem ser incluídas a saúde pública, nomeadamente através dos observatórios locais de saúde, e os recursos da comunidade desde o setor social às autarquias ou outras entidades que possam contribuir para uma resposta mais adequada às necessidades. Um dos problemas que limita a efetividade do planeamento estratégico para a integração de cuidados é o desenvolvimento dum planeamento independente: - do plano de formação que deve ser integrado na formação pré e pós graduada de cada uma das classes profissionais intervenientes na prestação de cuidados de saúde - da construção de uma rede de referenciação única para qualquer tipo de cuidados, desde as necessidades identificadas pela saúde escolar, aos cuidados básicos e sociais inerentes ao isolamento e à pobreza - da constituição de uma estrutura formal central e equipas informais locais para uma permanente avaliação de necessidades e resolução de problemas concretos, que permitam implementar, motivar e agilizar todos os processos - da construção de uma rede de informação com a mesma linguagem e com acesso a todos os intervenientes na prevenção, diagnóstico ou tratamento - do plano financeiro (3), pelo que este processo carece da adequação simultânea dos processos de contratualização que devem assim ser alinhados de acordo com os objetivos da integração. Impacto previsto Embora o impacto não seja quantificável a curto prazo, a médio/ longo prazo um processo de planeamento integrado terá impacto na sustentabilidade do sistema de saúde, nomeadamente através de: Consistência na tomada de decisão (3); Eficiência na gestão dos recursos; Resposta mais adequada às necessidades; Aumento da qualidade de cuidados; Melhoria na integração de cuidados; Redução da prescrição duplicada de MCDT; Ganhos em saúde; Redução de custos; Melhoria da performance financeira (3); Satisfação dos doentes; Potencial redução de atos desnecessários, como por exemplo redução dos tempos de espera para consulta e MCDTs; Utilização menos intensiva de recursos e consequentemente mais eficiente. 144 Bibliografia 1. Begun, J e Kaissi, A. An exploratory study of healthcare strategic planning in two mwtropolitan areas. Jurnal of healthcare management. 2005, Vol. 50 (4), pp. 264-75. 2. Whitehead, M, Dahlgren, G e Gilson, L. Developing the policy response to inequalities in health: a global perspective. Challenging inequities in health care: from ethics to action. New York : Oxford University Press, 2001, pp. 309-322. 3. Zuckerman, A.Healthcare Strategic Planning (Ache Management). third. USA : Health Adminsitration Press: Foundation of the American college of Healthcare Executives , 2012. 145 5.4.3.Reforço da cultura organizacional Medida Reforço da cultural organizacional Rationale As organizações entendidas como organismos vivos, têm na sua base fatores que lhes conferem vantagem competitiva e que lhes permitem ter historial de sucesso. Fatores como o sentido de Visão, Missão e Valores, partilhados e interiorizados pelas pessoas que integram a organização, são identificados como os mais determinantes para o seu sucesso. Os valores promovidos pelas organizações, tais como as crenças e princípios, a Visão Estratégica, constituem-se como mais preponderantes do que o posicionamento das mesmas no mercado ou mesmo que eventuais vantagens decorrentes de recursos disponíveis (1). O conjunto de fatores descritos, formam o que se designa por cultura de uma organização e, integra o conjunto de pressupostos – inventados, descobertos ou desenvolvidos por um determinado grupo à medida que aprende a lidar com os problemas de adaptação externa e de integração, que, funcionando bem, são considerados válidos e transmitidos a novos membros do grupo, como um ensinamento e como a forma correta de perceber, pensar, sentir e agir (2). Numa organização, os comportamentos dos indivíduos são determinados pelas normas de conduta que foram apreendidas e interiorizadas, sendo por isso essencial analisar a cultura de uma organização em todos os seus níveis. Desta forma, encontraremos em qualquer organização um conjunto de características que constituem a camada visível da manifestação da sua cultura, nomeadamente o modo como as pessoas comunicam entre si (grau de formalidade/informalidade), o modo como gerem as relações de poder e distância hierárquica, o modo como trabalham (numa lógica individual/grupal), entre outras (3). A cultura organizacional é referida por Cameron e Quinn (2006) (1), como um elemento importante a medir, sendo proposto pelos autores um dos modelos mais consensuais para o estudo da cultura organizacional, o modelo dos valores contrastantes (4) (5). O modelo dos valores contrastantes integra quatro quadrantes, em que cada quadrante representa um tipo de cultura: cultura de clã, cultura hierárquica, cultura de adocracia e cultura de mercado. Considerando as mudanças, decorrentes de diferentes movimentos de reforma, que o sistema de saúde português tem sofrido, e os resultados esperados, importa analisar a variável organizacional, como um elemento que pode ditar o sucesso de determinada mudança/reforma, e conhecer a cultura organizacional que predomina nas instituições de saúde, de forma a que quem as gere, principalmente perante 146 processos de mudança, como seja a implementação de novos modelos de gestão, esteja consciente dos resultados expectáveis. Descrição A medição da cultura organizacional realizada pelo modelo dos valores contrastantes (1), considerado atualmente um dos modelos mais consensuais no estudo da cultura organizacional (4) (5), aborda a cultura organizacional em quatro quadrantes, em que cada um representa um tipo de cultura: cultura de clã, cultura hierárquica, cultura de adocracia e cultura de mercado. 1. A cultura de clã é característica de organizações que constituem locais muito familiares para trabalhar, onde as pessoas partilham muito de si. Nestas organizações, os líderes são considerados mentores ou mesmo figuras parentais, sendo exemplos de apoio, aconselhamento e treino, e o compromisso para com a organização é elevado, mantendo-se a tradição da lealdade e confiança mútua. O desenvolvimento dos recursos humanos, a coesão e a moral são focos de especial atenção e o sucesso, é definido em termos de sensibilidade e preocupação para com as pessoas. A organização premeia o trabalho de equipa, a participação e o consenso. 2. A cultura hierárquica é predominante em organizações muito controladas e estruturadas, onde as pessoas são orientadas por procedimentos, sendo os líderes considerados bons organizadores, coordenadores e potenciadores da eficiência. A permanência e estabilidade constituem aspetos importantes, sendo a coesão organizacional mantida graças às políticas e regras formais. A eficiência determina o grau de sucesso da organização, sendo o planeamento e o controlo de custos essenciais neste estilo de gestão, bem como a segurança de emprego, conformidade, previsibilidade e estabilidade das relações. 3. A cultura de adocracia caracteriza um local de trabalho dinâmico, empreendedor e criativo, onde as pessoas se expõem e arriscam. Nestas organizações estar na vanguarda é fundamental para a liderança de um produto ou serviço e os líderes são vistos como pessoas inovadoras, dispostas a correr riscos, sendo encorajada a iniciativa e defendida a liberdade. O sucesso da organização define-se com base na novidade e singularidade dos seus produtos e serviços. 4. A cultura de mercado é característica de organizações orientadas para os resultados, em que a principal preocupação consiste na concretização do trabalho. As pessoas e os líderes, são competitivos e produtivos. A reputação e o sucesso são preocupações comuns. A coesão organizacional é mantida face à ênfase nos ganhos e o sucesso mede-se em termos de quota e penetração de mercado. As características inerentes a cada um destes perfis culturais vão repercutir-se na maior ou menor flexibilidade e permeabilidade da organização à mudança. As organizações de saúde necessitam de fazer face às exigências de uma sociedade 147 em constante mudança, o que implica adaptações quase que permanentes para manterem a competitividade. As reformas dos sistemas de saúde, em diferentes países, têm vindo a ser conduzidas por pressão do controlo das despesas dos serviços de saúde, face ao rápido aumento dos custos, e pela necessidade de uma maior responsabilização perante os utilizadores. Na sequência destes movimentos, diferentes modelos de gestão têm vindo a ser adotados (6), bem como novos formatos de organização da prestação de cuidados. A necessidade de adoção de novos modelos de gestão ao nível da organização do sistema de saúde e das instituições prestadoras de cuidados de saúde, acaba por se tornar essencial atendendo a um aparente esgotamento do sistema, podendo por em causa alguns princípios fundamentais, nomeadamente a equidade no acesso aos cuidados de saúde e a universalidade da cobertura (7). Segundo Frederico (2005) (6) esta necessidade decorre, no fundo, da tomada de consciência, que é imperativo controlar a forma como os recursos, que são escassos, são utilizados na produção e distribuição de cuidados de saúde. Dos vários modelos e das várias experiências entretanto adotadas foi a empresarialização hospitalar que se generalizou, sendo percetível o peso das entidades empresariais no sistema de saúde português (8). A empresarialização dos hospitais consistiu na criação de um modelo organizativo, económico-financeiro e cultural centrado no utente e assente na eficiência da gestão. A gestão por objetivos passou a dominar a cultura da organização, sendo valorizada a performance baseada na otimização da gestão (9). Na área dos cuidados de saúde primários foi também encetada uma importante reforma, do que é considerado o pilar central do sistema de saúde. As unidades prestadoras de cuidados de saúde primários passaram a integrar-se, de acordo com as alterações implementadas gradualmente, em ACES e em ULS. O ACES, dotado de autonomia administrativa, é um serviço desconcentrado das ARS ou integrado em ULS e, neste sentido, o processo de contratualização inicia-se com a definição de prioridades assistenciais pelos Conselhos Diretivos das ARS. Os ACES são serviços públicos de saúde com autonomia administrativa que têm por missão garantir a prestação de CSP à população de determinada área geográfica. São constituídos pelos seguintes tipos de unidades funcionais: USF; UCSP; UCC; USP; URAP. Cada UF assenta numa equipa multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica. As ULS são entidades públicas empresariais que têm por objeto principal a prestação de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados à população residente na área geográfica por ela abrangida, e ainda assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das competências da autoridade de saúde. Importa referir, que nem todas as USF estão no mesmo plano de desenvolvimento organizacional. A diferenciação entre os vários modelos de USF (A, B e C) é resultante do grau de autonomia organizacional, da diferenciação do modelo retributivo, dos incentivos dos profissionais e do modelo de financiamento, bem como 148 do respetivo estatuto jurídico. Condições de aplicação O reforço da cultura organizacional, numa perspetiva de integração de diferentes níveis de cuidados, obriga a conjugar diferentes modelos organizativos e portanto culturas distintas, num ambiente único de partilha que poderá concorrer para um ou vários objetivos comuns. A conjugação de realidades distintas (cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados), com modelos organizacionais diferentes entre e intra si, produz uma enorme quantidade de combinações possíveis, pelo que se torna fundamental definir um elemento agregador/homogeneizador de culturas pré-existentes, permitindo a criação de uma nova cultura, herdando moldes das já existentes. 1. Ao nível dos recursos humanos, a mobilidade de profissionais com a sua deslocalização nos diferentes pontos de prestação de cuidados, entre os níveis, potencia a absorção de elementos integradores da nova cultura e permitem que sejam identificadas as melhores práticas na cultura de origem e a possibilidade, ou não de implementação das mesmas no novo contexto. 2. A concentração de estruturas de apoio não clínicas, nomeadamente as administrativas (aprovisionamento, gestão de recursos humanos, financeiros, serviço de instalações e equipamentos), para além das economias de escala que possam ser geradas, a organização absorve (por decreto), as diferentes realidades organizacionais e procede à sua harmonização, gerando-se um novo contexto de cultura organizativa. 3. No caso específico das ULS, onde se verifica a existência de uma dualidade ao nível da prática clínica (Diretor Clínico da área hospitalar e Diretor Clínico dos Cuidados de Saúde Primários), deverá ser implementada apenas uma única direção clínica. A definição e implementação de incentivos — institucionais e financeiros — criando condições para o desenvolvimento de ambientes de motivação dos profissionais, ao atribuir às equipas melhores condições de trabalho e de equipamento, no reforço de competências decorrente da facilitação na acessibilidade a ações de formação e ao atribuir aos profissionais recompensas associadas ao desempenho. Impacto previsto O reforço da cultura organizacional, num sentido lato, conduzirá ao sucesso da organização, independentemente do tipo de cultura vigente. Num sentido mais estrito, o reforço da cultura organizacional num ambiente de integração de cuidados de saúde, potenciará o sucesso dos modelos de gestão que se encontrem em vigor. A medição e reforço da cultura organizacional permitirá: 1. A identificação da pessoa com a organização e o facto de nela se sentir reconhecido e recompensado, conduz a que as suas satisfações pessoais sejam maiores que os seus esforços pessoais; 149 2. .A organização obterá da contribuição de cada pessoa, mais do que o custo dessa pessoa na organização, ou seja, os seus lucros serão sempre iguais ou maiores do que os custos com pessoal; 3. A maior disponibilidade das pessoas para absorverem novos modelos, uma nova visão estratégica; 4. O reforço do sentimento de partilha; A identificação da organização como um elemento integrador e não aglutinador.. Bibliografia 1. Cameron, K e Quinn, R. Diagnosing and changing organizational culture. New York : Addison-Wesley Series on Organizational Development, 1999. 2. Shein, E. The corporate culture survival guide: sense and nonsense about culture change. S. Francisco : Jossey-Bass. 3. Hofstede, G. Cultures and organizations; software of the mind. UK : McGraw-Hill International, 1991. 4. Ferreira, A. Instrumentos para a avaliação da cultura em instituições de ensino superior. Psicologia, Educação e Cultura. 2006, Vol. 10:2, pp. 477-487. 5. Ferreira, A e Hill, M. Diferença de cultura entre instituições de ensino superior público e privado-um estudo de caso. Psicologia. 2007, Vol. 21:1, pp. 7-26. 6. Frederico, M. Empenhamento organizacional de enfermeiros em hospitais com diferentes modelos de gestão: papeç de variáveis de contexto. 2005, Vol. 2:1, pp. 53-62. 7. Rego, G. Gestão empresarial dos serviços públicos: uma aplicação ao sector da saúde. Porto: Vida Económica. 2008 8. Stoleroff, A; Correia, T. Sindicalismos no contexto de reforma dos serviços públicos em Portugal: o sector hospitalar [Online]. (2008) [Citação. 28 Janeiro 2014].http://www.aps.pt/vicongresso/pdfs/604.pdf 9. Portugal. Ministério da Saúde. Perguntas frequentes sobre os hospitais EPE [Online]. (2009) [Citação 28 Janeiro 2014]. www.hospitaisepe.minsaude.pt/Hospitais_EPE/Perguntas_Frequentes/default.htm#htmf aq_1. 150 CAPÍTULO VI CONCLUSÃO 151 VI. Conclusão Através do presente documento pretendeu-se propor um conjunto de medidas que possam contribuir para a integração de cuidados de saúde no nosso país. Este objetivo insere-se no âmbito do GdT criado para o efeito, através do Despacho nº 9567/2013, de Sua Excelência o Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde, de 10 de Julho, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 139, de 22 de Julho de 2013. Este relatório poderá eventualmente sofrer ligeiras alterações, fruto do debate e discussão que se pretende manter com todos os intervenientes interessados na temática da “integração de cuidados de saúde”, pelo que deverá ser encarado como um documento de trabalho. Para o cumprimento deste objetivo, foram desenvolvidos vários trabalhos, que se consubstanciaram essencialmente: i) na elaboração de um enquadramento teórico que permitisse descrever o estado de arte através de uma revisão de literatura sobre a temática em causa; ii) na descrição da situação no nosso país, etapa concretizada a partir da identificação de estudos anteriores realizados nesta área e da identificação de boas experiências de integração de cuidados de saúde por parte das unidades prestadoras; iii) na definição de um conjunto de pressupostos e critérios de seleção das medidas e por último; iv) na discussão e debate das medidas propostas. Após a realização do enquadramento teórico, salientam-se sobretudo três aspetos que ficaram evidentes: A importância do estudo do tema, perante a evolução futura que perspetivamos sobre as características de oferta e procura de cuidados de saúde, e sabendose que o rationale da integração se baseia no facto de uma melhor coordenação e interligação entre as diferentes unidades funcionais permitirem obter melhores resultados em saúde para as populações num determinado contexto geo-demográfico; O âmbito relativamente amplo que podemos encontrar no debate sobre esta temática, sendo que neste trabalho utilizou-se a definição da OMS, estabelecida em 008: “Entende-se como integração, as formas de interligação e cooperação na prestação e a garantia de continuidade assistencial dos utentes do SNS, tendo em vista a maximização da eficiência nas respostas e os melhores resultados em saúde.”; A abordagem da integração de cuidados de saúde através de dimensões facilita a ordem taxonómica do tema, permitindo identificar os processos chave em cada uma das dimensões. As principais poderão considerar-se: a clínica, de informação, financeira, administrativa, normativa e sistémica. Após o enquadramento teórico do tema, tentou-se descrever a situação portuguesa. Em termos genéricos, verificou-se que o tratamento do tema não tem merecido uma importância significativa, sendo a evidência existente não abundante. As experiências de integração de cuidados de saúde identificadas pelas unidades prestadoras de cuidados de saúde também apresentam características mais baseadas em iniciativas 152 individuais, pontuais, sem enquadramento face ao planeamento nacional, regional ou local das atividades desenvolvidas. As medidas propostas pelo GdT basearam-se no diagnóstico, real e teórico da situação atual, e sobretudo na discussão, sempre que possível baseada em evidência, sobre as temáticas em causa. É entendimento do GdT que estas medidas podem vir a constituir um referencial sobre as iniciativas a desenvolver em cada dimensão de integração. Devido à sua natureza transversal, necessitam de um trabalho adicional para a sua definição, desenvolvimento e aplicação, sendo expectável que apenas sejam concretizadas com sucesso no médio e longo prazo. 153
Download