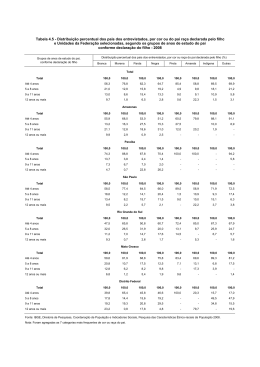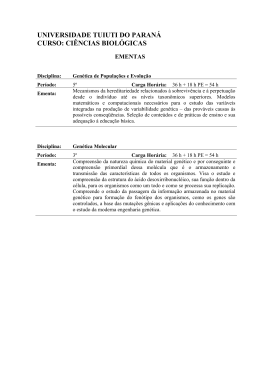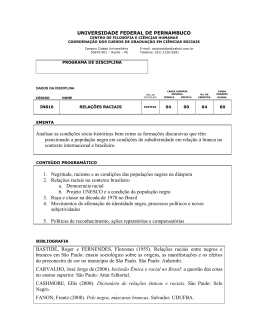Nova genética desestabiliza idéia de “raça” e coloca dilemas políticos Por Carol Cantarino No final de 2005, o site Edge perguntou a 100 cientistas e filósofos do mundo todo: “Qual a idéia mais perigosa presente na ciência atualmente?” Boa parte dos entrevistados mostrou-se preocupada com os dilemas éticos da nova genética. Craig Venter – cientista e dono da Celera, empresa que liderou a corrida pelo seqüenciamento do genoma humano na década de 90 – destacou as descobertas sobre as bases genéticas do comportamento humano. Para Venter, “o perigo está no que nós já sabemos: que não fomos criados todos iguais”. Declarações como essa – baseadas numa suposta desigualdade genética entre os indivíduos – alertam para os perigos postos pelo determinismo genético que podem abrir margem para novas formas de eugenia e de racismo. Mas nem toda genética é puro determinismo. No Brasil, pesquisas na área de genética de populações têm trazido contribuições importantes nos debates sobre o estatuto da idéia de “raça”. Essas pesquisas têm tido repercussões políticas importantes no momento em que se discute, mais do que nunca, no país, a implementação de políticas de combate ao racismo. “É necessário relativizar a premissa segundo a qual o processo de genetização da sociedade, até mesmo com seus desdobramentos no plano das políticas de identidade, é sempre sinônimo de determinismo, essencialização e hierarquia, atributos que tendem a ser inexoravelmente atrelados à biologia por uma larga gama de reflexões sócio-antropológicas”, alertam Ricardo Ventura Santos e Marcos Chor Maio, antropólogos da Fundação Oswaldo Cruz que tem proposto, numa série de artigos recentes, uma inovadora perspectiva interdisciplinar entre as ciências sociais e a genética de populações no Brasil. “É de se indagar se esses novos conhecimentos e tecnologias alteram o panorama de maneira radical ou, pelo contrário, reinstalam e reforçam percepções sobre diferenças raciais de formas até mesmo mais insidiosas e deterministas. Na prática, o que percebemos é que as relações entre conhecimento e tecnologias biológicas e as diferenças raciais podem assumir múltiplas formas a depender do contexto sócio-político no qual se instauram”, afirmam os pesquisadores em artigo publicado na revista Histórica, ciências, saúde – Manguinhos. A idéia de “raça” há muito tempo vem sendo questionada pela chamada genética de populações, que se debruça sobre a variabilidade biológica das populações humanas. Desde as atrocidades do nazismo, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a idéia de “raça”, do ponto de vista biológico, vem sendo refutada por biólogos e cientistas sociais. Falar em “raças” humanas, do ponto de vista biológico, não faz mais sentido. Mas “raça” possui diversos outros significados. A palavra ainda vem sendo usada para se referir à cor da pele e à aparência das pessoas ou mesmo a sua ancestralidade. Politicamente, o conceito de “raça” também é utilizado por setores do movimento negro na luta contra o racismo. Por conta dessa variedade de significados é que ciência e política têm se entrelaçado nos debates sobre “raça” no Brasil. Mapeamentos genéticos do Brasil A genética de populações tem lugar de destaque na história da genética no Brasil desde os anos 1960, por meio de trabalhos como os do geneticista Francisco Salzano, que coordena, atualmente, uma rede de pesquisa voltada para o estudo dos ancestrais dos brasileiros com ênfase na variabilidade genética dos povos ameríndios. Essa pesquisa integra os 34 projetos de pesquisa selecionados entre as propostas que disputaram o edital do Programa Institutos do Milênio, no final de 2005, e que receberão financiamento do CNPq pelos próximos três anos. Criado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, o Programa Institutos do Milênio visa patrocinar áreas de pesquisa consideradas estratégicas para o país. Sérgio Danilo J. Pena e sua equipe de geneticistas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também integram esse projeto. Pena e seus colaboradores têm sido os responsáveis pelas pesquisas sobre variabilidade genética da população brasileira que mais têm ganho repercussão dentro e fora do meio acadêmico. Retrato molecular do Brasil foi divulgada em 2000 e gerou muita polêmica. A proposta da pesquisa foi mapear a presença de ancestrais ameríndios, europeus e africanos na população branca do Brasil. Foram colhidas amostras de DNA de cerca de 250 homens auto-declarados brancos nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul do país. Essas amostras foram estudadas a partir de dois marcadores: o cromossomo Y – para se estabelecer as linhagens paternas – e o DNA mitocondrial – para as linhagens maternas. A pesquisa revelou que a esmagadora maioria das linhagens paternas da população branca do país veio da Europa. A “surpresa” ficou por conta das linhagens maternas, que mostraram uma distribuição uniforme quanto à sua origem geográfica: 33% de linhagens ameríndias, 28% de africanas e 39% de européias. Entre os brasileiros brancos haveria, assim, uma freqüência maior de marcadores de origem africana e ameríndia do que euroéia. Em 2003, um outro mapeamento genético (Color and genomic ancestry in Brazilians) realizado pela equipe de geneticistas da UFMG ganhou repercussão: o mapeamento buscava verificar se existe uma correlação entre “raça” e ancestralidade no Brasil, ou seja, se haveria uma correspondência entre aparência física e origem geográfica. A partir de uma amostra de 173 indivíduos da população de Queixadinha, do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, a pesquisa consistiu em várias etapas. No momento da coleta de DNA, cada um dos pacientes foi analisado por um biólogo e um clínico para que fossem classificados a partir das suas características físicas (pigmentação da pele, cor e textura do cabelo, forma do nariz, dos lábios e cor dos olhos). A partir, portanto, do seu fenótipo, os indivíduos foram classificados da seguinte forma: 30 pessoas como “pretas” (17,3%), 29 pessoas como “brancas” (16,8%) e 114 pessoas como “pardas” (65,9%). Depois disso, com as amostras de sangue coletadas de cada um dos indivíduos foi feita uma análise a partir de 10 marcadores moleculares informativos de ancestralidade (MIAs). A principal conclusão foi a de que não há correspondência entre as características fenotípicas e as características genômicas, ou seja, a cor, no Brasil, não seria um indicador de uma ancestralidade africana. Uma série de outros estudos utilizando marcadores moleculares validaram esses resultados obtidos em Queixadinha, estendendo as conclusões para todas as regiões do Brasil. “Nossos estudos demonstram claramente que, no Brasil, a cor, avaliada fenotipicamente, tem uma correlação muito fraca com o grau de ancestralidade africana. No nível individual, qualquer tentativa de previsão tornase impossível, ou seja, pela inspeção da aparência física de um brasileiro, não podemos chegar a nenhuma conclusão confiável sobre seu grau de ancestralidade africana. Obviamente, esta constatação tem grande relevância social e política, além de enorme importância médica”, reconhece Sérgio Danilo Pena. Implicações políticas Lideranças do movimento negro têm questionado as pesquisas da equipe de Sérgio D. J. Pena. Muitos ativistas acreditam que ela reforça, através da biologia, o discurso da miscigenação que tende, por sua vez, a ser associado à existência de uma democracia racial no Brasil, o que seria preocupante num contexto em que as discussões sobre o racismo e a necessidade de se implantar políticas públicas para combatê-lo ganham força no país. As pesquisas da equipe de Sérgio D.J. Pena forneceriam, desta forma, um respaldo biológico para o discurso da mestiçagem que, historicamente, tem sido acionado para se minimizar a existência de racismo e das desigualdades raciais no Brasil. “A opressão racial é um fato que independe dos saberes da genética molecular comprovarem que, considerando-se o DNA como o material hereditário e o gene como unidade de análise biológica, é absolutamente impossível dizer se estas estruturas pertencem a uma pessoa negra, branca ou amarela. O que significa que geneticamente não há raças humanas. O que não autoriza ninguém a dizer que o racismo não existe”, afirma Fátima Oliveira, médica e secretária executiva da Rede Feminista de Saúde. Toda a discussão sobre a genética do povo brasileiro tenderia, assim, a deslocar o debate do combate ao racismo. Ou seja, o fato de haver miscigenação no Brasil não atenua a existência do racismo dirigido contra os negros e essa questão tenderia a ficar em segundo plano. A cada ano aumentam o número de pesquisas e estatísticas que apontam as desigualdades entre brancos e negros no mercado de trabalho, na educação, no acesso à saúde etc. Nesse sentido, se “raça”, num sentido biológico e genético não faz sentido – como os mapeamentos realizados pela genética de populações vêm afirmando – não se pode desconsiderar, por outro lado, que “raça” possui uma existência social por causa do racismo. A miscigenação genética, portanto, não funciona, necessariamente, como um “antídoto” para o preconceito e a discriminação racial. “Raça” e doença no Brasil Assim como na área da educação – com as políticas de cotas e outros programas de ação afirmativa – o combate ao racismo na área da saúde também tem sido discutido e tem gerado políticas tais como o programa contra a Aids dirigido à população negra que foi implementado pelo Ministério da Saúde, no ano passado. O primeiro objetivo é levantar dados relativos à “raça” dos soropositivos nos relatórios de incidência da doença, para que políticas públicas possam ser traçadas. Já se sabe que, por conta de fatores como pobreza, falta de informação e dificuldade de acesso ao teste diagnóstico, tem havido um aumento da doença entre a população negra. A maior incidência de certas doenças entre os negros levanta a discussão sobre a relação entre “raça” e doença. A epidemiologia de doenças como hipertensão, diabetes e anemia falciforme – as quais, diferentemente da Aids, são consideradas doenças hereditárias – tem sido bastante discutida na medicina: faz sentido falar em “doenças raciais?” Para Fátima Oliveira – médica e ativista de destaque nas discussões sobre saúde da população negra no Brasil – não se pode desconsiderar a questão da “predisposição biológica”. Segundo a médica, a predisposição biológica deve ser entendida como a maior ou menor capacidade de um ser vivo responder às interações com o meio ambiente físico, e, no caso dos seres humanos, também à cultura em que vivem. “A predisposição biológica resulta e refere-se a um longo processo evolutivo da humanidade. Ela é o binômio indissociável composto por constituição hereditária e meio ambiente”. Nesse sentido, Oliveira lembra que doenças prevalentes (com maior ocorrência) na população negra – como a anemia falciforme no Brasil – são resultado de causas multifatoriais, dentre elas, a hereditariedade e os agravos à saúde decorrentes da vivência do racismo, da condição de mulher e da pobreza: “o conceito de doenças raciais/étnicas evidencia, de forma inequívoca, o caráter social e histórico das doenças que é amplamente demonstrado através da história de vida das pessoas que, por sua vez, está intimamente vinculada ao sexo (ao privilégio ou desprivilégio de gênero) e à raça/etnia (à vivência ou não do racismo)”, lembra Fátima Oliveira. Para a genética de populações, por sua vez, não faz sentido falar em doenças “raciais” porque “o uso médico de distinções raciais tende a perpetuar racionalizações pseudocientíficas de diferenças entre grupos humanos. Certamente há disparidades de saúde entre as ditas categorias ‘raciais’ mas isso tem muito menos a ver com genética do que com diferenças de cultura, dieta, status social, acesso ao cuidado médico, marginalização social, discriminação, estresse e outros fatores. As categorias ‘raciais’ humanas não são entidades biológicas claramente definidas e circunscritas, mas construções sociais e culturais fluidas”, afirma Sérgio Danilo Pena. O geneticista da UFMG defende, por isso, que o conceito de “raça” seja banido da medicina brasileira. Ao analisar os diversos programas de combate à anemia falciforme no Brasil que vem sendo implementados, desde 1995, com intensa participação de ativistas do movimento negro, por diversos estados, municípios e também pelo governo federal, Peter Fry, antropólogo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, faz um alerta: a idéia de “raça”, num sentido biológico, segundo ele, estaria sendo retomada. “Parece-me que, no Brasil, o apoio aparentemente total que os ativistas negros prestam ao PAF Programa de Anemia Falciforme significa que a anemia falciforme tornou-se, muito mais do que uma doença a ser detectada e tratada, um poderoso elemento no processo de naturalização da ‘raça negra’ (por oposição lógica e política a ‘raça branca’). Em outras palavras, um marcador de diferença num país onde as delimitações raciais são imprecisas e ambíguas”, avalia Peter Fry. Para o antropólogo, a dificuldade histórica do movimento negro de persuadir “os mulatos, cafuzos, mamelucos, morenos escuros e claros” a se juntarem numa única categoria “negro” estaria fazendo com que parcela do movimento aderisse ao discurso da doença “racial” como uma maneira de se criar uma identidade. “Parece razoável supor que a anemia falciforme veio no sentido de legitimar esse processo”, sentencia o antropólogo em artigo recente. Nesse contexto, não se pode esquecer que a associação entre anemia falciforme e população negra é uma estratégia perigosa: ela pode aumentar o preconceito racial e o próprio racismo tal como aconteceu nos Estados Unidos.
Download