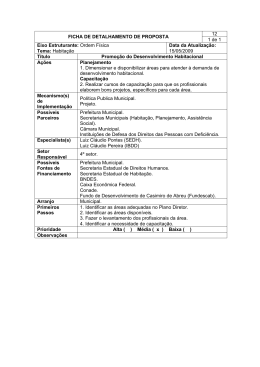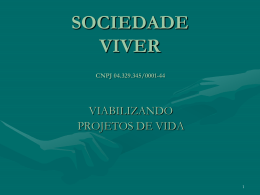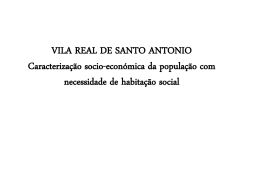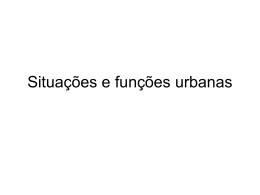CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL COLÓQUIO “A POLÍTICA DA HABITAÇÃO” (Organizado pelo Conselho Económico e Social no Pequeno Auditório da Caixa Geral de Depósitos a 3 e 4 de Abril de1997) Lisboa, 1997 ÍNDICE Sessão de Abertura Intervenção do Presidente do Conselho Económico e Social Dr. José da Silva Lopes 5 Intervenção da Secretária de Estado da Habitação e Comunicações Dra. Leonor Coutinho 7 Painel - Análise da situação actual: evolução recente, perspectivas Prof.ª Clara Mendes - Relatora Dr. Manuel Ataíde Ferreira - Comentador Política de Habitação: Análise da Situação Actual Sr.Carlos Silva - Comentador 16 29 35 Painel - Planeamento urbano e oferta de terrenos Planeamento Urbano e Política de Solos Eng. A. Fonseca Ferreira - Relator Política de Solos - Papel do Estado, Papel do Mercado Arqt.ª Helena Roseta - Comentadora 40 55 Painel - A actividade da construção: regulamentação, técnicas e custos, Fiscalidade e apoios na construção e na habitação Eng. Rui Manuel Nogueira Simões - Relator Prof. Sidónio Pardal - Comentador Prof. Vítor Abrantes - Comentador 69 85 89 Painel - Habitação Social Habitação Social - Uma Abordagem Sistemática Dr.Eduardo Vilaça - Relator Alojamento para Pobres ou Alojamento para Todos? Prof.ª Isabel Guerra - Comentadora 103 120 Painel - Financiamento Dr. Rui Mendes - Relator Dr. Manuel Moreira Rodrigues - Relator Dr. António Amaral Gomes - Comentador 2 132 132 167 Painel - Arrendamento Eng. Mário de Azevedo - Relator Prof. Diogo Lucena - Comentador Sr. Eduardo Carvalho da Silva - Comentador Dra. Alexandra Gonçalves - Comentadora 176 191 198 205 Sessão de Encerramento Intervenção do Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território Eng. João Cravinho 210 PROGRAMA 215 3 Sessão de Abertura 4 Intervenção do Senhor Presidente do Conselho Económico e Social Dr. José da Silva Lopes O presente Colóquio tem a sua origem numa decisão do Plenário do Conselho Económico e Social, tomada com base no direito de iniciativa que a lei lhe atribui, de elaborar um parecer sobre a Política da Habitação. Entendeu-se que para a elaboração desse parecer que já está a ser preparado e de que é relator o Dr. João Salgueiro, haveria todo o interesse em procurar colher o máximo possível de informações e opiniões junto dos que melhor conhecem os problemas relativos a referida política. Considerou-se que a realização de um Colóquio como este era o processo mais eficaz de conseguir tal objectivo. Foi, assim, que se convidaram para se reunirem aqui, alguns dos nossos melhores especialistas sobre problemas da habitação; os representantes dos principais agrupamentos sociais mais directamente envolvidos nesses problemas, incluindo, em particular, cooperativas de habitação e as associações de inquilinos e proprietários; muitos dos agentes económicos com papel mais activo no sector habitacional, ao nível da promoção imobiliária, da construção, das transacções e do financiamento; e vários dirigentes e técnicos dos serviços do Estado e das autarquias locais, com responsabilidades na definição e na execução prática da política da habitação Teremos, ainda, o contributo valioso dos dois membros do Governo mais directamente envolvidos nas questões que vamos tratar o Senhor Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território e a Senhora Secretária de Estado da Habitação e Comunicações, que nos discursos que vão fazer, respectivamente no encerramento e na abertura do Colóquio, nos vão certamente informar sobre as grandes linhas da política que o Governo tem vindo a seguir ou irá pôr em prática para promover uma melhor satisfação das necessidades dos portugueses em matéria de habitação. O programa do Colóquio, estabelecido com a ajuda da Senhora Secretária de Estado da Habitação e Comunicações, a quem tenho de agradecer o valioso apoio que nos prestou, prevê o tratamento e discussão dos temas mais relevantes no quadro da política da habitação: a análise da situação actual e dos principais problemas do sector habitacional, o planeamento urbano e a política de solos, a influência das regulamentações e da fiscalidade sobre as actividades de construção, a habitação social, o financiamento e o arrendamento. Como não poderíamos prolongar demasiado a duração deste Colóquio, teremos de tratar estes temas em sessões que, por vezes, se virão a revelar demasiado curtas para discutir todos os aspectos que mereceriam ser desenvolvidos. Pela mesma razão, foi necessário deixar de lado vários temas, nomeadamente da área sociológica que são, sem dúvida, da maior relevância no quadro da Política da Habitação. 5 Para terminar esta apresentação, deverei exprimir os agradecimentos do Conselho Económico e Social a todos os que contribuíram para que este Colóquio se tornasse possível. Esses agradecimentos abrangem os autores das comunicações que vão ser apresentadas, os comentadores dessas comunicações, os presidentes das mesas das sessões e os membros da assistência que vierem a intervir. Deverei, também, agradecer à Caixa Geral de Depósitos, e especialmente ao Presidente do seu Conselho de Administração, Dr. João Salgueiro, a generosidade com que disponibilizaram as instalações onde vão decorrer os nossos trabalhos. Por último, tenho de agradecer ao Senhor Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, Eng. João Cravinho, e à Senhora Secretária de Estado da Habitação e Comunicações, Dra. Leonor Coutinho, pelas suas intervenções, respectivamente no fim e no início do Colóquio com que irão valorizar os nossos trabalhos. Estou certo de que este Colóquio nos irá trazer contribuições muito importantes para a análise dos problemas mais prementes que encontramos no sector da habitação, quer os que respeitam à satisfação de uma das necessidades mais básicas da população e a melhoria do nível de vida, quer os que respeitam ao funcionamento da economia nacional, onde têm grande peso a construção e as restantes actividades ligadas ao sector imobiliário. 6 Intervenção de Sua Excelência, a Secretária de Estado da Habitação e Comunicações Dra. Leonor Coutinho Gostaria de felicitar o Conselho Económico e Social pela organização deste colóquio que vem permitir debater a habitação um dos sectores mais difíceis e que menos atenção tem tido, a nível do nosso funcionamento como sociedade. A habitação é um sector em que se foram acumulando muitos desequilíbrios e, consequentemente, onde se acentuou muita conflitualidade, ao longo dos anos. É um sector onde a moderna sociedade portuguesa tem muitos desafios a vencer. Precisamos, assim, de uma enorme coesão e da contribuição de todos para conseguirmos dar os passos que são necessários. A indústria da construção civil de edifícios é uma das maiores indústrias portuguesas com uma enorme contribuição no emprego. É uma indústria extremamente dinâmica apesar dos seus problemas estruturais. Predominam empresas muito pequenas, utilizando frequentemente técnicas desadequadas, sustentando a constante falta de uma “cultura de projecto”, dependentes de procedimentos burocráticos e lentos, com grandes repercussões nos custos. No entanto, a indústria da construção tem-se modernizado nos últimos anos, revelando um grande dinamismo, na medida em que tem conjugado o esforço de grandes industriais com pequenos empresários. O enorme dinamismo desta indústria é traduzido nos números que correspondem aos fogos construídos nos últimos trinta anos em Portugal. Verificamos que, nas décadas de sessenta e setenta, o ritmo médio anual de construção em Portugal foi respectivamente de 6,7 e 7,6 fogos por mil habitantes, enquanto na Europa, em média, se construía cerca de 3,5 de fogos por mil habitantes. Na década de oitenta, volta-se a verificar o mesmo dinamismo. Enquanto a Europa aumenta o seu ritmo anual de construção para 5,5 de fogos por mil habitantes, o ritmo verificado em Portugal pelo censo de 91 era de cerca de 8 fogos por mil habitantes. Portugal caracteriza-se por um ritmo de construção elevado e sustentado durante trinta anos, apesar das estatísticas de licenciamento de obras que são publicados mensalmente pelo INE subavaliarem sistematicamente estes valores além de terem vindo sempre a ser desmentidos pelos censos, também publicados pelo INE de dez em dez anos. Este forte ritmo de construção traduziu-se num acréscimo de 760 mil fogos entre 1981 e 1991. No entanto, o saldo de fogos destinados a residência habitual das famílias apenas aumentou de 273 mil unidades, passando de 2,770 milhões para 3,042 milhões, apenas 34 por cento do esforço construtivo do país. Os fogos destinados a uso sazonal ou com ocupante ausente foi acrescido de 234 mil unidades, crescendo 55 por cento na década de 80. Neste momento Portugal 7 atingiu uma taxa de segundas residências elevada, quando comparada à média da Europa, e que se traduziu por 31 por cento do esforço da construção dos últimos anos. O que é mais preocupante, no entanto, é verificar que 33 por cento dos fogos construídos na década de 80 apenas vieram aumentar em 252 mil o número de fogos vagos que passaram, entre 1981 e 1991, de 190 mil para 442 mil. Este aumento explosivo caracteriza a crise de construção e a dificuldade de escoamento da produção. Revela, assim, uma enorme inadequação da oferta à procura. As grandes carências habitacionais tantas vezes avaliadas em 500 mil fogos não foram satisfeitas pelo forte ritmo de construção. Elas situam-se nas camadas com menores rendimentos, para as quais o mercado pouco produziu. Por um lado, há uma evolução demográfica da população que leva a que as famílias portuguesas tenham diminuído de tamanho. Existe agora uma grande procura de casas por pessoas sós ou por famílias pequenas, enquanto persiste uma acentuada oferta de fogos de grandes dimensões que não respondem a estas novas necessidades traduzidas pela evolução demográfica. Os números que citei e que traduzem a evolução de uma década, ilustram bem o desequilíbrio que existe entre a oferta e a procura de habitação, num país onde as carências habitacionais das camadas mais desfavorecidas ainda são extremamente flagrantes, não só pelo número de pessoas residentes em barracas, abarracados e outras situações similares, como pelas camadas de baixos rendimentos de que um número muito significativo vive em fogos em sobreocupação ou em grande estado de degradação. Essas carências habitacionais não têm tido a resposta necessária a nível do mercado e é, obviamente, um dos grandes problemas que existem na nossa sociedade para melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Os programas que foram lançados nos últimos anos para as populações mais carentes foram exclusivamente dedicados às pessoas que vivem em barracas e abarracados. Deixou-se assim sistematicamente de lado toda uma camada médiabaixa da população que vive em situações extremamente carenciadas e que não têm tido qualquer apoio do Estado. Outro problema que é normalmente referenciado como um dos maiores desequilíbrios que existem no nosso mercado da habitação: o das rendas antigas. As rendas em Portugal foram repetidamente congeladas a partir de 1914. Houve uma tradição de congelamento de rendas que, num primeiro tempo, foi justificada pela Grande Guerra, mas que veio a ser prolongada sistematicamente por motivos vários e que, obviamente, veio enquistar na sociedade portuguesa uma situação de degradação do parque habitacional, um prolongamento de situações de conflito entre inquilinos e proprietários extremamente agravado e ao qual praticamente só foi dada resposta em 1985 – com uma lei que permitiu algum reajustamento das rendas antigas, mas que depois não foi continuada. Finalmente, em 1990, com o consenso 8 dos maiores partidos portugueses foi publicada a nova lei de arrendamento urbano que permite, a nível habitacional, a celebração não só de preços livres, mas também de contratos de três a cinco anos, em função do promotor. Criou-se assim um novo mercado de arrendamento que tem vindo a crescer em importância, apesar de os preços praticados serem extremamente altos – eles, aliás, têm vindo a decrescer nos últimos anos. O acréscimo de fogos para arrendamento no mercado livre tem-se verificado, mas persistem centenas de milhares de fogos não ocupados, que não são disponibilizados pelos seus proprietários, apesar de as rendas praticadas corresponderem a um contrato de duração limitada. O novo mercado de arrendamento criado pelo mercado livre, acaba por não dar resposta às camadas mais carenciadas da população, em virtude das rendas praticadas. Verificam-se algumas excepções, por exemplo em Braga, onde se praticam preços mais baixos do que noutros locais do país, promovendo algum equilíbrio entre a oferta e a procura, resultante da política de ordenamento desenvolvida pela Câmara que levou a que, no âmbito do enquadramento existente, se verificasse um grande dinamismo das políticas urbanas. Além do problema dos fogos devolutos, das repercussões de um congelamento de rendas e da falta de fluidez do mercado, existe um problema que me parece ser dos mais graves em Portugal, que tem que ver com o estado de degradação do parque habitacional. No parque habitacional, a tradição do antigo regime foi normalmente a de trocar rendas baixas por isenções na manutenção dos edifícios. Aqueles que têm entre os 40 e os 50 anos lembram-se decerto das rendas económicas de 1.110$00 que correspondiam exactamente a isso, ou seja, a rendas relativamente baixas contra uma isenção de manutenção dos imóveis por parte dos proprietários. Trocar-se a não manutenção por rendas baixas veio a revelar-se uma prática extremamente negativa para o nosso parque habitacional. E a não-manutenção tornouse num hábito cultural, uma vez que mesmo aqueles que são proprietários das casas que habitam – em Portugal, mais de 66 por cento das famílias –, não têm hábito de as manterem. Só isso explica que, na Europa, cerca de 35 por cento da indústria de construção de edifícios seja dedicada à manutenção e conservação contra os escassos três por cento observados em Portugal. Esta situação não se verifica apenas nas habitações com rendas antigas. É extensiva a uma grande parte do parque habitacional, prolongando uma tradição que foi incentivada pelo antigo regime, mas que se traduz num enorme desperdício, na degradação do património de cada um e do nosso património colectivo. A carência de solo urbano é normalmente apontada como um dos principais bloqueamentos da política de habitação. Todos nós ouvimos dizer que há falta de solo urbano. O solo urbano em Portugal é extremamente caro. Mesmo a nível absoluto e sem sequer ter em conta o nível de vida dos portugueses, verificamos que o solo 9 urbano em Portugal é muito mais caro do que noutros países, como a Bélgica e a Inglaterra ou a própria França. E, no entanto, todo o solo urbanizável previsto nos planos directores municipais permitiria, segundo alguns técnicos dizem, alojar 50 milhões de portugueses, o que obviamente traduz a abundância teórica de solo a urbanizar. No entanto, o processo de mobilização do solo urbano em Portugal é extremamente lento e dispendioso. É ele que traduz o principal estrangulamento da oferta a nível da construção da habitação e da sua disponibilização no mercado. É também significativo que tenhamos tido em Portugal uma urbanização extremamente extensiva utilizando mal as zonas urbanizadas que já dispõem de infraestruturas – portanto áreas que acarretariam muito menos custos de infra-estruturação para a sociedade –, o que obviamente constitui um desperdício a nível das nossas políticas de mobilização de solo urbano. Em toda a Europa, os mesmos fenómenos de diminuição da população, de diminuição da dimensão da família média – os mesmos fenómenos de degradação dos centros urbanos, os mesmos fenómenos de extensão, por vezes caótica da mancha urbana – têm sido analisados e têm sido internalizados nas políticas dos diversos agentes. Também no nosso país a evolução cultural destes últimos anos tem levado a um ambiente propício à revalorização do parque habitacional, do parque construído com um orgulho nas nossas raízes e com uma real valorização de muita da construção que nos foi legada do passado. Saliento um tipo de construção, as vilas operárias muito frequentes em Lisboa e que ainda hoje permanecem interessantes noutro contexto e que, bem mantidas ou recuperadas constituem uma oferta de habitação apreciada por diferentes segmentos do mercado. Há assim um ambiente propício para que as políticas de habitação valorizem mais a recuperação do património antigo, a utilização das infra-estruturas existentes, para uma cidade mais equilibrada, em que as políticas de investimento em equipamentos e em qualidade de vida vão a par com projectos de habitação. Foram já incentivados programas de apoio à recuperação urbana. Foi flexibilizado o RECRIA e estão em curso outras alterações de modo a operacionalizar mais o apoio à recuperação de edifícios, sobretudo aqueles que têm problemas de rendas antigas. Criou-se ainda o programa REHABITA de apoio às zonas urbanas degradadas e o RECRIPH para apoio aos condomínios que vivem em prédios antigos. O Estado, em Portugal, não tem dado a devida atenção ao problema da habitação. Não direi, como foi muitas vezes salientado, que o problema passe pelo facto de haver ou não Ministério da Habitação. Aquilo que me parece mais grave é que não exista nenhum organismo que perspective as políticas de habitação e que os gabinetes de estudo que existiam no Ministério das Obras Públicas tenham sido destruídos. 10 Tanto o Estado Central, como as Câmaras, a nível local, raramente se organizam como reguladores do mercado, com políticas de ordenamento do território orientadas para a produção e aproveitamento do solo urbano. Mas esta situação pode mudar, no contexto de uma política de regionalização: há dias, com os presidentes das CCR equacionámos o desafio de repensar, a nível regional, qual o papel que a administração pode ter, na habitação. Não é possível pensar o ordenamento do território sem se ter objectivos a nível de habitação, a nível desta indústria, a da construção, que, no fundo, suporta todo o ordenamento e grande parte da qualidade de vida dos portugueses. Um dos primeiros desafios que este Governo afirmou e mantém como uma grande prioridade é repensar o problema da habitação como uma prioridade de Estado. Há que repensar não só o papel do próprio Estado, mas também o papel das regiões e o papel dos próprios municípios, ao nível da habitação. No que respeita ao ordenamento do território, também não me parece que uma política meramente de planeamento, com instrumentos constrangedores, se tenha revelado extremamente útil num bom ordenamento do território. Políticas de contraactualização, políticas que desenvolvam empresas mistas, políticas que envolvam o poder central, o poder local e os vários agentes da sociedade civil, parecem-me ser os instrumentos utilizados em toda a Europa para fazer face aos problemas complexos com que nos confrontamos. Temos um leque de experiências extremamente rico noutros países, a começar por Espanha, mas também em França, na Holanda, na Inglaterra ou na Bélgica. Todos eles têm desenvolvido políticas diferentes, têm, por isso, uma experiência extremamente rica que é importante não desperdiçar. A prioridade deste Governo no sector da habitação tem, obviamente, que ver com a consciência de que se trata de um problema multi-sectorial, relacionado com o ordenamento do território, com a organização estatal, com uma nova visão de partenariado entre os vários níveis do Estado e os agentes da chamada sociedade civil. E está em curso um certo número de acções organizativas e de debates que me parece ser extremamente importante prosseguir. Por outro lado, o Estado também foi um mau proprietário; aliás, como muitos outros proprietários portugueses. O Estado tem um parque de arrendamento público muito mais incipiente que a média dos países europeus. Quando vemos a percentagem da parte pública do parque de arrendamento, vemos que essa percentagem em Portugal é mais baixa do que na maior parte dos países europeus e esse parque público de arrendamento – quer ele tenha sido detido pelo Estado central, quer ele seja detido por autarquias locais ou mesmo por instituições de solidariedade social –, raramente tem sido gerido. A própria gíria diz “que se dá uma casa”, quando se atribui um fogo para arrendamento em regime de renda apoiada. Na verdade, não se dá uma casa. Está-se sim a construir uma casa para arrendamento apoiado. E se é dito de outra 11 maneira é porque isso provavelmente corresponde a uma realidade também ela prolongada de se construírem casas que depois não são geridas. Muitas vezes, as rendas não são cobradas de acordo com a lei; muitas vezes os edifícios não são mantidos – só muito recentemente foi feito um levantamento do cadastro e dos arrendatários na dependência do IGAPHE. Muitas vezes, os equipamentos sociais e o próprio comércio e lojas nesses bairros não eram realizados, ou seja, construíam-se guetos que, depois, se deixavam sem proprietário, gerando zonas de exclusão social. Construir com dinheiro do Estado – portanto, com dinheiro de todos os portugueses –, zonas de exclusão social não me parece ser um objectivo de Estado. E aí, também, há uma nova política a ter em conta: os vários agentes – quer a nível central, quer a nível local – têm de adquirir, em relação ao parque público de arrendamento, uma outra atitude, uma outra responsabilidade como proprietários e um outro dinamismo como urbanistas, que também o são. A esse nível foi lançado pelo IGAPHE o programa Arco-Íris, em bairros-tipo para teste de uma nova filosofia de gestão e intervenção. Este programa integra três vectores: a gestão, que inclui a manutenção do parque, a cobrança de rendas, a alienação de fogos e o funcionamento dos condomínios; a vertente social, que implica o conhecimento dos inquilinos e o apoio à sua integração social e económica; e também uma vertente urbanística onde se cuida dos espaços exteriores, se garante a existência de lojas, pequenas unidades produtivas, equipamentos e onde se estabelecem parcerias a nível dos diferentes agentes sociais, por forma a que esses bairros correspondam de facto ao objectivo para que foram construídos. Para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto este Governo renegociou com a Comunidade Europeia o programa Intervenção Operacional Renovação Urbana que praticamente só tinha sido utilizado em 1994 e 1995 para financiar algumas infraestruturas da Expo 98 e que a partir de 1996 foi direccionado para a recuperação dos bairros de arrendamento público. Actualmente a Renovação Urbana já tem 65 candidaturas em curso para a realização de espaços verdes, pequenos equipamentos, pequenas unidades de emprego e de apoio social às pessoas, para realização daquilo que pode transformar esses bairros em bairros normais. Este programa apoiou iniciativas de reinserção de bairros de arrendamento público detidos pelas câmaras das áreas metropolitanas e pelo IGAPHE com cerca de cinco milhões de contos, já em 1996. Esperamos que até 1997 o programa permita consolidar a intervenção dos municípios e do IGAPHE e que seja um forte elemento de integração social e urbanística. Não enjeitamos os programas de realojamento. Apenas os re-equacionamos pondo a tónica essencial na reinserção social e na recuperação urbana. O nosso objectivo é a reinserção social das famílias, cujas condições actuais de alojamento provam que têm enormes problemas económicos e sociais. Aliás é possível ver que a composição destas famílias não é, maioritariamente, a composição de famílias tradicionais. A taxa 12 de famílias monoparentais, de trabalhadores e de idosos isolados é muito grande, a taxa de desempregados atinge níveis incalculáveis e também muitas das pessoas que vivem nestas condições têm empregos precários, por vezes na construção civil, com enorme mobilidade. Em relação ao realojamento, foram desenvolvidos – entre a Secretaria de Estado da Habitação e o Ministério da Segurança Social – grupos de trabalho e acções, no sentido de integrar as políticas de realojamento e as políticas sociais, procurando que as acções de realojamento se processem de outro modo. Este Governo também flexibilizou as condições concretas para que as Câmaras possam utilizar os instrumentos financeiros postos à sua disposição pelo Governo para o realojamento. Um bom exemplo é a assinatura, feita há uns dias, pela Câmara Municipal de Lisboa para um contrato de programa plurianual para realojamento de 2800 famílias, resultante da desburocratização que já se conseguiu. Fazendo num único contrato o que, com a antiga legislação, seriam necessários mais de 40 contratos, com outros tantos vistos do Tribunal de Contas, permitiu a negociação de taxas de juro muitíssimo mais baixas com a Banca e, consequentemente, diminuiu encargos do Orçamento do Estado. Para a Banca representa também a possibilidade de ter, no fundo, uma carteira de encomendas mais facilmente gerível uma melhor programação. A acção deste Governo foi no sentido de desburocratizar e flexibilizar as soluções, tanto do ponto de vista construtivo, como do ponto de vista processual. Foi ainda a de procurar soluções de integração individualizadas, como é o PER FAMÍLIAS, que apenas dará resposta a uma parte das famílias a realojar, justamente porque grande parte destas pessoas tem enormes problemas de inserção social –, mas permitirá àqueles que já têm a vida organizada economicamente, poder adquirir casa própria, beneficiando rigorosamente das mesmas condições que o Estado dá às Câmaras para os realojar. Apesar da nossa prioridade não ter sido quantitativa, mas qualitativa, foi possível fechar o ano de 1996 fazendo realojamentos do PER que corresponderam ao dobro daquilo que tinha sido feito na soma dos anos 94 e 95. No que diz respeito ao problema do arrendamento habitacional, que é uma herança histórica difícil, foi criado um grupo de trabalho que tem ouvido as várias entidades, que tem estudado esta realidade e que está a preparar um certo número de acções a desenvolver. A comissão foi criada em finais de Novembro, tem um período de nove meses para apresentar o relatório final, mas devo dizer que, a partir do primeiro relatório apresentado há cerca de um mês, já existe um grande trabalho em curso. Rever as rendas antigas não deixará de ser polémico. Mas é vital para o equilíbrio da nossa sociedade combater a degradação do parque habitacional e mobilizar os fogos devolutos. Queremos construir bases possíveis para um maior entendimento entre proprietários e inquilinos, tentando facilitar a resolução da conflitualidade de 13 direitos – muitas vezes exagerada num sentido ou no outro –, evitando que se continuem a perpetuar estas situações. Este Governo dá uma grande importância ao sector da habitação pela sua envolvência no ordenamento do território e na qualidade de vida dos portugueses; pela repercussão que o sector tem ao nível do emprego e pelo seu impacte numa política social multi-sectorial. A enorme dimensão desta prioridade pode também ser medida pelo esforço que o Governo está disposto e determinado a dispender, não só a nível organizativo, legislativo e financeiro, mas sobretudo a nível processual. 14 Painel Análise da situação actual: evolução recente, perspectivas 15 Professora Clara Mendes * Relatora 1. HABITAÇÃO: DE COMPONENTE DA POLÍTICA ECONÓMICA A ELEMENTO DA POLÍTICA SOCIAL O direito à habitação e o papel do Estado na provisão desta necessidade básica não é um tema novo, mas as políticas seguidas alteraram-se significativamente face ao aumento das taxas de urbanização, da pobreza e da degradação do ambiente urbano, do aumento da procura de equipamentos que garantam a qualidade de vida dos cidadãos e da crescente impossibilidade do Estado satisfazer a nova procura devido às oscilações da economia e à dificuldade em representar todos os agentes que operam nos processos de desenvolvimento económico e social. Uma breve análise retrospectiva mostra que, na década de sessenta e na primeira metade dos anos setenta, as políticas seguidas assentaram na produção maciça de alojamentos, com as preocupações centradas nos aspectos físicos e materiais, sendo o sector público o principal promotor na provisão de alojamentos. Foram vários os motivos que levaram à inoperância das opções de então. De facto, se por um lado, as opções decorreram da necessidade de responder rapidamente às necessidades quantitativas, por outro, elas revelaram-se inoperantes por razões diversas. Assim, a ausência de participação dos actores envolvidos permitiu a construção de soluções que não tiveram em consideração as necessidades sociais e os valores culturais dos futuros utentes que, em muitos casos, eram diferentes dos expressos pelos técnicos e pelas instituições envolvidas no processo. Também as tecnologias e os materiais de construção utilizados foram muitas vezes inadequados às condições locais o que se traduziu numa fraca durabilidade técnica dos edifícios; faltou ainda a avaliação da capacidade de solvência da população e muitos dos fogos construídos para os estratos mais baixos deterioraram-se rapidamente devido à sua má utilização e à falta de manutenção por parte dos moradores. Por fim, as agências públicas promotoras de habitação nem sempre tinham níveis de solvência financeira que lhes permitissem fazer investimentos de longo prazo nem capacidade para assegurar a gestão dos bairros. Gorada esta abordagem centrada na promoção directa pela Administração Central, a partir da segunda metade dos anos setenta, a política de habitação passou a apostar na melhoria das condições de habitabilidade apoiada na participação comunitária. Tratava-se assim de pôr em prática uma política que indiciava uma abordagem, digamos, mais indirecta do poder central. Efectivamente, se por um lado se prestou mais atenção à concessão de subsídios para habitação e aquisição de terrenos, por * Faculdade de Arquitectura. 16 outro, procedeu-se à revisão das normas e dos standards de habitação, deu-se ênfase às infra-estruturas e à adopção de tecnologias de construção apropriadas ao meio físico e social em que os bairros se inseriam. Reconheceram-se os desenvolvimentos informais, apoiou-se o envolvimento dos diferentes agentes, em particular as comunidades de base local, difundiram-se as tecnologias de baixo custo tanto no domínio da habitação como das infra-estruturas. Este modelo evoluiu de modo a que na década presente, a política de habitação se orienta para uma mobilização dos recursos económicos e sociais, para o envolvimento de todos os actores e para descentralização da responsabilidade na implementação das acções. As soluções passaram a centrar-se mais na disponibilização de instrumentos que garantam a todos os estratos socioeconómicos o acesso ao alojamento (“enabling approach”), no envolvimento de todos os actores sociais, na aplicação dos princípios da equidade e sustentabilidade, na avaliação dos aspectos económicos e ambientais e na atribuição de um papel importante às parcerias entre os sectores público e privado, organizações sem fins lucrativos e comunidades de base local. A habitação é, agora, assumida como um dos instrumentos das políticas de desenvolvimento e não apenas como um bem a ser adquirido ou a ser providenciado pelo Estado. Esta nova abordagem implica que, por um lado, se tenha em conta a dimensão económica da habitação, que abarca variáveis tão importantes como o mercado de trabalho, a inflação, a balança de pagamentos, o orçamento do Estado, a organização do sector da construção civil, pelo que é necessário coordenar a política de habitação com a política macroeconómica, mobilizando os recursos, criando empregos, eliminado a pobreza. Por outro lado, requer a melhoria das técnicas de planeamento a qual deverá ter em consideração os aspectos sociais, económicos, ambientais, jurídicos e institucionais obrigando a uma ligação profunda entre a habitação e as políticas relativas ao desenvolvimento urbano. Pressupõe ainda a melhoria dos processos de financiamento, facilitando o acesso aos créditos a todos os estratos populacionais que são actualmente excluídos, a dotação de infra-estruturas e equipamentos básicos, não apenas no que se refere à sua execução mas assegurando também o recurso a tecnologias adequadas e garantindo os critérios de gestão e manutenção adaptados às necessidades dos utilizadores. O acesso ao alojamento exige também a consulta e a participação de todos os agentes bem como a descentralização da administração central para o poder local. A habitação passa a ser uma componente importante da qualidade ambiental, uma expressão visível das formas de combate à pobreza e à exclusão social e constitui um elo de ligação entre os agentes para a formação de parcerias. Naturalmente, o papel do Estado não foi eliminado pois, para além da sua função de regulador, tanto ao nível da administração central como da local ele tem de 17 interferir para corrigir anomalias no funcionamento do mercado, tais como a falta de competição na oferta, a exclusão dos mais desfavorecidos, o desequilíbrio na utilização dos recursos e na degradação do ambiente. Mas não só. A legislação é também um instrumento onde o Estado tem de intervir. Os regulamentos são complexos, os standards de construção estão desactualizados ou são inadequados, os procedimentos burocráticos constituem um obstáculo importante para a provisão de habitação e as medidas fiscais podem obstaculizar ou facilitar a mobilização dos recursos familiares. Por tudo isto, a política de habitação é agora mais um conjunto de processos e não só a construção de edifícios e de infra-estruturas. Os programas a implementar não precisam apenas de uma coordenação e do controle técnico da qualidade dos edifícios, mas terão também que considerar a interacção entre os diversos actores e as questões ambientais. Trata-se, pois, de um balanço entre a eficiência económica e ambiental os princípios da equidade e da sustentabilidade. 2. A HABITAÇÃO EM PORTUGAL Todos sabemos que a habitação é um dos nossos grandes problemas. Estivemos sempre desfasadas dos países mais desenvolvidos que, desde o princípio do século, puseram em prática políticas de habitação que garantiram o acesso a um direito básico e, simultaneamente, conduziram o desenvolvimento urbano. Mas entre nós as acções pautaram-se por acções pontuais desarticuladas de uma visão global dos problemas. De facto, até aos anos sessenta, a promoção de habitação limitou-se à construção de pequenos bairros residenciais, que arquitectónica e urbanisticamente reproduziam a ideologia do regime. Os bairros do Estado Novo expressam bem a preocupação de reproduzir a família como elemento básico da sociedade e a autosubsistência o símbolo do desenvolvimento. A Igreja apresenta-se quase sempre como o elemento estruturante e de referência do desenho urbano. Durante as décadas de cinquenta e sessenta as migrações campo-cidade não foram acompanhadas de uma política de habitação e geraram fenómenos de marginalidade urbana que o IV Plano de Fomento indicava como um dos graves problemas sociais. Os grandes centros urbanos cresciam à custa de desenvolvimentos informais, que assumiam as formas de barracas e, posteriormente, de bairros clandestinos. O problema da habitação começou então a estar na ordem do dia e, o desmoronamento de prédios clandestinos na periferia de Lisboa pouco antes das eleições de 1969 fizeram com que a questão da habitação fosse uma das bandeiras da oposição ao regime. Surge então, em 1969, o Fundo de Fomento da Habitação, organismo da Administração Central que, entre outras, tem como funções a promoção directa da habitação. E nos grandes aglomerados urbanos surgem os Planos Integrados, conjuntos residenciais concebidos à semelhança dos “grands ensembles”. De 18 dimensão gigantesca, estes conjuntos, que em Portugal foram programados para um número de fogos bastante inferior aos que na década precedente se haviam construído na Europa tornaram-se verdadeiros “ghettos” pois o seu tecido social é constituído por grupos com condições económicas muito reduzidas e onde a massificação da habitação não foi acompanhada de uma política de investimentos em equipamentos e infra-estruturas. Fora dos grandes centros os bairros sociais, de diferentes dimensões, localizaramse quase sempre perifericamente e as suas populações foram marginalizadas da vivência urbana. As carências quantitativas e qualitativas agravaram-se após o 25 de Abril. As dificuldades económicas decorrentes da alteração política e, em particular, as medidas restritivas impostas pelo FMI e pelo Banco Mundial, com vista à recuperação da economia, limitaram as acções da Administração Central no domínio da habitação. Paralelamente, o alargamento do congelamento das rendas, já praticado em Lisboa e no Porto desde a década de quarenta, foi aplicado a todo o País, retirando do mercado da habitação uma componente importante do seu funcionamento. Nos anos oitenta foram implementadas algumas medidas com o objectivo de alterar o panorama habitacional. Alterou-se o regime de arrendamento, introduzindo um sistema de subsídios e admitindo um ajustamento ao valor da renda. Contudo esta medida foi insuficiente para corrigir as anomalias acumuladas. O valor das rendas manteve-se muito baixo. De acordo com o Censo de 1991, 10,6% do total dos alojamentos arrendados tinham uma renda inferior a 1 000$00; 63,4% pagavam entre 1 000 e 12 000$00; 23,5% entre 12 000 e 45 000$00 e apenas 2,5% tinham uma renda superior a 45 000$00. Consequentemente o investimento em fogos para arrendamento decresceu e enquanto em 1973, 50,3% dos fogos concluídos se destinavam a arrendamento, esta percentagem passou a variar entre 1,5% e 2% desde 1987. Os baixos valores das rendas também contribuem para o reduzido peso que as actividades de reparação e reabilitação assumem no total da produção no sector (5,5%), valor que contrasta com os dos restantes países comunitários onde este segmento atinge os 33%. Por estas razões o mercado não reanimou, o parque habitacional degradou-se e as classes médias e os jovens à procura de primeira residência foram atirados para as periferias urbanas. A provisão de habitação centrou-se no regime de aquisição de casa própria, e os dados estatísticos mostram que em 1991, os alojamentos exclusivamente residenciais ocupados pelos proprietários correspondiam a 66% (Quadro I). 19 QUADRO I - PROPRIETÁRIOS RESIDENTES % HABITAÇÃO OCUPADA PELOS PROPRIETÁRIOS 78 67 66 66 54 Espanha Itália Reino Unido Portugal França Fonte: Who is who in the UE O número total de empréstimos para aquisição de casa própria aumentou de 28,9%, entre 1990 e 1996, e os montantes concedidos de 136%, no mesmo período. A variação do crédito bonificado foi de 27,8% e de 123,6%, respectivamente. O panorama actual evidencia uma realidade completamente distorcida. Por um lado temos uma indústria de construção civil com grande dinâmica, falamos de escassez da oferta mas temos um excedente de fogos. De facto, o Censo de 1991 revela que o número total de alojamentos era de 4 191 101 fogos, montante que, comparado com o do Censo de 1981 traduz um crescimento da ordem dos 22%. Se tivermos em consideração que na década de setenta, o ritmo médio anual de construção de fogos por 1000 habitantes foi de 6,7 e na de oitenta de 7,6, constatamos que Portugal integra o conjunto de países europeus com maior ritmo de construção de alojamentos (Quadro II). QUADRO II - FOGOS CONCLUÍDOS POR 1000 HABITANTES 1965-73 1974-80 1980-91 UE 3,6 3,5 5,5 PORTUGAL 7,7 6,7 7,6 Fonte: ONU/INE Realce-se porém, apesar 756 468 fogos novos construídos entre 1981 e 1991 e da estabilização da evolução demográfica, enquanto o número famílias aumentou 7,7%, o número de fogos destinados a habitação permanente registou um aumento de 10,3%, os de uso sazonal e segunda residência 103,8%, os fogos com ocupante ausente cresceram em 17,9%. A evolução do número de casas vagas foi explosivo (132,6%) e o Censo de 1991 totalizava 440 159 fogos vagos. Este crescimento dos fogos vagos corresponde não apenas fenómenos migratórios com consequente abandono das casas rurais mas expressa também uma oferta urbana não absorvida pela procura, particularmente nos distritos litorais com maior ritmo de crescimento urbano. Simultaneamente, o número de alojamentos não clássicos decresceu de 40,4%, mas o número de famílias residentes em alojamentos clássicos superlotados cresceu em 20 24,9%. Persistem importantes bolsas de habitação informal, especialmente concentradas nas áreas metropolitanas. No que concerne ao arrendamento o número de alojamentos arrendados como residência habitual era de 529 736 ou seja 18,1% do total do parque arrendado enquanto em 1981 esta percentagem era de 39,8%. 3. HABITAÇÃO SOCIAL A promoção de habitação pelo sector público nunca foi muito significativa tanto antes como depois do 25 de Abril. O I Governo Constitucional deu um passo importante na descentralização do sector ao criar os serviços municipais de habitação como estrutura capaz de absorver os poderes da administração central em termos de gestão, conservação e distribuição dos fogos de promoção pública. A partir de 1981, (Governo da Aliança Democrática) assiste-se a um recuo na intervenção do Estado na promoção de alojamento e procedeu-se à transferência gradual, para os municípios, da responsabilidade de alojamento das famílias de menores recursos. Porém, manteve-se a situação em que a maioria dos fogos construídos se destinavam a habitação própria; os preços de venda atingiam valores incomportáveis para as famílias de baixos recursos e, consequentemente, a procura de habitação social aumentou agravando as pressões sobre os municípios. Após a extinção do FFH e com a criação do INH e do IGAPHE, o Governo do Bloco Central (1985) estabeleceu que os investimentos públicos em habitação se fariam em regime de colaboração, ou melhor, se inseriam no regime de coordenação e cooperação entre a administração central e o poder local. Esta orientação foi reforçada a partir de 1987 quando a habitação deixou de ser vista como um bem público mas antes entendida como um bem cuja produção e comercialização caberia à iniciativa privada. Nesta perspectiva e reconhecendo-se a falência da gestão do parque habitacional do Estado, a partir de 1988, o IGAPHE e algumas câmaras procederam à venda do património, geralmente aos próprios inquilinos com a justificação da impossibilidade de continuarem a suportar os custos de manutenção e admitir-se que os residentes tratariam melhor o seu próprio alojamento. O parque do IGAPHE passou de 36 243 fogos, em 1987 para 25 354 em 1996. Este decréscimo correspondeu não só à venda de fogos mas também à transferência de bairros sociais para os municípios. Face a estes desenvolvimentos, as fontes estatísticas mostram que, em 1991, a administração central não promoveu directamente nenhum fogo e todas as acções passaram a ser feitas através acordos, contratos e comparticipações entre o INH, o IGAPHE, os municípios, as cooperativas e as empresas. 21 3.1. Programas de Realojamento A promoção municipal de habitação passou a concretizar-se ao abrigo do Programa de Realojamento (Dec.-Lei n.º 226/87), através de acordos celebrados entre os institutos mencionados e as câmaras municipais. Ao abrigo deste programa, no final de 1996, estavam acordados entre o IGAPHE, os municípios e outras instituições um total de 35 376 fogos. A evolução do número de fogos a construir ao abrigo dos acordos variou ao longo do tempo e merece algumas considerações. Por um lado, o elevado número de fogos registados em 1987 correspondem praticamente ao programa PIMP; o valor muito baixo de 1990 explicase por uma grande redução orçamental que desacelerou a actividade do IGAPHE. No entanto, as possíveis interpretações para os valores anuais devem ser cautelosas pois muitas vezes, e apenas por razões processuais, muitos acordos são assinados em Dezembro reduzindo assim os montantes do ano seguinte. Em Dezembro de 1996, ao abrigo dos Acordos de Colaboração com o IGAPHE 25 534 estavam abrangidos por contratos de comparticipação. Destes, 8 412 estão concluídos, 3 884 em construção e 13 238 estão para construção. No que se refere ao número de fogos contratados pelo INH, ao abrigo do Dec.-Lei n.º 226/87, o montante global entre 1987 e 1996 era de 7 000. Nesta linha de actuação surgiu em 1993 o Programa para a Erradicação de Barracas (PER) das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto, co-financiado pelo IGAPHE até 50% e com financiamento bonificado do INH ou de qualquer outra instituição de crédito. Quando do lançamento do programa foram recenseadas nas duas Áreas Metropolitanas, 42 075 barracas onde residiam 48 391 famílias. O número de alojamentos abrangidos pelos Acordos Gerais de Adesão correspondia ao total de famílias recenseadas e o investimento total era de 344 056 mil contos dos quais 45,6% caberiam ao IGAPHE, 45,0% ao INH/CGD e 9,4% proviriam do auto-financiamento. 22 QUADRO III - PER NA ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA (Dezembro 1996) MUNICÍPIOS Alcochete Almada Amadora Azambuja Barreiro Cascais Lisboa Loures Mafra Moita Montijo Oeiras Palmela Seixal Sesimbra Setúbal Sintra V. Franca Xira TOTAL AML LEVANTAMENTO N.º Barracas N.º Agregados familiares 40 1924 4 000 74 420 1 361 10 034 3 610 62 127 286 3 165 59 458 124 958 1 211 713 28 626 44 2 156 5 419 80 461 2 051 11 129 3 904 62 160 307 3 165 61 635 128 1 272 1 591 765 33 390 ACORDO GERAL DE ADESÃO (IGAPHE) Fogos comparticipad N.º Fogos os (Dez.1996) Acordados 44 2 156 5 419 80 461 2 051 11 129 3 904 62 160 307 3 165 61 635 128 1 272 1 591 765 33 390 17 590 122 164 657 756 24 78 206 100 5 23 145 621 213 3 697 QUADRO IV - PER NA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO (Dezembro de 1996) MUNICÍPIOS Espinho Gondomar Maia Matosinhos P. do Varzim Porto Valongo Vila do Conde Vila Nova de Gaia TOTAL AMP LEVANTAMENTO N.º Barracas N.º Agregados Familiares 458 1 281 1 422 3 745 410 1 334 551 808 3 349 13 449 458 1 964 1 517 3 982 470 1 356 629 909 3 619 15 001 23 ACORDOS GERAIS DE ADESÃO (IGAPHE) N.º Fogos N.º Fogos Acordados Compartici pados 458 48 1 964 1915 1 517 536 3 982 516 470 1 356 84 629 60 909 182 3 619 116 15 001 3 457 Na Área Metropolitana de Lisboa, onde residiam 79,4% das famílias recenseadas os concelhos com maior número de agregados a viver em barracas eram, Amadora, Lisboa, Loures, Oeiras (Quadro III). Na Área Metropolitana do Porto, Matosinhos e Gaia eram os concelhos com o número mais elevado de agregados a viver em barracas (Quadro IV). O número total de fogos abrangidos por contratos de comparticipação do IGAPHE era de 7 297, dos quais 76,4% a serem adquiridos e 27,4% a serem construídos. Em 1996 o número de fogos abrangidos por contratos de comparticipação do IGAPHE era de 4 857 valor que é significativo quando comparado com os 1 858 em 1995; 577 em 1994. Contudo nem sempre o realojamento no âmbito do PER seguiu os mesmos trâmites. Por exemplo, em Cascais optou-se por celebrar os acordos de comparticipação no final da obra concluída. Também aqui o realojamento ao abrigo do PER recorreu à construção em regime de CDH e estão agora 450 fogos aguardando a assinatura do financiamento do INH. Nos três anos em análise o processo de realojamento ao abrigo do PER, foi quase sempre feito com recurso à aquisição (69,2% do total). Os concelhos que mais investiram na construção foram, na AML, Lisboa, Sintra e Oeiras, e Matosinhos e Gondomar, na AMP. Como a execução dos empreendimentos é da responsabilidade municipal o sucesso dos programas depende da dinâmica dos municípios e dos condicionamentos urbanísticos, nomeadamente no que se refere à questão dos solos. 4. OUTRAS FORMAS DE HABITAÇÃO SOCIAL: COOPERATIVAS E CDH’s O movimento cooperativo habitacional foi lançado em 1974 e após a extinção do FFH as cooperativas passaram a promover habitação social a custos controlados, em propriedade individual, com empréstimos do INH com juro bonificado para construção, aquisição ou reparação de habitações. Depois de um ponto pico em 1989, quando se contrataram 4 422 fogos, a produção cooperativa orientou-se para os estratos com rendimentos elevados, o que associado à inflação de custos no sector e às altas taxas de juro praticadas nos empréstimos conduziram a que, a partir de 1990, as cooperativas tivessem grande dificuldade em encontrar comprador para os seus fogos, acumulando habitações para vender. O sector retraiu-se, o número de fogos concluídos decresceu progressivamente sendo de 347 o total a construir ao abrigo de contratos celebrados pelo INH em 1996. Depois de uma quebra em 1990 e 1993, a promoção através de contratos de desenvolvimento para habitação (CDH’s) tem registado um ritmo crescente e teve maior expressão nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Ao crescimento dos últimos três anos não foram estranhas as aquisições feitas pelos municípios deste tipo de habitação para realojamento no âmbito do PER. 24 5. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA HABITAÇÃO SOCIAL A distribuição geográfica da habitação social revela a acentuada disparidade regional que decorre da distribuição geográfica da população, da estrutura demográfica e de povoamento e das opções políticas da gestão municipal que orientam o desenvolvimento. A concentração espacial da população agravou o desequilíbrio entre a oferta e a procura e, consequentemente, a especulação elevou os preços dos terrenos nas áreas mais urbanizadas. Para além disso os municípios tiveram que enfrentar problemas muito diversos decorrentes da sua diferente dimensão e grau de urbanização. Ocorrem ainda diferenças significativas entre os municípios urbanos e rurais e entre os do litoral e do interior. Ao abrigo do programa para realojamento (Dec.-Lei n.º 226/87) foram os municípios das áreas metropolitanas que mais fogos edificaram. Seguem-se, em importância do número de fogos construídos os municípios Aveiro (662), Olhão (362), Coimbra (212) Portalegre (196) Penafiel (128) e Tavira (120) e alguns concelhos do interior onde a dinâmica está, provavelmente, mais ligada ao protagonismo dos seus autarcas. 6. A REABILITAÇÃO HABITAÇÃO COMO COMPONENTE DA POLÍTICA DE As soluções tradicionais para garantir o acesso à habitação dos vários estratos populacionais têm-se revelado insuficientes e não têm contribuído para a dinamização dos tecidos urbanos antigos, que devem ser vistos como um recurso importante a utilizar tanto no quadro de uma política de habitação como no domínio do planeamento urbano. Em Portugal as carências em alojamento não se limitaram apenas a aspectos quantitativos mas ficaram a dever-se também à degradação dos edifícios. Em 1988 foi instituído o RECRIA, programa destinado à reabilitação de imóveis arrendados e que procurou, simultaneamente, contribuir para a melhoria do tecido urbano e para a actualização das rendas. Não obstante apresentar características positivas o programa tem tido pouca incidência prática. Entre 1988 e 1996 o número de candidaturas foi de 2 961 abrangendo 14 446 fogos com processos deferidos e 9 043 já concluídos. O concelho de Lisboa é aquele onde o processo de reabilitação com recurso ao RECRIA tem sido mais dinâmico, correspondendo a 79,5% do total de fogos com processos deferidos. No Porto o número de fogos aprovados era 439, ou seja 3% do total nacional (Quadro V). 25 QUADRO V - RECRIA (Dezembro 1996) FOGOS APROVADOS FOGOS CONCLUÍDOS N.º Fogos % N.º Fogos % Lisboa 11 488 79,5 7546 83,4 Porto 439 3,0 323 3,6 Resto País 2 519 17,5 1174 13,0 TOTAL 14 446 100 9043 100 Contudo, apesar das críticas ao programa, a reabilitação não deixou de ser objecto de atenção por parte de alguns municípios, que criaram os seus próprios meios de actuação. O exemplo mais conhecido é o de Braga, que utilizou o RECRIA para recuperar edifícios depois de os ter adquirido aos proprietários que não quiseram fazer obras. Após a aquisição a Câmara recuperou-os e colocou-os no mercado acabando por reaver o dinheiro investido. Mas as razões que limitaram o recurso ao RECRIA não foram apenas de ordem financeira nem se limitaram ao empenhamento de uma ou outra câmara na manutenção e conservação do seu parque habitacional. Acontece também, que nas cidades de pequena e média dimensão muitos dos fogos degradados são habitados pelos próprios proprietários que não puderam aceder ao RECRIA. Constatado este facto e, considerando a importância da reabilitação como uma componente da política de habitação e da política urbanística, em 1996, para além das alterações introduzidas no RECRIA, visando a sua flexibilização, aprovaram-se o REHABITA e o RECRIP. O primeiro aplica-se a áreas definidas pelos municípios como áreas críticas de degradação, o que não significa necessariamente, centros históricos; o segundo destina-se à reabilitação de imóveis em propriedade horizontal. A primeira candidatura ao REHABITA está em curso e provém de Lisboa. O Acordo Colaboração prevê, que em 1997 e 98 sejam iniciadas obras de conservação, beneficiação, reconstrução e aquisição de 2 611 fogos. 7. A HABITAÇÃO COMO ELEMENTO DA POLÍTICA SOCIAL Muito embora as preocupações conjunturais dominem as políticas de habitação a verdade é que os seus objectivos de longo prazo são sempre de ordem social. Cada época tem as suas características próprias mas não será necessário fazer a história social para se reconhecer que o equilíbrio entre a satisfação das carências e as necessidades do rigor financeiro constitui já um debate clássico no âmbito das políticas de habitação. Mas, na verdade, assumido o alojamento como um direito, as políticas de habitação não se podem desarticular das políticas sociais tanto mais que por elas passam o combate à exclusão social e à pobreza. Na década presente e, como resultado das anteriores soluções utilizadas, a concentração de famílias com problemas económicos idênticos, marginalizadas espacial e socialmente, passou a dominar as atenções. Por isso, os princípios de 26 reabilitação social são objectivos imediatos/prioritários da actuação no domínio da habitação. Eles visam a qualificação dos tecidos urbanos decorrente não só da reabilitação física dos edifícios mas também a melhoria das condições de vida da população o que pressupõe a dotação de equipamentos, a possibilidade de criação de empregos e de instalação de pequenas actividades económicas, que, melhorando social e funcionalmente os bairros sociais os integrem no espaço urbano. Estas preocupações passaram também a estar presentes na definição dos objectivos da política nacional de habitação. Se, por um lado, se procurou já eliminar os estrangulamentos à promoção de habitação para os grupos mais vulneráveis (os idosos, as famílias monoparentais, os ciganos, os imigrantes), por outro tem-se incentivado o recurso ao Sub-Programa Intervenção Operacional/Renovação Urbana (Quadro VI), que têm duas medidas destinadas à instalação de equipamentos de apoio à instalação de pequenas actividades económicas, que criem emprego e dêem uma vivência urbana aos bairros sociais das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. QUADRO VI - INTERVENÇÃO OPERACIONAL/ RENOVAÇÃO URBANA (DEZEMBRO 1996) MEDIDAS Medida 1 Medida 2 INVESTIMENTO TOTAL -1995-1999 (mil contos) 32 588 13 345 CANDIDATURAS 53 14 INVESTIMENTO UTILIZADO ATÉ DEZEMBRO 1996 3 601 2 284 Fora delas tem-se dado particular atenção às parcerias com o Ministério da Solidariedade Social, nomeadamente no que se refere ao recurso a acções a desenvolver no âmbito dos programas Luta Contra a Pobreza e Integrar. Quanto ao envolvimento de outros agentes, as organizações sem fins lucrativos, particularmente as instituições de solidariedade social tem-se mostrado muito activas na formação de parcerias para a instalação de equipamentos de apoio aos jovens e à terceira idade. Trata-se de uma prática muito generalizada nos outros países mas que em Portugal está ainda a dar os primeiros passos. Todas estas acções não dispensam uma gestão adequada dos bairros muitas vezes dificultada pela concepção arquitectónica e urbanística, pela insegurança que decorre da configuração dos espaços comuns, pelos fracos recursos dos moradores que limita a sua possibilidade de cooperação no combate à degradação. 8. A HABITAÇÃO E O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO A habitação, tanto através dos regulamentos e do seu financiamento, como através da arquitectura e do urbanismo marcou a organização do espaço. Por isso, não é possível falar-se da questão da habitação sem fazer uma referência ao ordenamento do território. 27 Pode constatar-se que esta temática não é abordada nos planos de ordenamento apesar de, na prática, o desenvolvimento urbano e o próprio ordenamento à escala municipal se concretizarem através da construção de habitação. Pese embora o reconhecimento de estrangulamentos de grande importância como o da questão dos solos, a verdade é que a resolução das carências da habitação é muitas vezes esquecida nos documentos das políticas municipais. O caso dos PDM’s é exemplar. A análise dos planos directores municipais, mostra que se alguns, mas nem todos, abordam a questão da habitação numa óptica quantitativa, isto é, numa simples relação número de famílias/número de fogos, este tema é abandonado quando da elaboração das propostas. É certo que as estatísticas em Portugal são insuficientes e que o mercado da habitação é fortemente influenciado pela evolução demográfica. Nesta óptica, a época actual dificulta as previsões pois ela é marcada por grandes mutações sociais. As mudanças ocorridas no mercado de trabalho, particularmente devidas à expansão das novas tecnologias, determinaram uma nova procura mais qualificada. A família tradicional alterou-se. Aumentou o número de isolados, jovens e idosos, tal como as famílias monoparentais e os casais sem filhos. A descoabitação e os divórcios incrementam as necessidades em alojamento mas todas estas alterações na estrutura familiar implicam tipologias de fogos diferentes que o mercado, em geral, não oferece. E sendo a qualidade de vida um tema dominante do discurso actual é também importante não esquecer que ela decorre da qualidade do espaço urbano, que só é possível alcançar quando o desenho urbano permite ter os elementos que garantam aquela qualidade. Por isso é de desejar que neste final de século, a habitação possa vir a desempenhar o mesmo papel que teve no final do século XIX e princípio do actual, no que concerne à programação e à concepção urbanística e qualitativa do território. 28 Dr. Manuel Ataíde Ferreira * Comentador Agradeço vivamente ao Senhor Presidente do Conselho Económico e Social o convite para assistir a esta sua iniciativa de um debate sobre “A POLÍTICA DE HABITAÇÃO” e na circunstância, comentar a intervenção da Professora Doutora Maria Clara Mendes, que acabámos de ouvir. O CES não encontrou ainda espaço de afirmação na estrutura política institucional do Estado, naturalmente por ter sido mal concebido ao cruzar conselheiros oriundos da administração pública, central regional e local e dos parceiros sociais, o que em passado recente (isto é, na anterior legislatura) inviabilizou a tomada de pareceres de iniciativa, a tomada de posições que dessem expressão ao pulsar e às preocupações dos agentes económico-sociais, que fossem ou pudessem ser menos cómodos para os comissários políticos da administração central, com assento no Conselho. Após as últimas eleições, o Ministro do Planeamento, em sessão do Conselho a que ainda assisti, declarou que os representantes da Administração Central passavam a ter liberdade de voto mas, infelizmente, ainda não houve tempo de reformular, a meu ver, necessariamente, o Conselho. De qualquer modo, parece-me promissora esta iniciativa que saúdo, na medida em que significa o debruçar-se no estudo de uma situação de grande significado económico e social. Será importante que o Conselho possa franquear o passo seguinte e emitir um Parecer de Iniciativa que enquadre de forma adequada uma Política de Habitação consensual no final do milénio, sendo garantia de qualidade e rigor a pessoa do seu Relator, o Conselheiro Dr. João Salgueiro. Penso que em matéria habitacional, pela análise da lei ou das leis, e da observação dos factos ou das medidas não há, nunca houve uma política habitacional, tendo os governos deste País, quer os legitimados democraticamente, quer os outros, andado a reboque dos factos, apagando fogos. A excelente intervenção da Professora Doutora Maria Clara Mendes que ouvimos e que tive o privilégio, como mandam as regras da boa organização, de ler antecipadamente, é um utilíssimo documento. Apesar do brilho e do saber da oradora, não conseguiu convencer-me que o actual Governo, passe a inteligência, o voluntarismo e rigor e a grande dedicação à causa pública da actual Secretária de Estado, já tenha uma política de habitação. Não é que eu pense que seja essencial retomar a ideia do Plano Nacional de Habitação, pois jurista que sou já à beira de me retirar, não tenho ilusões sobre a magia das formas jurídicas, mas o que sublinho é que a sociedade política, os agentes económicos e políticos têm que retomar a discussão sobre o modo de satisfazer as * Presidente da Direcção da DECO - Associação para a Defesa do Consumidor. Advogado. Antigo membro do Conselho Económico e Social em representação das Associações de Consumidores. 29 necessidades habitacionais da população, não de uma população abstracta, mas dos homens e mulheres que têm hoje uma determinada composição etária, estruturas familiares diferentes do que eram, situações profissionais e modos de produção que são o que são o que não foi objecto de uma análise global e científica. Quando foi organizado pelo Ministério das Obras Públicas o “Colóquio sobre Política de Habitação”, no velho anfiteatro do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em Julho de 1969, tinhamos a respaldar o trabalho aí realizado, a excelência da investigação e reflexão feitas no quadro da realização do Plano Intercalar de Fomento (65/67) e também por isso é devida uma palavra ao Dr. João Salgueiro. Havia estudos paralelos realizados em “nichos” de pensamentos, mais ou menos clandestinos, aqui e ali (... até na Federação das Caixas de Previdência – Habitação Económica e estavam os Arqt.s Nuno Teotónio Pereira e Braula Reis). Foi possível nesse Colóquio – e por isso me volto com esperança para esta iniciativa do CES quase trinta anos volvidos – a elaboração, como disse o Eng. Fonseca Ferreira de “um diagnóstico da problemática habitacional e um plano de soluções tecnicamente perfeitos os quais, ainda hoje, mantêm a sua validade como referência metodológica”. E se refiro este facto não é só para anotar essa pequena lacuna de análise que a oradora fez do período pré-25 de Abril, mas sobretudo para criticar o Instituto Nacional de Habitação por não ter produzido e publicado trabalhos de análise e projectos na área habitacional, que quanto a mim são a base para que possa haver debates políticos e definição de responsabilidades. Em Fevereiro de 1993, no quadro da organização do “Encontro Nacional de Habitação” foi divulgado o “Livro Branco sobre Política de Habitação” que muito irritou o Governo da época, mas que não suscitou, em quadro político diverso, qualquer reacção do referido Instituto. Nesse sentido, o meu primeiro comentário à intervenção da oradora é que o seu texto não nos dá um quadro de perspectiva de uma Política de Habitação. Talvez o CES, no desejável Parecer de Iniciativa, o possa fazer, mas seria bom que tivéssemos ouvido a oradora dizer o que pensa. Sobretudo importa saber se a política de habitação tem que ser sempre e só uma política social ou se deve ser, simplesmente, uma política que atravesse horizontalmente os diversos estratos da população, pensada e executada a prazo, para pessoas em concreto com os salários que têm ou terão, com o modo de trabalho que existe ou existirá, com o desemprego que temos ou teremos, com a quebra de “saberfazer”, no domínio das técnicas de construção, conhecimento e desconhecimento de novos materiais ao nível dos trabalhadores da construção civil, com uma fiscalidade obsoleta e injusta e que já não acredito que mude, no quadro da solidariedade desejada e recusada, na esperança ainda possível. A oradora opta pela afirmativa, mas não consegue demonstrar as mudanças que diz existirem. Gostaria também que, na área da perspectiva, a oradora tivesse reflectido se, no debate de competências, em matéria de habitação, nos vários níveis da Administração, será de manter a actual ambiguidade, pois como se sabe, na lei actual (Regime de 30 coordenação de investimentos, que referiu – de 1984) os diversos níveis têm competência para intervir, mas falta (e isto constitui, ao que assumo, uma crítica ao modo de se entenderem as autarquias) na definição clara de obrigação de actuar. A meu ver é preciso criar um sistema de competência de exercício obrigatório, com natural reflexo no sistema de afectação de receitas de impostos. Nos Estados europeus, quer após a I, quer após a II Guerra, os Governos intervieram no regime locatício para suster os problemas sociais e habitacionais emergentes dos conflitos e destruições bélicas, e em Portugal, onde não houve destruição por bombardeamentos do parque habitacional, seguiu-se uma política idêntica, que não criou especiais problemas económicos e de investimentos, até à primeira crise petrolífera. Disse a oradora e a Rádio bombardeou-nos nesse sentido desde a meia noite de hoje, que o modelo de 1985 não teve êxito, pois não ultrapassou as sequelas do congelamento. Efectivamente, a coragem do Dr. Fernando Gomes fezse esperar e a legislação correctiva dos congelamentos saiu atrasada, já que o Projecto de 1974, preparado pelo extinto FFH, não teve seguimento, por o Eng. Rui Sanches e Dr. Nogueira de Brito terem cessado funções, no próprio dia da sua apresentação ao Conselho de Ministros. Acontece que a nossa oradora não disse como pensa que a questão deve ser encarada hoje e não explica que fenómeno é esse de longevidade dos portugueses que permite a manutenção de contratos centenários inalterados, banido que foi o direito à transmissão com rendas inalteradas. Se o tempo me permitisse, gostava de explicar as razões do que chamou o insucesso da Lei de 85, pois do núcleo duro da preparação da lei, só eu estou, hoje, aqui, depois do regresso do Dr. Fernando Gomes ao combate autárquico e da morte prematura do Professor Engenheiro Abílio Rodrigues. A história dos fogos devolutos que o censo detectou, está mal contada. Referiu-se a oradora à “Habitação e ao Ordenamento do Território”, mas não tirou conclusões e não equacionou as questões que devem ter adequado tratamento na nova abordagem que terá havido. Não fez referência aos aspectos relativos ao financiamento à habitação. Tem havido excesso de instrumentos, de despesa e muito experimentalismo e muito pouca coerência. Cabe-me recordar o excelente e ainda actual Relatório do Dr. Silva Pereira, apresentado em 1976, sobre “Financiamento à Habitação nos Países do Sul”. 1 Sendo a produção de habitação, ao que me apercebi da exposição, embora não dito expressamente, matéria que releva, para os estratos solventes, das leis do mercado, não seria de repensar o comando político da actual orgânica governamental, em que a função meramente construtiva e urbanística escapa à competência do membro do Governo responsável pela Habitação? Vamos deixar sem sancionamento a cultura e a prática anti-cidadão da maioria dos departamentos de licenciamento municipal e 1 O Relatório cobre as experiências e analisa as políticas dos diversos Estados que seguiam os trabalhos do Conselho Económico para a Europa das Nações Unidas e foi apresentado na reunião de Lisboa, realizada em Maio desse ano e a que o comentador presidiu. 31 também de muitos eleitos locais, no seu desprezo quase absoluto pelos prazos legais na tomada de decisões, seguros de que o cidadão isolado não se sabe defender e de que o empresário da construção civil que actua numa certa área, prefere negociar e pactuar e não se socorrer da lei, até porque o mau funcionamento dos Tribunais nunca o compensaria. Quanto custa? Quem paga? Vai ficar tudo na mesma? A oradora nada disse. Assumo que concordei em termos políticos, com a extinção do SAAL, mas tenho saudade da excelente qualidade arquitectónica de alguns projectos. Não há estudos sérios sobre custos de construção, nem investigação sobre projectos habitacionais que encontrem o justo equilíbrio entre a qualidade arquitectónica, a alegria de fruir o espaço e a contenção de custos. Quase todos os edifícios de habitação social são tristes e, como V. Ex.ª disse, não satisfazem os moradores. Que sugestões nos dá? Em 1992, num Seminário que a Organização que aqui represento promoveu, demonstrou-se que em dez anos “os custos administrativos e de fiscalidade relativos à aquisição de uma habitação sofreram um agravamento de 78,2%, representando mais do dobro dos encargos normais com a compra de um fogo nalguns países comunitários”. E isto é compatível com a nova abordagem? No domínio das intervenções na área da habitação, mormente de habitação social e matérias conexas, em termos quantitativos, vive-se numa floresta de leis, muitas vezes incoerentes, outras secas por caducidade de facto, outras criadas sem qualquer preocupação de respeito pelo sistema, para vencer dificuldades de gestores menos hábeis ou diligentes. Um exemplo. Quando o IGAPHE pretendeu alienar o seu património (e acho que foi uma opção, em parte, errada) verificou que não tinha licenças de utilização. Pensaram os gestores e decidiu o Governo de então: dispensase a exigência de licença e o notário faz a escritura. O adquirente quando quiser vender o fogo terá, face à legislação aplicável, que possuir a licença e então terá que, fazer aquilo que o IGAPHE não quis ou não soube fazer, pagar a um projectista que lhe faça as telas finais, submetendo-se a uma vistoria camarária e pagar o custo do alvará. A relação entre a Administração e os particulares terá que ser mesmo assim? Não poderá haver mais contenção legislativa, mais gestão, mais trabalho e menos leis? Estes e outros temas são, ao que suponho, objecto de análise na especialidade no decorrer do Colóquio, mas não deviam ser esquecidos na análise introdutória, com que fomos brindados. Devo ainda, no tempo que me foi dado, apontar não já as omissões, mas eventualmente discordâncias ou dúvidas quanto a asserções da oradora. Anoto alguns desses pontos: 1 – No Capítulo I “Da componente da Política Económica e elementos da Política Social”, foi feito o contraponto para que a epígrafe do capítulo aponta, mas não se percebe se a fronteira é mesmo a que diz post-primeira metade dos anos setenta ou outra mais recente. É ambíguo. 32 Não penso que os CDH’s constituam um modelo de intervenção social, são, exclusivamente, um modelo de apoio à indústria numa fase de crise e de fuga, nalguns casos, ao controlo do regime de mercados públicos. Discordo que os planos realizados no pretérito tenham tido, exclusivamente, componentes de política económica e também não vejo que os anos noventa (década presente) tenham trazido algo de novo, pois a ruptura relativamente ao post-25 de Abril deu-se, primeiro com a supressão do SAAL e depois com a extinção do FFH e por isso tive dificuldade em entender o que diz quando escreveu “a habitação é apenas assumida como um dos instrumentos da política de desenvolvimento e não apenas como um bem a ser adquirido ou a ser providenciado pelo Estado”. A Senhora Professora dirá o significado pois, quer antes do 25 de Abril, quer post 6.º Governo Provisório (Eng. Eduardo Pereira e depois Eng. António Sousa Gomes), não vejo que tenha sido outro o entendimento. 2 – No Capítulo II, faz referência aos Planos Integrados. Diz que se tornaram “ghetos”, o que é verdade para a margem Sul, não é verdade para Aveiro, nem para Coimbra e até para o Porto. Não foi referido que na altura em que os Planos Integrados foram concebidos, na produção directa do Estado havia cinco categorias de habitação, de preços diferenciados que asseguravam a integração social dos moradores. É na post-revolução que é criada a categoria única que gerou a “ghetização”. Mas falando de “ghetos” eu gostava de a ver comentar algumas intervenções PER, não na beleza das suas ideias que defende e eu apoio, mas na realidade projectada e construída. 3 – No Capítulo III refere V. Ex.ª a habitação social e constitui um contributo excelente, pela riqueza informativa, para os participantes deste Colóquio. Quero somente sublinhar que o Programa PER não me entusiasmou. O actual Governo reformulou a sua engenharia financeira, deu passos na desburocratização, suprimiu disfunções de carácter urbanístico e flexibilizou o sistema criando o PER/FAMÍLIAS, o REHABITA e, melhorando o RECRIA. Honra lhe seja. Não vejo que a longo prazo, nalgumas intervenções se não criem, como disse, “ghetos”, que as casas pela sua dimensão e qualidade imposta pela contenção dos custos se não tornem obsoletas e por certo inoperativas para as formas novas de trabalho domiciliário. Que diferença há entre o PER e os Decretos do Dr. Salazar que criaram Programas quantificados para a construção de fogos no Porto ou em Lisboa? Ao mesmo tempo que se realojam muitas famílias, outros, os novos pobres, os recém despejados são lançados para as ruas e as não recenseadas, sentem-se preocupados e injustiçados. Como é? Haverá dentro de meses ou anos novo recenseamento PER? Não pode centrar-se a política de habitação à volta do PER e assim parece e todos sabemos, em política, a força do que parece. __________∴ ___________ 33 E por aqui me fico, mas antes quero que fique claro que o método que adoptei para formular os comentários foi o que melhor me pareceu para estimular as reacções da nossa oradora, reconheço porém que poderá não ter sido o mais adequado para cumprir a totalidade da missão que o Senhor Presidente do CES me cometeu e faltoume tempo para fazer ressair os aspectos altamente positivos da comunicação. Temo, não tenha sido capaz de transmitir a todos os participantes o interesse que a comunicação da Professora Doutora Maria Clara Mendes representa para mim, e sua importância no enquadramento deste Colóquio e se pela minha incapacidade e falta de jeito, eu tenho que me desculpar perante a oradora e perante Vossas Excelências, devo, por outro lado, Senhor Presidente, agradecer sinceramente à oradora o contributo que deu e reconhecer a coragem, por o ter feito. 34 POLÍTICA DE HABITAÇÃO Análise da Situação Actual Carlos Silva * Comentador É com grande satisfação que gostaria de saudar mais esta iniciativa, que nos retira do jejum de 4 anos, homens e mulheres, que se encontram ligados aos problemas da habitação. Embora comece a ficar fora de prazo dizer que “o Governo anterior é que não fez”, sinto-me à vontade para dizer que quando em Fevereiro/93 todos os Parceiros organizaram um Encontro Nacional, registou-se uma ausência completa de governantes e organismos ligados à habitação, o que foi sintomático da falta de interesse do Governo anterior pelas questões da habitação. Cabendo-me comentar o documento apresentado pela Sr.ª Prof.ª Clara Mendes, parece-me fácil comentar a intervenção uma vez que foi clara e sobretudo pela pesquisa feita que organiza o que foram as orientações e tendências da NÃO política de habitação em Portugal nas últimas décadas, mas é também difícil comentar, porque a qualidade da intervenção nos reduz muito o espaço de comentário. Além disso a brilhante exposição do comentador antecedente e também da intervenção produzida esta manhã pela Senhora Secretária de Estado da Habitação, dificulta ainda mais a minha tarefa. Em qualquer caso tentarei destacar algumas questões que, do meu ponto de vista merecem mais aprofundamento e/ou esclarecimento. Aqui se sublinha a opção errada, de construir alojamentos/bairros com a única finalidade de alojar, utilizando soluções de concepção e de construção inadequadas. Devo enfatizar que isto é um dado adquirido, mesmo que tenha havido em determinado momento alguma excepção que possa confirmar a regra, com o qual nós convivemos nas últimas décadas. Assim se criaram os Guetos antes de 74 e se agravaram ou ampliaram após 74. Utilizou-se uma indústria não completamente adequada para produzir habitação, uma mão-de-obra não qualificada, com deficientes métodos de organização e de inovação nas soluções construtivas e nos materiais, que pudessem produzir uma habitação melhor e mais adequada às características das famílias que iriam servir. A Professora Clara Mendes realça bem o que foi, o que chamarei de “ninhos ou centros de marginalização e exclusão social”. Os pobres, na altura ainda não se falava de minorias étnicas, eram empurrados para a margem dos centros urbanos fazendo com que ficassem mais pobres de todos os pontos de vista. Esta é uma realidade que julgo inegável. Os pobres foram sempre empurrados para a ponta, para fora da malha urbana, tornando-os mais pobres, mesmo que * Vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e Presidente da CHASA. 35 eventualmente pela melhoria das condições de habitação e de outros factores pudessem vir a ter mais dinheiro em casa. Deve sublinhar-se que, apesar da ausência de uma política integrada e constituída pelos mais variados instrumentos, em 1980 tomaram-se algumas medidas indiciadoras de que viria a caminho a construção dessa política. Foram porém muito tímidas. O exemplo mais significativo diz respeito às rendas. Já foi considerada uma espécie de “lança em África” quando o Dr. Fernando Gomes, e com grande polémica, como se recordarão na altura, teve a coragem de quebrar com o tabu do congelamento das rendas e alterou a Lei do Arrendamento. De qualquer modo foram medidas muito tímidas que podendo ser um sinal não prosseguiram mantendo ainda hoje uma gravíssima distorção. Uma grave distorção com senhorios a substituir o Estado na sua função social, com senhorios a não poderem em grande parte assumir a conservação do seu património. Com inquilinos a serem ajudados sem carecerem, com inquilinos sem ajuda de que tanto carecem, com o Estado a ver fugir milhões de contos de impostos que tanta falta fazem para desempenhar o papel social a que está obrigado. Isto, para mim, (naturalmente que a política de habitação não é só a alteração da lei das rendas), é de um simbolismo extraordinário. Considero que, se houver inteligência, para se mexer nas rendas, da maneira que pelo menos todos possamos entender, estará a dar mais um passo decisivo para a construção da política de habitação. Aqui se sublinha que, um País pobre como apesar de tudo ainda é Portugal, em proprietários de habitação está a par da Inglaterra, dos Estados Unidos e está mesmo acima de França e de muitos outros países muito mais ricos, sobretudo no Norte da Europa – Uma enorme distorção. A comunicação da Professora Clara Mendes mais uma vez destaca outro elemento de distorção do mercado habitacional em Portugal. Estamos a construir a um ritmo acima da União Europeia e continuamos com graves carências. • Porque há quase meio milhão de fogos vagos, independentemente da análise que também precisa de ser feita sobre as estatísticas nesta matéria. • Porque construímos muito caro, porque aquilo que construímos não é compatível com os rendimentos de quem carece de habitação – Outra enorme distorção. Outra referência que a Professora Clara Mendes faz, que subscrevo mas gostaria de sublinhar, tem a ver com a insensibilidade de alguns autarcas para a política de habitação. A propósito da habitação tem existido em Portugal uma certa confrontação entre o Poder Central e o Poder Local. Constitucionalmente refere-se que compete ao Poder Central resolver o problema da habitação e localmente alguns autarcas diziam ou 36 dizem que “uma vez que compete ao Governo Central nós não fazemos nada”. Sempre partilhei da opinião que isso era um perfeito disparate e que correspondia a uma enorme insensibilidade dos autarcas que assumiam essa postura uma vez que nenhum autarca pode ignorar que tem de dar contributos directos e decisivos para melhorar a vida dos cidadãos onde desempenha funções políticas. Sempre achei mal. Mas também achei mal, como acho, que o Governo vá tirando de cima dos ombros responsabilidades que são, sua competência e as passe para o Poder Local, sem que com isso transfira meios para que se possa exercer essas responsabilidades ao nível municipal. Parece essencial que para alterar a Política de Habitação se passe da fase de confrontação para a fase de concertação entre o Poder Local, o Poder Central, os privados, os cooperativos, enfim todos os agentes que possam intervir no sentido de em conjunto constituir a tal Política de Habitação de que Portugal carece. Foi referido que os acordos gerais de Adesão ao PER terão um encargo repartido de 45,6% ao IGAPHE e 45% ao INH – neste momento os encargos passaram na sua totalidade para o INH – e apenas 9,4% das Câmaras. Salvo qualquer má interpretação da minha parte, e eu sou autarca com responsabilidades nesta área, o que tem acontecido é que são 40, 40 e 20 respectivamente. Além disso não é referido, certamente (é cedo) por falta de estatísticas o volume de esforço feito pelos municípios entre o valor que recebe dos moradores e o valor que tem que pagar do empréstimo concedido pelo INH/CGD. Quanto à intervenção do Movimento Cooperativo Habitacional aqui referida como “outras formas de Habitação Social” permitam-me aqui discordar da nomenclatura, até porque o MCH sempre recusou a identificação com a habitação social e os modelos ou métodos seguidos afastaram-se regra geral das práticas identificadas com a habitação social do passado. Mas há mais nesta matéria que eu gostaria de acrescentar à comunicação da Professora Clara Mendes. Para além dos factores que enuncia como sendo responsáveis pelas dificuldades que o MCH viveu gostaria de acrescentar: • O esgotamento dos solos disponibilizados pelas autarquias a preços compatíveis com os Programas Cooperativos. • Uma clara e objectiva vontade do Governo anterior para destruir um grupo de promotores que em alguns momentos pós 25 de Abril foram os únicos a promover habitação para os estratos médios e baixos da população portuguesa. • O consequente desmantelamento gradual do INH. Permitam-me agora que sublinhe a necessidade de reorientar a nossa produção habitacional que na área da reabilitação se situa em 5,5% e é assim responsável por mais um factor de distorção e envelhecimento do nosso parque. 37 Questão porventura mais importante que todas e mola real de uma adequada política de habitação é a política de solos que bem enuncia na sua comunicação. Aqui é necessário uma revolução serena. Todos terão de entender que é urgente tomar medidas para estimular a disponibilidade de solos a custos compatíveis. Na comunicação apresentada enunciam-se medidas recentes em várias áreas como na reabilitação, na integração social, na renovação e reabilitação urbana. Permitamme referir que penso sinceramente estar em curso uma estratégia com cabeça, tronco e membros. Concluirei portanto incitando os responsáveis políticos com destaque para a Senhora Secretária de Estado a continuar nessa linha eliminando as distorções identificadas, com coragem e determinação. Se assim prosseguir TEREMOS POLÍTICA DE HABITAÇÃO 38 Painel Planeamento urbano e oferta de terrenos 39 PLANEAMENTO URBANO E POLÍTICA DE SOLOS Engenheiro António Fonseca Ferreira * Relator 1. MAIOR RIGIDEZ E MAIS PRESSÃO SOBRE O MERCADO DOS SOLOS A escassez e os preços elevados dos terrenos para construção são uma constante dos últimos 30 anos, em Portugal. Mas a situação tende a agravar-se e poderá tornar-se explosiva se não forem concretizadas, urgentemente, medidas eficazes de mobilização dos solos urbanos e de moderação dos seus preços. Isto, porque existem novas situações incidentes sobre o mercado dos terrenos que, sinteticamente, passamos a expor. Os Planos Directores Municipais (PDM’s), indispensáveis para o ordenamento do território, face à inexistência de instrumentos de política de solos, vieram introduzir uma maior rigidez no mercado dos terrenos. Anteriormente à aprovação dos PDM’s, havia uma grande “margem de manobra” para apresentação de propostas de loteamentos e urbanização pelos proprietários de terrenos e para a respectiva aprovação pelas câmaras municipais. Quando não surgiam (e foram muitos) os loteamentos ilegais. Os proprietários fundiários confrontavam-se com a incerteza sobre a possibilidade futura de construção nos seus terrenos. Existia, assim, alguma oferta de solos para construção. Com a aprovação dos PDM’s os terrenos foram classificados quanto aos seus futuros usos. Os terrenos classificados como “urbanizáveis” adquiriram uma potencial valorização e os proprietários tendem a “aguardar” a sua valorização real. Só vendendo a preços especulativos, ou seja, com antecipação dessa valorização real. Por outro lado, a política de integração europeia está a deflacionar a economia e a reduzir as taxas de juro, criando as condições para a dinamização do investimento nacional e estrangeiro. Como qualquer actividade – industrial, turística, construção habitacional, etc. – necessita de solo para se implantar, vamos assistir a uma forte pressão sobre a procura de terrenos para construção e à inflação dos seus preços. Uma situação, de facto, explosiva se não forem adoptadas urgentes medidas de aumento da oferta, incentivando a mobilização dos solos e condicionando os factores “altistas” do preço. Esta é uma condição estratégica para a modernização da economia e da sociedade portuguesas. Objectivos que só serão alcançados, se a par do acautelamento dos direitos da propriedade fundiária, for, também, reconhecida a sua função social, a qual concorre, decisivamente, para o desenvolvimento económico e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 40 2. PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 2.1. Coincidência e permanência de orientações e propostas nas últimas Décadas Dos múltiplos documentos produzidos e das posições expressas sobre a Política de Solos, nos últimos 30 anos, ressalta uma evidente coincidência e permanência de orientações e propostas. Desde os Relatórios do III Plano de Fomento (1968-73), passando pelos textos e conclusões do “Colóquio sobre a Política da Habitação” (MOP, LNEC, 1969), pelos preâmbulos de diversos diplomas legais publicados, ao “Livro Branco sobre a Política da Habitação em Portugal” (1993), preconiza-se, invariavelmente, a necessidade de uma forte intervenção do Estado na regulação do mercado de solos urbanos, fazendo prevalecer o interesse público sobre os interesses privados; a constituição de reservas estratégicas de terrenos pela Administração Pública, em particular pelos Municípios; a adopção do regime de “solo programado”; e as potencialidades dos instrumentos fiscais para a mobilização dos solos urbanos. 2.2. Distanciamento entre a Teoria e a Prática A análise das políticas prosseguidas neste domínio, nas últimas 3 décadas, demonstra uma profunda divergência entre as orientações preconizadas e as medidas práticas (não) adoptadas. Com resultados desastrosos para o ordenamento do território e sobre os custos e a qualidade da habitação produzida. A política de solos, neste período, é feita de omissões, de atrasos e de desconexões, ao nível dos conceitos e dos instrumentos corporizados nos diplomas legais. De tal modo que o preço especulativo dos terrenos para construção constitui, hoje, o principal obstáculo – ou, melhor, o obstáculo –, no acesso à habitação pela generalidade das famílias portuguesas. Como veremos adiante, essa dificuldade não reside, já, na produção e oferta de habitações. 2.3. Reforçar o Princípio do Interesse Público e da Função Social da Propriedade Fundiária Os direitos da propriedade fundiária são inquestionavelmente reconhecidos na nossa sociedade. Traduzem-se no direito a uma retribuição económica pautada pelo “valor natural” (localização, superfície, envolvente ambiental e urbana) e pelo direito a urbanizar no quadro definido pelos instrumentos urbanísticos e de programação municipal. Mas a propriedade fundiária, dada a sua natureza, tem, também, uma incontornável função social que não deve consentir a apropriação privada das * Engenheiro Civil Urbanista. 41 mais valias geradas pelo investimento público e pelo desenvolvimento económico e social. Assim, a lei deve estabelecer, claramente, os condicionamentos à valorização especulativa, aos preços dos terrenos e à retenção expectante dos mesmos, conferindo poderes de acção eficazes à Administração pública nesse sentido. 2.4. Novas Condições, novos Instrumentos Mantendo-se hoje, como há 30 anos, os objectivos e a necessidade de uma eficaz política de solos urbanos, temos de constatar, contudo, que neste período se alteraram, radicalmente, as condições económicas, sociais e políticas da nossa sociedade. Mudanças com profundas implicações nos pressupostos e nas condições de aplicação das políticas espaciais e, consequentemente, na disponibilização dos solos urbanos. Ou seja: mantêm-se os objectivos e os princípios, mas terão de ser substancialmente diferentes as estratégias, as medidas de política e os instrumentos para a mobilização e gestão dos terrenos. 2.5. Agilizar a Disponibilização e a Utilização dos Solos Urbanos A utilização dos terrenos para construção tem de enquadrar-se na política, mais ampla, de ordenamento do território. Verifica-se, contudo, que estamos longe de dispor de regras claras e de uma ética consistente para o ordenamento do território. É inequívoca a vontade do actual governo para promover a aprovação de uma “Lei de Bases do Ordenamento do Território”, complementada com legislação sobre “Solos” e sobre “Edificações”. Todavia, a indispensável sistematização destes instrumentos e a clássica morosidade da Administração Pública farão com que eles só a médio prazo se tornem operativos. Ora, a disponibilização de terrenos – em localizações adequadas e a preços compatíveis com uma política de acesso à habitação, de construção de equipamentos sociais e de requalificação do espaço público – não se compadece com mais adiamentos. Sugere-se, assim, o lançamento de um Programa Nacional dos Solos Urbanos, programa suportado nos Planos Directores Municipais, no PROSIURB nas ADUP’s/ACP’s e na disponibilização de terrenos subutilizados pertencentes a organismos da Administração Central e a Empresas Públicas. 42 3. EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS URBANÍSTICAS E DE SOLOS “A produção habitacional requer um adequado ordenamento do território, um quadro eficaz de planeamento urbanístico dos aglomerados urbanos e uma política de solos ágil. Exactamente as condições que não se têm verificado em Portugal”. “Livro Branco sobre a Política da Habitação em Portugal” (1993) Uma arreigada cultura do improviso e a falta de sentido social na utilização da propriedade fundiária e na transformação do território são, em nossa opinião, as razões profundas para as situações com que nos debatemos. 3.1. Ordenamento do Território O Governo apresentou recentemente, para discussão pública e posterior envio à Assembleia da República, um “Anteprojecto de Lei de Bases do Ordenamento do Território”, uma Proposta que tivemos oportunidade de apreciar e publicamente 1 comentar em termos pouco optimistas: “Chega tarde, frustra as expectativas e, como está, é inútil, inoperacional”. Desde meados da década de 80, temos assistido a transformações profundas, sem precedentes, na organização do território nacional. A internacionalização da economia portuguesa, os Fundos Comunitários, com particular incidência nas infra-estruturas rodoviárias, a redução dos fluxos da emigração para os países europeus e para as áreas metropolitanas, com reorientação para os principais pólos urbanos regionais; a reestruturação industrial e económica e a progressiva penetração das novas tecnologias, designadamente as telecomunicações, todos estes factores têm “mexido” profundamente com a matriz de ocupação do território continental. Sendo estes fenómenos previsíveis, em meados da década de 80, exigia-se dos poderes públicos a adopção de regras enquadradoras, de prevenção, dos impactos de tais fenómenos nas transformações espaciais e territoriais. Bastaria, aliás, que tivesse sido dada continuidade e aplicação às iniciativas legislativas, de sentido muito positivo, que neste domínio foram publicadas em 1982/83 – DL 208/82 (PDM’s); DL 451/82 (RAN); DL 321/83 (REN); e DL 338/83 (PROT’s). Mas tal não se verificou com as penosas consequências que hoje se conhecem. Em 1995, sob o título “Vamos Mudar?”, escreviamos 2 : “Nos últimos 30 anos Portugal urbanizou-se. Cresceram as nossas cidades. Mas tudo é caótico, irracional. Os centros de decisão continuam concentrados em Lisboa e são longos, morosos, os caminhos entre esses 1 2 Debate organizado pela Sociedade Portuguesa de Urbanistas, 17 de Março de 1997, Lisboa. Editorial do N.º 21 da Revista “Sociedade e Território”, Março de 1995. 43 centros e as instituições e agentes que em qualquer região do país são os executantes das decisões; construíram-se auto-estradas, mas a rede viária que liga os aglomerados desincentiva as indispensáveis complementaridades regionais; o comboio – que em qualquer país desenvolvido desempenha um papel fundamental na circulação de pessoas e mercadorias –, é, em Portugal, um sorvedouro de dinheiros públicos, não concorrencial com o transporte rodoviário; as cidades cresceram, “empolaram”, mas os respectivos centros históricos estão desertos e degradados, quando não em ruína; esta situação gera intensos movimentos pendulares diários e congestionamentos de elevados custo humanos, ambientais, sociais e económicos”. A transformação caótica do território continental tem-se processado em fases sucessivas, com o crescimento anárquico das áreas metropolitanas, nas décadas de 60 e 70; a desordem nas orlas costeiras mais pressionadas pelas actividades turísticas, desde meados da década de 60; e a mais recente expansão caótica e absurda das principais cidades e aglomerados urbanos regionais: centros históricos abandonados, em degradação, com habitações vazias ou ocupadas por escritórios e armazéns, e expansões periféricas desqualificadas, sem serviços, nem equipamentos. Se exceptuarmos Évora e Guimarães, todas as restantes cidades (e muitas vilas) seguiram este modelo de crescimento urbano. O que se reflecte nas estatísticas da habitação que em 1991 registavam a nível do país, mais 965.000 habitações do que agregados familiares! Eis 3 exemplos ilustrativos do crescimento urbano na década 1981/91: • Guarda • Coimbra • Castelo Branco Construção 3.800 fogos 9.520 “ 4.200 “ Aumento n.º de famílias 637 3.000 1.700 Fogos Vagos (1991) 1.870 7.051 2.027 Alguns projectos partidários de Lei de Bases do Ordenamento do Território apresentados na década de 80, na Assembleia da República, não chegaram a ser discutidos. Em inícios de 1995, último ano da década de Cavaco Silva como 1.º Ministro, o seu Governo apresentou a discussão pública um Projecto de Lei de Bases, Proposta extensa e programática, que viria a ser inviabilizada pela polémica que suscitou e pela queda do Governo que a apresentou. Entretanto foi actualizado o diploma que regula os Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT’s) através dos DL 176-A/88 e DL 376/90; foi revista e simplificada a legislação sobre os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT’s), através do DL 69/90; foram revistos os diplomas da RAN, DL 196/89 e DL 274/92, e da REN, DL 93/90; foi publicada legislação de protecção ambiental, como a Lei de Bases do Ambiente (Lei 11/87), sobre Áreas Protegidas (DL 44 19/93), os Planos de Ordenamento da Orla Costeira (DL 309/93), os Planos Municipais de Intervenção na Floresta (DL 423/93), os Planos dos Recursos Hídricos (DL 45/94) e os Planos Especiais de Ordenamento do Território (DL 151/95). Isto é, a Lei de Bases do Ordenamento do Território que deveria constituir os “alicerces” do edifício do ordenamento jurídico, neste sensível domínio, ficou para o fim. Nesta nossa originalidade, bem portuguesa, começamos o edifício pelos acabamentos... Explicam-se, assim, as desconexões de conceitos e normas e boa parte da inoperacionalidade da legislação publicada. 3.2. Planeamento Urbano A primeira legislação portuguesa sobre planeamento urbano, da época moderna, foi publicada nos inícios da década de 70, através dos DL 560/71 e DL 561/71 que estabeleceram, respectivamente, o regime dos Planos e do licenciamento urbanístico. Ainda que parcialmente alterada, nas décadas de 70 e 80, esta legislação só veio a ser revista através do DL 69/90 (PMOT’s) e dos DL 445/91 (licenciamento das construções) e DL 448/91 (licenciamento urbanístico). Em cerca de 20 anos de vigência, da legislação de 1971, só foram aprovados 36 planos de urbanização e de pormenor. Aos Planos urbanísticos promovidos pelos Municípios deparava-se um longo e labiríntico processo de apreciação, tutelado por uma multiplicidade de entidades da Administração Central. Para alguns Planos, esse processo de aprovação demorou mais de 10 anos. Exemplo paradigmático é o do PGU de Lisboa, concluído em 1965 e aprovado em 1977. Muitos Planos ficavam pelo caminho e quando eram aprovados já tinham perdido toda a eficácia, ultrapassados que estavam pela dinâmica real dos processos sociais, económicos e urbanísticos. A figura do Plano Director Municipal (PDM), instituída em 1982 (DL 208/92), representou um significativo avanço do quadro conceptual e legal para a planificação e gestão do território concelhio. Contudo a sua eficácia foi muito limitada em virtude das excessivas exigências de fundamentação estatística e cartográfica (bases inexistentes) e do “enredo” das tutelas administrativas exercidas pela Administração Central sobre o processo de acompanhamento e de aprovação. No decurso da vigência do DL 208/82 (8 anos) foram aprovados 4 PDM’s (Évora, Moita, Ponte de Sôr e Oliveira do Bairro). Com a simplificação da legislação, em 1990 (DL 69/90), e as exigências impostas pela CEE para concessão de Fundos, progrediu-se, significativamente, na elaboração e aprovação dos Planos Directores Municipais. Em finais de 1996, mais de 250 Concelhos, dos 275 existentes no continente, tinham o seu PDM aprovado. A jusante dos PDM’s, o DL 69/90 prevê a realização dos Planos de Urbanização (PU’s) e dos Planos de Pormenor (PP’s), instrumentos que detalham as normas dos 45 PDM’s. Configurando o que se pode (e como pode) construir, em termos funcionais, morfológicos, tipológicos, etc... A prática dos últimos anos revela que os Planos de Pormenor têm uma concepção e normativa demasiado rígidas face ao actual dinamismo, mutabilidade e diversidade das actividades e iniciativas económicas, urbanísticas e imobiliárias. Defendemos a urgente flexibilização das normas e do processo de elaboração e aprovação destes instrumentos de planeamento, de modo a adequá-los às realidades económicas, sociais e territoriais. A legislação sobre os Loteamentos urbanos e o Licenciamento urbanístico sofreu, nos últimos anos, diversas alterações. No caso dos Loteamentos, através dos DL 400/84 e DL 448/81, fixando-se, actualmente, no DL 334/95 e na Lei 26/96 (ratificação). O Licenciamento das construções foi actualizado através do DL 445/91 e do DL 250/94 que actualmente vigora. Esta legislação mantém um acentuado pendor burocratizante, de interpretação ambígua, discricionária e policial, dando prevalência à “inibição de fazer” sobre “o que se pode fazer”. Ou seja: cerceadora da iniciativa e da realização. 3.3. Solos Urbanos As bases de intervenção do Estado numa política activa de solos urbanos foram lançadas através do DL 560/70. Vivia-se a primavera marcelista e o lançamento das bases de um “capitalismo monopolista de Estado” ou, entre nós, mais prosaicamente, as bases de um capitalismo privado apoiado pela muleta do Estado. A Lei de Solos de 1970 era radicalmente intervencionista nos seus preceitos – expropriação, direito de preferência, áreas críticas, associação – e nos fins de apropriação de solos pela Administração. Mas só pontualmente – Sines, Planos Integrados do Fundo de Fomento da Habitação, grandes Obras Públicas – a Lei foi aplicada. A tramitação processual e o conceito de solo urbano subjacente às indemnizações (para além das condições políticas), inviabilizaram a “expropriação sistemática”, ou pontual, de terrenos para finalidades sociais. O DL 576/70 dava, assim, concretização às reclamações de diversos sectores e agentes da sociedade e às preocupações e propostas expressas nos textos dos Planos de Fomento 3 , no Relato Final do Colóquio sobre a Política da Habitação (1969) 4 e 3 “A intenção de dar decidido impulso à actividade do sector confere primacial importância à política de terrenos para a execução de planos habitacionais e urbanísticos consentâneos com a magnitude dos problemas existentes e a acção que é mister empreender. Nestas condições, deverão ser estudadas e publicadas, durante o período do III Plano, providências em ordem a facilitar a constituição de reservas de terrenos, a aumentar a celeridade do processo de expropriação, a promover a estabilização dos preços dos terrenos e a assegurar as mais condições necessárias para incrementar a rentabilidade social dos investimentos realizados em casas de habitação e conseguir ocupação pré-ordenada do território. Este objectivo poderá, eventualmente, requerer medidas especiais, como sejam a revisão do sistema de avaliação dos terrenos e a das normas legais tendentes a impedir a especulação” (III Plano de Fomento, 1968-73, pág. 542). 46 dos responsáveis do Fundo de Fomento da Habitação 5 , confluindo, afinal, na necessidade de “libertar” os solos urbanos das “amarras” da propriedade fundiária com vista à modernização da sociedade portuguesa. O conceito de “Solo Programado”, com tradição em diversos países europeus, não passou entre nós, até hoje, de letra morta. Os diplomas publicados, em 1982, sobre “Áreas de Desenvolvimento Urbano Prioritário” e “Áreas de Construção Prioritária” não foram aplicados, apesar das potencialidades que estes instrumentos contêm para a mobilização de terrenos urbanos. A legislação que consagra Linhas de Crédito para a aquisição e infra-estruturação de terrenos pelos promotores de habitação de custos controlados (DL 6/84 e DL 385/89) permanece também sem eficácia prática. Trata-se de um instrumento unanimemente tido como da máxima importância, cuja criação foi ao longo do tempo reclamada pelos mais diversos sectores. As condições de juro e os plafonds de custo terreno/fogo, face ao custo real no mercado de solos, inviabilizam a sua utilização. O Regime Fiscal que incide sobre os solos urbanos também não facilita a sua mobilização. Pelo contrário, a sisa e demais tributação tendem a agravar os preços dos terrenos. Com uma adequada regulamentação do regime das mais-valias, a penalização dos solos expectantes e estímulos à sua mobilização, será possível contribuir para um funcionamento mais dinâmico e compatível do mercado dos terrenos. Os princípios que informaram a legislação de 1976, com a publicação do Código das Expropriações (DL 845/76) e a revisão da Lei de Solos (DL 794/76), pretendiam reforçar a capacidade do Estado para intervir na regulação do mercado dos terrenos urbanas e, em particular, a constituição de Reservas estratégicas de Solos por parte da Administração Central e Municipal. Mas esses objectivos não foram atingidos e as mesmas reivindicações e medidas surgem em Documentos recentes 6 . Ainda hoje, como em inícios da década de 70, ou em 1987 7 : “O sector do urbanismo – com relevo para a crónica escassez de solos infra-estruturados, em zonas adequadas e a preços acessíveis – constitui, 4 “Constitui obrigação do Estado assegurar que os terrenos necessários ao desenvolvimento urbanístico estabelecido pelo planeamento estejam disponíveis, na quantidade e na oportunidade correspondentes à ocupação e utilização definidas e a preço compatível” (Relato Final, pág. 20). 5 “É unânime a constatação de ser impossível resolver os problemas habitacionais e urbanísticos, que tão gravemente afectam a nossa sociedade, sem a prática decidida de uma firme política de solos. Contudo, continuam por definir, a nível superior, os termos operacionais dessa política” (III Plano de Fomento, Sector da Habitação, Proposta de Revisão, 1971-73, FFH, pág. 2). 6 Livro Branco sobre a Política de Habitação em Portugal e “Conclusões e Recomendações” do FORUM “Políticas de Solos e Ordenamento Municipal”, Fundação Habitação e Sociedade, 12 e 13 de Abril de 1996. 7 FERREIRA, A. F., Por uma Nova Política de Habitação, Edições Afrontamento, Porto, 1987. 47 em nossa opinião, o principal obstáculo estrutural ao desenvolvimento de uma regular e produtiva política de habitação”. Acrescentando ser esta uma das tendências pesadas da sociedade portuguesa: “Diferentemente do que se verifica na maioria dos países europeus, em Portugal o processo de uso e de transformação do solo não tem sido conduzido de forma eficaz pela Administração. O grande “peso” ideológico e a desmesurada protecção institucional de que entre nós desfruta a propriedade fundiária são responsáveis por uma anacrónica administração urbanística e pela inoperância da política de solos. Razões que se prendem com a estrutura tradicional do capital e com a correlação de forças sociais fazem com que a propriedade fundiária seja, ao longo dos tempos, o suporte de um real poder económico e político, impondo o primado da renda sobre a produção. Este facto está na origem da natureza acentuadamente especulativa deste sector e na indevida apropriação por estratos restritos da sociedade de mais-valias fundiárias e imobiliárias que só as condições económicas gerais e os investimentos públicos geraram”. 4. POR UMA POLÍTICA DE SOLOS A escassez de solos urbanos e os seus elevados custos sempre constituíram um dos maiores obstáculos para a produção habitacional em quantidade e a preços acessíveis. Em nossa opinião, na actualidade, esse factor já não é um dos obstáculos, mas sim o obstáculo ao acesso à habitação por parte da generalidade das famílias portuguesas. As estatísticas demonstram que a produção média de habitações se tem situado, nos últimos anos, acima dos 60.000 fogos/ano, número que permite a reposição do parque e a recuperação progressiva das carências acumuladas. Além disso, o Recenseamento da Habitação, de 1991, demonstrava existir um “excedente global” de alojamentos, com muitos fogos vagos nos centros históricos e nas áreas consolidadas. Por outro lado, o nível actual e a redução das taxas de juro, a par de uma oferta diversificada de “produtos financeiros”, atenua outro dos obstáculos tradicionais da produção habitacional: o financiamento. Outra das dificuldades clássicas, a debilidade organizativa e produtiva da construção civil também tende a ser ultrapassada como o demonstra o nível de produção anual de habitações acima referido 8 . Assim, os problemas do acesso à habitação já não se situam na quantidade da oferta mas sim nos seus preços, excessivamente elevados para o poder aquisitivo dos segmentos “médio” e “baixo” das famílias portuguesas. Para esta situação concorrem dois factores: 8 Dificuldade ultrapassada ao nível quantitativo, mas não quanto à qualidade da habitação produzida. 48 a) Os preços da habitação, em Portugal, são excessivamente elevados, sendo o preço especulativo dos terrenos um dos factores que mais contribui para tal; b) Os rendimentos da generalidade das famílias portuguesas são baixos, muito distantes da média dos rendimentos nos países comunitários. Esta situação tem de ser resolvida actuando sobre os dois factores. Os custos dos terrenos atingem, vulgarmente, valores acima dos 20% do custo total da habitação. Valores que se situam, em muitos casos, nos 30 a 50% nos centros urbanos. Recorde-se que todas as recomendações e plafonds técnicos (de condições de financiamento, etc.) estipulam que o custo dos terrenos infra-estruturados não deve ultrapassar 15% dos custos globais da habitação. Às políticas de habitação e urbanística compete actuar no sentido de fazer baixar os preços dos terrenos para níveis mais compatíveis com aquele desiderato. Mas na actualidade (e para o futuro) os objectivos e alcance da política de solos não se circunscrevem à produção de nova habitação (finalidade dominante nos anos 60/70). Por um lado, essa política tem de atender à cada vez mais urgente “regeneração urbana”. Refira-se essa “regeneração” à reabilitação e renovação dos centros históricos, recuperando para essas zonas a função habitacional que deles foi expulsa, nos últimos 15 anos, pela proliferação desordenada do terciário; ou reporte-se à requalificação das periferias que, no mesmo período, cresceram caoticamente, sem equipamentos e com défice de espaço público, os factores de sustentação da qualidade ambiental. Mas, para além das finalidades habitacionais, a gestão dos solos é, cada vez mais, um factor decisivo da política e desenvolvimento económico, designadamente da política industrial e da política dos serviços. Esta situação tenderá a reforçar-se com o extraordinário incremento da mobilidade e da globalização económica e social. Finalmente, a Política de Solos é uma condição básica da salvaguarda ambiental (desenvolvimento sustentado). 4.1. Lei de Bases do Urbanismo e do Ordenamento do Território Não há política de habitação sem uma gestão eficaz dos solos urbanos. E não há política de solos sem os adequados instrumentos de ordenamento do território. O lançamento das bases e a criação dos instrumentos eficazes de gestão territorial tem de ter em conta duas realidades: – por um lado, a situação de desordenamento existente, de “retalhamento” e loteamento generalizado do território, um “espaço construído” caótico, feio e desqualificado, contrastando com a singularidade das belezas naturais e a excelência das riquezas patrimoniais do país; 49 – por outro lado, a importante experiência colhida com a vigência dos instrumentos de ordenamento espacial publicados e revistos desde 1982/83 (PDM’s, PROT’s, ADUP’s, PEOT’s, RAN, REN, etc.). Embora concebidos e instituídos de forma desconexa, e aplicados de forma descricionária e burocratizada, essa experiência é um valor indispensável a avaliar e ponderar 9 . Assim, neste domínio, requere-se, agora, a elaboração e aprovação da Lei de Bases do Urbanismo e do Ordenamento do Território em articulação e simultaneidade com a revisão dos seus instrumentos de execução. E que os mecanismos da respectiva política – jurídicos, financeiros e fiscais – favoreçam a reabilitação/renovação das áreas consolidadas e a requalificação das periferias construídas, relativamente a novas expansões urbanas. Como Medidas: – aprovação de uma Lei de Bases que estabeleça os instrumentos legais e incentivos fiscais e financeiros para o (re)ordenamento do território, com competências reforçadas dos Municípios; – elaboração e aprovação dos Planos Regionais de Ordenamento do Território definidores dos grandes sistemas de infra-estruturas e salvaguardas ambientais e limitação dos PEOT’s a grandes projectos ou domínios de interesse nacional; – revisão e regulamentação “praticável” da RAN – Reserva Agrícola Nacional e da REN – Reserva Ecológica Nacional. 4.2. Actualizar o Sistema de Planeamento Urbano Referindo-se ao planeamento urbano e à política de solos, na sua comunicação ao recente Colóquio sobre “A Política das Cidades”, Nuno Portas escreve 10 : “A verdade é que ambos os conceitos estão demasiado ligados a uma mesma época, marcada nalguns países europeus pelo protagonismo do “estado social” (estado providência e estado social democrata, ambos centralistas e tecnocráticos para o bem e para o mal, como depois se percebeu) e cuja lógica de funcionamento não parece recuperável para os tempos que correm. (...) 9 Uma das facetas mais chocantes da vida portuguesa é o espírito de “arrombar portas abertas” ou, frequentemente, “deitar fora o menino com a água do banho”. Raramente cuidamos de avaliar as medidas de política prosseguidas para introduzir as correcções ou inflexões recomendáveis. É mais fácil dizer que “tudo está mal” e arrancar viagem, com o espírito pioneiro que nos caracteriza. 10 PORTAS, Nuno, “Planeamento Urbano e Política de Solos”, Comunicação ao Colóquio sobre “A Política das Cidades”, CES, Fevereiro de 1997. 50 Nem o sistema de “planeamento” será (ou já é) o mesmo de então, nem os processos da “política de solos” poderão implantar-se à imagem e semelhança dos que permitiram ao Estado deter, em poucos anos, o monopólio da oferta de solo urbanizável, comandando assim o tempo do processo urbanístico.” Concordamos com a análise do autor ao considerar “datado”, de uma época económica e social bem característica, o sistema de planeamento urbano sistémico e funcionalista que vigorou na Europa dos anos 30/70. Que nós “importámos” tarde, já em desajustamento com as realidades económicas, sociais e territoriais. O sistema de planeamento urbanístico, nos cânones ainda estatuídos entre nós, é um instrumento de racionalização de normatividade da intervenção do Estado a nível do espaço, um instrumento de regulação característico do Estado Providência. Entretanto mudaram, profundamente, a economia, as sociedades, os valores e os elementos que conformam as transformações espaciais. As actividades económicas e sociais fragmentaram-se; a sua inserção espacial dispersou-se; as sociedades complexificam-se; o futuro é mais incerto, menos previsível; o movimento sobrepõe-se à ordem; as mutações económicas, tecnológicas, sociais e culturais processam-se a um ritmo vertiginoso que ultrapassa as nossas percepções, reflexões e capacidade de acção; e verificamos que os recursos naturais (solo, água, ar) são bem escassos. Estas profundas mutações económicas, sociais, culturais e espaciais tornam caduco o planeamento urbanístico funcionalista, hierarquizado, “fixista” e finalista. No sistema de planeamento urbano e de gestão urbanística que vigora entre nós – fundamentalmente os PMOT’s, articulados com a legislação do licenciamento urbanístico e das construções – “aguentam-se” bem os instrumentos com natureza de Planos de Estrutura: PDM’s e PU’s. Os Planos de Pormenor são autênticos “coletes de força”, ditando as morfologias, as tipologias, as cérceas e as cotas de soleira. Ou seja: o conteúdo e a forma que os planificadores têm na sua cabeça! Também a legislação do licenciamento, demasiado regulamentadora não se conforma com as iniciativas concretas, privadas e públicas. Torna-se necessário rever o sistema de planeamento e de gestão urbanísticos. O sistema a adoptar tem de ser mais estratégico, processual e flexível. Sobretudo mais aberto, comunicativo e interactivo, acolhendo e incrementando a participação dos cidadãos e das suas organizações, e dos agentes económicos. É preciso ter em conta e valorizar a diversidade que é, cada vez mais, a pulsão criativa das sociedades. A criatividade, a inovação e a vitalidade económica e cultural têm o seu suporte na diversidade, na individualidade e na fragmentação. Assim, como Medidas concretas propõem-se: 51 – generalização do planeamento e gestão estratégicos aplicado às entidades territoriais e aos aglomerados urbanos; – criação das condições institucionais e financeiras para a aplicação dos Planos Directores Municipais, com alargamento e reforço financeiro do PROSIURB; – simplificação do processo de ajustamento e revisão dos Planos Directores Municipais; – eliminação dos Planos de Pormenor; – consagração legal das figuras dos “Projecto Urbano” e “Projecto de Espaço Público”; – simplificação dos regimes legais do licenciamento urbanístico (loteamentos) e do licenciamento das construções, com responsabilização dos agentes (projectistas, promotores, construtores e autarquias). 4.3. O Reforço do Papel Estratégico dos Solos Até à década de 70, a intervenção do Estado na política de solos visava, fundamentalmente, criar as condições à acumulação do capital na produção industrial. O papel do Estado traduzia-se no levantamento do “obstáculo” da propriedade fundiária à implantação industrial e à “urbanização” da mão-de-obra, moderando os seus custos e melhorando a produtividade, através da construção de habitações e equipamentos sociais. Nessas circunstâncias, a política de solos tinha um papel – económico, social e urbanístico –, fundamental, mas circunscrito, em termos sectoriais e espaciais. A este último nível, a intervenção do Estado centrava-se, essencialmente, nas expansões urbanas, no solo para nova habitação e para os grandes empreendimentos industriais e de infra-estruturas. A forma do Estado intervir nas políticas fundiárias, embora utilizando diversas modalidades, centrava-se, dominantemente na constituição de reservas públicas de solo, através da apropriação e expropriação sistemáticas. Diversas são, hoje, as circunstâncias económicas, sociais e espaciais, implicando um novo e reforçado papel para as políticas de gestão dos solos e para as modalidades e instrumentos de acção dos poderes públicos. A globalização e internacionalização das economias e o extraordinário reforço da mobilidade das unidades produtivas cria necessidades acrescidas de “consumo” de espaço e, consequentemente, maior pressão e concorrência sobre o mercado dos terrenos; a nova sensibilidade e valorização das questões ecológicas e ambientais e a natureza de recurso natural, escasso, dos solos, confere-lhes um papel estratégico singular nos desígnios do desenvolvimento sustentável; o já referido “crescimento paradoxal” das cidades (desertificação dos centros, descaracterização das áreas 52 consolidadas, expansão desqualificada das periferias, congestionamento da circulação pendular) exige, para inverter as tendências deste “vazio urbano”, uma política de solos ágil e actuante; o declínio e reconversão industrial, criando vastas áreas de solos expectantes, coloca problemas específicos à gestão urbanística e fundiária. Em síntese: com a globalização da economia tende a universalizar-se o papel da política de solos; a segmentação económica e social exige uma maior agilidade e diversificação das modalidades de intervenção nas políticas fundiárias; a salvaguarda ambiental e a regeneração urbana tornam a gestão dos solos num factor estratégico, “transversal”, das políticas públicas. Ou seja: o solo é, cada vez mais, o elemento determinante da competitividade económica e para a qualidade de vida das populações. Na situação portuguesa, – uma sociedade e economia “mistas”, a meio caminho entre o subdesenvolvimento, a industrialização e a modernização –, conjugam-se a necessidade de solos para suprir “velhas carências” (nova habitação, equipamentos e infra-estruturas), com as exigências de uma política de solos orientada para a reabilitação e qualificação urbanas, para a reconversão industrial e económica e para o desenvolvimento territorial sustentável. Para esse novo desempenho da política de solos, entre nós, para além de uma consciencialização colectiva das realidades, torna-se imprescindível vencer essa persistente “tendência pesada da sociedade portuguesa”. Ou seja: que a função social da propriedade fundiária tenha um efectivo reconhecimento jurídico, económico e institucional. Trata-se, finalmente, de distinguir – na nossa cultura e no quadro urbanístico – entre direito de propriedade e direitos de construção 11 . As situações descritas e as premissas que defendemos recomendam uma profunda reforma dos instrumentos e modalidades de acção fundiária, através das seguintes Medidas: – revisão articulada da Lei dos Solos (DL 794/96), do Código de Expropriações (DL 438/91) e da legislação de licenciamento urbanístico (DL 334/95, Lei 26/96 e DL 250/94), em conjugação com a nova Lei de Bases do Ordenamento do Território e tendo em vista agilizar a política de solos, condicionando a valorização especulativa dos terrenos e a sua retenção expectante pelos proprietários (seja de terrenos licenciados para novas construções, seja de áreas absoletas, “desactivadas”); – operacionalização do regime de “solo programado” com a actualização e implementação das “Áreas de Desenvolvimento Urbano Prioritário” e das “Áreas de Construção Prioritária” (DL 152/82); 11 ROSETA, Helena, Texto sobre “Política de Solos” elaborado para o Livro Branco sobre a Política de Habitação em Portugal, 1993, págs. 16-17. 53 – introduzir na legislação de planeamento urbano e de solos o princípio da perequação, ou seja, a redistribuição dos direitos de edificabilidade entre os proprietários; – criação de um sistema de fiscalidade (integrando a Taxa Municipal de Urbanização) com incentivos à mobilização de terrenos e à produção habitacional de custos controlados e a penalização para os terrenos expectantes e para as transacções especulativas; – adequar os parâmetros do financiamento do INH à aquisição e infraestruturação de terrenos (DL 6/84 e DL 385/89) às condições do mercado de solos, por forma a tornar eficaz essa importante medida de política; – criar as condições de urbanização contratualizada entre agentes públicos, cooperativos e privados, designadamente através da realização dos “Contratos de Urbanização” (DL 334/95); – criação das Empresas de Urbanização (solos e infra-estruturas), de natureza mista e âmbito regional ou local, para intervenção no mercado dos terrenos, para habitação e equipamentos sociais, e vocacionadas para a concertação estratégica dos interesses da Administração, dos proprietários dos terrenos e dos promotores habitacionais; – inventariação de terrenos subutilizados, pertencentes a organismos da Administração Central e a Empresas Públicas, e respectiva disponibilização para programas de habitação de custos controlados, designadamente através das Cooperativas; – criação do quadro legal e operacional de gestão do subsolo (“redes enterradas”), designadamente através da constituição do cadastro informatizado e de novas modalidades institucionais de gestão, associando os Municípios e as empresas concessionárias dos serviços urbanos. 54 POLÍTICA DE SOLOS – PAPEL DO ESTADO, PAPEL DO MERCADO Arquitecta Helena Roseta * Comentadora 1. O mercado de solos funciona segundo leis próprias, que não são apenas internas, são internacionais. Não é, por isso, com uma lei da Assembleia da República, por muito boa que seja, mesmo com um excelente parecer do Conselho Económico e Social, que vamos pôr em causa ou alterar o modo de funcionamento de um mercado que hoje tem uma incidência planetária. Fala-se muito em globalização, deslocalização, desregulação dos mercados. Mas estes termos aplicam-se geralmente ao mercado financeiro, esquecendo-se uma realidade que aqui quero recordar: o mercado de solos está intimamente ligado ao mercado financeiro. Embora este esteja hoje, de certo modo, imaterializado, e o mercado de solos continue a ser muito concreto – não navega na Net, nem é deslocalizável ao sabor de simples impulsos magnéticos – a verdade é que os capitais que se aplicam num e noutro são os mesmos. Não há hoje nenhuma grande empresa, nenhuma multinacional, nenhum fundo de pensões, que não tenha ou procure ter uma parte importante do seu activo aplicada em património imobiliário. Há pois uma contiguidade de interesses que faz com que os dois mercados – o mercado financeiro e o mercado de solos – não se possam desligar completamente. É por isso que quando tentamos regular, através da legislação, o mercado de solos, não devemos esquecer que estamos a intervir num contexto que é um contexto de concentração: concentração financeira, à escala planetária, no mercado de capitais; concentração urbana, em dimensões também nunca antes verificadas, no mercado de terrenos. Este é o contexto em que nos encontramos. 2. Como é que a concentração urbana está a ocorrer em Portugal? Fui procurar medir o fenómeno através da quantificação do que é ou não é “urbano” no nosso território. O termo é polémico. O Instituto Nacional de Estatística usou, até ao censo de 1970, um critério demográfico simples para o efeito: eram considerados “centros urbanos” todos os lugares com mais de 10 000 residentes. As taxas de concentração urbana elaboradas a partir deste critério apresentavam, contudo, valores relativamente baixos, em termos comparativos, sendo certo que tal taxa é muitas vezes usada como indicador de desenvolvimento. Por isso e porque era necessário construir um critério mais adequado à própria realidade portuguesa, nos censos de 1981 e 1991 ele já não foi usado, estando em elaboração um conceito que inclui aspectos quantitativos e qualitativos para separar “urbano” de “semi-urbano” e de “rural”. 1 Seja como for, porque o novo conceito ainda não está operacional e porque me interessava fazer * Deputada da Assembleia da República. 55 comparações abrangendo um período longo, tomei como “urbanos” todos os lugares com mais de 10.000 habitantes nos censos de 1970, 1981 e 1991 e fui verificar qual tinha sido a sua evolução no todo nacional. De acordo com a imagem relativa ao censo de 1991 (figura 1), podemos constatar a enorme “fronteira” que separa o litoral do interior, quando se analisa o total de sítios “urbanos” num caso e noutro. Figura 1 A agregação por distritos permite visualizar muito claramente esta diferença. Uma agregação por concelhos acentuá-la-ia no interior de cada distrito. Mas o que eu queria aqui realçar é que muitos destes “centros urbanos” não são cidades nem serão sequer “centros”, no sentido verdadeiro da palavra. No total de 102 lugares com mais 1 Ver Relatório Final sobre Freguesias Urbanas, Semi Urbanas e Rurais (para fins estatísticos), INE, DCI/ Serviço de Coordenação, Julho de 1996. 56 de 10.000 habitantes assinalados pelo censo de 91, apenas 54 eram cidades (quadro I). QUADRO I – Cidades e aglomerados urbanos em 1991, por dimensão (número de lugares classificados como cidades, seja qual for a população, e lugares com mais de 10.000 habitantes) POPULAÇÃO RESIDENTE (EM 1991) Tipo de aglomerado urbano <2.000 2.000 << 5.000 5.000 << 10.000 > 10.000 TOTAL Capitais de distrito - - 2 20 22 Cidades, sedes de concelho 6 13 27 34 80 Outras cidades 1 - 3 . 4 Total cidades 7 13 32 54 106 Lugares com mais de 10.000 habitantes - - - 48 48 Total de cidades e aglomerados urbanos 7 13 32 102 154 FONTE: Listagem das 106 cidades portuguesas, actualizada de acordo com as deliberações da A.R. publicadas em Diário da Assembleia da República até 2/7/93, confrontada com os resultados do Censo de 1991. Os restantes, quase metade do total, nem são cidades, nem sei como lhes hei-de chamar. São aquilo que a gente tem: são os “bairros”. Exemplifico: entre os 30 lugares “urbanos” assinalados no distrito de Lisboa, 24 não são cidades e têm nomes como Dr. Augusto de Castro, ou Forte da Casa. Conhecem o primeiro? Tem 11.000 habitantes e fica no concelho de Oeiras. No distrito do Porto, entre os 18 lugares “urbanos”, 10 não são cidades e podem chamar-se Vilar de Andorinho ou Pedroso. No distrito de Setúbal, em 17, 13 não são cidades e chamam-se, por exemplo, Paivas, Quinta do Lombo, etc. Quero chamar a atenção, com isto, para o facto de alguns destes bairros serem maiores que cidades portuguesas bem conhecidas ou mesmo capitais de distrito (é o caso de Viana do Castelo). 2 Este é pois o panorama da nossa concentração urbana. Melhor dizendo, o que temos é uma concentração suburbana. E os resultados no território podem resumir-se numa fórmula extrema: deserto no interior, selva no litoral. É nesse ponto que nos encontramos. A culpa é de quem? O desordenamento costuma atribuir-se à falta de planos. É um argumento um pouco angelical, em minha opinião. Agora que praticamente todo o território está coberto por Planos Directores Municipais (PDM’s), vamos passar a ter 2 Ver em anexo lista dos lugares com mais de 10.000 habitantes que não cidades, de acordo com o censo de 1991. 57 tudo “ordenado”? Ou a culpa vai passar a ser de quem não cumpre os planos ou não lhes dá eficácia – isto é, as Câmaras Municipais? O meu ponto de vista é que não bastam planos de ordenamento, por muito bem feitos que sejam, para fazer frente às distorções de um mercado que tem uma lógica global. Figura 2 Apresentarei outro argumento para sustentar o que digo. Trata-se de um gráfico porventura algo cruel. (figura 2). Se considerarmos separadamente os distritos do litoral, do interior e das ilhas, e calcularmos as respectivas taxas de concentração urbana 3 , verificamos que a concentração aumenta em ritmo aproximadamente constante, quer no litoral, quer no interior – com a excepção do “pico” provocado nas ilhas pelo crescimento do Funchal. Mas verifica-se também – e este será talvez o lado “cruel” da história – que a distância que em 1970 separava o interior do litoral se mantém paulatinamente, durante duas décadas, apesar das enormes mudanças que 3 Considerou-se, para calcular a taxa de concentração urbana, o “ratio” entre o total de residentes em lugares com mais de 10.000 habitantes e a população residente total, para as áreas em causa 58 nesse intervalo de tempo se fizeram sentir. Nem o 25 de Abril, nem a democratização do poder local, nem a adesão à Europa, alteraram esta que parece ser uma tendência demográfica “pesada” e que se mantém. Chamo a atenção para isto para realçar que estamos perante um fenómeno – a concentração urbana – que não só tem uma dimensão planetária, como parece ocorrer independentemente das mudanças de regime ou da integração em espaços económicos mais vastos. As leis do mercado ditam as suas regras sobre o território com bastante mais eficácia que as leis que vamos elaborando nos nossos ordenamentos jurídicos. É disto que temos de estar conscientes quando propomos qualquer tipo de intervenção, sob pena do tal “angelismo” que há pouco referi. 3. Mas isto não significa que devamos demitir-nos de agir. Temos é de ter presente que a situação é contraditória, senão mesmo paradoxal. Estamos perante um problema de dimensão internacional. Dimensão internacional que é aliás visível a olho nu nas nossas cidades e que vou ilustrar com exemplos. Tomemos Lisboa. Os grandes edifícios novos no centro da cidade são sedes bancárias ou sedes de multinacionais. É o rosto imobiliário dos mercados financeiros, quer se trate de capital nacional, quer de capital internacional. E talvez tenham maior interferência na transformação da fisionomia da cidade do que a indústria, cuja presença nos centros urbanos foi durante tanto tempo verberada pelos urbanistas, por ter efeitos poluidores e negativos para a paisagem. Pergunto-me se este chamado “terciário superior” não será afinal muito mais agressivo para o tecido urbano. Outro exemplo do mesmo: a concentração comercial, com as famosas “grandes superfícies”. Não são apenas hipermercados de capital e nome português que “cercam” as nossas cidades: é o Carrefour, o Hipermarché, são outras tantas situações de grande impacto territorial e que representam outro rosto bem visível dos interesses internacionais. Não estou a verberar esse facto, é uma realidade em que estamos instalados – o que quero é vincar muito claramente que não acredito que um simples PDM, à escala municipal, possa ir contra a globalização que está aí. Globalização que se repercute na economia urbana, em cujo funcionamento se originam externalidades positivas e negativas, convém não o esquecer. Vale a pena recordar que as externalidades positivas, de modo geral, encarecem o custo do solo – embora contribuam para “melhorar” a cidade – enquanto as negativas, tornando o solo menos atractivo, contribuem para lhe baixar o custo. E a menos que tais factores sejam completamente internalizados por quem os provoca, o que é difícil, é toda a cidade que colhe as vantagens e desvantagens do processo. Serão externalidades negativas, derivadas da concentração urbana, o congestionamento de tráfego ou a poluição; serão externalidades positivas os benefícios da proximidade, as sinergias entre actividades diferentes, a concentração de oportunidades de lazer ou de negócio, etc. Do balanço entre estes dois tipos de externalidades vai depender, em cada momento, o valor do solo urbano no mercado, valor que é tanto mais difícil de 59 determinar quanto mais diversificadas e contraditórias forem as externalidades presentes. Seja como for, e para lá das contradições próprias do funcionamento da economia urbana, há um paradoxo a que não podemos fugir à partida. A globalização está aí, a escala de intervenção é cada vez mais internacional, e nós pretendemos intervir neste processo de decisões à escala municipal. Mas está certo: não é impossível, bem pelo contrário, fazer frente a um fenómeno de dimensão planetária com instrumentos de base local. Os ecologistas têm uma máxima célebre: “é preciso pensar global e actuar local”. Edgar Morin costuma completá-la com a inversa: “é preciso pensar local e actuar global”. É o que ele chama a atitude “glocal”. Mas para isso é preciso que as instâncias locais se entendam, se articulem, façam rede. Sem “fazer rede”, o poder local não tem capacidade para agir à escala a que é chamado. É por isso que há cimeiras de cidades, redes internacionais de autarquias e outras iniciativas do género. As cidades, no mundo de hoje, têm de “fazer rede” – senão podem ser desmanteladas pelas consequências territoriais dos mecanismos da concentração financeira, incluindo deslocalizações de actividades, que mudam de continente com toda a facilidade, deixando atrás de si hordas de desempregados e extensas porções de tecido urbano desafectado, desindustrializado, abandonado. 4. Neste contexto globalizado e ferozmente competitivo, em que as regras ditadas pelos mercados financeiros não passam pelo crivo dos cidadãos, nem muitas vezes dos próprios governos, qual poderá ser o papel do planeamento territorial? Desde logo devemos reconhecer que, seja qual for o papel que se lhe atribua, o planeamento não é neutro. E vou afirmar algo que poderá ser o ponto mais polémico do meu comentário, mas é o que constato. Ao fim de muitos anos de contacto com a actividade urbanística e autárquica, chego à seguinte conclusão: o planeamento territorial, em Portugal, tem servido sobretudo para reforçar os interesses da economia de mercado, entendida no seu sentido neo-liberal mais ortodoxo. Os planos têm servido sobretudo para valorizar terrenos. E quando o não fazem, não “passam”. Querem melhor exemplo do que passarmos a vida a fazer colóquios onde denunciamos a carência de solos para habitação social? Nunca fui a nenhum colóquio para falar da falta de terrenos para centros comerciais ou outra actividade lucrativa qualquer. Há solos. Só para quem não tem dinheiro é que não há. O planeamento não é neutro. Na minha opinião, em Portugal, ele tem servido sobretudo para apoiar o mecanismo da concentração urbana, no sentido das forças de mercado. Posso dar dois exemplos. A grande reivindicação do sector da promoção imobiliária – e muitas vezes com muita razão – é de que “o Estado não nos empate”. O ideal seria que o Estado quase “não existisse”, ideal que se identifica com o figurino neo-liberal. Ideal legítimo, naturalmente, mas que não é o meu. Outro exemplo que posso invocar é o do Código de Expropriações em vigor. Um dos modos de aumentar a oferta de terrenos para actividades a que o mercado não dá, ou não pode, dar resposta suficiente, é a possibilidade de expropriar determinados terrenos 60 por utilidade pública. Ora o que o Código estipula é que tais terrenos sejam pagos pelas entidades públicas não em termos de valor matricial nem de valor de tabela, mas sim de acordo com um valor de mercado, que é calculado a partir de tudo o que o terreno contém ou poderá vir a conter, se nele se construir o máximo autorizado para terrenos equivalentes. É por isso que os valores atribuídos em tribunal para terrenos expropriados são geralmente exorbitantes. Quer dizer, o interesse público que se queria acautelar com a possibilidade de expropriar “por utilidade pública” acaba por ser anulado pelo valor atribuído de acordo com a lógica de mercado, na perspectiva do máximo benefício para o proprietário. Se isto não é neo-liberalismo, então o que será? Estamos perante opções legislativas que privilegiam os direitos de propriedade sobre os interesses sociais. Pessoalmente, entendo que tal legislação deve ser reformada e sei que muitos pensarão o mesmo, embora não necessariamente no mesmo sentido. O que quero frisar é que este tipo de instrumentos – planos ou legislação – não são neutros. Não são simplesmente “técnicos”, simplesmente “jurídicos”. Representam opções. E penso que neste debate é mesmo necessário que se defrontem as diferentes posições que estão por detrás dessas opções. 5. Esse defrontar de posições passa por saber qual é o papel do Estado, hoje, nos anos 90, perante a questão dos solos e perante o fenómeno da concentração urbana. Há muito quem defenda que o papel do Estado deve ser simplesmente regulador, através da legislação, do planeamento e da disciplina das actuações particulares, que neste caso corresponde à disciplina das edificações. Penso que a este nível de regulação está quase toda a gente de acordo. Podem defender-se planos mais ou menos “flexíveis”, como agora se diz, mas, sendo o mercado de solos urbanos um mercado escasso, alguma regulação terá sempre de existir. Se se tratasse de um mercado não escasso, infinito, ilimitadamente expansível, não seria necessário regulálo. Mas não é o caso – e julgo que todos o reconhecerão sem dificuldade. Penso, no entanto, que ao Estado cabe mais do que regular este mercado. O Estado terá de intervir nas áreas onde este mercado falha ou abusa, para suprir deficiências ou corrigir abusos. A habitação social é precisamente uma das áreas onde o Estado tem de intervir enquanto o mercado falhar – e o mercado falha enquanto houver desfasamento entre a capacidade económica das pessoas e o preço final do “produto” a que pretendem aceder. “Produto” que é também, não o esqueçamos, a necessária concretização de um direito constitucional. Um exemplo de intervenção correctiva do Estado será nas situações de ameaça sobre o ambiente, a paisagem ou o património cultural. Nuns e noutros casos, a intervenção supletiva e correctiva do Estado custa dinheiro – e a extensão dessa intervenção tem de ser definida também à luz dos custos que implica, sem perder de vista os custos da “não intervenção”, que em casos flagrantes de injustiça social ou dano ambiental podem ser irreparáveis. Há ainda uma nova área de intervenção do Estado, hoje cada vez mais solicitada, que representa um novo papel e que corresponde à ideia do Estado como parceiro e impulsionador de 61 actuações concertadas entre interesses privados e interesse público. Trata-se de uma área com grandes potencialidades no âmbito do ordenamento territorial e urbano, que não vou desenvolver agora. Podemos não estar todos de acordo sobre o papel do Estado, mas em todo o caso penso que a questão tem de ser discutida. Temos de saber qual é o papel do Estado no funcionamento da nossa economia, e em particular qual o papel das câmaras municipais face à economia urbana. Sem discutir isto, acho difícil elaborar legislação ou discutir articulados, porque estamos eventualmente a partir de pressupostos diferentes. E para mim o diálogo não adianta muito se só conduzir a articulados ambíguos, em que as opções não são claras e que cada qual interpreta como quer. 6. O que falta então para que seja possível pôr em prática o novo papel do Estado – e uma vez esclarecido qual ele deva ser – no que diz respeito ao planeamento territorial, ao ordenamento urbanístico e à política de solos? Penso que a proposta de lei de bases do ordenamento, que está em debate público, é uma peça importante, mas é insuficiente para “ordenar” o que quer que seja. Temos de nos bater por uma espécie de “tripé” legislativo, que inclua a lei de bases do ordenamento, para disciplinar e enquadrar a intervenção pública no território, a lei de bases da edificação, para disciplinar a intervenção privada – hoje sujeita aos regimes do DL 448/91, quando se trata de loteamentos, e do DL 445/91, para obras particulares 4 – e uma nova lei de solos, com a correspondente revisão do actual Código de Expropriações. Falo neste “tripé” com tanto mais veemência quanto é sabido que, nas últimas décadas, praticamente todo o tecido urbano novo vem resultando de intervenções particulares. Mesmo depois de aprovada a maioria dos PDM’s, os poderes públicos praticamente não têm tido nenhuma iniciativa directa de promoção e construção de cidade, limitando-se a aprovar os pedidos de loteamento que a iniciativa particular vai apresentando – ou a reabilitar aqueles que foram promovidos clandestinamente, sem qualquer licenciamento prévio. Temos um país cheio de “urbanizações sem urbanismo”, como há dias referia expressivamente um grupo de alunos meus. É também por isso que temos uma imagem de cidade que não faz sentido, que parece “estar a saque”. Se queremos modificar esta imagem de cidade, temos de admitir que o Estado tem de intervir, não só no planeamento mas também na edificação, de forma mais decisiva. 7. Se falo na necessidade de uma nova lei de solos, não quero com isso dizer que ela esgota a política de solos. Esta é hoje, cada vez mais, constituída por um conjunto de formas de intervenção no mercado de solos que podem ser muito diversas. O que defendo é que devemos usar uma panóplia larga de meios de intervenção, e nesse sentido é que a legislação deve ser reformada. Ampliar, e não reduzir, as formas de 4 Identificam-se aqui estes regimes de licenciamento pela designação dos diplomas originais. É matéria, no entanto, que tem vindo a sofrer inúmeras alterações legislativas, algumas substanciais, o que reforça a necessidade de a estabilizar num articulado mais durável. 62 influenciar o mercado de solos, tendo em vista a defesa dos interesses colectivos, que não são apenas sociais, mas podem ser ambientais e culturais – é disto que devemos tratar quando falamos em política de solos, seja para habitação social, seja para qualquer outra actividade ou destino que careça de apoio público. De um modo muito geral, podemos dizer que o Estado pode intervir no mercado de solos de forma directa e de forma indirecta. As formas de intervenção indirecta podem ser da ordem da legislação, do ordenamento e planeamento urbanístico, da política financeira e da política fiscal. Não vou desenvolver as medidas correspondentes – remeto para um estudo realizado nos países de OCDE, em que se comparam as diferentes formas de intervenção no mercado de solos e se apontam alguns caminhos inovadores 5 . Mas não deixo de recordar também que uma das nossas grandes falhas, em termos de política de solos, tem sido precisamente essa falta de “amarração” entre as opções tomadas no domínio do planeamento, as que se implementam através dos dinheiros públicos e as que derivam da fiscalidade. Há inúmeras contradições, até de conceitos. Compatibilizar tudo isso já seria um grande avanço na tal “política de solos” que parece não haver. Quanto às formas de intervenção directa, permitam-me que aqui as recorde: elas vão desde o controle de preços à constituição de sistemas de informação sobre o mercado de solos, passando pela constituição de reservas fundiárias. A nível de controlo de preços, a experiência da OCDE diz-nos – e nós sabemos isso em Portugal – que as fórmulas de tabelamento de preços, seja dos solos, directamente, seja da parcela que eles representam no custo final da construção, é extremamente ineficaz. Há sempre formas de “furar” o valor fixado. Uma das maneiras, por estranho que pareça, é o resultado perverso do estabelecimento de isenções fiscais abaixo de certos patamares. O que sucede hoje com a sisa, entre nós, é um caso típico: as pessoas declaram valores inferiores aos da tabela, para fugir à sisa. E o direito de preferência, que a lei prevê caber à Administração, sempre que detectar e provar que alguém comprou um terreno ou um prédio e pagou menos sisa do que devia, acaba por não funcionar. Nem o Estado anda a fiscalizar todas as transacções para ver se houve fuga, nem é razoável que se dê com uma mão a isenção para depois, com a outra, se tentar tirar o que se “deu”, exercendo o direito de preferência. Isto é, nem as pessoas pagam o que devem, nem o Estado exerce convenientemente o direito de preferência que lhe assiste. A criação de reservas fundiárias é outro dos mecanismos de intervenção directa do Estado ou dos municípios no mercado de solos urbanos. É uma área em que estamos completamente falhos. A maior parte dos “stocks” que existiram nas Câmaras Municipais foram constituídos antes do 25 de Abril, quando podiam comprar terreno e vendê-lo em hasta pública, com valores especulativos. Ter, nessa altura, reservas de solos era uma forma de gerir as finanças do município como outra qualquer. O sistema foi alterado com a Constituição de 1976, que apontava para a municipalização 63 integral dos solos urbanos, proibindo-se assim a sua revenda a particulares. Novas alterações puseram termo a esta limitação constitucional, mas o que é facto é que nunca chegou a haver, à excepção do período imediatamente a seguir ao 25 de Abril, nenhuma abertura para o financiamento público necessário à constituição ou manutenção de tais reservas municipais de solos. Hoje a maior parte encontra-se esgotada. Se nada for feito para alterar este panorama, o que passa necessariamente pelas finanças locais, haverá escassez acrescida de terrenos para fins sociais. É evidente que podemos aumentar a disponibilidade de terrenos privados para tais fins, com incitamentos diversos. Mas o que não creio é que possamos prescindir de um mínimo de solos detidos pelos poderes municipais, que possam ser lançados no mercado de acordo com as prioridades do planeamento urbano e de forma a compensar os efeitos altistas devidos à penúria de disponibilização de solos particulares. Finalmente, quero referir os sistemas de informação sobre o mercado. Parece-me tratar-se de uma medida essencial. É incompreensível que nos mercados financeiros possamos ter acesso às cotações dos valores presentes em bolsa com uma relativa fiabilidade e que disponhamos de índices sofisticados para prever os riscos de determinadas operações financeiras, enquanto no mercado de solos, que como vimos está intimamente associado ao mercado de capitais, temos tão pouca informação e tão pouco fiável. É certo que as equipas de avaliadores, ligadas sobretudo às entidades bancárias que praticam crédito à habitação, têm muita experiência acumulada. Mas o Código de Avaliações, prometido há não sei quantos governos, continua sem sair e os critérios em que se vão baseando os avaliadores variam enormemente. Há um grande desequilíbrio entre a informação acessível sobre os mercados financeiros e a informação disponível sobre o mercado de terrenos, o que permite margens de especulação difíceis de controlar. Não tenho aqui possibilidade de desenvolver em profundidade formas de estabelecer valores para o mercado de solos – julgo aliás que essa temática voltará aqui, no painel sobre fiscalidade, e a propósito da reforma da Contribuição Autárquica, um dos mais distorcidos impostos sobre o património que temos. Seja como for, não queria deixar de referir as duas componentes fundamentais da construção de sistemas de informação sobre o mercado de solos: a componente física, que se identifica com o cadastro, e a componente económica, que corresponde ao registo do respectivo valor. A experiência talvez mais interessante que conheço nesta matéria é a da Dinamarca, onde são regularmente publicados os valores de todas as transacções de solos, em articulação com os respectivos usos e destinos. Será difícil apontar para essa meta em Portugal, mas pelo menos as transacções em que intervieram entidades públicas deviam ser listadas e publicadas, de forma organizada. Poderíamos assim ir construindo um sistema de valores de referência, seguramente 5 Les marchés fonciers urbains: quelles politiques pour les années 90?, OCDE, 1992. 64 mais realista que o constante das desactualizadas matrizes prediais e certamente mais justo e operacional que o critério neo-liberal puro do actual Código de Expropriações. Em suma, através de um largo conjunto de formas de intervenção indirecta ou directa no mercado de solos, o que defendo é que os poderes públicos se não demitam das suas responsabilidades nesta matéria. E que não entreguem simplesmente ao livre jogo das forças de mercado um factor tão sensível como os solos urbanos, para que, sem prejuízo da necessária sustentabilidade ambiental, sejam garantidos os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. 65 ANEXO LUGARES COM MAIS DE 10.000 HABITANTES que não são cidades em Portugal (CENSO DE 1991) Distrito de Aveiro - Gafanha da Nazaré Distrito de Lisboa - Alfarelos - Algés - Algueirão - Brandoa - Buraca - Cacém - Carnaxide - Cascais - Dr. Augusto Castro - Forte da Casa - Linda-a-Velha - Massamá - Moscavide - Oeiras - Paço de Arcos - Parede - Pontinha - Portela - Póvoa de S. Adrião - Póvoa de S.ta Iria - Queluz - Sacavém - S. António dos Cavaleiros - Vialonga Distrito do Porto - Águas Santas - Avintes - Leça da Palmeira - Oliveira do Douro - Pedroso - S. Mamede Infesta - S. Martinho 66 - Senhora da Hora - Valbom - Vilar de Andorinho Distrito de Setúbal - Baixa da Banheira - Corroios - Cova da Piedade - Cruz de Pau - Feijó - Laranjeiro - Lavradio - Miratejo - Moita - Paivas - Pinhal Novo - Quinta do Lombo - Vale da Amoreira Total 48 lugares com mais de 10.000 habitantes Nota: O total de cidades em 1991, actualizado de acordo com as deliberações da Assembleia da República até 2/7/93, passou para 106. Destas, apenas 54 tinham, de acordo com o Censo de 1991, mais de 10.000 habitantes. Verifica-se assim que há quase tantos “lugares” como cidades entre as zonas urbanas portuguesas, sendo estes “lugares”, na sua maioria, resultado de operações de loteamento privado, legal ou clandestino. Verifica-se ainda que 52 das 106 cidades portuguesas são menos populosas que estes “lugares”. 67 Painel A actividade da construção: regulamentação, técnicas e custos, fiscalidade e apoios na construção e na habitação 68 Engenheiro Rui Nogueira Simões * Relator INTRODUÇÃO Tendo-me sido confiada a ambiciosa e difícil tarefa de analisar um tema tão abrangente como é o da “actividade da construção civil”, contemplando vários dos seus aspectos desde a respectiva regulamentação até ao seu financiamento, entendo ser desde já fundamental delinear e delimitar o âmbito da minha intervenção apontando as diversas matérias que, por se revestirem de extrema importância para o Sector da Construção, merecem ser comentadas e debatidas. Assim sendo e tendo bem presentes todos os outros temas que relacionados com a actividade da construção já foram ou irão ser objecto de um tratamento específico ao longo deste colóquio, proponho-me, tentando evitar uma duplicação nas exposições, abordar os seguintes tópicos: – evolução recente do Sub-sector da Habitação; – regulamentação da actividade de construção civil, designadamente a que se refere ao relacionamento dos particulares com os diversos níveis da Administração, bem como a relativa aos aspectos técnicos, relacionando-a com os custos de construção; – finalmente, a fiscalidade e os subsídios (ou a sua ausência) na construção e na habitação. Ao fim de alguns anos de acesas discussões e de muito se ter dito sobre a matéria, existe hoje em dia um vasto e importante consenso sobre a relevância da Habitação e dos problemas com ela relacionados, no contexto da sociedade portuguesa. Na verdade, é reconhecida por todos a natureza de bem essencial da Habitação, sendo certo que uma sociedade que não consiga assegurar o acesso universal a este direito fundamental não é capaz de garantir a satisfação das necessidades básicas dos seus membros, desde a Saúde até à Educação. Para descrever resumidamente a situação da habitação em Portugal, é importante lembrar que o nosso País tinha, em 1991, um défice habitacional superior a 500 mil fogos, um parque residencial envelhecido e degradado e uma proporção elevadíssima de proprietários ocupantes da sua residência habitual (superior a 80%, uma das mais altas da Europa). Na base desta situação está um conjunto de problemas que têm vindo a ser repetidamente enunciados, tais como a elevada carga fiscal incidente sobre a habitação, a inexistência de uma política de solos, o processo burocrático ligado a * Presidente da Direcção da AECOPS. 69 todo o percurso da promoção imobiliária e, o mais relevante de entre todos, a ineficácia total do regime do arrendamento urbano, que constituiu a principal condicionante da evolução do mercado habitacional. De facto, o regime jurídico do arrendamento urbano que vigorou até 1990 e que consagrou uma enorme rigidez contratual, conjugado com o congelamento das rendas iniciado na década de 40 em Lisboa e no Porto, que se estendeu a todo o País depois de 1974, condicionou negativamente o funcionamento do mercado de arrendamento urbano em Portugal. De acordo com o último censo de 1991, dos cerca de 3 milhões de alojamentos clássicos ocupados como residência habitual (+10,3% do que em 1981), apenas 545 mil estavam arrendados (-50% do que em 1981), passando a representar menos de 18% daquele conjunto. Como a entrada de novas casas no mercado livre de arrendamento assumiu valores irrisórios ao longo da década de 80 (pouco mais de mil fogos por ano), pode concluirse que saíram daquele mercado, seguramente, mais de 500 mil casas no período de 1981 a 1991, reforçando-se, assim, a tendência observada na segunda metade da década de 70. Por outro lado e não obstante a Lei n.º 46/85, de 20 de Setembro, ter posto fim ao congelamento das rendas, mais de 10% das casas em 1991 ainda tinham rendas inferiores a mil escudos por mês e mais de 63% tinham rendas entre mil e doze mil escudos por mês. Aliás, apesar desta nova lei ter estabelecido a possibilidade de actualizar as rendas, o Estado não permitiu a actualização de forma a ser possível compensar a perda de poder de compra da moeda. Ao proceder desta forma, impedindo o justo retorno, não só eliminou um mecanismo essencial ao investimento, como descapitalizou uma parte substancial dos investidores, destruindo a poupança e, ainda mais grave, destruindo a base de qualquer decisão de investimento: a confiança. 1. EVOLUÇÃO RECENTE DO SUB-SECTOR DA HABITAÇÃO É do conhecimento geral que nos últimos dez anos o Sector da Construção conheceu um apreciável dinamismo, com efeitos muito positivos sobre o conjunto da economia e em especial sobre o emprego, mercê fundamentalmente dos vultuosos investimentos públicos realizados em infra-estruturas e co-financiados pela União Europeia. Em particular, o segmento da engenharia civil apresentou, nesse período, taxas de crescimento reais médias em torno dos 10%, tornando-se o verdadeiro motor do crescimento da actividade do Sector da Construção, enquanto, ao invés, a produção de habitação conheceu uma evolução decepcionante, muito embora estejamos convictos da existência de uma significativa procura potencial que poderá ser satisfeita se se 70 apostar decisivamente na dinamização do mercado habitacional e em particular se se reinventar o mercado do arrendamento. No entanto e não obstante a existência de condições para uma procura potencial do bem habitação, o que é facto é que a procura efectiva se mostrou, no período 19901994, menos dinâmica do que seria de esperar, em resultado da elevação da taxa de juro nesse período. A partir de 1994 verificou-se uma apreciável descida das taxas de juro de longo prazo, facto que se repercutiu muito favoravelmente na procura de habitação, de que a evolução do crédito contratado nos anos mais recentes é um bom exemplo. É o caso de 1996, ano em que o valor do crédito concedido para aquisição de habitação ultrapassou os mil milhões de contos, para um número de contratos próximo dos 122 mil. Em termos de variação relativamente a 1995, estes valores traduzem crescimentos de mais de 33% em valor e de mais de 25% em número. Por outro lado, a incidência fiscal sobre a habitação constitui, igualmente e como veremos mais à frente, uma importante condicionante da procura, quer pelos efeitos que tem sobre o preço de venda, quer pelos encargos adicionais que gera no momento da aquisição e no decurso da fruição desse bem. A outra componente do mercado habitacional, a do arrendamento e tal como já foi dito atrás, tem conhecido ao longo dos anos uma diminuição significativa, passando o peso dos fogos de renda usados como residência habitual, de 39,5% do total, em 1981, para 18,1% dez anos mais tarde. A falta de intervenção governamental, com a necessária introdução de medidas significativas que conduzissem a uma maior flexibilidade e funcionalidade deste segmento de mercado, levou a que os ténues sinais de vitalidade observados tenham resultado da concretização prática do único esquema de incentivo que revelou algum impacto positivo: o Incentivo ao Arrendamento por Jovens (IAJ). Relativamente à produção de fogos novos destinados a habitação, esta rondou, nos últimos anos e segundo os dados do INE, cerca de 60 mil fogos por ano (65 300 em 1995). Este valor apresenta-se muito diminuto face às necessidades habitacionais apuradas e que apontam, tal como já foi referido, para um défice de 500 mil fogos. Na repartição por destino das obras e tal como se vem verificando desde 1974, a maioria dos novos fogos para habitação concluídos tem-se destinado ao mercado de compra e venda, situando-se os que se destinam ao arrendamento num intervalo que varia entre 1 e 2%. De facto, em 1993, o número de fogos canalizados para o mercado de arrendamento foi de apenas 911, menos de 1,5% do total, sendo infelizmente desconhecida esta informação para os anos seguintes já que o INE deixou de a recolher e tratar! O excessivo peso, no rendimento disponível dos particulares, dos encargos inerentes à compra de uma habitação tem dificultado, cada vez mais, o acesso de algumas camadas da população, principalmente as mais jovens, ao mercado de compra e venda. De facto, os resultados apurados para o indicador relativo à venda de fogos do Inquérito Mensal à Actividade promovido pela AECOPS em colaboração 71 com a União Europeia continuam a apresentar-se muito negativos, não sendo pois de admirar que, apesar do crescimento que o Sector da Construção vem conhecendo desde 1987, a produção do segmento dos Edifícios Residenciais tenha vindo a revelarse modesta. Tememos assim que o mercado de compra e venda possa estar perto de atingir o seu ponto de saturação, pondo-se o problema de saber qual irá ser o destino dos novos fogos habitacionais, se o mercado de arrendamento não passar a ser, ao contrário do que se tem verificado até ao momento, uma opção que rentabilize de forma satisfatória o investimento efectuado. Este ponto é especialmente importante já que está intimamente ligado ao facto do mercado da recuperação e da reabilitação habitacional assumir uma expressão diminuta no mercado da construção português (cerca de 7% da produção total, quando no conjunto da Europa representa mais de 40%). Se o mercado do arrendamento for dinamizado, o que passa também por uma actualização séria das denominadas rendas antigas, então o mercado da reabilitação habitacional tem condições para assumir o seu papel de mercado do futuro: na sequência dos trabalhos do Projecto FORREHABIL, em que a AECOPS participa, no âmbito do Programa Leonardo Da Vinci, o mercado potencial da reabilitação habitacional está avaliado em mais de 5 mil milhões de contos! Esta oportunidade não pode ser perdida, já que as consequências negativas da degradação do parque habitacional para a qualidade de vida de todos nós são inúmeras e graves, e encontram-se, aliás, bem à vista. Importa ainda referir que também o Estado tem vindo a perder importância como promotor de habitação. Apesar da criação, em 1993, dos Programas de Realojamento das áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e do Programa de Construção de Habitações Económicas, os resultados ficaram muito aquém das expectativas. Todos os valores conhecidos até à data apontam para que o impacto destes programas na produção do Sector esteja a ser muito reduzido. 2. REGULAMENTAÇÃO DA ACTIVIDADE DA CONSTRUÇÃO CIVIL 2.1. Os Particulares e a Administração Entrando agora no segundo tópico que me propus abordar e sendo pacífico o entendimento de que o desenvolvimento da actividade de construção está directamente relacionado e mesmo condicionado ao enquadramento legal que lhe é aplicável, seria irrealista alhearmo-nos deste aspecto, omitindo qualquer referência a tão importante factor. Assim e deixando para depois os aspectos relacionados com a regulamentação técnica, gostaríamos de abordar de um modo particular o quadro regulamentar 72 respeitante ao relacionamento dos particulares com a Administração Central e Local, tendo em vista o exercício dos direitos de urbanizar e construir. Aliás e como é do conhecimento público, estão a ser desenvolvidos trabalhos legislativos sobre esta matéria, pelo que consideramos estar perante uma oportunidade e mesmo um momento por excelência para influenciar as orientações que virão a ser legalmente consagradas. De facto e estando a ser preparado, consoante foi anunciado pelo Governo, um vasto conjunto de diplomas que têm como objectivo vir concretizar os princípios definidos pela Lei de Bases do Ordenamento do Território, cujo anteprojecto se encontra em discussão pública até ao próximo dia 15, entendemos ser necessário que se promovam acções com natureza idêntica à que hoje se realiza, de modo a que surjam espaços privilegiados de discussão técnica com eventual formulação de concretas sugestões legislativas. É que fazendo parte do anunciado conjunto de diplomas em preparação não só se encontra uma Lei das Edificações, com carácter nitidamente inovador no enquadramento legal do nosso País, como e a complementar a anunciada Lei de Bases do Ordenamento do Território, a revisão, entre outros, dos regimes de licenciamento municipal das operações de loteamento e de obras particulares. Ora assumindo o atrás referido quadro legal uma importância extrema para o desenvolvimento da actividade da construção, não posso deixar de, como Presidente da Direcção da AECOPS, vincar diversos aspectos que têm vindo a ser apontados pelas empresas de construção como carecendo de previsão ou de uma maior adequação sob o ponto de vista legal. Assim e desde logo quanto à futura Lei das Edificações consideramos que a mesma se deverá circunscrever a um enquadramento estrutural da matéria, nessa medida apenas enunciando os princípios fundamentais e gerais relacionados com a actividade, a posteriormente serem desenvolvidos através de regulamentação específica. Dentro deste contexto e enquanto princípios básicos da actividade e do processo de construção entendemos deverem ser tidos em consideração os seguintes aspectos: – Definição das diversas fases que constituem o ciclo construtivo, com particular ênfase para a concepção e execução; – Identificação de todos os agentes intervenientes neste ciclo; – Delimitação do âmbito de actuação e intervenção de cada um de tais agentes, de modo a que resultem explicitadas as respectivas funções e desempenho; – Indicação do tipo de responsabilidade dos vários intervenientes acima mencionados; – Enunciação dos requisitos técnicos essenciais a deverem ser assegurados na construção; 73 – Consagração de uma garantia mínima inerente ao produto final, explicitandose os direitos que assistem ao consumidor final/comprador. Aliás e no que em particular respeita aos últimos princípios enunciados, ou seja clara definição e delimitação de responsabilidades na actividade da construção, cumprimento de requisitos mínimos de ordem técnica e previsão de adequadas garantias, é inquestionável que os mesmos são essenciais para assegurar a qualidade do produto final, pressuposto este que cada vez mais tem vindo a assumir uma maior e compreensível relevância. Cumpre agora fazer referência à também anunciada revisão dos regimes de licenciamento municipal de operações de loteamento e de obras particulares, revisão essa que surge na sequência da opção tomada no anteprojecto de Lei de Bases de Ordenamento de dar início a uma nova reforma quanto à regulamentação urbanística. Ora a este respeito é desde logo e em nossa opinião notória a necessidade de se encontrarem soluções que tornem o processo de licenciamento menos “pesado” sob o ponto de vista burocrático e mais transparente no tocante aos aspectos dependentes de apreciação e decisão por parte das entidades licenciadoras. Na verdade e consoante já por diversas vezes tem sido publicamente apontado, é importante que o processo administrativo referente ao licenciamento municipal possa decorrer dentro de prazos temporalmente aceitáveis, de modo a que o produto final e todo o processo construtivo não venham a ficar onerados pelo simples decurso do tempo. Com efeito e ainda que possa ser legalmente previsível, sob o ponto de vista formal, o período de tempo necessário para obtenção de uma licença de construção, dado a lei prever de forma expressa os prazos respeitantes às diferentes fases do processo, o certo é que raras são as situações em que os aludidos prazos são efectivamente cumpridos por parte da Administração. Ora e sendo certo que a solução para tal problemática não passa, a nosso ver, por uma redução dos prazos, sob pena de os mesmos se tornarem irrealistas por impraticáveis, entendemos ser fundamental repensar o sistema, designadamente acolhendo novas figuras mais atractivas do que o recurso ao actual processo de licenciamento. A este propósito e quando se trate de áreas abrangidas por instrumentos de planeamento territorial suficientemente detalhados, uma das alternativas a explorar poderá consistir, em nossa opinião e num primeiro momento, na obtenção de informações com carácter vinculativo ou mesmo na passagem de certidões que demonstrem, de forma inequívoca, qual o aproveitamento e condicionamentos urbanísticos para tal área, contendo nomeadamente os índices que são considerados admissíveis. Num segundo e subsequente momento, a apresentação de projectos cuja conformidade com as atrás referidas prescrições se encontre formalmente comprovada por entidades para o efeito oficialmente reconhecidas e que igualmente garantam a 74 idoneidade técnica das soluções apresentadas, inclusivamente por assegurarem a sua viabilidade junto de todas as entidades que legalmente devam ser consultadas, deveria permitir a imediata emissão do alvará de licença de construção. Em tais situações verificar-se-ia, pois, a desejável celeridade na obtenção da licença em apreço e isto porque tal licença se traduziria, face à apresentação dos documentos acima referidos, numa mera atestação do ponto de vista administrativo, residindo aqui a principal diferença em relação ao quadro legal em vigor. Passando agora a focar os aspectos actualmente dependentes de apreciação e decisão por parte das entidades licenciadoras, afigura-se-nos que, relativamente aos mesmos e tendo presente o princípio da transparência na actuação da Administração, poderiam ser implementadas soluções com o objectivo de obstar à ocorrência de situações nas quais os indeferimentos tenham exclusivamente por base juízos de valor subjectivos e enquanto tal discutíveis. Na realidade e considerando inquestionavelmente positiva a crescente preocupação das autarquias locais na definição das opções de ordenamento e planeamento territorial, que, aliás e consoante legalmente previsto, devem reflectir a efectiva participação de todos os munícipes, entendemos serem de afastar os fundamentos de indeferimento relacionados com aspectos cuja previsão deve ser efectuada em sede de instrumentos de planeamento. Efectivamente, se se tiver presente, a título exemplificativo, o facto de os planos de pormenor deverem definir, com minúcia, a tipologia de ocupação, dispondo, designadamente, sobre condições gerais de edificação, caracterização das fachadas dos edifícios e arranjos dos espaços livres, não é a nosso ver razoável admitir, ainda que como mera hipótese, a possibilidade de o indeferimento de um pedido de licenciamento para uma área compreendida por um tal tipo de plano ter por fundamento uma “desadequada inserção no ambiente urbano”. Para além de todo o exposto e a terminar as considerações referentes à regulamentação da actividade não queremos deixar de vincar e tornar bem clara a ideia de que de modo algum se advoga que as autarquias locais se demitam ou afastem do processo de licenciamento. Na verdade e bem ao contrário, entendemos que sempre lhes deverá estar reservado o importante e crucial papel de órgão centralizador e de gestão de todos os processos de licenciamento, na medida em que sendo as únicas entidades que têm uma perspectiva global de tais processos, não devem poder alhear-se das responsabilidades que por esse facto lhe são inerentes. Competirá às autarquias, pois e neste sentido, assumirem um constante diálogo com todos os potenciais e efectivos intervenientes nos processos de licenciamento, com a preocupação de garantirem uma melhor eficácia e rentabilidade de todos os meios e recursos envolvidos na actividade da construção. 75 2.2. Regulamentação Técnica e Custos da Construção Passaria agora à abordagem da regulamentação técnica do Sector da Construção e da Habitação, procurando, designadamente, evidenciar a sua repercussão nos custos de construção. Ora, os custos de construção são obtidos, como é do conhecimento dos diversos intervenientes no processo construtivo, através do somatório dos custos directos, dos custos de estaleiro e dos custos indirectos. Estes custos dependem de um conjunto diversificado de factores, nomeadamente: – da conjuntura do mercado; – da localização da construção, atendendo à maior ou menor facilidade de angariação de mão-de-obra local, facilidade de acessos, existência de infraestruturas, etc.; – do tipo de edificação relativamente à utilização, nomeadamente, edifícios de habitação, edifícios de serviços públicos ou privados, edifícios industriais, entre outros; – da concepção arquitectónica, designadamente, o número de pisos, áreas em planta, soluções de envolvente; – da concepção estrutural, nomeadamente, estrutura reticulada, estrutura laminada, tipo de lajes; – dos processos construtivos; – e dos níveis de qualidade. Assim, a análise e interpretação dos valores relativos aos custos de construção só levarão a resultados coerentes se o cálculo dos referidos custos tiver em conta não só os pressupostos referidos anteriormente mas também a respectiva associação a uma caracterização racional da construção. O tema não apresenta tratamento fácil pois, numa óptica actual, deverá ter-se presente os novos conceitos de satisfação das exigências dos utentes no desempenho das funções para que o edifício foi concebido e das exigências ambientais, mas não esquecendo que o custo de construção representa uma parcela significativa no investimento global. É, portanto, perfeitamente legítima e compreensível a atitude dos donos de obra ao tentarem baixar os custos de construção, desde que não descurem os aspectos e as exigências descritas. A satisfação das exigências dos utentes leva necessariamente à formulação das respectivas exigências fisiológicas, psicológicas e socioeconómicas, das quais decorrerão as correspondentes exigências funcionais das edificações que poderão considerar-se reunidas em três grandes grupos: 76 – Exigências de Segurança – pelas quais se pretende garantir a protecção de vida dos ocupantes ou utilizadores do edifício; – Exigências de Habitabilidade – pelas quais se pretende garantir a realização das diversas actividades sem prejuízo para a saúde e com um dado nível de comodidade; – Exigências de Economia – pelas quais se pretende estabelecer parâmetros relativos ao custo global e durabilidade dos edifícios. A tradução das referidas exigências em critérios qualitativos e quantitativos conduz naturalmente à definição de níveis de qualidade. Por sua vez, ao falar-se de exigências funcionais e consequentes níveis da qualidade, não se pode deixar de focar a actividade de regulamentação e a respectiva incidência nos custos de construção. Com os regulamentos pretende-se, por um lado, disciplinar as actividades de concepção, projecto e construção e, por outro, estabelecer os requisitos a que as edificações deverão dar cumprimento. A revisão e actualização dos regulamentos existentes e a entrada em vigor de novos tem a ver, fundamentalmente, com o nível de condição de vida que se julga deverem ser atingidos e que, por sua vez, dependem directamente das condições económicas das sociedades e do avanço tecnológico das mesmas. Numa primeira aproximação, poder-se-ia associar o primeiro nível em termos de qualidade de uma edificação ao simples cumprimento dos requisitos estabelecidos nos diversos regulamentos em vigor, sendo os restantes níveis de qualidade definidos pelo agravamento progressivo dos critérios qualitativos e quantitativos dos referidos requisitos e ou introdução de novos requisitos. Deste modo, ao definir-se requisitos mínimos, limita-se, desde logo, um parâmetro mínimo para o custo de construção que obviamente tenderá a subir sempre que os referidos requisitos se tornem mais exigentes. Um exemplo elucidativo de incidência dos regulamentos no custo de construção foi o aumento do custo de construção das envolventes exteriores das edificações devido à entrada em vigor do regulamento geral sobre o ruído e do regulamento das características de comportamento térmico dos edifícios, já que o conjunto dos elementos construtivos constituintes da envolvente passou a ter que satisfazer os índices de isolamento sonoro e os limites das necessidades nominais de aquecimento e arrefecimento regulamentares. A satisfação das exigências ambientais e as de economia, tendo em conta preocupações tais como diminuição dos consumos energéticos, enquadramento paisagístico e urbanístico, entre outras, leva-nos a ter que equacionar os custos diferidos, constituídos pelos custos de conservação e de exploração. 77 Nestas áreas, a envolvente exterior das edificações apresenta, igualmente, um papel importante pois é responsável por cerca de 20% do total dos custos diferidos (conservação, reparação e exploração). A diminuição destes custos implica um maior cuidado na escolha dos elementos constituintes da envolvente e consequente aumento do respectivo custo de construção. Nos tempos actuais, os custos de construção, na óptica do dono da obra, deveriam ser analisados não isoladamente mas enquadrados num contexto de custo global da edificação (somatório do custo de construção e do valor actualizado dos encargos de conservação, reparação e exploração ao longo de toda a sua vida útil). Face ao exposto torna-se evidente a necessidade de se analisar os custos de construção com base no binómio custo/qualidade, devendo constituir preocupação de todos os intervenientes no processo de construção melhorar a referida relação. Para terminar este ponto, apresentaria brevemente alguns aspectos que poderão contribuir para a redução dos custos de construção. Na Fase de Concepção e de Projecto: – a definição dos níveis de qualidade pretendidos; – o estudo de soluções arquitectónicas que permitam, em simultâneo a satisfação dos níveis de qualidade pretendidos ao menor custo e a respectiva adequação aos processos construtivos; – a correcta pormenorização das soluções escolhidas; – a avaliação e controlo dos custos de construção ao longo do desenvolvimento do projecto de modo a evitar que o limite estabelecido seja excedido. Na Fase de Construção, a racionalização dos procedimentos em matéria de gestão, qualidade e segurança, por parte das empresas de construção, tendentes à melhoria da qualidade, ao acréscimo da produtividade e à diminuição dos custos da não qualidade, através de uma utilização correcta dos meios humanos, dos materiais de construção, dos equipamentos e instalações. 3. A FISCALIDADE E OS SUBSÍDIOS NA CONSTRUÇÃO E NA HABITAÇÃO Entrando finalmente no terceiro e último tópico da minha intervenção, é hoje relativamente consensual a afirmação de que a incidência fiscal sobre o Sector da Construção e especialmente sobre a Habitação tem sido, ao longo das últimas décadas, extremamente complexa e pesada, manifestando-se desde o momento da aquisição de terrenos até à posse dos edifícios e perdurando por toda a sua longa vida útil. Quer as reformas fiscais de 1986 e 1989 no âmbito, respectivamente, do Imposto sobre o Valor Acrescentado e dos Impostos sobre o Rendimento e sobre o Património, 78 quer as medidas de política fiscal posteriormente tomadas, não alteraram, no fundamental, a “pesada” herança dos regimes fiscais anteriores, assistindo-se mesmo a um retrocesso e agravamento em anos recentes, crescendo todos os indicadores de incidência fiscal sobre o Sector a partir de 1992. É importante notar que, no campo da tributação directa, a Construção Civil e a Habitação apresentam as mais elevadas taxas de tributação efectiva sobre os lucros, resultado da ausência de quaisquer incentivos fiscais para o Sector e contribuem com montantes elevadíssimos para a Segurança Social, dadas as características estruturalmente “trabalho-intensivas” da sua actividade Num estudo efectuado recentemente pela AECOPS ficou demonstrado que a receita fiscal do Sector quase duplicou no período de 1990 a 1995, tendo passado de 232.7 milhões de contos no primeiro ano, para 442.4 milhões de contos no último. Estes valores, quando medidos em relação ao Valor Bruto da Produção (VBP) em Construção e Habitação, passaram de 18,6% para 22,1% no mesmo período. Se a referência for o Valor Acrescentado Bruto (VAB), esta proporção também aumenta, passando de 45,8% em 1990 para 53,8% em 1995. Os números e indicadores que acabo de referir evidenciam um agravamento claro e inequívoco da carga fiscal do Sector. Por outro lado, sendo feita a comparação entre o contributo do Sector da Construção para a Produção Nacional e os impostos sobre ele arrecadados é considerável a desproporção existente. Isto é, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) do Sector representa cerca de 6% do VAB total, enquanto os impostos nele obtidos representam cerca de 9% das receitas Fiscais do Estado. Ora, sabendo-se como a actividade deste Sector é essencialmente dirigida para a construção de infra-estruturas básicas, essenciais ao desenvolvimento e para o “bem social” habitação e que, paralelamente, apresenta um importante efeito multiplicador sobre o conjunto da actividade económica, designadamente sobre o emprego total, esta desproporção apresenta-se particularmente grave. Se nos detivermos na análise dos principais tipos de impostos que incidem sobre o Sector verificamos que aqueles que são directa e discriminatoriamente dirigidos ao imobiliário, isto é, a Sisa e a Contribuição Autárquica, representam cerca de 50% dos impostos específicos gerados pelo Sector, o que traduz uma “apetência fiscal” para tributar a “casa” e a construção como um bem não essencial. A introdução, no sistema fiscal português da Contribuição Autárquica, fruto da reforma fiscal de 1989, teve como consequência um significativo alargamento da base tributável em sede de impostos sobre o património. Isto porque passaram a ser tributados em sede de Contribuição Autárquica os terrenos para construção e os prédios adstritos a actividades de natureza comercial ou industrial do proprietário. 79 No entanto, como os terrenos para construção e os edifícios para venda beneficiam de um período de não sujeição de cinco e três anos, respectivamente e a habitação beneficia de um período de isenção que pode atingir dez anos, nos primeiros anos de vigência deste imposto os seus efeitos sobre a generalidade dos contribuintes foram relativamente atenuados. Porém, em 1995, provavelmente em virtude de muitas das isenções terem chegado ao seu termo, as receitas da Contribuição Autárquica, que devem ter atingido um montante correspondente ao dobro do valor obtido em 1990, encontravam-se muito próximas dos valores relativos aos impostos sobre o rendimento cobrados no Sector. A Sisa é outro imposto específico do imobiliário, que, normalmente, recai sobre os valores de transmissão dos prédios. Ora, como os prédios já estão onerados com encargos de natureza fiscal e parafiscal, a sisa acaba por se traduzir num imposto de larga sobreposição, com os indesejáveis efeitos cumulativos subsequentes. Um exemplo desta dupla tributação é o relativo à aquisição de terrenos para revenda em que os respectivos valores incluem já encargos de escritura, registo, sisas anteriores, etc., além dos encargos de urbanização. Um outro exemplo, ainda mais grave do que o primeiro, diz respeito à aquisição de imóveis para habitação. Quando se trate de habitação, aos encargos que acabei de referir somam-se os impostos indirectos, nomeadamente, IVA e Selo, inclusive os incorporados em acabamentos, equipamentos e mobiliário, que obrigatoriamente são integrados na habitação pelo Regulamento Geral das Edificações Urbanas. Também de acordo com os resultados obtidos no estudo a que atrás me referi, existem situações em que mais de 50% do preço de uma habitação corresponde a receitas fiscais e parafiscais geradas pela mesma. Dos impostos contidos no preço de uma casa, os que mais se evidenciam são o IVA, que pode ascender a 8% desse valor e a sisa, que poderá representar 10% do mesmo. Por sua vez, os encargos parafiscais (taxas, licenciamentos, emolumentos, etc.) incidentes sobre a construção, transmissão e posse de habitação representam, em alguns casos, mais de 5% do preço da mesma. Isto sem falar da “teia burocrática” (designadamente escrituras e registos) que envolve toda esta actividade e que, por isso mesmo, acarreta elevados custos administrativos. A “irracionalidade” económica e social deste tipo de política e estrutura fiscal e parafiscal é, em consequência, notória num Sector em que parte substancial do respectivo bem em causa, a habitação, é sujeita a IVA e outros impostos indirectos e, posteriormente, a sisa. Mais, os responsáveis pela política fiscal continuam a ter do imobiliário e da habitação em geral a visão do legislador de há 50 anos, esquecendo que a importância, 80 a composição e o “estatuto social” da propriedade se alteraram profundamente, tratando-a como se fosse o principal meio de riqueza e esquecendo que a habitação é hoje, antes de tudo, um direito essencial que, na sociedade moderna, deve ser protegido e assegurado. Aliás, hoje em dia, a posse de casa própria é, inúmeras vezes, um indicador de endividamento e “insolvabilidade” de grande parte das famílias portuguesas. Por outro lado, se a habitação for destinada ao arrendamento, continua, por essa via, a ser uma maior fonte geradora de receitas fiscais. É que, nesse caso, para além da incidência dos impostos que já tive oportunidade de referir, haverá simultaneamente lugar a IRS sobre o rendimento predial obtido. Tal como a AECOPS vem referindo em muitos dos seus trabalhos sobre o mercado de arrendamento, a paralização e redução sucessiva deste mercado, que se arrasta há mais de duas dezenas de anos, é uma das principais causas do grave problema habitacional português. Na sequência da análise que foi feita do mercado habitacional, a AECOPS apresentou uma proposta ao Governo onde se privilegia o mercado do arrendamento com o objectivo de, por um lado, dinamizar este mercado, estimulando a actividade económica e, por outro, criar um considerável número de postos de trabalho. Para além da tentativa de resolução do problema económico e social que o actual défice habitacional constitui, a dinamização deste segmento pode desempenhar um papel importante no presente quadro conjuntural, promovendo a criação de emprego e desviando do consumo uma maior parcela do rendimento disponível, facto relevante no actual esforço desinflacionista. Um outro facto a ter em conta é a possibilidade do investimento em habitação ser uma alternativa vantajosa de criação e aplicação de poupança, sendo para isso necessária a introdução dos mecanismos necessários ao reforço da sua atractibilidade, tais como a instituição de uma política fiscal incentivadora e a modificação do regime do arrendamento urbano. De entre as medidas propostas destacaria, em sede do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS): – a introdução da possibilidade de dedução em IRS, por prazo adequado, de parte dos montantes aplicados na aquisição, construção ou reparação de imóveis para habitação, quando o sujeito passivo não tenha recorrido ao crédito; – a dedução em IRS de parte das importâncias recebidas e pagas a título de rendas decorrentes de contratos de arrendamento habitacional; – e o aumento do limite de dedução permitido em IRS para os montantes aplicados em contas poupança-habitação, que poderão ser aplicadas na aquisição de casas para arrendamento, conjugado com a reintrodução da isenção dos juros destas contas, entre outras medidas, permitiriam tornar 81 mais rentável o investimento na habitação e mais fácil o acesso ao arrendamento por parte das famílias. Contudo e apesar de se ter demonstrado que o impacto fiscal sobre as finanças públicas seria positivo, apenas se conseguiu a introdução de algumas autorizações legislativas no Orçamento do Estado para 1997 que, se, por um lado, se poderão interpretar como a “abertura de uma porta”, por outro, mesmo quando forem postas em prática, ficarão muito aquém do que seria recomendável para atingir os objectivos pretendidos. No entanto, não poderei deixar de referir o facto do Governo ter encomendado um estudo sobre a tributação do património, abrangendo a Contribuição Autárquica, facto que revela o reconhecimento da urgência de que se reveste a modificação do actual enquadramento fiscal do património imobiliário. O estudo a que me refiro, entretanto apresentado e coordenado pelo Senhor Professor Sidónio Pardal, propõe uma reformulação profunda da tributação do património, especialmente no âmbito da Contribuição Autárquica (CA). Gostaria, aliás, de aproveitar esta oportunidade para reafirmar o apreço que tenho por este trabalho e para chamar a atenção para a relevância da informação preciosa nele contida e que constitui a base do diagnóstico e das subsequentes medidas propostas pelos seus autores. Assim e de acordo com o relatório mencionado, no actual regime, dos quase 6 milhões de contribuintes sujeitos a Contribuição Autárquica, cerca de 4 milhões encontram-se isentos deste imposto, temporária ou definitivamente, dos quais, mais de 3 milhões encontram-se abrangidos por isenções técnicas (valor de imposto a pagar inferior a 1.000$00). Por outro lado, são os prédios mais novos, logo os mais recentemente avaliados, que suportam uma maior tributação em sede de Contribuição Autárquica. De acordo com o modelo proposto, a Contribuição Autárquica deverá ser composta por um factor fixo e um factor variável, determinado de acordo com a dimensão, uso, tipo e utilização do imóvel e independentemente do seu valor patrimonial, decorrente da qualidade da construção ou da composição e arranjos dos espaços exteriores. Sairiam, eventualmente, prejudicados os prédios com rendas antigas, muito baixas, que ficariam sujeitos a níveis de tributação idênticos aos novos. De facto, nestas circunstâncias seria necessário proceder à revisão da lei do arrendamento, de modo a que, como o próprio estudo recomenda, as rendas de cada prédio correspondessem, no mínimo a seis vezes o valor da contribuição paga. Ao estabelecer uma base mínima de colecta, este modelo eliminaria de imediato a figura da isenção técnica. Simultaneamente, eliminaria as isenções temporárias e limitaria a um número muito reduzido as situações em que se verificassem isenções definitivas. Desta forma, ver-se-ia alargada a base de incidência deste imposto, dando origem a uma receita que triplicaria os actuais valores. 82 Este novo método de tributação teria as seguintes vantagens: – proporcionaria uma maior equidade na tributação; – originaria receitas que mais que compensariam uma redução das taxas da Sisa para valores simbólicos (por exemplo 0,5%); – conduziria à consagração de mecanismos automáticos de correcção das rendas. Finalmente e no que respeita à política de subsidiação, a opção do Estado a nível de política habitacional tem assentado, essencialmente, na concessão, em casos particulares, de bonificações às taxas de juro aplicadas nos empréstimos à aquisição de habitação e na atribuição de alguns subsídios aos particulares. Talvez o mais relevante seja o apoio dado às camadas mais jovens que optam pelo arrendamento. O IAJ – Incentivo ao Arrendamento por Jovens foi instituído em 1992 e tem revelado um elevado índice de adesão, tendo implicado em 1996 uma despesa pública de cerca de 7,2 milhões de contos. Mais recentemente foram também introduzidos alguns benefícios às famílias alvo de realojamento no âmbito dos PER – Programas Especiais de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto. Assim, quer no caso em que as famílias optam pela aquisição de um fogo para sua residência, quer no caso das que pretendem reabilitar uma habitação que já possuam num Concelho diferente daquele onde vivem actualmente, foi-lhes concedida uma comparticipação a fundo perdido por parte do Estado. Na área da reabilitação residencial, resta referir a participação do Estado através do programa RECRIA, mediante o qual tem sido possível recuperar algum do nosso património habitacional. Obviamente que, para nós, este programa peca pela escassez de recursos que lhe é atribuído e que faz com que o número de fogos reabilitados constitua uma ínfima parte do total de habitações a necessitar de recuperação. Deve igualmente ser realçado que não é sério esperar que, seja qual for o Programa de Reabilitação que se institua, excepto um em que o Estado financie a totalidade das obras a efectuar, os senhorios tenham capacidade, face às rendas irrisórias que recebem, de efectuar a mais simples que seja tentativa de reabilitação do seu próprio património. Gostaria, assim, de sublinhar a ideia que já deixei expressa atrás, de que só o relançamento do mercado de arrendamento urbano pode resolver os principais problemas de que enferma a Habitação no nosso país. Finalmente, quando se fala em subsídios em Portugal, normalmente faz-se referência à miríade de programas de incentivos a empresas de diversos ramos de actividade que nos últimos anos têm sido executados no nosso País. Ora em boa verdade e inexplicavelmente, só um sector de actividade nunca beneficiou de um qualquer regime de incentivos e benefícios ao investimento, modernização e internacionalização: trata-se precisamente do Sector da Construção. 83 Todo o esforço a que as empresas portuguesas de construção têm sido obrigadas a empreender para fazer face não só às crescentes exigências técnicas que vão surgindo, mas também à concorrência que lhes é movida pelas empresas estrangeiras, designadamente as oriundas da União Europeia, mais bem apetrechadas e de maior dimensão, tem sido levado a cabo através dos meios financeiros próprios ou pelo recurso ao endividamento bancário. Pelo contrário, a intervenção do Estado tem muitas vezes contribuído para ampliar essas dificuldades, como são os casos dos consecutivos e generalizados atrasos nos pagamentos da Administração Pública aos empreiteiros, da complexidade burocrática que criou em torno da actividade de construção e da punção fiscal a que sistematicamente sujeita as empresas do Sector da Construção. 84 Professor Sidónio Pardal * Comentador Cabe-me a honra de comentar a comunicação apresentada pelo Exmo. Senhor Eng. Rui Manuel Nogueira Simões, no âmbito deste Colóquio sobre “A política da habitação”, promovido pelo Conselho Económico e Social. A experiência e o saber do orador são predicados que, merecidamente, lhe são reconhecidos. São clarividentes os diagnósticos e pertinentes observações que faz ao sistema da administração urbanística. Por isso, os meus comentários, de modo algum terão a pretensão de refutar os conteúdos da intervenção do ilustre orador e irei enveredar por uma vertente exploratória de soluções alternativas àquilo que não satisfaz nas “políticas de habitação” adoptadas no nosso País nas últimas décadas e consensualmente criticadas. Não está certo fazer-se da questão da habitação uma intervenção urbanística isolada. À luz dos princípios do urbanismo, a cidade e o bairro devem naturalmente ser concebidos segundo um programa de edificação para todas as utilizações, que não só a habitação. A produção de solo urbanizado pelas instituições do Estado e dos Municípios, na sua melhor tradição, contemplava todos os segmentos da procura (serviços, habitação, indústria, equipamentos culturais e outros). Mas relativamente à habitação é da maior importância integrar no mesmo bairro e no mesmo quarteirão, e por vezes até no mesmo lote, espaços que possam servir o leque mais aberto possível de potenciais interessados, que tenham relações de vizinhança positivas, enriquecedoras da vivência urbana e diversificadoras do sistema económico. O confinamento da “política da habitação” à construção de residências, exclusivamente para os escalões sociais mais carenciados, gerou os “dormitórios” e também alimentou o fenómeno da segregação social. A teoria do Urbanismo tem por adquirido o princípio de que a cidade deve ser planeada e construída segundo programas de multiusos, sensíveis às complementaridades, socialmente diversificados, integradores e fomentadores das relações comunicacionais, dos encontros necessários para incrementar as relações de troca e de interajuda. Uma política da habitação só é conseguida quando enquadrada numa estratégia de produção de solo urbanizado e apoiada no desenho urbano completo dos tecidos urbanos. Tal pressupõe a possibilidade do urbanista interferir na configuração do programa para assegurar conformidades, entre este e os princípios da composição, diversificação e flexibilidade de usos e utilizações dos espaços. * UTL e Presidente da Comissão da Contribuição Autárquica. 85 A legislação que obriga as actuais políticas de promoção de habitação pelo Estado é extremamente restritiva e empobrecedora e, curiosamente, mantém-se teimosamente, não obstante não haver ninguém que a defenda! A iniciativa do Estado tem sido orientada para a produção de habitações sociais e desenvolvimento do processo até à entrega do fogo acabado. Seria muito positivo que também produzisse simplesmente espaço urbanizado, lotes infra-estruturados, para serem lançados nos mais diversos segmentos de mercado e também nos programas de assistência social, em regime de auto-construção. Para além das razões urbanísticas e sociais, este procedimento colheria também benefícios económicos, pois permitiria pôr em prática uma política de solos disciplinadora do mercado. Tal política, ao facilitar o acesso a lotes prontos para serem construídos, seria muito vantajosa para os promotores e para o sector da construção civil. Relativamente aos factores que podem ser melhorados para reduzir os custos da construção destacam-se: a) A qualidade dos projectos, no que diz respeito à concepção arquitectónica, soluções técnicas de engenharia, rigor nas medições e na orçamentação. As surpresas que as entidades promotoras têm com erros e omissões são frequentemente passíveis de críticas ao sector projectista. Mas há também os casos em que os preços disparam devido a trabalhos a mais, referentes a alterações programáticas em obra – aqui a responsabilidade é já do dono da obra, que não foi capaz de validar o programa a tempo de não criar perturbações durante a fase de construção. b) A morosidade do processo administrativo de autorização e licenciamento de construções e urbanizações é justamente referida pelo Exmo. Senhor Eng. Nogueira Simões como um factor muito negativo; apontando também uma pertinente acusação ao carácter arbitrário de muitos pareceres técnicos e outros procedimentos. c) As condições de acesso ao crédito, à construção e à compra de habitação, têm evoluído positivamente, constatando-se uma significativa descida das taxas de juro. Contudo aqui, mais uma vez, é necessário ponderar a possibilidade de alargar o âmbito das bonificações a todos os espaços essenciais para o bom desempenho das actividades socioeconómicas. A habitação hoje é tão necessária como o espaço de trabalho. d) A redução dos tempos de construção e a eficiência na gestão da obra são também elementos-chave. A produtividade do trabalho a todos os níveis é um factor que requer um esforço constante de valorização. Nesse sentido, recomendam-se os investimentos na formação e qualificação dos recursos humanos, os quais terão certamente uma tradução no acréscimo de 86 produtividade e competitividade da empresa e também na melhoria merecida dos níveis salariais. Não é saudável que os custos dos materiais de construção registem subidas superiores aos custos salariais. Isto poderá significar que não há uma qualificação e valorização do trabalho. e) As disfunções urbanas devidas a carências de infra-estruturas básicas e ausência de equipamentos sociais induzem desvalorizações do imobiliário e prejudicam seriamente o esforço dos promotores. Daí a importância do planeamento integrado, fundamentador de uma gestão urbanística estratégica para a expansão contínua e optimizada dos aglomerados. f) Relativamente à fiscalidade sobre o imobiliário é consensual o excessivo peso da carga tributária, o anacronismo de impostos como o da Sisa e a desigualdade e injustiça praticada em processos como o da actual Contribuição Autárquica. Cabe, neste âmbito, expressar a necessidade de expurgar os equívocos e irracionalidades da Legislação que apoia e fomenta poderes arbitrários na Administração. Tal é o caso dos diplomas da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional que, enganosamente, usam o pretexto de defenderem os recursos naturais para actuarem de forma perversa, legitimando formas de desordenamento do território ao nível mais primário. A RAN, na sua primeira versão, anunciou-se como defensora dos solos agrícolas, partindo do princípio errado de que só os solos pedologicamente desenvolvidos tinham interesse agrícola. Ignorava que algumas das culturas mais rentáveis do nosso País preferem solos esqueléticos, como é o caso da vinha. Tão pouco admite a crescente capacidade técnica da agricultura para proceder ao melhoramento dos solos. A REN é um inominável disparate, à luz dos mais elementares conceitos da ecologia. Em ambos os casos estamos perante um tipo de diplomas que cultivam o mais obscuro poder ao nível do Administrativo, exercido sobre um direito fundamental que é o direito ao espaço territorial. Acresce que estes dois códices têm servido para legitimar as urbanizações avulsas pelo território, fazendo crer que fora das ditas reservas se está num território negativo e perdido, onde já nada há a salvar. Acontece, porém, ser nos espaços urbanos, confinados a cerca de 4% do território, que se decide a qualidade de vida de cerca de 80% da população. Se estivermos à altura de controlar os espaços urbanos, podemos defender que em 96% do território não vai haver urbanizações e que aí os usos silvestres e agrícolas serão dominantes. Mas permita-me que duvide das intenções ecologistas e ruralistas dos mentores daqueles diplomas, seguramente mais atraídos pelo poder sobre o processo de licenciamento das urbanizações do que em salvaguardar e valorizar as paisagens agro- 87 florestais e os ecossistemas únicos. Estamos, assim, perante um grave problema de ética política e jurídica. 88 Professor Vítor Abrantes * Comentador 1. NOTA PRÉVIA Os comentários que se apresentam sobre a comunicação do Eng. Nogueira Simões ao Colóquio sobre Política da Habitação têm como finalidade sublinhar e, eventualmente, complementar o que de mais importante consideramos estar contido na referida comunicação. A habitação é um pilar fundamental da vida e da estrutura familiar. No mínimo será o local de repouso, sem o qual todas as funções vitais serão certamente muito precárias. Quando se fala sistematicamente nos problemas da educação e da saúde, e quase se ignoram os da habitação, tem-se uma visão desfocada da realidade e das necessidades. A corrida à felicidade, à qualidade global, à máxima qualidade que é a qualidade de vida pressupõe, no mínimo, que se tenha dignamente resolvido a função de habitar. Parece utópico frequentar excelentes escolas, universidades, curar os males do corpo em hospitais perfeitos e habitar em barracas, ilhas, ou mesmo em habitações patológicas. Depois do imobilismo reinante até finais da década de 50, o Estado passa nos finais dos anos 60 a uma fase de clara intervenção; criam-se assim: o FFH – Fundo de Fomento de Habitação, a EPUL – Empresa Pública de Urbanização de Lisboa e a Secretaria do Estado de Habitação; medidas legislativas no domínio dos solos urbanos, do planeamento urbanístico e da construção clandestina foram adoptadas. Após o 25 de Abril, de 1974 a 1976, a intervenção do Estado aumentou: implementaram-se os programas de promoção directa e os contratos de desenvolvimento para a habitação, através do FFH das cooperativas, lançaram-se os programas SAAL e Empréstimos às Câmaras Municipais. Em 1976 cria-se o Ministério da Habitação, os programas anteriormente referidos são praticamente extintos e o financiamento à aquisição de habitação própria torna-se o principal instrumento da política habitacional. Em 1982 o FFH é extinto e substituído pelo FAIH – Fundo de Apoio ao Investimento Habitacional cuja actividade foi de todo inexistente; em 1984 é substituído pelo INH – Instituto Nacional da Habitação que, com um estatuto parabancário retoma o apoio financeiro aos programas de renda económica e da habitação de custos controlados. A revisão do Regime de Arrendamento Urbano (Lei n.º 46/85), a criação do RECRIA – Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (DL 4/88), o apoio à aquisição de Habitação pelos jovens (DL 328-B/86), a elaboração do PDH – Programa de Desenvolvimento da Habitação a Custos Controlados, foram algumas das medidas entretanto tomadas * Faculdade de Engenharia do Porto. 89 mas que contrastaram com outras que denotam a subalternização política do sector, como sejam, a entrega da política de habitação a uma Secretaria de Estado, a insignificância de verbas atribuídas aos principais instrumentos financeiros do sector (PIDDAC – 6,3 e 7,4 milhões de contos, respectivamente em 93 e 94), a insistência da tentativa de transferência de responsabilidade para as Câmaras Municipais e a suposição que o mercado resolverá o problema da carência habitacional. Em finais dos anos 60 as carências habitacionais eram avaliadas em cerca de 500 000 fogos. Trinta anos depois, no virar do milénio, a situação das carências habitacionais mantém-se. Não seremos capazes de enfrentar e resolver este problema que nos coloca na cauda da Europa? Só uma política de habitação assumida com paixão, colocada por todos como prioridade máxima, conduzindo a um programa global, com finalidades, prazos, custos e financiamentos bem definidos, implementados e controlados, permitirá que outros, daqui a 30 anos, não reescrevam o que sonhamos, decretamos, construímos e no final subsistam as mesmas carências. 2. SECTOR DA CONSTRUÇÃO. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO NO INÍCIO DOS ANOS 90 Verifica-se que, no início dos anos 90, a crise económica se reflectiu mais profundamente no sector da construção a nível europeu do que em Portugal. De facto, a Europa vem desde 1991 a ter evoluções negativas da produção no sector da construção, atingindo o seu máximo na previsão de 1993 (- 3,1 %), enquanto que Portugal mesmo em desaceleração atinge na previsão de 1993 um crescimento nulo. 90 Fig. 1. - Evolução da Produção do Sector da Construção (%) (%) 14.0 12.0 10.4 CE+EFTA * PORTUGAL 10.0 8.0 5.3 6.0 3.7 4.0 4.5 3.4 2.5 2.5 2.0 0.0 0.0 -0.1 -2.0 -0.3 -0.6 -4.0 -3.1 -6.0 1988 1989 1990 1991 1992 1993(E) 1994(P) Fonte: Relatório AECOPS da Construção 1993/Euroconstruct (E) Estimativa (P) Previsão * Luxemburgo e Grécia não incluídos A evolução do comportamento do sector da construção é, neste início de década, apesar de tudo, menos desfavorável que o desempenho geral da economia portuguesa. Por tal motivo, o peso da construção na economia apresenta índices que reforçam a sua importância. O sector da construção é muitas vezes caracterizado em função dos seus diversos intervenientes – promotores, projectistas e consultores, construtores, produtores e comerciantes de materiais e componentes e utilizadores – cuja acção directa se exerce nas diferentes fases dos empreendimentos da construção – promoção e planeamento, concepção e projecto, execução da obra e utilização. Outros intervenientes há que actuam de forma indirecta, exercendo também influência importante no desenrolar de todo o processo construtivo – financiadores, seguradores e autoridades oficiais. 91 Fig. 2. - Peso da Construção na Economia (%) 1 6 .0 (% ) 1 3 .6 1 3 .2 1 4 .0 1 2 .0 1 0 .0 8 .0 7 .8 8 .0 6 .0 4 .0 2 .0 0 .0 1990 1993 V B P /P IB EMPREGO Fonte: Relatório AECOPS da Construção 1993/ Ingenium Julho - Agosto 1994 A desagregação do valor bruto da produção do sector da construção pelos subsectores – edifícios e engenharia civil mostra a evolução e o peso de cada um deles. Fig. 3. - Valor Bruto da Produção do Sector da Construção (Preços Correntes - Milhões de Contos) milhões de contos 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1988 1989 ENG. CIVIL 1990 1991 EDIFÍCIOS 1992 1993(E) TOTAL Fonte: Relatório AECOPS da Construção 1993 (E) Estimativa Considerando o volume de produção, a variação em % sobre o ano anterior mostra a estagnação da produção dos edifícios (a estimativa para 1993 era mesmo negativa). Somente a produção relativa à engenharia civil permitiu que os valores atingidos para o crescimento da globalidade do sector da construção em 1993 não fossem negativos. 92 Fig. 4. - Evolução do Volume de Produção do Sector da Construção (%) 18.0 (%) 15.0 16.0 14.0 12.5 12.0 10.0 10.0 9.0 8.4 8.0 6.0 4.0 3.4 4.0 2.0 3.4 1.6 0.7 0.1 0.0 -2.0 -2.2 -4.0 1988 1989 1990 EDIFÍCIOS 1991 1992 1993(E) ENG. CIVIL Fonte: Relatório AECOPS da Construção (E) Estimativa Se considerarmos a repartição percentual do valor bruto da produção pelos diferentes subsectores, verifica-se que o peso da engenharia civil tem vindo constantemente a aumentar nos últimos anos, em detrimento dos edifícios. Para além da caracterização geral e por subsectores, anteriormente feita, é interessante referir outros indicadores que poderão complementar o diagnóstico actual do sector da construção. Assim, considerando ainda as Empresas de Construção, verifica-se que uma maioria significativa são de pequena dimensão (cerca de 75% com menos de 10 pessoas ao serviço) e o seu número tem aumentado nos últimos anos; pelo contrário, o número das Empresas de maior dimensão tem-se mantido praticamente inalterável, e por conseguinte o seu peso percentual tem diminuído. Relativamente à actividade dos Projectistas e Consultores 1 , admite-se que corresponda a cerca de 0,9% do PIB o que, em 1992, significaria um volume de cerca de 100 milhões de contos. Os Projectistas e Consultores constituem um dos intervenientes decisivos na construção (50% das anomalias na construção são atribuídas a deficiências nos projectos) não só pelo valor percentual do PIB referido, mas por constituírem emprego para milhares de pessoas – arquitectos, engenheiros, desenhadores e outros técnicos. 1 APPC – Associação Portuguesa de Projectistas e Consultores – O Sector de Consultoria em Portugal - vol.1 - 1993. 93 Fig. 5. - Repartição das Empresas de Construção em Função do Pessoal ao Serviço 100.0 (%) 80.0 72.6 74.4 73.0 75.6 60.0 <= 10 pessoas >= 100 pessoas 40.0 20.0 1.7 1.7 1.4 1.3 0.0 1989 1990 1991 1992 Fonte:Relatório AECOPS da Construção 1993/DEMESS, Síntese Quadros de Pessoal Relativamente a outro subsector da construção – os comerciantes dos materiais de construção – os dados obtidos 2 apontam para a existência de cerca de 2.000 Empresas a que corresponderão cerca de 20.000 trabalhadores. Face à abertura ao exterior que a economia portuguesa apresenta, é lógico pensarse que será a evolução da conjuntura económica externa que irá condicionar a evolução da nossa economia. Assim, pode afirmar-se que apenas um forte crescimento das exportações, da ordem dos 9%, poderá sustentar o crescimento esperado do produto interno a uma taxa média anual de 2,8% (dos quais 0,8% serão gerados pelos fundos comunitários). A evolução do sector da construção, dependendo da forma como evoluir o referido cenário económico externo, poderá ser condicionada no caso das obras de Engenharia Civil pelas seguintes influências 3 : a) Forte incentivo ao investimento público em construção com origem no II Quadro Comunitário de Apoio – QCA – estimado em 2.355 milhões de contos para o período 94/99, salientando-se em particular as grandes obras rodoviárias, ferroviárias, metro e gás natural; b) Afluxo de capitais privados para o financiamento de obras públicas; c) Investimento significativo em infra-estruturas e em acções de despoluição e tratamento de água. No que diz respeito às obras privadas as alterações decorrentes das previsões do QCA consistem num maior peso (% do PIB) da indústria transformadora (27,1 → 2 APCMC – Associação Portuguesa de Comerciantes de Materiais de Construção). ANEOP – Associação Nacional de Obras Públicas – A Construção na Viragem do Século. Perspectivas de Evolução 1994-1999. 3 94 27,8) e principalmente dos serviços comerciais (35,6 → 37,5) em detrimento do sector agrícola (4,9 → 3,5) e dos serviços públicos (15,0 → 13,5). É previsível que as referidas alterações dêem origem às seguintes implicações: a) Novas localizações das actividades produtivas; b) Novos pólos de crescimento da rede urbana; c) Novas actividades ligadas ao lazer. Com o objectivo de fazer uma previsão da evolução da construção de 94 a 99, a ANEOP baseou-se nos seguintes pressupostos: − Plano de financiamento do QCA 94/99 2.250 milhões de contos − Relação entre os fundos comunitários e o investimento na construção 48% − Comparticipação nacional dos fundos comunitários no sector da construção 33% − Investimento público não co-financiado evoluindo a uma taxa constante 2,8% − Evolução do subsector dos edifícios a taxas moderadas Com base nestes pressupostos e tendo em conta o cronograma de distribuição das comparticipações comunitárias a ANEOP apresentou um cenário dos investimentos na construção ao longo dos anos de vigência do II QCA. Fig. 6. - Valor Bruto da Produção do Sector da Construção (Milhões de Contos a Preços Constantes de 1994) milhões de contos 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1994 1995 obras públicas 1996 1997 residencial 1998 1999 não residencial Fonte: ANEOP – A Construção na Viragem do Século. Perspectivas de Evolução 1994-1999 95 Fig.7. - Taxa de Variação Real da Produção do Sector da Construção 10.0 9.2 (%) 8.0 6.0 5.2 4.8 4.3 4.0 3.9 4.0 2.8 2.0 1.5 2.0 1.2 3.3 2.5 2.7 2.5 1.5 2.4 2.4 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 -0.5 -2.0 1994 1995 obras públicas 1996 residencial 1997 não residencial 1998 total 1999 Fonte: ANEOP – A Construção na Viragem do Século. Perspectivas de Evolução 1994-1999 Confirmando-se as previsões apontadas ter-se-ia para o sector da construção uma taxa de crescimento média anual de 2,7 %, ligeiramente inferior à previsão no QCA para o PIB - 2,8%. 3. EVOLUÇÃO RECENTE DO SUB-SECTOR DA HABITAÇÃO A partir de 1994, tal como o Eng. Nogueira Simões afirma na sua comunicação, verificou-se uma apreciável descida das taxas de juro de longo prazo o que de imediato se repercute na procura de habitação. Assim, é afirmado que em 1996 o valor do crédito concedido para a aquisição de habitação ultrapassou os mil milhões de contos para um número de contratos próximo dos 122 mil; estes valores traduziriam uma variação relativa a 1995 de crescimentos de mais de 33% em valor e mais de 25% no número de contratos. Apesar das descidas das taxas de juro, e mesmo tendo em conta novas descidas anunciadas (taxas de crédito à habitação indexadas à Lisbor que poderá cair para patamares entre 5,3 e 5,6% em finais de 1997), é, no entanto, evidente que o peso dos encargos inerentes à compra de uma habitação no rendimento disponível revela-se excessivo. Este incentivo à compra de habitação que, tal como referimos, foi o principal objectivo da Política de Habitação em meados dos anos 80, tem conduzido a uma grande distorção do mercado. Assim se passou de 39,8% dos fogos usados como residência habitual em 1981, e que eram arrendados, para um valor de 18,1%. De facto, verifica-se que enquanto em 1973, 50,3% dos fogos concluídos se destinavam a arrendamento, nos últimos 20 anos essa percentagem deve variar entre 1% a 2% dos fogos concluídos em cada ano. 96 A alteração referida do regime de arrendamento foi insuficiente para corrigir as distorções acumuladas; em 1991 verifica-se que 10,6% do total dos fogos arrendados tem uma renda inferior a 1.000 $00. Complementarmente verifica-se que relativamente a habitação social, e comparando o parque de arrendamento social dos Estados-membros da CE, Portugal apresenta em 1981 um dos valores mais baixos (11,6 habitações/1 000 hab), enquanto países como a França, Reino Unido, Alemanha apresentam valores 6 a 9 vezes superiores. Provavelmente a exiguidade do valor referido para Portugal é hoje ainda mais evidente, se tivermos em conta que, por exemplo, o parque habitacional do IGAPHE passou de 36 243 fogos em 87 para 25 354 em 96 e em 91 a administração central não promoveu directamente nenhum fogo. Alguns sinais parecem ser de mudança, como sejam o IAJ – Incentivo ao Arrendamento por Jovens e o anúncio pela Senhora Secretária do Estado da Habitação e Comunicações, na abertura do presente colóquio, de um pacote de medidas a saírem brevemente para fomento do incentivo ao arrendamento. As acções do Estado no domínio da Habitação, nos últimos anos têm sido, pois, centradas em acordos, contratos e comparticipações entre o INH, o IGAPHE, os municípios, as cooperativas e as empresas. Refiram-se o programa de realojamento (Dec.-Lei n.º 226/87), o PER– programa de erradicação de barracas, e os CDH’s – contratos de desenvolvimento para Habitação, envolvendo no seu conjunto mais de 100 000 fogos. As carências de fogos dizem também respeito à degradação dos fogos, quer pela sua idade, quer pela falta de qualidade, quer ainda pela falta de infra-estruturas (água canalizada, electricidade, etc.). Se nos reportarmos à idade, verifica-se que em 1991, dos 3 053 825 fogos ocupados como residência habitual, 12,3% foram construídos antes de 1919, e mais 12,1% foram construídos entre 1919 e 1945, ou seja, cerca de 25% dos fogos actualmente usados têm mais de 50 anos. Verifica-se por outro lado que 18,2% ainda não têm casa de banho e 11,3% não possuem água canalizada. A reabilitação é pois um mercado emergente, mas ainda com uma expressão ténue – 7% da produção total, quando no conjunto da Europa representa cerca de 40%. O programa RECRIA instituído em 1988, programa destinado à reabilitação de imóveis arrendados, tem tido pouca aplicação. Entre 88 e 96 o número de fogos com processos deferidos foi de 14 446, dos quais só 9 043 foram concluídos (pouco mais de 1 000 fogos/ano). Em 96 introduziram-se alterações ao RECRIA procurando a sua flexibilização, originando-se os programas REHABITA e RECRIP. 97 4. A QUALIDADE NA CONSTRUÇÃO E A REGULAMENTAÇÃO Quando se fala na qualidade na construção deve ter-se presente que se trata dum sector com características muito específicas, destacando-se as seguintes: – A diversidade dos intervenientes nas várias fases do processo de construção; – A grande dispersão das obras agravada, na maioria dos casos, pela pequena produção em série; – O carácter itinerante da indústria da construção com sucessivas mudanças de estaleiro, de tipo de obra e de pessoal; – A multiplicidade de materiais, componentes e tecnologias utilizadas bem como dos respectivos fornecedores. Se nos reportarmos à primeira característica referida – a diversidade dos intervenientes – assumem papel de relevo as suas atribuições, competências e responsabilidades. Isso mesmo é salientado pelo Eng. Nogueira Simões, na sua comunicação, quando se refere à futura Lei de Edificações (fará parte dum anunciado programa de diplomas em preparação), referindo que devem ser tidos em consideração os seguintes aspectos: – Definição das diversas fases que constituem o ciclo construtivo, com particular ênfase para a concepção e execução; – Identificação de todos os agentes intervenientes neste ciclo; – Delimitação do âmbito de actuação e intervenção de cada um de tais agentes, de modo a que resultem explicitadas as respectivas funções e desempenho; – Indicações do tipo de responsabilidade dos vários intervenientes acima mencionados. De facto, embora as competências dos intervenientes se encontrem regulamentadas através de diplomas legais de que se destaca o Decreto-Lei n.º 235/86, no caso das obras públicas, e, no caso das obras particulares, as disposições do Código Civil confiram ampla liberdade de contratação entre partes, trata-se de matéria pertinente para a concepção e execução da construção com qualidade e, por isso, deve merecer uma ampla reflexão. A qualidade dos empreendimentos – objectos finais da actividade de construção – pressupõe uma gestão global apoiada em princípios e metodologias bem definidas, destacando-se como instrumentos dessa política de qualidade a normalização, a certificação e a regulamentação. O Eng. Nogueira Simões conclui mesmo com os seguintes aspectos a ter em conta na referida Lei de Edificações: – Enunciação dos requisitos técnicos essenciais a ser assegurados na construção; 98 – Consagração de uma garantia mínima inerente ao produto final, explicitandose os direitos que assistem ao consumidor final/comprador. Se queremos enfrentar os desafios do futuro milénio, se não queremos legar uma herança dum património que apesar de novo está degradado, e como tal será interiormente prejudicial à saúde e exteriormente reflectirá uma desagradável poluição arquitectónica, torna-se pertinente centrar a atenção na responsabilização e ética dos vários intervenientes, na divulgação e aplicação da regulamentação e das especificações técnicas e no desenvolvimento de sistemas de garantia de qualidade. O incremento da qualidade, a satisfação de requisitos mais exigentes, no mínimo, a aplicação dos regulamentos são muitas vezes apontados como factores para o agravamento do custo de construção. Trata-se dum falso problema, pois basta atender ao que se passa nas outras indústrias, onde os produtos cada vez com maior qualidade, porque os utilizadores assim o exigem e a concorrência a isso obriga, não significam na maior parte das vezes, custos acrescidos. De facto, o que acontece na construção é que quase sempre se aliam a não consideração dos custos de manutenção e de utilização durante a vida útil da construção e a inexistência de qualquer garantia. Nessas condições a análise do binómio custo/qualidade é sempre difícil e, na falta desse tipo de avaliação o dono-deobra sistematicamente ignora a qualidade, maximizando o objectivo da diminuição dos custos iniciais, ou seja, dos custos da concepção e execução da obra. Refere ainda o Eng. Nogueira Simões duas Leis, que se considera serem fundamentais: a Lei de Bases do Ordenamento do Território, cuja discussão pública acaba de se concluir e a revisão dos regimes de Licenciamento Municipal das operações de loteamento e de obras particulares. A necessidade de se encontrarem soluções que tornem o processo de licenciamento menos pesado, sob o ponto de vista burocrático, e mais transparente, no tocante aos aspectos dependentes de apreciação e decisão por parte das entidades licenciadoras, tal como é referido pelo Eng. Nogueira Simões, merece o nosso total apoio, mas requer uma clara responsabilização dos intervenientes e a existência de processos eficazes de actuação nos casos dolosos. É por demais evidente que os termos de responsabilidade assinados pelos projectistas efectivamente não os responsabilizam pois verifica-se que, cerca de 50% das anomalias que ocorrem nas habitações são devidas a erros nas fases de concepção/projecto. Para tudo isto muito contribui, por exemplo, a total inadequação que a qualificação da Ordem dos Engenheiros atribui e, no domínio da execução, a inexistência dum controlo dos alvarás das empresas de construção, que evidencie as não-conformidades que as obras realizadas pelos possuidores desses alvarás muitas vezes apresentam. Refira-se, por último, que a optimização da relação do referido binómio custo/qualidade na construção passa pela diminuição dos custos da não-qualidade que poderão representar mais de 10% do volume de negócios das empresas. 99 No sector da construção as formas mais correntes de manifestações de nãoqualidade são as anomalias que ocorrem aquando da sua utilização. Mas a nãoqualidade não se limita a esses defeitos; os erros comerciais de sobrestima da procura que se traduzem por construções não vendidas ou as alterações na execução das obras vão resultar em não-qualidade; os projectos incompletos, as inúmeras alterações dos projectos, os conflitos, os acidentes de trabalho, o tempo perdido em reuniões mal conduzidas, os custos subavaliados, os erros na quantificação de dificuldades, os erros de aprovisionamento, as insuficiências de materiais previstos, os transportes suplementares, etc., são outros tantos factores que evidenciam a não qualidade. A redução da não-qualidade passa por investimentos na prevenção – serviço de qualidade, formação de pessoal, elaboração e uso de procedimentos, aperfeiçoamento de métodos de trabalho, estudo de medidas de segurança, selecção e acompanhamento de fornecedores, preparação de planos de controlo, realização de protótipos, planificação e manutenção do material – e por investimentos na verificação e/ou no controlo que são o complemento indispensável aos investimentos na prevenção – verificação de materiais e/ou processos não tradicionais, controlo de execução dos trabalhos, auditorias (do produto e dos processos), ensaios (no local e em laboratórios), verificação dos protótipos. Sempre que os custos da não-qualidade são contabilizados, o que em Portugal praticamente nunca acontece, verifica-se que os custos dos investimentos na prevenção e no controlo são amplamente recuperados. 5. CONCLUSÕES A parte final da comunicação do Eng. Nogueira Simões aborda, em particular, os aspectos que estão relacionados com a necessidade de racionalizar a política fiscal e parafiscal aplicada ao sector da construção. Nesse domínio sugerem-se algumas medidas relativas a deduções no IRS, e outras relativas à revisão da Contribuição Autárquica. Para concluir esta nossa modesta contribuição podemos sintetizar alguns instrumentos que de forma consensual são a base duma política de habitação: – Ordenamento do território estruturado; – Política dos solos ágil e eficaz; – Financiamento diversificado; – Sistema fiscal racionalizado; – Fomento do mercado do arrendamento; – Manutenção e reabilitação; – Promoção da qualidade. 100 O combate à exclusão social e à pobreza passam também por uma política de habitação que definitivamente resolva as enormes carências ainda existentes. REFERÊNCIAS ⎯ V. Abrantes – “Qualidade na Construção” – Provas de Agregação – Lição de Síntese – FEUP, 1992 e Revista Materiais de Construção N.º 47, Maio/Junho e N.º 48, Junho/Agosto, 1993. ⎯ Livro Branco Sobre a Política de Habitação em Portugal – Encontro Nacional de Habitação – Lisboa, 1993. ⎯ V. Abrantes – Livro Verde sobre a Cooperação Ensino Superior – Empresa. “Sector da Construção” – CESE – Conselho para a Cooperação Ensino Superior - Empresa – Porto, 1994. ⎯ M. Clara Mendes – “Política de Habitação: Evolução Recente, Situação Actual e Perspectivas” – CES - Conselho Económico e Social, Colóquio “A Política de Habitação” – Lisboa, 1997. 101 Painel Habitação Social 102 HABITAÇÃO SOCIAL - Uma abordagem Sistemática Dr. Eduardo Vilaça * Relator 1. INTRODUÇÃO Embora o presente trabalho possa ter um alcance vasto em função da abrangência do tema, procuremos logo de início definir e delimitar bem os parâmetros da temática a fim de se evitar uma exorbitância desnecessária do que sistematicamente aqui se pode tratar. Comecemos por abordar o próprio conceito de habitação social, tal como ele é definido na Portaria n.º 828/88, de 29 de Dezembro: “habitação de custos controlados promovida com apoio financeiro do Estado, nomeadamente pelas Câmara Municipais, Cooperativas de Habitação, Empresas Privadas e Instituições Particulares de Solidariedade Social, destinadas à venda ou arrendamento e as que obedeçam aos limites de área bruta, custo de construção e preços de venda fixados”. A ideia consagrada neste diploma legal dissocia claramente a habitação de custos controlados da habitação social tal como era entendida. Palavras como “família”, “pessoa” “população” não aparecem expressas neste conceito, que traduz essencialmente uma vertente técnica em termos construtivos e financeiros e evita referências aos possíveis destinatários, donde se poderá depreender em termos práticos que qualquer pessoa/família poderá ter acesso a este tipo de habitação desde que esteja interessada. Com efeito, assim acontece, como veremos mais adiante. Muitas eram as vertentes em que a temática da habitação social poderia aqui ser tratada; a promoção, os promotores, o projecto urbanístico e arquitectónico, a construção, a aquisição, o processo de realojamento, a apropriação e a gestão do fogo/bairro, o financiamento e condicionantes, os destinatários (população/família) e outros. No entanto, as limitações de um trabalho deste tipo e o interesse de actualização da problemática levam-nos a que a escolha recaia essencialmente no processo de promoção/financiamento e nas evoluções e dinâmicas mais recentes, numa tentativa de abordagem dos segmentos da população abrangidos pelas actuais medidas em vigor, sem prejuízo da pertinência de algumas questões, que se julgam mais controversas no actual momento conjuntural. Não iniciaremos, contudo, este trabalho sem abordar de uma forma sistematizada e sucinta a “um pouco de história da habitação social” para que se tenha uma noção das alterações e mudanças da política de habitação para o sector nas últimas décadas. * Presidente do INH - Instituto Nacional de Habitação. 103 2. UM POUCO DE HISTÓRIA Não sendo embora objectivo ou intenção desta breve exposição proceder à descrição e análise da evolução histórica, havida em Portugal, no que respeita à problemática da habitação destinada a população de menores recursos económicos, consideramos todavia, importante realçar alguns aspectos mais significativos do que ocorreu nesta área até 1984, mais concretamente até à criação do Instituto Nacional de Habitação, aprovada através do Decreto-Lei n.º 177/84, de 25 de Maio. Para este efeito, numa divisão temporal de cariz necessariamente subjectivo, parece-nos ser de distinguir os seguintes períodos: – período anterior à criação do Fundo Fomento de Habitação (1969); – período compreendido entre a criação do Fundo Fomento de Habitação e a instauração do regime democrático (1974); – período decorrido entre 1974 e 1980; – período posterior a 1980. 2.1. Período anterior à criação do Fundo Fomento de Habitação (1969) O problema da habitação para população de estratos económico-sociais mais baixos apenas se coloca com alguma acuidade, após o início do processo de industrialização do país, com a consequente migração para os centros urbanos industrializados de famílias e indivíduos de origem rural, os quais, por via do custo das habitações, não podiam aceder a condições de alojamento aceitáveis nessas cidades ou aglomerados urbanos para onde se haviam deslocado em busca de melhores condições de vida. Todavia, para além de algumas vilas ou bairros operários promovidos por iniciativa particular, é somente após o término da 1.ª Grande Guerra que o Estado, nomeadamente em Lisboa, inicia a construção de bairros sociais (Arco do Cego e Ajuda) que viriam a estar concluídos apenas na década de 30. É pois, já com o Estado Novo que, embora de forma algo incipiente e nos termos dos pressupostos políticos e ideológicos que alicerçavam e fundamentavam o regime, se começa a concretizar uma actuação estatal directa neste domínio da habitação para populações e famílias carenciadas. Tal actuação concretizou-se na construção de variados bairros de natureza social, designadamente em Lisboa e nas suas, ao tempo, áreas limítrofes, ao abrigo de diversos programas e regimes, promovidos pelos organismos da estrutura corporativa do Estado, agrupados e sob tutela do Ministério das Corporações e Previdência Social. Sem pretendermos ser exaustivos nesta matéria são de assinalar os programas de construção de casas económicas, a atribuir em regime de propriedade resolúvel, 104 criado pelo Decreto-Lei n.º 23052, de 23 de Setembro de 1933, de casas de renda económica (Lei n.º 2007, de 7 de Maio de 1945) de renda limitada (Decreto-Lei n.º 36212, de 7 de Abril de 1947), a atribuir em regime de arrendamento, e ainda de casas desmontáveis, casas para famílias pobres e desalojadas e casas para pescadores (Decretos-Lei n.ºs 28912, de 12 de Agosto de 1938, 34486, de 6 de Abril de 1945, 35732, de 4 de Julho de 1946, 40616, de 28 de Maio de 1956, etc.), todas elas atribuíveis em regime de ocupação a título precário. De referir ainda o programa de auto-construção de habitações, instituído pelo Decreto-Lei n.º 44645, de 25 de Outubro de 1962, o qual veio a ser objecto de uma tentativa de relançamento, com algum sucesso inicial, após 1974. Numa análise resumida da actividade ocorrida neste período, apesar desta diversidade de programas e regimes, verifica-se a acentuação das carências de alojamento destes estratos populacionais, bem como a degradação do parque imobiliário e um significativo aparecimento de fenómenos de “construção clandestina”. 2.2. Período compreendido entre a criação do Fundo Fomento de Habitação (1969) e a instauração do regime democrático (1974) A insuficiência dos esforços produzidos no período anterior para colmatar ou sequer não deixar agravar os problemas habitacionais das famílias de menores recursos económicos, tornou evidente a necessidade de uma actuação mais forte e uma centralização significativa do Estado neste domínio, bem como a modernização e racionalização das estruturas governamentais e corporativas existentes. Nesta sequência, o Decreto-Lei n.º 49033, de 28 de Maio de 1969, veio criar o Fundo Fomento de Habitação com um duplo objectivo, a saber: – unificar os serviços que, no Ministério das Obras Públicas, tinham competência em matéria de habitação, por forma a conseguir maior eficácia na sua actuação; – concentrar o estudo da problemática social da habitação num único organismo que, pela sua inserção funcional, tornasse possível uma visão conjugada da temática da habitação e do urbanismo. Em 1972, mais concretamente em 30 de Dezembro, através do Decreto-Lei n.º 587/72, é revista a Lei Orgânica do Fundo Fomento de Habitação, passando o mesmo a integrar também o património e atribuições até então pertencentes às instituições de previdência, nomeadamente, à Federação das Caixas de Previdência-Habitações Económicas, que, exercendo funções no domínio da habitação, em virtude de se encontrarem sob tutela do Ministério das Corporações e Previdência Social, não haviam sido objecto da unificação de organismos pretendida obter aquando da criação do Fundo. 105 Da simples leitura das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 587/72, verificase a grande extensão das competências e atribuições do Fundo de Fomento de Habitação, as quais abarcavam: – o estudo sistemático da problemática da habitação, designadamente, a promoção de inquéritos destinados a manter actualizado o conhecimento dos problemas habitacionais, o estudo das soluções habitacionais mais adequadas, tendo em atenção as carências, diversidades regionais e os aspectos técnicos da construção, e a elaboração de legislação relativa a esta matéria; – a coordenação das iniciativas respeitantes ao sector, nomeadamente, a coordenação, em termos de planeamento, de todas as iniciativas de resolução do problema habitacional, a colaboração com entidades que se propunham contribuir para a execução da política habitacional, designadamente Câmaras Municipais e Misericórdias, a regulamentação dos empréstimos concedidos ao abrigo dos programas mencionados em 1. da presente exposição e, ainda, dos atribuídos, para idênticos fins, pela Caixa de Previdência do Ministério da Educação Nacional e Cofre de Previdência do Ministério das Finanças, e, por último, a definição de orientações gerais e coordenação das intervenções dos serviços sociais dos diversos Ministérios, de organismos autónomos e de empresas públicas no domínio da habitação; – a execução das medidas de política habitacional da responsabilidade do Estado, entre os quais, a aquisição e urbanização de terrenos para construção de casas de habitação, a promoção directa da construção desses mesmos fogos, a alienação de terrenos e habitações, e a concessão a entidades públicas ou privadas, para a execução de programas habitacionais de interesse social, de subsídios, reembolsáveis ou não, bem como de empréstimos, fixando as respectivas condições de juros e prazos de amortização. Verifica-se assim, que as competências do Fundo de Fomento da Habitação, no domínio específico da execução da política habitacional, englobavam áreas tão diversas quanto: – a coordenação da política habitacional, em termos de planeamento; – a regulamentação dos empréstimos a conceder pelos organismos da previdência dos diversos Ministérios; – a aquisição, também por via de expropriações sistemáticas de áreas consideráveis (Planos Integrados), de terrenos para construção e sua urbanização; 106 – a promoção directa nesses terrenos de casas de habitação ou a sua cedência, para idênticos fins, a entidades públicas ou privadas: e – a concessão a essas mesmas entidades, tendo em vista a execução de programas habitacionais sociais, de subsídios e empréstimos. Num balanço final deste período, necessariamente sucinto e, conforme já atrás referido, algo subjectivo, constata-se que, apesar deste enorme acervo de competências e atribuições, e, talvez, por via da recessão económica mundial ocorrida no início da década de 70, o Fundo Fomento de Habitação não realizou, até 1974, qualquer empreendimento significativo, em termos de promoção habitacional directa, tendo também sido bastante diminuta a sua actividade na área do apoio técnico e financeiro a outras entidades intervenientes na execução de programas habitacionais. Por outro lado, até àquela data, os processos de expropriação de terrenos destinados aos Planos Integrados (empreendimentos de grande dimensão, superior a 1.000 fogos, situados em núcleos urbanos significativos, concebidos com o objectivo de satisfazer as necessidades de alojamento dos trabalhadores e seus agregados familiares, empregados nas indústrias e serviços que no início da década de 70, se encontravam em franco desenvolvimento) encontravam-se também e ainda numa fase incipiente. 2.3. Período decorrido entre 1974 e 1980 No período ora em análise, há que realçar primeiramente, a forte agitação social, política e económica que, naturalmente, a país atravessou, atendendo ao ambiente revolucionário que, em parte desse mesmo período, se viveu. Esta agitação, com as virtudes e defeitos de todos conhecidos, conduziu no domínio da política habitacional, mormente, no que concerne à habitação social, à dinamização e criação, sob a égide do Fundo de Fomento de Habitação, de alguns programas habitacionais de inegável impacto, cujos resultados mais ou menos conseguidos têm necessariamente que ser analisados à luz da complexa situação política então vivida, com sucessivas mudanças governamentais com reflexos ao nível das orientações políticas e da designação dos membros dos órgãos dirigentes dos organismos estatais existentes no sector, bem como das crises económico-financeiras ocorridas, nomeadamente, nos anos de 1978 e 1979. Aspecto importante a realçar tem a ver com a consagração constitucional do “direito à habitação” (v. artigo 65.º da Constituição da República Portuguesa), o qual se constituiu como objectivo e norma de orientação da actuação do Estado nesta área ou domínio da promoção de alojamento para os mais carenciados. Assim, no período em causa e com incidência directa na política de habitação social, há a realçar: 107 – criação do Programa SAAL tendo em vista o apoio à organização e iniciativa das populações dos bairros de lata, barracas e outras situações degradadas de alojamento no sentido da construção de habitações condignas; – relançamento do cooperativismo habitacional; – reforço dos programas de habitação social, promovidos directamente pelo Fundo de Fomento de Habitação; – criação de um programa de apoio técnico e financeiro às Câmaras Municipais para a construção de empreendimentos de habitação social (v. Decretos-Lei n.ºs. 658/74, de 23 de Novembro, e 817/76, de 11 de Novembro); – instituição do regime dos contratos de desenvolvimento para habitação, com os quais se pretendia financiar a promoção privada de habitação de custos controlados (v. Decreto-Lei n.º 663/74, de 26 de Novembro); – implementação do programa de recuperação de imóveis degradados (PRID), com o objectivo de conceder empréstimos bonificados para a conservação e beneficiação de habitações. Dos programas atrás mencionados, parece-nos de interesse destacar: 2.3.1. Promoção Directa Como a própria denominação o indica, este programa englobava os empreendimentos habitacionais directamente construídos pelo Fundo de Fomento de Habitação, sendo os fogos atribuídos, pelo próprio Fundo ou pelos Serviços Municipais de Habitação respectivos, em regime de arrendamento ou de propriedade resolúvel. O programa compreendia não só os grandes empreendimentos localizados nos Planos Integrados (Almada, Zambujal, Porto, Aveiro, etc.), que já tivemos oportunidade de referir, mas também aqueles que, de menor dimensão, se implantaram um pouco por todo o país. Os resultados práticos deste programa foram de certo modo decepcionantes, em termos de execução dos objectivos inicialmente propostos, numa prática não totalmente isenta de erros e que, em certa medida, terá levado ao abandono posterior da política de promoção directa de fogos por parte da Administração Central. Não obstante, a aquisição, em muitos casos por via de expropriação sistemática, dos terrenos indispensáveis à concretização dos Planos Integrados, foi efectuada, constituindo estes, por via da concretização apenas parcial do programa, um acervo de solos ainda hoje considerável, passível de ser utilizado na execução das actuais políticas habitacionais. 108 2.3.2. Promoção Municipal Este programa, criado pelo Decreto-Lei n.º 658/74, de 23 de Novembro, e posteriormente modificado pelo Decreto-Lei n.º 817/76, de 11 de Novembro, visava a concessão de empréstimos bonificados aos municípios para a concretização de empreendimentos, cujos fogos se destinavam a ser comercializados, nos termos do regime de renda limitada. Tratou-se de um programa de assinalável sucesso que, embora em moldes diversos e sob a forma de outros regimes legais de crédito, ainda hoje é prosseguido pelos organismos estatais que se encarregam da execução da política habitacional do Estado. 2.3.3. Promoção Cooperativa Após 1974 e com o auxílio e apoio técnico do Fundo de Fomento da Habitação, verificou-se um rápido desenvolvimento das cooperativas de habitação, ao qual também não foi alheia a revisão do seu regime jurídico, operado com a publicação dos Decretos-Lei n.ºs 730/74, de 20 de Dezembro, e 737-A/74, de 23 de Dezembro, sendo as mesmas actualmente um dos pilares fundamentais para a prossecução de uma qualquer política de habitação destinada a populações de menores recursos económicos. Ao longo deste período, as citadas cooperativas, bem como as associações de moradores (realidade associativa de duração mais efémera), beneficiaram de apoios financeiros à construção de habitações de custos controlados destinadas aos seus associados e atribuídas em regime de propriedade individual ou colectiva (arrendamento) (v. Decretos-Lei n.ºs. 737-A/74, de 23 de Dezembro, 515/77, de 14 de Dezembro, 268/78, de 31 de Agosto, e a Portaria n.º 256/79, de 2 de Junho). Também este programa, tendo em atenção a conjuntura política e económica do país durante o período em referência, teve razoável êxito e, de forma idêntica à ocorrida com a promoção municipal, continuam as cooperativas de habitação e construção a beneficiar de apoios financeiros do Estado na satisfação das necessidades habitacionais dos seus associados. 2.3.4. Contratos de Desenvolvimento para Habitação Por via do Decreto-Lei n.º 663/74, de 26 de Novembro, criaram-se os denominados Contratos de Desenvolvimento para Habitação (CDH), a celebrar entre o Fundo de Fomento da Habitação, as Instituições Especiais de Crédito e empresas privadas de construção civil, com vista ao financiamento bonificado à construção por esta última de habitação social (custos controlados). Deste modo, pretendia-se não só associar a iniciativa privada à prossecução da política habitacional do Estado, mas também constituir uma via de saída da recessão 109 profunda que havia atingido o sector da construção civil desde o início da década de 70. O programa, que, mais uma vez e ainda que sob diferente regime legal de crédito, é mantido e prosseguido pela Administração Indirecta do Estado (v. Decreto-Lei n.º 165/93, de 7 de Maio), foi, ao longo deste período, sucessivamente revisto, através dos Decretos-Lei n.ºs 638/76, de 29 de Julho, 412-A/77, de 29 de Setembro e 344/79, de 28 de Agosto. 2.3.5. Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) Através do Despacho dos Ministérios da Administração Interna e do Equipamento Social e do Ambiente, de 31 de Julho de 1974, publicado no DR, I Série, de 6 de Agosto de 1974, foi organizado, junto do Fundo de Fomento de Habitação, um “corpo técnico especializado” designado por Serviço de Apoio Ambulatório Local (SAAL) para “apoiar, através das Câmaras Municipais, as iniciativas de populações mal alojadas no sentido de colaborarem na transformação dos próprios bairros, investindo os próprios recursos latentes e, eventualmente, monetários”. Tratava-se, ao fim e ao cabo, de organizar, de forma expedita e com uma estrutura ligeira, através de brigadas de técnicos de apoio local, a actuação concertada e articulada entre o Fundo de Fomento de Habitação, as Autarquias Locais e as Associações e Comissões de Moradores dos bairros degradados, que para o efeito se criassem por iniciativa das populações, no sentido de apoiar técnica e financeiramente aquelas (v.g. organização de processos de expropriação de terrenos, alteração de projectos de construção de fogos e equipamentos colectivos, financiamento dessa mesma construção ou auto-construção, fiscalização das obras, etc.) tendo em vista a resolução dos problemas de alojamento e transformação dos bairros em que viviam. Revelou-se o SAAL uma experiência de duração limitada, embora interessante em termos de democracia participativa, que, por motivos das vicissitudes políticas da época e de erros de avaliação na elaboração e execução do programa, foi extinta, no meio de alguma controvérsia, por via do Despacho dos Ministros da Habitação, Urbanismo e Construção e da Administração Interna, de 28 de Outubro de 1976. 2.3.6. Programa CAR - Casas Pré-Fabricadas Convirá, por último, referir o Programa CAR, programa habitacional extraordinário, criado por Resolução do Conselho de Ministros, de Março de 1976, tendo em vista, através da construção de casas pré-fabricadas, resolver os problemas de alojamento dos portugueses retornados das ex-colónias. Embora inicialmente não integrado no Fundo de Fomento da Habitação, face aos resultados insuficientes da sua primeira fase de execução, foi pelo Governo decidida, em Março de 1978, tal integração. 110 Resultante de uma total descoordenação ao nível de execução do programa e de uma medíocre gestão do mesmo a nível administrativo, técnico-financeiro e legal, os resultados desastrosos deste programa foram o detonador que levou à instauração de uma sindicância à actividade global do Fundo de Fomento de Habitação e, posteriormente, à extinção deste organismo. 2.4. Período posterior a 1980 A recessão económica e financeira que atingiu Portugal nos anos de 82 a 85, a deficiente actuação do Fundo da Fomento de Habitação na gestão e execução de alguns dos seus programas, a nível da obtenção dos objectivos quantitativos e qualitativos previamente estabelecidos, que atingiram, em alguns casos (v.g. Programa CAR), o nível da suspeição de práticas irregulares, aliadas a uma mudança da política habitacional do Estado face à promoção directa de fogos que, em virtude da experiência passada, não havia levado aos resultados desejados, contribuíram para uma estagnação ou mesmo decréscimo, durante o início da década de 80, da actividade do Fundo. Esta estagnação, bem como a já referida modificação da política estatal, a nível da habitação destinada a populações de menores recursos económicos, levaram à extinção e liquidação do Fundo de Fomento da Habitação, efectuada por via do Decreto-Lei n.º 214/82, de 29 de Maio, liquidação essa que se arrastou até finais de 1987. A ineficiência do organismo entretanto criado (o Fundo de Apoio ao Investimento para a Habitação – FAIH) e a necessidade de prever atribuições anteriormente cometidas ao ex-FFH veio a determinar a criação do Instituto Nacional de Habitação – INH (v. Decreto-Lei n.º 177/84, de 25 de Maio), e do Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado –IGAPHE (v. DecretoLei n.º 88/87, de 26 de Fevereiro): o IGAPHE actuando nos domínios da gestão e alienação do património habitacional e imobiliário “herdado” do ex-Fundo de Fomento da Habitação; e o INH com atribuições aos níveis de estudo, coordenação e acompanhamento das medidas da política habitacional e do apoio técnico e financeiro dos promotores de habitação de custos controlados. 3. A EVOLUÇÃO RECENTE E AS DINÂMICAS DO PRESENTE A experiência negativa do ex-FFH determinou a diferença do espírito que presidiu à criação do INH, tendo-se abandonado a perspectiva de que o apoio do Estado passa inevitavelmente pelo recurso à promoção habitacional directa. As atribuições cometidas ao INH e as linhas de crédito entretanto criadas foram definidas no sentido de o Estado assegurar a promoção habitacional de cariz social por via da concessão de apoio técnico e financeiro aos diversos promotores. 111 Aquisição de terrenos Em meados da década de oitenta, a crescente escassez de terrenos começava a revelar-se um travão à promoção habitacional, sentido com maior acuidade na promoção de habitações que se pretendiam a valores acessíveis aos estratos económico-sociais mais baixos. Tornava-se, pois, necessário criar novas linhas de financiamento através das quais se assegurasse o processo promocional de habitação social no seu todo. Privilegiou-se a solução de aumentar a oferta de terrenos para construção através da concessão de apoio financeiro aos municípios, no pressuposto de que estes, pela sua natureza, estavam mais vocacionados para implementar o respectivo processo de urbanização e, quando necessário, cedê-los aos diferentes promotores desse tipo de habitação. Nesse sentido, o Decreto-Lei n.º 6/84, de 5 de Janeiro, veio regular a concessão de empréstimos aos municípios para aquisição ou infra-estruturação de terrenos, não só para construção imediata, como para reserva de urbanização ou cedência em direito de superfície. Contudo, a inadequação dos procedimentos inerentes à cedência dos terrenos, a escassez dos terrenos públicos disponíveis para construção e o crescente aumento do preço dos terrenos no mercado livre determinaram a necessidade de criar um novo regime de apoio financeiro para esse fim. Assim, através do Decreto-Lei n.º 385/89, de 8 de Novembro, é criado um regime de crédito bonificado para aquisição de terrenos destinados à concretização de programas de habitação a custos controlados, independentemente do respectivo promotor. Este regime tem tido um razoável êxito, manifestado por uma assinalável adesão por parte dos diversos promotores, sendo mesmo actualmente privilegiado pelos municípios em detrimento do apoio concedido por via do Decreto-Lei n.º 6/84, designadamente em virtude da manifesta desactualização do limite máximo de financiamento de 190 contos por fogo que a portaria de regulamentação deste diploma estabelece. 3.2. Construção de fogos para arrendamento A oferta de habitação em regime de renda social, essencialmente dirigida aos estratos populacionais sem recursos económicos para adquirir uma habitação ou arrendá-la no mercado, paralizou com a extinção do ex-FFH, pelo que se tornou um imperativo incentivar a promoção de habitações para esse fim. O cariz predominantemente social de programas habitacionais dessa natureza justificam o facto de os respectivos regimes de financiamento serem especificamente dirigidos aos municípios, repartindo-se assim entre a administração central e local os encargos inerentes à implementação dos mesmos. Para o efeito foram criados dois regimes de financiamento: o do Decreto-Lei n.º 110/85, de 17 de Abril, que se identifica como o regime “normal” de financiamento a 112 longo prazo para construção ou aquisição de fogos destinados aos arrendamentos em regime de renda social; e o do Decreto-Lei n.º 226/87, de 6 de Junho, que, pela especificidade das situações de carência habitacional que se propunha abranger – população residente em barracas – assumiu as características de regime especial caracterizado pelo reforço da componente de apoio financeiro do Estado, sob a forma de comparticipações a fundo perdido até 50% do valor global do empreendimento, passível de complementar com o recurso ao crédito nos termos do Decreto-Lei n.º 110/85. Todavia, este regime revelou-se insuficiente para dar uma resposta cabal e coordenada ao avolumar de situações de carência habitacional de população residente em barracas, designadamente em virtude da fixação de numerosas famílias provenientes das ex-colónias cujos membros trabalham em grandes obras de construção. Daí que, no início da década de noventa, a generalização do recurso à construção de barracas como “solução habitacional” tenha assumido proporções alarmantes nos grandes centros urbanos. Em consequência, foi criado, com características de medida excepcional e prioritária, o Programa Especial de Realojamento nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto (PER) (v. Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de Maio), entretanto objecto de algumas reformulações e actualmente em plena fase de implementação. O aspecto mais positivo deste regime é a dinâmica que veio imprimir para uma resolução definitiva e coordenada do problema das barracas, por via da necessidade de apresentação de uma solução global e planificada, na sua área de actuação, por parte de cada um dos municípios aderentes. O financiamento, embora concedido sob a forma de comparticipação a fundo perdido e de empréstimo em termos similares ao do Decreto-Lei n.º 226/87, apresenta características assaz especiais, tais como uma taxa de bonificação privilegiada (75% da taxa de referência) e a possibilidade de o financiamento ser disponibilizado sob a forma de crédito em conta corrente até à utilização dos montantes previstos no contrato-programa para o efeito celebrado. 3.3. Construção de fogos para venda Na década de oitenta, as medidas dirigidas à habitação social, denominada “habitação a custos controlados” a partir da entrada em vigor do novo regime criado pela Portaria n.º 828/88, de 29 de Dezembro, caracterizaram-se por um importante apoio do Estado à promoção de fogos destinados à venda. Pretendia-se dar resposta à procura de habitações por parte de determinados estratos habitacionais – as classes média e média-baixa – que não encontravam no mercado habitações a preços acessíveis aos seus rendimentos e às quais não tem sido dada uma alternativa credível senão a aquisição de casa própria. Daí que, com excepção de situações específicas de carência habitacional a que os municípios deram resposta através da construção de fogos para arrendamento, o financiamento da promoção de habitação a custos controlados tenha sido exclusivamente dirigido à construção de fogos para venda. 113 A essa situação não é alheio o facto de a revisão do regime do arrendamento, primeiro em 1985 e, depois, em 1991, com o Regime do Arrendamento Urbano (RAU), ter revelado, e ainda revelar, uma morosidade notória na neutralização do valor especulativo das rendas habitacionais, continuando a favorecer a convicção de que a única solução para os problemas habitacionais é a aquisição de casa própria. Esta convicção foi, ademais, reforçada pela agressiva campanha de marketing das instituições de crédito a favor dessa solução, impelidas pela liberalização do mercado financeiro e por uma conjuntura favorável de progressiva descida das taxas de juro. Assim, no domínio dos regimes criados nesse período e no início dos anos noventa, dirigidos ao financiamento a médio prazo para construção de habitações a custos controlados destinadas à venda, destacam-se: – O regime de crédito criado pelo Decreto-Lei n.º 220/83, de 26 de Maio, cujos destinatários são os municípios e instituições vocacionadas para a assistência às populações, regime este que teve um êxito considerável, mantendo ainda hoje uma razoável adesão por parte das autarquias; – As cooperativas de construção e habitação têm acesso a este tipo de financiamentos por via do regime criado pelo Decreto-Lei n.º 264/82, de 8 de Julho (revisto na sua quase totalidade pelo Decreto-Lei n.º 349/83, de 30 de Julho). Trata-se da linha de crédito ao abrigo da qual toda a promoção habitacional cooperativa em regime de propriedade individual tem sido financiada, evidenciando, até pela sua sistemática aplicação, alguns aspectos de desactualização ou desadequação a ser revistos a curto prazo; – O regime que maior número de alterações sofreu no período em análise foi, sem dúvida, o da linha de crédito à construção de fogos para venda promovida por empresas privadas de construção e usualmente denominado como “regime dos CDH” (contratos de desenvolvimento para habitação). Assim, este regime foi sucessivamente revisto pelo Decreto-Lei n.º 236/85, de 5 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 39/89, de 1 de Fevereiro, e, por fim, pelo Decreto-Lei n.º 165/93, de 7 de Maio. Entre as inovações introduzidas por este último diploma no regime que o precedia destaca-se a de as habitações, embora destinadas à venda pelas empresas promotoras, poderem sê-lo não só para habitação própria permanente dos agregados familiares destinatários da medida, mas igualmente para serem adquiridas por entidades vocacionadas à cedência dos fogos a estes destinatários em regime de renda apoiada ou para arrendamento em regime de renda condicionada. 114 3.4. Financiamento aos destinatários dos fogos Pelo seu cariz excepcional, reservou-se para o final a referência ao regime conhecido como “PER Famílias”, criado pelo Decreto-Lei n.º 79/96, de 20 de Junho, que, como a própria denominação indica, veio complementar o PER no objectivo de erradicar as barracas nas áreas abrangidas por este regime. Enquanto todas as linhas de financiamento anteriormente indicadas são dirigidas aos promotores de habitação que, depois, canalizam os fogos para os seus destinatários, o espírito que presidiu à criação do PER Famílias foi o de diversificar as soluções tendo em vista assegurar uma concretização mais célere das operações de realojamento. Nessa ordem de ideias, o Decreto-Lei n.º 79/96 veio permitir às famílias constantes dos levantamentos efectuados pelos municípios ao abrigo do PER o acesso a um regime misto de comparticipação e empréstimo destinado a financiar a aquisição ou reabilitação de habitações. Para além dos beneficiários serem as famílias, uma particularidade de assinalar neste regime é a de caber a estas a escolha, dentro de determinados parâmetros, da solução mais adequada para o seu caso, o que não deixa de constituir um forte incentivo à participação activa e interessada das famílias envolvidas e, como tal, uma componente dinamizadora do processo de erradicação efectiva das barracas ao abrigo do PER. 4. O QUESTIONÁRIO DO PRESENTE O desenvolvimento e a aplicação dos programas de financiamento em curso levanos a questionar e a tentar verificar com clareza se a conjugação de esforços entre o Estado e as autarquias tem tido o alcance pretendido e se a centralização excessiva desses esforços na resolução do problema dos núcleos de “barracas ou casas abarracadas”, não terá deixado a descoberto outras situações, também, de gravidade evidente. Não há dúvida de que o problema das barracas e de alguns alojamentos precários, também incluídos nos programas de realojamento, já que o conceito de “barraca” foi alargado e flexibilizado a fim de permitir a inclusão de situações de grave carência que de outro modo dificilmente teriam solução nos tempos mais próximos, tem abrangido muito fortemente o esforço financeiro da Administração Central e da Administração Local no sector da “habitação social”. Não há dúvida, também, que a avaliação da situação em 1987, mas mais precisamente em 1993 quando se tornou “obrigatório” para a adesão ao PER – Programa Especial de Realojamento, a realização de um recenseamento exaustivo dos núcleos de barracas ou casas abarracadas e similares, evidenciou só nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto, cerca de 50.000 famílias a necessitarem de alojamento o que está a implicar e implicará no futuro um forte investimento neste programa de financiamentos provenientes do Orçamento do Estado. 115 Se a estes acrescentarmos os variadíssimos pedidos de erradicação de casos similares, solicitados por autarquias de todo o país ao abrigo do programa de realojamento de 1987, entre os quais avulta a reconversão do falhado Programa Car teremos então um volume de financiamentos, que para as possibilidades do parco OE, torna difícil outros apoios a casos de carência diversa. Quer isto dizer que estando centrados os esforços da Administração Pública na resolução do problema dos insolventes a residir em “barracas ou similares”, acabamos por adiar outras situações que deviam, com certeza, merecer atenção pela gravidade de que se revestem e pela dificuldade em, ainda hoje, se encontrarem soluções que se adeqúem às características que evidenciam. 4.1. A nível urbano Os nossos centros urbanos designadamente os mais populosos e com densificação superior apresentam e revelam, sem dificuldade para um olhar bem dirigido, situações de grandes ou pequenos núcleos de habitação precários, disseminados aqui e acolá, constituídos em madeira, alvenaria ou outros materiais em condições deficientes de todos os pontos de vista: higiene, salubridade, infra-estruturas, saneamento, etc. São as ditas “barracas”. No entanto, nesses mesmos centros urbanos, situação de gravidade quase idêntica, escapam com frequência à observação do mais avisado. Nos bairros mais antigos e históricos dos centros urbanos, proliferam construções com longevidade em muitos casos desaconselhada, sem obras de reabilitação, em espaços urbanos exíguos, altamente densificados, com uma população envelhecida quer ao nível dos proprietários, quer ao nível dos inquilinos. Este parque habitacional vetusto, evidencia carências graves que se traduzem em ausência de casas de banho, de elevadores, ventilação adequada da habitação e muitos outros que não vale a pena enunciar. Quando não está em situação de ruína eminente. Na realidade portuguesa (grandes cidades) e intercruzando-se com estes casos, existem as chamadas “ilhas e pátios” onde, também, se registam carências diversificadas a nível do edificado e das infra-estruturas necessárias às populações aí residentes. Nestes e noutros casos, a falta de alternativa no mercado de habitação implica que os níveis de sobreocupação sejam excessivos e que em espaços extremamente pequenos residam grupos de pessoas numerosas em promiscuidade total com ausência total de condições mínimas de vida. Reportemo-nos a um exemplo que pode ser paradigmático deste tipo de situações: no concelho de Câmara de Lobos, na região Autónoma da Madeira é possível encontrar 10/12 pessoas vivendo numa casa (compartimento) de 9 metros quadrados que, no entanto, não é considerado uma “barraca” no sentido literal do termo. 116 4.2. A nível familiar Como é reconhecido no despacho do MEPAT 131/96 de 30 de Agosto, a estrutura da família sofreu nos últimos anos alterações fundamentais para as quais ainda não se encontraram as respostas adequadas. Diz o referido despacho com toda a pertinência “... do universo da população a realojar consta um grande número de pessoas isoladas, situação que justifica a construção de unidades residenciais e não de fogos com as tipologias previstas nas RTHS. Em face da composição cultural da população envolvida nas operações de realojamento, há casos em que se justifica, também, que os alojamentos sejam projectados com uma configuração espacial diferente do previsto para as tipologias de fogos tradicionais por forma que estes sejam adequados às características próprias dos agregados familiares a realojar.” Foi sem dúvida, este o primeiro e importante passo no reconhecimento da dinâmica e mudança da estrutura familiar e na criação de condições para a implementação de soluções viáveis aos condicionalismos do presente. Atentemos, entretanto, em alguns dados estatísticos registados pelo Recenseamento Geral da População de 1991 que, apesar estarem desactualizados, passados que são 6 anos após a sua realização, não deixam de ser indicadores úteis para a abordagem que se pretende fazer. Total Famílias Clássicas Pessoas a residirem sós Adulto masculino com + 65 anos Adulto feminino com + 65 anos Casais com + 65 anos Adulto com 1 ou mais crianças Famílias com 3 pessoas ou menos 3 145 617 435 533 52 642 188 622 375 606 44 486 1 980 486 303 410 (mulheres) 40 014 (mulheres) (+ 63%) A resposta a esta nova realidade implica um esforço acrescido de toda a sociedade, Estado, Autarquias, promotores públicos e privados no sentido de encontrar novos entendimentos que fundamentados em consensos alargados, permitam fazer despontar um novo tipo de alojamentos mais flexível, mais temporário e mais dinâmico em função dos agregados familiares a realojar. Por outro lado, e a todo o momento, despontam nas sociedades modernas casos extremos onde se avolumam problemas de índole social e muitas vezes psíquicos, para os quais, também, se torna necessário uma intervenção do Estado, no sentido de possibilitar o retorno dos protagonistas desses casos a uma vida minimamente normalizada, socialmente inserida e adquirida e onde o alojamento é condição imperativa para o sucesso dos investimentos a montante da solução preconizada. 117 As franjas de população que tem os perfis referidos, por não se encontrarem abrangidos pelos programas de realojamento da população a residir em barracas, não beneficiam de qualquer apoio estatal para a sua reinserção social, em termos habitacionais, ficando em posição vulnerável face às solicitações exteriores e às possibilidades de retorno a uma vida anterior e presentemente não desejada. 4.3. O papel do Estado, das Autarquias e dos outros Promotores Durante as décadas de 70 e 80 assistiu-se a um debate longo e por vezes aceso sobre a quem competia as responsabilidades e atribuições para os problemas de habitação. Por um lado, os municípios empurravam para o Estado essa competências alegando a legalidade vigente, por outro, o Estado “agarrava-se às autarquias afirmando que estas estavam mais próximas dos carenciados e que podiam gerir com maior eficácia e precisão os meios a disponibilizar. Da inconsistência deste diálogo surgiu, presentemente, um consenso quase generalizado de que competirá ao primeiro financiar e criar as condições para executar e ao segundo a promoção e execução dos programas necessários. De facto, os municípios, um pouco por todo o país, apoiados pelas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) que podem beneficiar dos mesmos apoios dos primeiros, têm promovido a construção de bairros municipais de arrendamento público destinados às camadas insolventes da população, a residir em situação precária. Os outros promotores, designadamente as cooperativas de habitação e as empresas privadas de construção têm beneficiado de taxas de juro bonificadas quando constroem, no âmbito dos custos controlados, para segmentos de população que não têm acesso ao mercado livre. Progressivamente, a Administração Pública reconhece as suas insuficiências quer ao nível central quer ao nível local e deixa o papel de promoção aos outros intervenientes no sector, ficando para si com a gestão do já elevado parque público de arrendamento. Esta complementaridade de esforços tem levado a alguns êxitos essencialmente na celeridade processual que se tem traduzido em ganhos acrescidos nos programas em execução. Para finalizar, uma referência à política de gestão do parque público que tem ainda contornos pouco nítidos face à deterioração progressiva das condições habitacionais nesses locais. A herança do passado, traduzida em milhares de fogos de fraca construção e com espaços urbanísticos mal concebidos, tem, hoje, repercussões de avaliação difícil. Neste aspecto, muito está ainda por concretizar. Nesse sentido, importa ainda, no presente redefinir o conceito de “habitação social” na clarificação dos potenciais destinatários para que seja efectiva a racionalização dos investimentos públicos, fundamentada em critérios inequívocos, 118 atribuindo à sua cedência um carácter temporário em função da evolução da situação familiar face aos rendimentos disponíveis e à sua inserção profissional e social. 119 ALOJAMENTO PARA POBRES OU ALOJAMENTO PARA TODOS? Professora Isabel Guerra * Comentadora INTRODUÇÃO O alojamento não é um bem como outro qualquer, e lembrá-lo não é apenas afirmar uma evidência dada a contradição entre o “dito e o feito”. O “direito ao alojamento” está consagrado em todos os direitos nacionais ou universais em quase todos os países da Europa. Desde a segunda guerra mundial que os estados europeus tentavam prosseguir uma política de alojamento com base em 2 argumentos. Por um lado, a falta grave de alojamentos resultado das destruições da guerra e a insuficiência de rendimentos canalizados para a habitação no período anterior e, por outro lado, a defesa de uma política de justiça social com vontade de erigir uma sociedade mais justa. No entanto, não poderemos deixar de registar a não resolução da “crise da habitação” na maioria dos países europeus: a persistência de populações sem abrigo, a degradação de parte substantiva do parque imobiliário, a insatisfação crescente nos “bairros sociais”, etc. A dita “crise da habitação” acompanha-nos. Como entendê-la? 1. A LIÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS EUROPEIAS: políticas de alojamento social versus políticas para todos Lembrar rapidamente a forma como os estados nacionais europeus foram intervindo nas questões do alojamento – e a especificidade do caso português – permite distanciarmo-nos do momento presente aqui apresentado neste painel e melhor entender o significado actual daquilo que se denomina “políticas de habitação social”. No início do crescimento das cidades na época industrial, havia certa multiplicidade de alojamentos, de diferentes condições e para os diferentes estratos sociais: a auto-construção, os prédios de aluguer, os alojamentos para venda, as casas de “serviço” (os “bairros operários”), vilas e barracas. Para uma força de trabalho móvel em que os rendimentos flutuavam bem como o próprio local de trabalho, as casas de aluguer pareciam ser as mais adequadas. Os senhorios eram pequenos capitalistas dispersos, comerciantes locais, construtores civis, etc. Eram beneficiários da expansão do capitalismo ao ponto de se tornarem pequenos proprietários, mas raramente realizavam acumulação suficiente * Centro de Estudos Territoriais - ISCTE. 120 que lhes permitisse adquirir uma verdadeira dimensão empresarial e converter-se num ramo industrial como hoje conhecemos. Até à 1.ª guerra mundial foi a “idade de ouro” das casas de aluguer. Os conflitos sociais derivados das más condições de alojamento vieram chamar a atenção de industriais e filantropos o que promove nos finais do século XIX e até à 1.ª guerra, a intervenção do Estado na maioria dos Países da Europa, e dos EUA, tentando alguma regulamentação das rendas bem como das condições de higiene e limpeza. Na maioria dos países europeus, estas primeiras intervenções do Estado no sector do alojamento aparecem no século XIX no quadro de políticas sociais. A concretização progressiva de políticas sociais nos finais do século XIX e princípios do século XX são o resultado de factores económicos, políticos e psicológicos derivados dos fenómenos que acompanhavam a industrialização. Era, por um lado, a verificação de que a pobreza resultante dos processos de industrialização era bem diferente da pobreza anterior e que trazia consigo riscos ao próprio funcionamento económico e político da sociedade. Era também uma consciência social crescente que daria lugar a um Estado-Providência. Neste início da intervenção pública o principal actor é o Estado, não um Estado neutro, mas um Estado profundamente comprometido, e legitimado, pelos agentes económicos em crescimento. O pensamento económico era dominado pelas doutrinas liberais e se os progressos da democracia e a luta emergente dos sindicatos e dos partidos políticos foram contribuindo para uma crescente consciência dos efeitos externos da pobreza, parece ter sido, no entanto, a assunção dos pobres como “classes dangereuses” que faz ceder face a algumas medidas sociais. As medidas foram sendo tomadas para corrigir esses efeitos sociais e económicos negativos mas as intervenções públicas no século XIX foram sempre pontuais. O período entre as duas Guerra mundiais pode ser considerado um período de transição onde (com certos limites na Europa de Oeste-França, Espanha, Itália, etc.) a habitação privada e a habitação pública coexistem. A habitação social cresce, a renda de iniciativa privada estabiliza e inicia-se o longo percurso para a ocupação da casa própria. 1 Só no pós-guerra se considera que o Estado assume a “política do alojamento” sobretudo orientada para os grupos mais desfavorecidos. Três considerações parecem obrigar o Estado a entrar no sector do alojamento 2 . São, por um lado, considerações de ordem económica visando assegurar a capacidade produtiva permitindo melhorias 1 Até 1945 (depois da guerra): – as casas eram de aluguer em França, Dinamarca. Alemanha, Holanda; na Inglaterra – a habitação social era mais significativa (cerca de 60% de habitações privadas e 40% públicas ou de organizações filantrópicas) nos EUA - 55% do parque habitacional era já constituído por casa própria. 2 O alojamento privado para venda surge após a 2.ª Guerra Mundial na Europa e cresce mais do que todo o período anterior fruto do esforço de reconstrução nacional face à destruição da guerra. 121 na produtividade operária favorecendo o crescimento da população. São, também, considerações de ordem social e política articuladas com o agravar de lutas sociais e contestações ao sistema económico existente tentando, nomeadamente, vender a ideia de ordem e de poupança para acesso ao alojamento e, são ainda – é preciso reconhecê-lo – considerações de ordem puramente moral defendidas por muitos. Até ao início do século XX as políticas de alojamento eram orientadas exclusivamente para os grupos sociais mais desfavorecidos mas do ponto de vista da lógica dominante a habitação era um sector económico privado. Será preciso esperar pelo fim da segunda guerra mundial para ver a acção do Estado no sector do alojamento 3 perfeitamente legitimado pelos agentes económicos o que parece resultar da conjugação de 3 factores: – em primeiro lugar, a crise das teses do liberalismo económico com dificuldades em resolver as crises económicas que conheceram os países industrializados entre as 2 grandes guerras e o surgimento em força de um novo modelo económico keynesiano; – por outro lado, os direitos económicos e sociais foram progressivamente reconhecidos sendo incluídos nalgumas constituições França, Itália. Note-se, no entanto, que ainda hoje este direito não está explicitamente expresso em muitos constituições de países europeus 4 ; – no fim da segunda guerra, da destruição do parque imobiliário, da crise económica até aos anos 60, da guerra civil em 2 países (Espanha e Grécia), nasce uma falta qualitativa muito acentuada de alojamentos. A profundidade da “crise do alojamento” faz, pela primeira vez, que os Estados se considerem responsáveis por políticas de alojamento, sobretudo, orientadas para as populações mais desprotegidas. Esta posição era consonante com as teses keynesianas que se sucederam a crise de 29. Encontravam-se duas soluções possíveis, e combináveis, na intervenção pública que irão ter pesos diferentes nos países europeus – o Estado investir directamente no sector e/ou promover medidas financeiras para incitar os agentes económicos a investir. No que diz respeito ao acesso de todos aos alojamentos, os instrumentos de que dispunham os poderes públicos eram vastos. Em primeiro lugar, podiam agir de forma a fazer crescer a oferta de alojamentos o que faria baixar o preço de venda e de aluguer dos alojamentos privados. Em 2.º lugar, podiam intervir através da regulamentação controlando os preços de construção, de venda e a evolução do mercado. Por essa mesma regulamentação podia reservar o acesso a certas categorias 3 As razões da crise de alojamento no pós-guerra geralmente referenciadas salientam geralmente o insuficiente investimento na construção entre 1918 e 1940 devido à legislação de protecção aos locatários e às 2 recessões económicas de 1920 e 1929. 4 Portugal é, aliás, um dos poucos países que reconhece explicitamente o direito à habitação, na constituição de 1976. 122 de alojamentos a determinadas categorias de população. Finalmente, podia ainda apoiar financeiramente as famílias para acesso à habitação. Este tipo de políticas suportavam a expansão do sector imobiliário na construção de alojamentos novos quer incitando as famílias ao acesso à propriedade 5 quer apoiando os investimentos no sector imobiliário. Segundo, Lefebvre e outros (1991), as escolhas efectuados, pelos diferentes países europeus, no tipo de políticas que implementavam foram influenciadas por várias condições, nomeadamente: – grau de carência de alojamentos; – filosofia económica e social dos governos; – grau de legitimidade conferido pelos outros agentes económicos às intervenções do estado ao nível do alojamento; – nível de motivação dos diferentes agentes no investimento na habitação e as instituições existentes sobre as quais as políticas se poderiam apoiar; – situação económica do país que funcionava como um constrangimento ao investimento na habitação. Em síntese, foram 3 os objectivos atribuídos às políticas de alojamento nos anos que se seguiram à 2.ª Guerra Mundial: – construir um número elevado de alojamentos para substituir um parque habitacional vetusto e/ou destruído; – permitir às famílias de rendimentos mais fracos aceder a alojamentos decentes sem um esforço de poupança demasiado; – oferecer a todas as famílias um alojamento de boa qualidade capaz de satisfazer as suas necessidades. Cada país no quadro da sua política tendeu a privilegiar um ou mais destes objectivos. Entre 1960, 1970 e 1980 assiste-se a uma rápida mudança da lógica da intervenção pública e privada. No entanto, estas políticas evoluíram rapidamente devido às modificações do contexto económico e social nas quais se inseriam e à mudança na natureza dos problemas que encontrava o sector do alojamento Nos anos 60, assistimos ao boom económico que se traduz por um grande afluxo de capitais privados para a construção e o reforço das habitações para venda (diminuindo o período de rotação do capital). Os Estados tendem a alterar a política anterior de apoio à produção de casas para uma política de suporte à procura. O alargamento do mercado de casa própria e o apoio oficial ao mercado privado arrasta no primeiro quinquénio a continuação de um fluxo de capitais para o alojamento. É 5 Lembre-se que a maioria das casas eram de aluguer e não havia uma predisposição para a compra por parte dos moradores na medida em que era necessário uma enorme poupança e um factor de risco. Por sua vez os proprietários, lembrados do preteccionismo anterior, pretendiam vender e não alugar. Assim as políticas oficiais pretendiam favorecer os esforços de poupança das famílias o que era também uma forma de apoiar o investimento no imobiliário. 123 notória a sua dinâmica de crescimento e lucro em contraste com outros sectores da economia no fim dos anos 60 e princípios dos anos 70. Note-se, no entanto, que não há grande conflito entre os intervenientes já que a suburbanização e a diversidade das clientelas parece garantir lucros a todos. As consequências traduzem-se num grande surto imobiliário, no decréscimo acentuado da construção pública, no aumento das habitações para compra, nas operações de renovação dos centros históricos, no realojamento de populações marginais face ao mercado de alojamento, etc. No início dos anos 70, na maioria dos países europeus a crise quantitativa parece debelada. Apesar das elevadas taxas de juro e do aumento dos custos de construção o número de construções novas tinha aumentado continuamente o que permitia ao sector público repensar a sua actuação. Em muitos países assiste-se a uma reflexão sobre as políticas de habitação que se traduz por uma redução massiça da intervenção do Estado. Em meados dos anos 70, há uma ruptura ligada à crise económica 6 que origina a retirada de capitais da construção civil e a falência de numerosas empresas. O próprio Estado entra em crise fiscal. Aumentam as habitações vagas, agrava-se a falta de alojamento e acentuam-se os conflitos sociais. A redefinição das políticas públicas face à habitação decorrem então em dois sentidos – o re-investimento no parque existente e já não em novos alojamentos tentando melhorar a degradação do habitat, e o privilegiar do acesso à propriedade em detrimento de outros estatutos de ocupação tentando mesmo vender o parque imobiliário público de forma a conseguir acumulação para reinvestimento. Desde meados dos anos 80 que se complexifica o olhar sobre os alojamentos e a sua adequação às características demográficas e de dinâmica económica das sociedades modernas. A diversidade dos tipos de famílias, a diversificação das fases do ciclo de vida, as mobilidades profissionais, a transformação do meio laboral com o trabalho ao domicílio e as novas tecnologias, alteram as necessidades face aos alojamentos e estado e as empresas procuram adequar-se às necessidades de um mercado mais exigente e complexo. Ainda segundo, Lefebvre e outros (1991), em todos os países europeus, encontramos, grosso modo, 3 fases na evolução das políticas de alojamento do pósguerra: – a primeira fase, vai do fim da 2.º Guerra Mundial até aos anos 70, caracteriza-se por uma crise quantitativa persistente e por uma política de incitação a favor da construção de alojamentos novos; 6 A crise de 1973/74 vai fazer inflectir as linhas de política dos anos 60 devido aos custos crescentes de construção e à crise e rendimentos das famílias que acentua a distorção entre as condições de oferta e procura. 124 – a segunda fase vai desde os anos 70 até meados dos anos 80 e caracteriza-se pela crise económica e pela vontade do Estado na maioria dos países de se libertar dos encargos com o alojamento; propagandeia-se a ideia segundo a qual a crise quantitativa estaria terminada e que é necessário orientar-se para a qualidade e a reabilitação dos alojamentos existentes; – a terceira fase, ainda em curso, parece estruturar-se em torno da discussão da orientação das políticas de alojamento face aos diferentes estratos de população e estatutos de ocupação e em torno dos problemas que parecem existir face à diversidade das famílias e dos modos de vida e consequentes necessidades face ao alojamento. Também a intervenção pública ao nível da habitação social, quer no que diz respeito aos processos de construção quer no se refere à reabilitação, tem-se vindo a alterar. Se num primeiro momento, a atenção se centrava quase exclusivamente ao nível do edificado, progressivamente vai-se atendendo às dimensões socioculturais do habitat e depois às dimensões de desenvolvimento social local. De facto, se no pós-guerra, a preocupação era a construção rápida e se centrava prioritariamente no edificado, nos anos 60 e 70 a preocupação fazia-se através da articulação entre habitação social e equipamentos. Pretendia-se “melhorar a vida social” e iniciam-se políticas de favorecimento da criação de equipamentos sociais e culturais apoiando as associações de moradores e defendendo a sua implicação nas decisões que lhes diziam respeito. Esta fase caracteriza-se pela distância entre a intervenção urbanística (em que os habitantes nada intervinham), a intervenção gestionária (decidida muito acima dos níveis locais) a intervenção social mais participada. 2. O FRACASSO DAS POLÍTICAS DE REALOJAMENTO De forma simplista, poder-se-á afirmar que o contexto actual de reflexão sobre o realojamento assenta nalgumas constatações e interrogações básicas. A primeira constatação regista a complexidade dos processos de realojamento de populações carenciadas. A este nível a experiência já demonstrou que não há soluções rápidas e que cada situação é única exigindo um diagnóstico e uma intervenção particular. Esta constatação não minimiza a evidência de algumas conclusões retiradas de experiências já feitas em Portugal, e no estrangeiro, que nos aconselham a evitar repetir erros passados. Uma segunda constatação, evidencia o fracasso da maioria das experiências de realojamento dos anos 60 e 70: degradação social e física do habitat: violência e insegurança urbana atribuída a esses bairros; guetização sem qualidade de vida. Esse fracasso é tão evidente e generalizado que poderia desde já fazer-nos interrogar sobre a pertinência actual desta linha de política habitacional 125 Do ponto de vista sociológico, o realojamento é um processo de “urbanização à força” que é obrigado a esquecer que o processo de habituação à cidade é lento. É um processo que gera ruptura com os modos de vida e modelos de apropriação de espaço mais “rurais”, frequentes nos “bairros de lata”. Aí a apropriação dos espaços interiores e exteriores faz-se de forma mais contínua e a utilização de uma barraca com pouco espaço obriga a uma miscigenação de funções dos espaços que a casa tradicional decompõe. As sociabilidades são geralmente intensas (mesmo se conflituais) e são fruto de uma sedimentação no tempo que estabilizou laços de inclusão e exclusão e que são drasticamente alteradas com o realojamento. Um problema tradicional da sociologia urbana – central para a análise dos processos de realojamento – é o da relação entre espaço e comportamento. A influência do espaço nos modos de vida, questão recorrente na sociologia urbana, adquire aqui toda a sua pertinência quer nos “efeitos de poder” quer nos “efeitos de consciência” de que nos fala Jean Remy. Nesse sentido é pertinente questionar a função da casa na estruturação dos modos de vida dos indivíduos e famílias, nomeadamente de famílias em situações de exclusão social. Dito de outra forma, interrogamo-nos se, o acesso a uma habitação por parte de população que habita em casas degradadas, permite a reconstrução de outras formas de identidade e processos cumulativos de mobilidade social ascendente que a representação desse acesso poderia promover. Alguns autores enfatizam, ainda, os “efeitos perversos” de uma “socialização negativa” que advêm da concentração geográfica de indivíduos com comportamentos “anti-sociais”. Este seria o principal argumento contra a densificação e até contra a opção por uma política de habitação, que obriga a concentrar geograficamente uma grande homogeneidade social (mesmo quando está presente uma grande heterogeneidade cultural que pode agravar os fenómenos de conflitualidade social). Nestes casos a concentração espacial de determinados tipos de valores e comportamentos desviantes provoca um crescimento exponencial de formas de socialização “negativa” – sobretudo, devido às características das formas de socialização dos mais novos. REALOJAMENTO EM PORTUGAL Em Portugal, os vários estudos sociológicos relacionados com as formas de apropriação do alojamento em bairros sociais, nomeadamente os realizados pelo Centro de Estudos Territoriais do ISCTE, apresentam resultados surpreendentemente repetitivos mesmo se os não podemos considerar representativos da realidade nacional dado terem sido realizados com objectivos diferenciados e com metodologias nem sempre comparáveis. Um primeiro resultado manifesta a presença constante de um gosto pela casa e de um desgosto pelo bairro no período pós-realojamento. 126 De facto, a casa surge como a concretização de um sonho sendo valorizada mais pelas condições de habitação do que pelo modelo de habitação (que frequentemente é criticado quer – e sobretudo – pela construção em altura mas também pela distribuição dos espaços internos). Esta valorização do fogo reflecte-se, frequentemente, num re-investimento (afectivo e material) na casa, e na família. A saída da barraca e o acesso ao alojamento parece associar uma alteração da autoimagem pelo menos num primeiro momento. No entanto, essa alteração da autoimagem parece não ser insuficiente para alterar o modo de vida. Inversamente o bairro é geralmente desvalorizado interiorizando-se uma imagem fortemente negativa e estigmatizante indutora de um sentimento de insegurança e desgosto. Desvalorizam-se as suas características urbanísticas (positivas ou negativas) e sobrevaloriza-se as características sociais negativas como a existência de marginalidade e de pobreza. Esta imagem do bairro é sobremaneira sentida pelos mais jovens que apresentam maiores desejos de saída. De forma genérica, estas populações apresentam uma extrema sensibilidade à demarcação urbana do bairro e à sua imagem pública, quase sempre negativa. Em quase todas as pesquisas o realojamento parece apresentar, pelo menos num período longo de habituação, uma diluição das redes de sociabilidade local o que parece estar estreitamente associado à descontinuidade agora criada entre o exterior e o interior do fogo a que o modelo de apartamento obriga bem como ao destroçar de redes de relação construídas ao longo do tempo. Assiste-se mesmo a um fechamento em casa e à expressão de sentimentos de solidão por parte das mulheres domésticas ou jovens desempregados e aumentam os problemas colocados pelo controlo dos comportamentos de crianças e jovens por parte das famílias. Há uma menor frequência de convívio entre vizinhos e uma restrição das “intimidades” outrora partilhadas no espaço exterior que, hoje, não parecem transitar para o espaço interno do fogo. Este “fechamento” é tanto mais grave quanto são populações de grande sociabilidade local. A questão sociológica atrás referenciada da relação entre a mudança dos espaços e a alteração nos comportamentos apresenta-se, nas diversas pesquisas, com múltiplos matizes, nem sempre coincidentes parecendo variar em função da fase do ciclo de vida e da situação numa trajectória de mobilidade social. Se o re-investimento na casa e na família estão quase sempre presentes, raramente é considerado que o realojamento provoque alterações na estrutura dos modos de vida e não parece induzir maiores perspectivas de promoção e integração social. As mudanças detectadas nos espaços e nas temporalidades que organizam a vida quotidiana são traduzíveis em dois aspectos já referenciados: a perda significativa das sociabilidades e aumento do tempo dispendido em casa. O realojamento parece ter provocado um re-investimento no universo privado, familiar em contraposição com o investimento no espaço exterior do bairro. Simultaneamente, assiste-se a um aumento da conflitualidade interna e das 127 disfuncionalidades da dinâmica social traduzida em sentimentos generalizados de insegurança e de interiorizarão de uma imagem negativa e estigmatizante. Em síntese e genericamente, a acção de realojamento parece traduzir-se de forma positiva: • na melhoria substantiva das condições habitacionais e, por esta via, das condições de vida criando requisitos fundamentais a uma maior promoção e integração sociais; • na concretização de um sonho permanentemente alimentado por esta população incapaz de resolver por meios próprios as suas carências habitacionais, gerando elevados níveis de satisfação dirigidos à casa; • no reinvestimento em torno da casa e da vida familiar que se converte no principal espaço/tempo da vida quotidiana e que obriga a uma reestruturação das despesas e dos consumos. Contudo, a eficácia do realojamento terá ficado comprometida quanto aos objectivos da alteração substantiva dos modos de vida e da capacidade dos sujeitos intervirem na superação dos constrangimentos e da precariedade das condições de vida que os caracteriza. Geram-se situações de reprodução dos modos de vida anteriores agravados por alguns “efeitos perversos” que o alojamento introduziu: • perda de sociabilidades locais e de factores identitários fundamentais com incidências importantes no modo de apropriação do espaço residencial e das suas formas de vida social; • maior isolamento social e espacial, pela tendência a um centramento das actividades e temporalidades da vida quotidiana em torno da casa e pela diminuição dos espaços apropriáveis exteriores ao bairro; • aumento da conflitualidade interna e das disfuncionalidades da dinâmica social traduzíveis em sentimentos generalizados de insegurança e na interiorização de uma imagem negativa e estigmatizante. Algumas Notas em relação ao PER Como já se afirmou anteriormente, o realojamento não é um problema fácil, de soluções ou receitas rápidas e vai exigindo “estudos de caso” porque “as pessoas não são coisas que se ponham em gavetas”. Mas o plano especial de realojamento actualmente em curso parece ser a principal medida de política de habitação social, e pode ser considerado menos como uma medida de política integrada com vista à resolução de um problema de populações sem acesso ao mercado privado de alojamento do que um “plano de emergência” destinado a dar outra imagem das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. As medidas 128 de política exigem uma panóplia de programas articulados entre, com públicos-alvo bem definidos, dimensões que não estão ainda presentes na actual política de habitação. Assim, o PER sofre de 3 “pecados originais”. Em primeiro lugar, não é uma política concertada entre os diferentes organismos da administração central e local e a iniciativa privada. Pela sua história de criação tornou-se numa passagem de responsabilidades para o nível local, em condições de indefinição jurídica e financeira de responsabilidades; sem previsão de equipamentos complementares e sem as solidariedades indispensáveis a uma boa execução do programa. Em segundo lugar, construir “bairros sociais” densificados não parece ser uma boa medida para os anos 90 após a avaliação que se faz hoje da guetização que se gerou com esse tipo de construção. Finalmente – a experiência também o manifesta – o acesso a uma habitação digna não altera substantivamente as outras condições de vida da população excluída e assim, os processos de realojamento devem ser integrados em processos de “desenvolvimento social urbano” sob pena de prolongarem situações de exclusão socio-urbanística. Deve salientar-se, no entanto, a preocupação do Governo actual de acrescentar legislação que flexibiliza o programa, nomeadamente o denominado “PER-famílias” e associar o PER a outro tipo de programas que permitam a sua integração urbanística e a construção de equipamentos. BIBLIOGRAFIA ANTÓNIO FONSECA FERREIRA, 1987, Por uma Nova Política de Habitação, Porto, Afrontamento. BRUNO LEFEBVRE, MICHEL MOUILLART E SYLVIE OCCIPINTI, 1991, Politique du logement: 50 ans pour un échec, Harmattan, France. FERNANDO GONÇALVES, 1978, “A Mitologia da Habitação Social: o caso Português” in Cidade e Campo, n.º 1, pp.21/83. FRANÇOIS ACHER, 1995, Le logement en question, Editions de l’Aube, Paris. ISABEL GUERRA, 1994, “As pessoas não são coisas que ponham em gavetas” in Sociedade e Território, n.º 20, As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas, n.º 20, pp.11-16. JULIO DIAS, 1994, “Tendências das políticas europeias quanto aos modelos de habitação Social”, in Sociedade e Território, As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas, n.º 20, pp.91/100. MARIA JOÃO FREITAS, 1993, Acções de realojamento e reestruturação dos modos de vida – um estudo de caso, Dissertação de Mestrado em Sociologia Rural e Urbana, ISCTE. Idem, 1994, “Os paradoxos do realojamento”, in Sociedade e Território, n.º 20, As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas, p.26/35. 129 MARIELLE GROS, 1994, “Pequena” História do Alojamento Social em Portugal, in Sociedade e Território, As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas, n.º 20, pp.80/90. Idem, 1982, O alojamento social sobre o fascismo, Porto, Afrontamento. MARIA JOÃO QUEDAS, 1994, Bibliografia sobre Habitação Social, in Sociedade e Território, n.º 20, As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas, p.124/126. MANUEL TEIXEIRA, 1992, “As estratégias de habitação em Portugal – 1880/194”, in ANÁLISE SOCIAL, vol.XXVII(115) (1.º) pp.65/89. TERESA COSTA PINTO, 1994, A Apropriação do espaço em Bairros sociais : o gosto pela casa e o desgosto pelo bairro, in Sociedade e Território, n.º 20, As pessoas não são coisas que se ponham em gavetas, p.36/50. Vários, 1993, APROPRIAÇÃO DO ESPAÇO E SATISFAÇÃO RESIDENCIAL NOS BAIRROS SOCIAIS, in Observatório da Habitação da Câmara Municipal de Lisboa, CET/CML. 130 Painel Financiamento 131 Dr. António Rui Mendes * Dr. Manuel Moreira Rodrigues ** Relatores 1. INTRODUÇÃO Durante muitos anos, em especial até meados da década de 70, o financiamento do sector imobiliário assentou numa conjuntura bastante favorável de elevada e diversificada oferta de fundos, designadamente provenientes de poupanças do exterior, razoável nível de investimento dos promotores institucionais em habitação para arrendamento, acréscimo dos rendimentos reais das famílias, grande dinamismo de empresas imobiliárias ligadas à banca, seguros, instituições de previdência social, entre outras. As mudanças políticas ocorridas a partir de 1974, com o congelamento das rendas extensivo a todo o País, originaram uma acentuada quebra na produção, com efeitos negativos sobre as empresas do sector, de que resultaram alterações significativas no modo de financiamento prosseguido até então. Ao mesmo tempo, assistia-se a um elevado volume de habitações sem mercado assegurado e que tradicionalmente era absorvido pelos investidores institucionais. O mercado de arrendamento caiu para níveis insignificantes. Por volta dos anos de 1973/1974, os fogos produzidos anualmente destinavam-se aproximadamente em termos iguais ao mercado de arrendamento e ao mercado de casa própria. Em 1976 apenas 15% da produção se destinava ao mercado de arrendamento e, desde 1979 até aos anos recentes, apenas têm sido destinados a esse fim entre 2% e 3% da produção anual, apesar das diversas medidas que há mais de 10 anos vêm sendo adoptadas no sentido de inverter esta situação. Face à inexistência de oferta de casas para o mercado de arrendamento, foi reconhecida a necessidade de criar medidas adequadas de apoio à compra, na perspectiva de dinamização do mercado habitacional e, simultaneamente, relançar o sector da Construção e Obras Públicas que atravessava uma fase de crise e de desarticulação da sua estrutura produtiva, com efeitos altamente negativos sobre as restantes actividades económicas. Como resultado dessa situação, o modelo de acesso ao mercado da habitação foi alterado, passando a basear-se quase exclusivamente em incentivos à aquisição de casa própria. Neste contexto, foram criados sucessivos regimes de crédito a longo prazo, a conceder, numa primeira fase, pelas então chamadas instituições especiais de crédito – IEC (CGD, MG e CPP), apoiados em juros bonificados para as famílias de menores rendimentos, pelo Estado, Banco de Portugal e pelas próprias instituições de crédito, * Director Coordenador da Direcção de Marketing - Particulares - CGD. Técnico Economista da Direcção de Marketing - Particulares - CGD. ** 132 bem como pela atribuição de outros incentivos à compra, nomeadamente de ordem fiscal (isenções de contribuição autárquica e de sisa). Ou seja, de um modelo de financiamento assente em poupança prévia, transitou-se para outro onde se introduziu o princípio da poupança “a posteriori”, o qual tem vindo, até agora, a assegurar o escoamento da produção do sector e que tem constituído, em conjunto com as poupanças dos particulares, praticamente o único suporte financeiro do mercado habitacional. É ainda de salientar que, até ao início da década de 1990, este modelo se caracterizou por uma elevada rigidez, reduzida variedade de instrumentos financeiros, dependente de um número restrito de bancos, em que a concessão de crédito foi, durante muito tempo, considerada como um dos principais instrumentos de política monetária. Com as alterações verificadas no sistema financeiro, a partir de 1993, o modelo continua a manter a sua estrutura base, agora com uma maior capacidade de resposta às exigências dos clientes, quer em termos de flexibilidade de produtos e rapidez de resposta, quer em volume de fundos disponíveis, mas continua a ser insuficiente para solver as carências (qualitativas e quantitativas) ainda existentes, sendo reconhecido pelos diferentes intervenientes no mercado que uma política habitacional para ser eficaz tem de ser acompanhada de outras medidas que passam pela articulação com outras variáveis, nomeadamente, as políticas urbanística, fiscal e de rendimentos e preços. 2. CONDIÇÕES DA OFERTA DE CRÉDITO À HABITAÇÃO 2.1. Financiamento à habitação e enquadramento macroeconómico O crédito para a aquisição de habitação constituiu ao longo dos últimos anos uma das principais vertentes da política habitacional, quer em termos da satisfação da procura quer na dinamização do sector habitacional, face ao quase desaparecimento do mercado de arrendamento. Todavia, a procura e o crédito concedido foram bastante condicionados pela envolvente económica (taxa de inflação/taxas de juro), pelas medidas de política monetária e orçamental que vieram a ser adoptadas e ainda pela subida dos preços de mercado muito acima dos rendimentos das famílias. O Quadro Anexo1 reflecte o comportamento da procura e dos contratos celebrados até 1996, na CGD, e permite extrair algumas conclusões sobre a evolução daquelas variáveis no sistema bancário, dado o elevado peso que a CGD detinha até 1992 no conjunto das três principais instituições financiadoras. Podem evidenciar-se dois períodos (1980/1981 e 1986/1987), que se caracterizaram por um elevado volume da procura (51.199 propostas de crédito apresentadas em 1980 e 58.142 em 1986) e pelo volume dos contratos realizados (38.575 em 1981 e 45.526 em 1987). 133 Pedidos Entrados (nº) Contratos Celebrados (nº) 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Em qualquer dos períodos assistiu-se a uma política expansionista que se traduziu por uma maior abertura no andamento do crédito, redução das prestações por efeito da criação do método das prestações progressivas (1980) e por efeito da redução das taxas de juro a partir de 1986. Evolução das prestações mensais 12.000 $ 10.000 $ 8.000 $ 6.000 $ 4.000 $ 2.000 $ 0$ 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Assim, os factores que marcaram directa ou indirectamente a evolução do crédito à habitação, no sistema bancário, em cada ciclo económico, foram os seguintes: 134 • Período de 1980/1981 Fomentou-se o apelo à aquisição de habitação própria através de instrumentos financeiros e fiscais, criando-se fortes expectativas aos interessados, o que gerou uma elevada procura de crédito sobre as IEC. Instituiu-se o primeiro regime de prestações progressivas (Dec.-Lei n.º 435/80). As prestações iniciais foram reduzidas para cerca de metade daquelas que eram devidas no regime anterior. Apesar da tendência de subida das taxas de juro, garantiram-se taxas fixas aos mutuários, isto é, de não subida no caso de elevação das taxas do mercado. • Período de 1982/1986 Subida da taxa de inflação e das taxas de juro do mercado. Alteração do regime de crédito, com a reintrodução da taxa variável (Dec.-Lei n.º 459/83). Agravamento das prestações dos empréstimos por força da subida da taxa de juro (iniciou o movimento de descida em Agosto de 1985, tendo-se mantido até esta data em 32,5%). Política de crédito bastante restritiva e elevados encargos financeiros pesaram no abrandamento da procura e geraram elevados stocks de fogos por vender. • Período de 1986/1988 Redução da taxa de inflação e das taxas de juro com impacto positivo nos encargos financeiros dos empréstimos. Política de crédito expansionista, nomeadamente no âmbito das operações de habitação. Alteração do regime de crédito (Dec.-Lei n.º 328-B/86, de 30 de Setembro), com planos financeiros mais flexíveis às variações das taxas de juro, e adequação dos fogos e dos rendimentos à dimensão do agregado familiar. Procura de crédito muito dinâmica, com escoamento dos stocks habitacionais acumulados até 1985, acompanhada de subidas muito acentuadas dos preços dos fogos, nomeadamente nos anos de 1987 e de 1988. Elevada pressão da procura de crédito sobre os principais bancos financiadores, gerando elevados stocks de propostas em carteira e atrasos significativos na contratação dos empréstimos, sobretudo a partir de 1989, por efeitos das medidas restritivas para controlo da inflação. • Período de 1989/1992 Liberalização das taxas de juro e da concessão de crédito à habitação a todos os bancos. Instituição da taxa de referência para o cálculo de bonificações, com 135 agravamento de encargos (taxa contratual acima de 20%, e a taxa de referência foi fixada em 17,5%). Preços do imobiliário bastante desajustados do nível dos rendimentos das famílias (inadequação da oferta à procura). Acumulação de stocks de habitação sem venda assegurada, nomeadamente na gama alta e de luxo. Os fogos da gama média e média-baixa deixaram de ser comercializados quer devido às medidas restritivas na concessão de crédito, quer devido à manutenção de elevadas taxas de juro. • Período a partir de 1993 Liberalização do sistema financeiro e introdução do controlo indirecto do crédito. Forte dinamização do mercado do crédito à habitação por força da concorrência, com impacto na descida muito rápida das taxas de juro. Flexibilização da oferta de crédito e negociação de acordo com o interesse do cliente e risco da operação. 2.2. Condições que motivaram o aumento da concorrência bancária Actualmente, o crédito à habitação está a ser praticado pela generalidade dos bancos. No entanto, por força de disposições legais, a concessão de crédito à habitação foi, durante vários anos, atribuída às chamadas instituições especiais de crédito (CGD, CPP e MG), podendo os restantes bancos conceder crédito a médio e longo prazo apenas ao abrigo do sistema poupança emigrante. Em 1986, os bancos comerciais foram autorizados a conceder operações de crédito a longo prazo para a habitação e, no mesmo ano, com a publicação do actual regime de crédito à habitação, foi-lhes dada a possibilidade de contratarem operações mas apenas no regime geral ou, no regime bonificado, mediante autorização específica. Em 1991 foi liberalizado o crédito bonificado à habitação a todo o sistema bancário, bem como a concessão de crédito à construção de habitações a custos controlados. As medidas adoptadas com vista à liberalização do sistema financeiro, nomeadamente com reflexos sobre a livre circulação de capitais, a livre instalação de bancos e a adequação do rácio de solvabilidade aos valores mínimos exigidos pelas normas comunitárias, desencadeou uma forte apetência dos bancos pelo financiamento à habitação. Em consequência, o crédito concedido pelo sistema bancário conheceu ritmos de crescimento bastante elevados desde 1993, como se pode verificar no Quadro 1. 136 Quadro 1 - Crédito a particulares para habitação concedido pelo sistema bancário Operações contratadas (Valor) Taxa Crescimento Saldos-Fim do ano Taxa Crescimento Tx.Cresc. Crédito a Empresas e Particul no Sistema Bancº Taxa inflação (a) Estimativa Fonte: DGT; BP Unid.: milhões de contos 1996 1993 1994 1995 390,2 38,3% 1.811,6 20,6% 624,6 60,1% 2.272,5 25,4% 762,2 22,0% 2792,8 22,9% 1.016,6 33,4% 3.435,0 (a) 23,0% 11,4% 6,5% 7,1% 5,2% 14,0% 4,1% 13,2% (a) 3,1% Os factores mais relevantes que contribuíram para a forte expansão do crédito durante os últimos anos foram os seguintes: • Redução progressiva das taxas de juro. • Ponderação do crédito para efeitos do rácio de solvabilidade em 50%. • Redução gradual do coeficiente de reservas mínimas de caixa de 17% para 2%. • Recessão da actividade económica - Empresas. • Novas alternativas de financiamento das empresas, reduzindo a procura em termos de crédito tradicional. • Aumento da oferta bancária em produtos e serviços. • Diversificação das carteiras de crédito. • Fidelização dos clientes e “cross selling” com outros produtos. • Reduzido índice de incumprimento. Em regra, os recursos utilizados pelos bancos foram, e ainda continuam a ser, os depósitos (a prazo e à ordem) e em menor escala fundos provenientes do mercado monetário e de capitais. Apesar do longo prazo das operações do crédito à habitação, ainda não foram suficientemente desenvolvidas outras alternativas de captação de recursos, com características de maior estabilidade, nomeadamente através do sistema poupança habitação ou do mercado do crédito hipotecário. A CGD efectuou duas emissões de obrigações hipotecárias em 1991, após ter sido publicada legislação que veio regular este produto e, em 1996, procedeu a outras duas emissões, depois das alterações legislativas recentes que tornaram mais flexível, menos burocratizado e menos oneroso todo o processo de emissão e controle. Prevêse que venham a ser efectuadas novas emissões ainda no ano em curso. Em qualquer das emissões a procura teve bastante êxito, devido à rentabilidade (actualmente com uma taxa líquida próxima dos 5,9%), grau de liquidez e credibilidade do banco emitente. A preparação das emissões permitiu eliminar algumas dúvidas que iam sendo colocadas pelas conservatórias a nível do País, 137 relacionados com o registo e afectação à finalidade prevista, facilitando assim o acesso a novas iniciativas. As obrigações hipotecárias constituem uma forma de obtenção de recursos com as características adequadas para afectar às operações de habitação, dada a sua elevada maturidade, risco reduzido dado que a hipoteca goza de privilégio sobre quaisquer outros créditos imobiliários, e de liquidez assegurada por negociação em bolsa. O sistema poupança habitação, embora criado em 1972, nunca teve grande desenvolvimento por falta de incentivos e do crescimento rápido dos preços de mercado. No final de 1989, o sistema foi melhorado, com a introdução de diversos incentivos de ordem fiscal e outros, o que lhe trouxe algum dinamismo, conforme se pode verificar através da evolução dos saldos no sistema bancário, especialmente no período que vai até 1993. O abrandamento verificado a partir de 1994, embora se deva em parte à maior facilidade na obtenção do crédito, está directamente associado ao facto de ter sido abolida a isenção do IRS sobre os juros. Quadro 2 - Saldos das contas Poupança-Habitação (fim do ano), no sistema bancário Valor Tx.Cres 1990 79,7 1991 98,7 23,8% 1992 158,9 61,0% 1993 202,3 27,3% 1994 207,2 2,4% Unid.: Milhões de contos 1995 1996(a) 221,9 240,0 7,1% 8,2% Nota: Em 1989 o saldo ascendia a cerca de 11 milhões de contos. O sistema foi reformulado no final desse mesmo ano, com a instituição de benefícios fiscais (Isenção de IRS sobre os juros e dedução ao rendimento englobado para IRS das verbas creditadas na conta, até um dado limite - no ano de 1997 foi fixado em 410 contos). A isenção de IRS sobre os juros foi abolida em 1994. (a) Estimativa Fonte:Banco de Portugal Observando o número de clientes titulares de contas PH que têm recorrido ao crédito através do sistema na CGD (Quadro 3) verifica-se que é um número bastante reduzido se se comparar com o total de operações concedidas (não chega a 1%), e tem vindo a diminuir desde 1994. No entanto, o saldo das contas PH na CGD continua a crescer a ritmo bastante superior ao do sistema bancário. A possibilidade de amortização dos empréstimos através dos saldos das contas PH, poderá estar na origem do crescimento ocorrido em 1996. Quadro 3 - Taxa de Crescimento das Contas Poupança Habitação na CGD/Crédito Concedido 1993 1994 1995 1996 Tx. Cresc. Saldos Contas PH 37,1% 9,6% 11,0% 18,4% Montante concedido (Milhões de contos) N.º Titulares de contas PH que recorreram ao crédito na CGD Fonte:CGD 4,5 779 3,7 551 3,6 482 2,8 340 O sistema poupança-habitação foi pensado com o objectivo de constituir um meio privilegiado de captação de recursos para acesso à habitação, contribuir para reduzir o grau de endividamento das famílias e pelo efeito positivo que este tipo de poupanças tem ao nível do consumo e da inflação. Os elementos disponíveis permitem-nos 138 avaliar o grau de sensibilidade do sistema perante os incentivos, os quais constituem a base fundamental para o seu desenvolvimento no futuro. 2.3. Consequências para o mercado do aumento da oferta de crédito (Novos produtos) O segmento do imobiliário, que envolve cerca de 60% da produção do sector da construção e obras públicas, necessita, para o seu desenvolvimento, de elevados recursos financeiros que lhe assegurem o escoamento da produção de forma equilibrada independentemente de medidas conjunturais de curto prazo, tal como se verificou no passado, pelo menos enquanto o mercado de arrendamento não funcionar como uma alternativa capaz de competir com o mercado de casa própria (Quadro Anexo 2). O alargamento do financiamento à habitação a todos os bancos veio contribuir para o aumento da concorrência e para uma elevada dinamização do crédito para este segmento do mercado, com efeitos bastante positivos quer para os bancos quer para os clientes. Por outro lado, veio ainda permitir responder à pressão da procura de crédito que durante muitos anos recaiu sobre as chamadas instituições especiais de crédito, com um significado muito especial sobre a CGD, disponibilizando elevados recursos que até aí, do ponto de vista financeiro, não era possível libertar através do número restrito de instituições. A elevada concorrência bancária, traduzida por uma forte agressividade comercial, levou os bancos a encarar o mercado com uma nova postura e a adoptar estratégias que vieram permitir criar soluções inovadoras e bastante flexíveis cujos efeitos não se fizeram esperar, beneficiando todos os agentes económicos directa e indirectamente envolvidos no sector. Contudo, foram os clientes finais que, no imediato, viram as suas condições de acesso à habitação bastante mais facilitadas em aspectos tão importantes como a eficiência e a redução muito rápida e acentuada da taxa de juro, com efeitos nos encargos financeiros dos financiamentos. Quadro 4 - Evolução da taxa média anual das operações do crédito à habitação, na CGD Ano Taxa Nominal Média Anual Fonte:CGD 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 18,6% 18,8% 18,5% 16,4% 12,68% 12,4% 11,1% A estratégia adoptada pelos bancos assentou essencialmente nos seguintes aspectos: • Criação de novos produtos, em condições mais flexíveis, adequados às necessidades dos clientes. • Produtos a taxas indexadas e em moeda estrangeira face à redução dos riscos cambiais. 139 • Segmentação dos clientes – negociação em função do risco cliente/operação. • Maior rapidez na decisão do crédito. • Fortes campanhas publicitárias. • Novas formas de comunicação (atendimento personalizado, informação sobre condições e custos totais com a aquisição de habitação). • Oferta global de produtos e serviços (habitação, investimento e serviços associados). • Maior ligação entre bancos, promotores, e entre bancos e outras empresas e instituições para a concessão de crédito e outros serviços financeiros aos seus empregados. • Transferência de empréstimos inter-bancos (com suporte em legislação específica). • Simplificação na realização dos contratos através do chamado “Contrato por Documento Particular”. 2.4. Evolução recente do crédito à habitação no sistema bancário O ano de 1994 marcou o início de uma nova fase no financiamento da habitação caracterizada por uma forte expansão do crédito e por uma intensificação da concorrência bancária, em que o número de novas operações realizadas e o montante tiveram um crescimento, respectivamente de 40% e de 60% em relação ao ano anterior (87.414 contratos celebrados, no montante de 624, 6 milhões de contos). Quadro 5 - Evolução do crédito a Particulares para Habitação no Sistema Bancário, nos anos de 1994 a 1996 Unid.: Mil contos REGIMES DE CRÉDITO 1994 N.º 1995 VALOR N.º 1996 VALOR N.º VALOR 1.TOTAL 1.1. REG. NÃO BONIFICADO 1.2. REG. BONIFICADO 1.3. REG. JOVEM 2.POUPANÇA EMIGRANTE 3.DEFICIENTES 84.445 604.428 40.570 304.112 94.074 41.740 740.700 344.132 118.211 48.075 986.905 407.120 18.792 105.767 25.083 194.549 2365 15.733 604 4.447 22.362 29.972 2292 771 142.322 254.246 15.324 6.151 29.203 40.933 2366 1422 204.002 375.783 16.841 12.817 4.TOTAL(1+2+3) 87.414 624.608 97.137 762.175 121.999 1.016.563 Fonte: DGT O défice habitacional e as condições de degradação do parque imobiliário indiciavam a existência de uma elevada procura potencial, que ao longo dos anos não tinha encontrado resposta através do mercado do crédito, quer por falta de capacidade 140 de acesso das famílias devido às elevadas taxas de inflação e de juro, quer pelas condições restritivas a que estiveram sujeitos os bancos durante muitos anos. Quadro 6 - Evolução da Taxa de Desemprego/Rendim.Disponív. dos Particulares/Tx. Inflação Tx. Desemprego Rend.Disp.Particulares Tx. Inflação (a)Estimativa Fonte: INE/BP 1990 4,7% 17,6% 13,3% 1991 4,1% 14,6% 1992 4,1% 12,3% 1993 5,5% 5,4% 1994 6,8% 3,8% 1995 7,2% 5,0% 11,4% 8,9% 6,5% 5,2% 4,1% 1996 7,3% 5,1% (a) 3,1% Apesar das dificuldades económicas que se fizeram sentir nos anos recentes, caracterizadas pela quebra do rendimento real disponível dos particulares (1993 e 1994) e pelo crescente aumento do desemprego, a procura tem mantido um elevado dinamismo, e o crédito concedido nos anos de 1995 e de 1996, apresentou taxas de crescimento que, em valor, ascenderam, respectivamente, a 22% e 33,4%. As novas operações concedidas pelo sistema bancário incluem as transferências de empréstimos inter-bancos de que não há dados estatísticos. Da nossa experiência e dos contactos permanentes com as agências, as transferências já tiveram um maior dinamismo do que nos dois últimos anos. Podemos, contudo, referir, que o maior peso de liquidações corresponde a empréstimos com maturidades na ordem dos 10 anos em que o cliente opta por adquirir uma nova habitação, com recurso a um novo financiamento, quer seja através do mesmo banco ou em qualquer outro. Os factores que contribuíram para aquela evolução foram a elevada agressividade desenvolvida pelos bancos, criando fortes expectativas aos clientes através de uma maior “certeza e rapidez de resposta” na obtenção do crédito, a estabilidade dos preços do mercado e a perspectiva de descida da taxa de juro. O impacto da redução da taxa de juro produziu efeitos não só na redução dos encargos financeiros, mas também pelo facto do investimento em imobiliário começar a despertar interesse por constituir uma boa aplicação de poupanças, com risco reduzido, face às aplicações financeiras tradicionais. 141 70% Taxa de crescimento das operações de crédito a particulares para habitação no sistema bancário (por valores contratados) 60% 50% 1. Regime Jovem 40% 2. Outros Bonificados 30% 3. Total bonificados 20% 4. Regime não Bonificado 10% 5. Total 0% 1994 1995 1996 Da evolução dos preços de mercado depende a decisão de comprar ou não uma habitação. Contudo, não existem informações que permitam conhecer adequadamente esta variável, sendo em regra utilizada a variação média dos contratos celebrados. Como se sabe, existe uma diferença significativa entre os fogos acabados de concluir e os fogos com alguns anos de utilização. Analisando o número de empréstimos contratados nos anos recentes, verifica-se que estão a atingir o patamar dos 100 mil, quando o número de fogos concluídos anualmente se tem situado entre os 50 e 60 mil. Significa que existe um considerável número de famílias que vem resolvendo o seu problema habitacional através da compra de fogos já usados, não dispondo de capacidade financeira para aceder aos preços das habitações lançadas no mercado pela primeira vez, o que se pode traduzir pelo acentuado desajustamento de preços e rendimentos dessas famílias. Quadro 7- Estrutura do crédito a Particulares para Habitação no Sistema Bancário, nos anos de 1994 a 1996 (%) Unid.: Mil contos REGIMES DE CRÉDITO 1994 N.º 1. Regime Jovem 2. Outros Bonificados 3. (1) + (2) 4. Regime não Bonificado 28,7 24,9 53,6 46,4 1995 VALOR N.º 31,1 20,2 51,3 48,7 1996 VALOR 30,9 26,2 57,0 43,0 33,4 21,5 54,8 45,2 N.º VALOR 33,6 27,0 60,6 39,4 37,0 23,0 60,0 40,0 Fonte: DGT Analisando a estrutura do crédito concedido, também se verifica que o crédito bonificado tem vindo a aumentar, atingindo em 1996, uma quota de cerca de 60%. O regime não bonificado tem vindo a perder posição a favor do crédito jovem o qual passou de 31,1% em 1994 para 37,0% em 1996, enquanto que os outros regimes bonificados mantiveram uma relativa estabilidade (20,2% em 1994 e 23%, em 1996). 142 2.5. Função social da CGD no financiamento à habitação A CGD tem uma longa tradição no financiamento do crédito imobiliário a particulares, com uma quota de mercado acima dos 40%. O crédito concedido ao longo dos últimos anos tem desempenhado um importante papel na resolução do problema habitacional de muitas famílias (cerca de 600 mil), sobretudo do segmento de rendimentos médios e médios baixos, dada a carência de oferta de casas para o mercado de arrendamento. O crédito em carteira ascendia, no final de 1996, a 1.467 milhões de contos, correspondendo a cerca de 378.500 operações. Quadro 8 -Evolução do crédito a Particulares para Habitação na CGD, nos anos de 1994 a 1996 Unid.: Mil contos REGIMES DE CRÉDITO 1994 N.º 1.TOTAL 1.1. REG. NÃO BONIFICADO 1.2. REG. BONIFICADO 1.3. REG. JOVEM 2.POUPANÇA EMIGRANTE 3.DEFICIENTES 4.TOTAL(1+2+3) 1995 VALOR N.º 1996 VALOR N.º VALOR 28.980 184.622 7.275 50.873 33.019 10.005 232.107 76.184 36.592 12.092 265.311 90.970 10.793 10.912 810 55.668 78.081 4.690 11.581 11.433 849 66.304 89.619 5.454 12.976 11.524 927 79.131 95.210 6.199 480 3.295 495 3.593 758 6.553 30.270 192.607 34.363 241.154 38.277 278.063 Fonte: CGD Os elevados montantes aplicados e o crescente aumento anual dos novos empréstimos concedidos (38.277 em 1996, no montante de 278,1 milhões de contos), comprovam a dimensão e solidez financeira da CGD e o modo como tem acompanhado as novas exigências do mercado em plena concorrência. A CGD dispõe de uma vasta rede comercial com total cobertura geográfica que assegura, de forma descentralizada, a satisfação das necessidades dos seus clientes e que, desde sempre, se caracterizou por uma postura profissional de rigor e de transparência, apostando na competitividade, inovação e especialização. A estratégia comercial adoptada pela CGD assenta na oferta de uma solução global, flexível, diferenciada e com qualidade, adaptada às necessidades de cada cliente. No sentido de reforçar a sua imagem de liderança no mercado, continua a diversificar a oferta de novos produtos, privilegiando a flexibilidade e a rapidez, bem como o apoio a novas oportunidades de negócios, nomeadamente o investimento imobiliário por particulares e investidores institucionais, prevendo a retoma do 143 mercado de arrendamento, face à actual conjuntura favorável de redução da taxa de inflação e das taxas de juro. Contudo, a CGD tem vindo a assumir um papel importante no apoio à construção de fogos para habitação social a “custos controlados”, bem como no financiamento da sua aquisição pelas famílias de menores recursos, em estreita articulação com as medidas de política adoptadas para o sector. A sua intervenção tem-se situado ao nível da promoção de habitação por cooperativas, municípios, programas habitacionais no âmbito de Contratos de Desenvolvimento para a Habitação (CDH) e outros programas de construção de habitações Económicas e de Realojamento (Decs.-Lei n.ºs 163/93 e 164/93, ambos de 7 de Maio); programas específicos de reabilitação de fogos como foi o caso do PRID e da linha de crédito para a recuperação de fogos danificados pelo Sismo, nos Açores; actualmente encontra-se em desenvolvimento o programa de Iniciativa Comunitária “URBAN”, que se destina a financiar projectos de reabilitação de zonas urbanas degradadas a desenvolver em parceria com o BEI (subsídios até 50% do valor dos projectos e bonificações aos financiamentos complementares), envolvendo investimentos no montante de 10 milhões de contos, repartidos por 11 projectos; apoio ao mercado de arrendamento, via empresas do Grupo Caixa, nomeadamente a Caixa-Imobiliário – SGII a qual, dentro das suas actividades, tem vindo a negociar a aquisição de fogos em condições inovadoras, como seja a participação nos estudos de viabilidade económica de programas habitacionais e o seu financiamento escalonado, permitindo a redução de custos finais e a minimização de riscos inerentes à execução dos projectos. No financiamento aos particulares, para além dos produtos disponíveis para a construção, aquisição ou realização de obras em habitação, em condições bonificadas (o financiamento de habitações construídas pelo INH chegou a atingir mais de 10% do total dos contratos celebrados), importa referir os empréstimos que têm vindo a ser concedidos directamente aos empregados das indústrias metalúrgicas do carvão e do aço, em condições bastante atractivas, no âmbito de programas comunitários e o recente protocolo celebrado para o realojamento de famílias das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto (PER-FAMÍLIAS). 144 Taxa de crescimento das operações de crédito a particulares para habitação na CGD (por valores contratados) 60% 50% 40% 2. Outros Bonificados 2. Outros Bonificados 30% 3. Total bonificados 20% 4. Regime não Bonificado 10% 5. TOTAL 0% 1994 1995 1996 Com vista ao financiamento de alguns dos programas referidos, a CGD tem vindo a celebrar contratos com entidades financiadoras externas, em condições mais vantajosas que as do mercado nacional, nomeadamente através do BEI, Fonds du Conseil de L’Europe (FCE) e CECA (Comunidade Económica do Carvão e do Aço). Quadro 9 - Estrutura do crédito a Particulares para Habitação na CGD, nos anos de 1994 a 1996 (%) REGIMES DE CRÉDITO 1994 N.º 1. Regime Jovem 2. Outros Bonificados 3. ((1) + (2) 4. Regime não Bonificado 1995 VALOR 36,0 39,9 76,0 24,0 40,5 33,0 73,6 26,4 N.º 1996 VALOR 33,3 37,6 70,9 29,1 37,2 31,2 68,4 31,6 N.º VALOR 30,1 38,3 68,4 31,6 34,2 33,0 67,3 32,7 Fonte: CGD 3. FINANCIAMENTO À HABITAÇÃO E O REGIME DE PRESTAÇÕES PROGRESSIVAS 3.1. Modelos e o seu ajustamento à conjuntura económica O regime de prestações progressivas foi criado em 1980 (Dec.-Lei n.º 435/80), tendo em vista facilitar o acesso à habitação a um maior número de agregados familiares, nomeadamente os de menores recursos, face à tendência de subida das taxas de juro do mercado (taxa contratual efectiva de 22,25% em 1980 e de 32,5% entre 1983 a 1985). A opção política nessa altura visava proporcionar habitação à maioria das famílias portuguesas, utilizando ao máximo os instrumentos financeiros e fiscais. 145 O regime de crédito instituído pelo citado diploma legal, previa prestações progressivas, tanto para os empréstimos bonificados, como para os não bonificados. Já em 1984, foi produzida legislação que previa o reembolso em prestações constantes, mas só para os empréstimos não bonificados. No caso dos clientes fazerem a opção por este modelo de reembolso perdiam o direito à bonificação. Para as operações do regime bonificado, o modelo de prestações progressivas manteve-se exclusivo até finais de 1990, data em que foi criado o regime de prestações constantes com bonificação constante. O método de cálculo das prestações adoptado, foi determinante quer para o seu crescimento anual, quer em relação à sua adequação, consoante a evolução das taxas de juro do mercado. O modelo aplicado aos contratos celebrados até ao quarto trimestre de 1987 foi concebido para responder a altas taxas de inflação e de juro, podendo referir-se que não era flexível perante uma evolução positiva da conjuntura, como a que se registou a partir dos finais de 1985. No regime bonificado, as prestações cresciam durante os primeiros cinco anos a taxas da ordem dos 24%, independentemente da evolução das taxas de juro e das actualizações anuais dos rendimentos, os quais, cresceram a taxas muito inferiores, nomeadamente partir de 1986. Sabendo que, no período de 1983-1985, se viveu numa conjuntura económica recessiva, caracterizada por altas taxas de inflação e de juro, e por um clima de alguma instabilidade laboral, com salários em atraso e uma taxa de desemprego elevada, o modelo de reembolso prosseguido gerou, para além de uma acentuada acumulação de juros capitalizados, alguma perturbação na capacidade de solvência de muitos clientes, cujos contratos celebrados nesse período ainda hoje se reflectem no grau de incumprimento das instituições de crédito. A questão essencial é que, durante os primeiros cinco anos, o crescimento das prestações estava indexado ao valor da prestação calculada para o primeiro ano e, portanto, não dependia nem do capital nem da taxa de juro. Apenas a partir do 6.º ano é que a prestação passava a ser função daquelas variáveis e da taxa aplicada, a qual era fixada em portaria, mas inferior à taxa contratual, para que o plano se mantivesse progressivo durante o resto do prazo. Com efeito, o regime actualmente em vigor, criado em 1986, alterou o modelo de cálculo, por forma a que o mesmo se ajustasse automaticamente às variações das taxas de juro, e ao mesmo tempo, adequar as prestações à evolução dos rendimentos das famílias. Apesar disso, tem vindo a ser utilizado outro mecanismo que permite ajustar as prestações iniciais (agravar ou reduzir), consoante a opção política de cada momento, com repercussões sobre o nível das bonificações que é o chamado “coeficiente de juros não capitalizáveis” – que corresponde aos juros a pagar pelo cliente em cada 146 prestação. Esse coeficiente foi inicialmente de 43% e passou para 46%, 58%, 60% e encontra-se actualmente em 58%. Assim, quanto menor for este coeficiente, menor é o valor das prestações iniciais a pagar, mas maior é o factor de capitalização de juros, a taxa de crescimento anual das prestações e o valor das bonificações a pagar (ver Quadros Anexos, com o desenvolvimento de alguns planos financeiros, com a evolução do capital em dívida, bonificações e prestações, utilizados de acordo com as condições que vigoraram no passado e as que são praticadas nas condições actuais). 3.2. Consequências para os clientes e para os bancos no contexto de elevadas taxas de juro A introdução do modelo de prestações progressivas oferecia como única vantagem aumentar o acesso a uma franja mais alargada de famílias à habitação, através do recurso ao crédito que, no contexto de elevadas taxas de inflação e de juro e com os preços dos fogos a subir a ritmos muito superiores aos rendimentos, não lhes era possível. Tomando por base algumas amostras efectuadas às operações em incumprimento, cujos contratos se celebraram na decorrência de taxas mais elevadas (até 1986), no âmbito do modelo então praticado, conclui-se que as mesmas se situam nas periferias das zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, e as razões que lhe estão associadas relacionam-se mais com a conjuntura recessiva de desemprego e salários em atraso, do que ao modelo em si, a avaliar pelo elevado volume de empréstimos em situação normal e ainda face ao volume de empréstimos que têm vindo a ser liquidados antecipadamente (em regra, por motivos de venda e aquisição de nova habitação). Em todo o caso, entende-se que a concessão de crédito dentro desta modalidade envolve maior risco, tanto para os clientes como para os bancos, sobretudo quando se está perante alguma incerteza quanto à previsão na evolução futura da conjuntura e ainda se o modelo não for convenientemente ajustado a cada realidade. Como inconvenientes para os clientes apontam-se: • Não reajustamento imediato das prestações às variações da taxa de juro. • Aumento das prestações em níveis muitas vezes acima dos acréscimos salariais. • Capitalização de juros durante os primeiros anos (prestações iniciais inferiores aos juros contratuais) e reembolso do capital nos últimos anos de vida do empréstimo (a partir do momento em que o valor da prestação excede os juros do contrato). • No caso de ser solicitada a passagem para prestações constantes, aumento significativo do valor da nova prestação, uma vez que o recalculo tem em 147 conta o prazo já decorrido, colocando-se algumas dúvidas quanto à sua dilatação, sobretudo em relação aos regimes bonificados. Do ponto de vista das instituições de crédito, a adopção destes modelos tiveram efeitos sobre o crescimento do crédito, por via da capitalização de juros, o que condicionava a contratação de novas operações, sobretudo nos períodos de maiores limitações na expansão do crédito. O montante de juros capitalizados ascendeu, na CGD, só no ano de 1992, a cerca de 50 milhões de contos. A CGD vinha alertando para todos os inconvenientes referidos, tendo suscitado a criação de um regime alternativo em prestações constantes com bonificação, o que veio a acontecer em finais de 1990, para ter aplicação às novas operações e dando ainda a possibilidade de serem transferidos todos os contratos dentro do mesmo regime de crédito e os que foram contratados ao abrigo do regime de crédito anterior (entre 1984 e 1987) e que, à data do contrato, beneficiaram de apoio do Estado. 3.3. Necessidade ou não da sua manutenção face à tendência de descida das taxas de juro Embora a actual legislação, nomeadamente no âmbito dos regimes bonificados, ainda continue de certo modo a fazer apelo ao regime de prestações progressivas, o certo é que a generalidade dos bancos ou não o pratica ou aconselha os seus clientes a optarem pelo modelo de prestações constantes, dado tratar-se de um modelo cujas prestações melhor se ajustam às variações da taxa e englobam uma parcela correspondente ao reembolso do capital. Quadro 10 - Taxa de juro - Prestações iniciais no regime bonificado: Classe I (a) (1) Taxa de juro (2) Prestação progressiva (3) (4) (5) (6) Prestação (3)-(2) Prestação (5)-(2) constante constante C/bonificação C/bonificação decrescente constante 15,00% 6.541$ 8.361$ 1.820$ 9.368$ 2.827$ 10,35% 4.962$ 5.715$ 753$ 7.074$ 2.112$ 9,50% 4.759$ 5.254$ 495$ 6.585$ 1.826$ 8,50% 4.610$ 4.936$ 326$ 6.223$ 1.613$ 8,30% 4.579$ 4.875$ 296$ 6.150$ 1.571$ (a) Engloba cerca de 80% do crédito concedido no regime bonificado e jovem bonificado Em alternativa ao regime de prestações progressivas, existem actualmente os modelos de reembolso em prestações constantes com bonificação decrescente e constantes com bonificação constante. Com a descida das taxas de juro assiste-se a uma redução significativa na diferença de prestações, sendo, por isso, aconselhável a opção por um modelo que ofereça menores riscos, tanto para o cliente como para o banco, embora sujeito a um agravamento relativo da prestação, mas que não conduz à capitalização de juros. 148 No entanto, qualquer alteração que venha a ser introduzida no modelo de prestações progressivas, com bonificação, terá de acautelar a situação de todos os contratos celebrados no âmbito do regime de prestações constantes com bonificação constante, uma vez que a bonificação deste último modelo resulta do valor actual e futuro da bonificação correspondente ao regime de prestações progressivas. 4. BONIFICAÇÕES 4.1. Evolução das condições de acesso ao regime bonificado Outro instrumento utilizado para facilitar o acesso à habitação das famílias de baixos recursos foi a bonificação de juros que, no sistema actual é atribuída pelo Estado mas, nos períodos de taxas mais elevadas, foram também, na sua maioria, bonificados pelo Banco de Portugal e pelas instituições de crédito. Quadro 11 - Categorias socioprofissionais que mais recorreram ao crédito da CGD, em 1987 Categorias sócio-profissionais Distribuição Funcionários públicos/forças armadas 29,5% Empregados de escritório do sector industrial 17,1% e comercial Operários industriais 13,3% Empregados de escritório do sector terciário 12,6% Total 72,5% FONTE : Ex-GEP/MOPT – Resultado da amostra de 10% dos contratos realizados na CGD. Do resultado do estudo efectuado aos contratos celebrados na CGD, conforme Quadro 11, conclui-se que o crédito à habitação e os respectivos subsídios têm vindo a ser concedidos aos segmentos da população de rendimentos médios, médios baixos, ou seja, aqueles que dispõem de razoável capacidade financeira. Relativamente ao crédito atribuído aos jovens obteve-se aproximadamente o mesmo resultado. Idêntica análise foi também efectuada em relação aos contratos celebrados na CGD, em 1981, tendo-se concluído que 63,5% do crédito tinha sido afectado às mesmas categorias socioprofissionais. Em relação à situação actual, julga-se que a conclusão seria idêntica à verificada em 1987, ou talvez apresente uma percentagem mais elevada, dado o peso do crédito bonificado e jovem bonificado na estrutura do crédito à habitação da CGD, em que 80% do crédito contratado se situa no escalão de rendimentos mais baixos (Classe I) e ainda face à melhoria das condições de acesso para os segmentos de menor solvência, por força da redução da taxa de juro. As classes de baixa solvência ou insolventes, tal como desde sempre tem vindo a ser afirmado, continuam a não ter acesso ao crédito, devendo, portanto, ser integradas em programas específicos de habitação social ou com apoios mais acentuados, como é o caso do Programa PER-Famílias, em que são envolvidas elevadas comparticipações 149 a fundo perdido (40%) bem como financiamentos a taxas bastante bonificadas (75% da taxa contratual). O critério para a atribuição da bonificação baseou-se, durante muitos anos (até 1991), no valor do fogo (valor total do fogo, valor por metro quadrado) e dos rendimentos do agregado familiar (rendimento anual bruto e/ou rendimento percapita). Para além destes factores, algumas das anteriores linhas de crédito foram globalmente subsidiadas, acima dos montantes atribuídos em função do valor do fogo e do rendimento atendendo a que os diplomas estabeleceram que a taxa a cargo dos mutuários seria inalterada por agravamento das taxas de juro do mercado. Encontramse ainda nesta situação os empréstimos relativos à primeira linha de crédito instituída em 1976 (com taxas fixas a cargo do cliente entre 4% e 9,5%) e os empréstimos concedidos para recuperação de habitações danificadas pelo sismo nos Açores (mantêm ainda bonificações do Estado, Governo Regional, Banco de Portugal e CGD). Ainda foram globalmente bonificados os empréstimos concedidos ao abrigo do Dec.-Lei n.º 435/80, cujos contratos foram celebrados à taxa de 22,25%, enquanto a taxa do mercado lhes foi superior. 4.2. Situação actual A partir de 1991, foi eliminado o valor do fogo e o enquadramento dos empréstimos no regime bonificado passou a depender apenas dos rendimentos do agregado familiar. Tal medida visou corrigir distorções que, desde sempre, se manifestaram em relação ao valor do fogo, cujos limites máximos variavam consoante a área da localização. Verificavam-se ainda divergências na atribuição da bonificação em relação aos fogos de um mesmo imóvel, sempre que os resultados das avaliações não eram coincidentes, sobretudo quando os clientes recorriam ao crédito em bancos distintos. O critério do rendimento veio, assim, permitir uma maior flexibilidade na escolha da habitação, quer em termos da sua localização, quer na adequação à dimensão do agregado familiar e à capacidade financeira das famílias. Contudo, este modelo já vinha sendo adoptado em relação aos empréstimos a conceder, nomeadamente aos deficientes, sem que se tenha desvirtuado o objectivo social a atingir com este regime de crédito. 150 Quadro 12 - Bonificações atribuídas pelo Estado por empréstimos à habitação própria permanente Finalidades Crédito Emigrantes Habitação Total Acumulado (a) Estimativa Fonte:DGT 1989 1990 1991 1992 1993 Unid.: Milhões de contos 1994 1995 1996 (a) 6,4 20,6 27,0 5,1 15,0 20,1 47,1 4,6 17,1 21,7 68,8 6,0 26,5 32,5 101,3 4,6 31,6 36,2 137,5 3,2 34,9 38,1 175,6 2,1 36,4 38,5 214,1 3,2 39,0 42,2 256,3 Até 1988, estima-se que as bonificações pagas pela DGT tenham atingido cerca de 150 milhões de contos, a que acrescem ainda os montantes suportados, sobretudo até àquele ano, quer pelo BP quer pelas próprias IC. Durante alguns anos, a bonificação foi calculada com base na taxa contratual praticada pelos bancos, especialmente enquanto as taxas de juro foram fixadas pelo Banco de Portugal, o que ocorreu até Março de 1989. A partir daquele ano, a bonificação passou a ser calculada com base numa taxa de referência ou na taxa contratual, se esta for inferior àquela. A taxa de referência foi inicialmente fixada em 17,5% e alterada em 1994 para 13% sendo, até àquele ano, em regra inferior à taxa dos contratos. Quadro 13 - Alterações da taxa de referência legal em1989 e 1994 - Impacto nas prestações mensais por cada 1.000 contos de capital Taxa de Juro Nominal Taxa de Referência (a) Prestação Crescente Classe I Prestação Constante Classe I Taxa Inflação (1) 1989 (2) 1989 18,794% 18,794% 20,5% 17,5% 6.153$ 9.845$ (3) (2)-(3) (4) 1994 (5) 1994 14% 14% (b) Variação da prestação 14% 13% Variação da prestação 7.070$ + 917$ (+15%) 5.573$ 6.506$ + 933$ (+18%) 10.722$ + 877$ (+9%) 8.531$ 9.323$ + 792$ (+9,3%) 12,6% (6) (5)-(4) 5,2% (a) Cálculo com base na taxa efectiva; (b) Taxa de juro praticada no início do ano. Após a descida da taxa de referência para 13%, foi ainda determinada uma redução mais acelerada na evolução da taxa de bonificação (Maio/94), o que agravou as prestações para além dos valores acima dos indicados Como se verifica do Quadro 13, a introdução do critério da taxa de referência e a alteração posterior dessa taxa, levou a um agravamento das prestações a cargo dos clientes bastante acima da taxa de inflação. Contudo, o efeito provocado foi amortecido pela descida da taxa de juro. 151 Tratando-se de clientes do segmento de rendimentos médios e médios baixos, que normalmente atingem o limite máximo do endividamento, quaisquer ajustamentos desta natureza devem ser devidamente ponderados, dado que afectam a capacidade de solvência dos clientes de menores rendimentos que, em conjunturas recessivas, são os primeiros a ser atingidos por salários em atraso, desemprego, actualizações salariais nem sempre garantidas, aumentando o potencial risco de incumprimento do crédito. Alterações na expectativa de evolução das bonificações também já se verificou em relação aos empréstimos contratados ao abrigo do regime de crédito anterior ao actual (contratos celebrados entre 1984 e 1987, ao abrigo do Dec.-Lei n.º 459/83). As bonificações foram reajustadas, implicando agravamentos muito elevados das prestações dos clientes o que, em muitos casos, levou a situações de ruptura financeira dos mesmos, dado que a taxa de juro de então não manteve a tendência de descida tal como se previa, voltando mesmo a disparar, ao mesmo tempo que a bonificação se reduzia mais acentuadamente. Quadro 14 Impacto nas prestações mensais por 1.000 contos de crédito concedido, face a alterações na taxa de referência, no contexto actual Taxa de Juro Nominal Taxa de Referência Prestação Crescente Classe I Variação Prestação Constante Classe I Variação 10% 10% 9% 8% 7% 4.983$ 5.302$ + 319$ (+6,4%) 5.620$ + 637$ (12,8%) 5.938$ + 955$ (19,2%) 6.871$ 7.093$ + 222$ (3,2%) 7.314$ + 443$(6,4%) 7.356$ + 665$ (9,7%) A eventual redução dos encargos orçamentais com bonificações, poderá conduzir a novas alterações na taxa de referência, cujas consequências futuras serão mais negativas do que as que se verificaram com as reduções para 17,5% e 13%, atendendo a que a taxa de juro tenderá a reduzir-se mas de forma mais lenta do que no passado recente. Do quadro em referência, conclui-se que reduções de um ponto percentual na taxa de referência conduz a agravamentos nas prestações da ordem dos 6,4% para os modelos de prestações progressivas e de 3,2% para o regime de prestações constantes com bonificação. Em ambas as situações sempre superiores à taxa de inflação prevista para os próximos anos. 5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS • Com a inexistência de oferta de casas para o mercado de arrendamento, a compra tornou-se a via quase exclusiva de acesso à habitação, através do recurso aos sistemas de crédito, e a outros instrumentos financeiros e fiscais. Embora dirigido para as classes de maior solvência, o crédito à habitação tem desempenhado uma 152 função fundamental na resolução do problema habitacional de muitas famílias e, ao mesmo tempo, assegurado o escoamento da maior parte da produção do sector. • Durante vários anos, a evolução da procura de crédito foi bastante irregular e descontínua, condicionada por elevadas taxas de inflação e de juro, e pelas medidas de política orçamental, monetária e de rendimentos o que ocasionou, em certos períodos, excesso de fogos no mercado sem venda assegurada. O modelo de financiamento prosseguido manteve-se bastante regulamentado, com pouca variedade de instrumentos disponíveis, dependente de um número restrito de bancos, incapazes de dar resposta às pressões da procura que ocorriam nos momentos de maior abertura e facilidades na concessão do crédito. • As medidas de liberalização do sistema financeiro verificadas a partir de 1993, tiveram um impacto altamente positivo no crescimento do crédito à habitação, sobretudo pelas alterações introduzidas no controle do crédito e pelo elevado volume de fundos que veio disponibilizar, sobretudo a um sector que enfrenta elevadas carências em termos quantitativos e qualitativos e com o parque habitacional existente a carecer de obras de reparação e de conservação de grande vulto (este segmento tem representado uma quota entre 7% e 8% do total da produção do sector). • Como consequência, o aumento da concorrência contribuiu para a descida rápida da taxa de juro, tornou possível a criação de condições de crédito muito mais flexíveis e inovadoras, ajustadas às necessidades e exigências dos clientes e desenvolveu novas oportunidades de financiamento que até então não era possível, tal como os créditos especialmente vocacionados para o mercado de arrendamento. • Com efeito, a redução da taxa de juro veio permitir aumentar a capacidade de acesso ao crédito a um maior número de famílias, aumentar a rotação dos capitais pela aceleração das parcelas de amortização e reduzir significativamente a capitalização de juros dos empréstimos em prestações progressivas e o peso dos encargos do Estado (em 1995 ascenderam a cerca de 25 milhões de contos, quando em 1996 se estima em 39 milhões, para um volume de crédito em carteira 10 vezes superior ao de então). • Apesar do aumento significativo de fundos disponibilizados para o segmento da habitação através do sistema bancário, entende-se que a resolução das carências habitacionais não depende apenas da vertente do crédito mas passa pela adopção de um conjunto mais vasto de medidas que visem eliminar os estrangulamentos que ainda afectam o sector. A produção anual de fogos continua a situar-se muito abaixo do que seria desejável – na ordem dos 60 mil exigindo, portanto, uma maior intervenção dos diferentes promotores (empresas privadas, cooperativas e municípios). 153 PERSPECTIVAS A – PRESSUPOSTOS • União Monetária – entrada de Portugal com convergência nominal • União Económica – desenvolvimento da convergência real e fiscal • Baixa da taxa de juro e da inflação • Recuperação da economia europeia • Desenvolvimento de novos canais financeiros • Internacionalização financeira Estes pressupostos, aliados às ainda elevadas carências habitacionais existentes no País, vão determinar que no sistema bancário português se desenvolvam novas tendências e oportunidades. Tendo por base os pressupostos referidos, apontam-se as principais tendências do sistema bancário no mercado do crédito à habitação: B – TENDÊNCIAS 1. MERCADO • Manutenção do crescimento do mercado imobiliário Aumento do investimento imobiliário por força da redução da taxa de juro, o que constitui um factor positivo na resolução das carências habitacionais e estabilização dos preços do mercado. Mercado do crédito à habitação O crédito continuará a manter um papel privilegiado no acesso da generalidade das famílias à habitação Mercado de arrendamento Exigência de adequação deste mercado aos parâmetros europeus por forma a interessar os investidores institucionais; aumento da oferta através de uma maior participação do sector público em programas habitacionais (Programa de Construções Económicas/PER-Instituições); subsídios ao arrendamento (IAJ e outros que possam vir a ser equacionados para incentivar o mercado) 154 • Melhoria (exigência/qualidade) das habitações Maior exigência dos clientes/protecção do consumidor/normativos legais (exemplo: defeitos de construção) • Alteração de comportamento dos clientes para com os bancos Diminuição da lealdade para com o banco principal, com compra de produtos noutros bancos Factores mais importantes na tomada de decisão do cliente Qualidade do serviço Acessibilidade Preço • Maior profissionalismo dos agentes Promotores/Construtores/Mediadores/Financiadores • Potencial futuro: Casas e equipamentos para lazer • Desenvolvimento de novos mercados Recuperação de imóveis Parque imobiliário a carecer de obras de grande vulto Novas exigências em termos de segurança de pessoas e bens 2. OPORTUNIDADES • Aprofundamento do “triângulo” construtor/mediador/financiador Bolsa imobiliária, vendas e serviços de procuradoria a disponibilizar pelos bancos • Aquisição de habitação para lazer por nacionais e estrangeiros • Parcerias com bancos estrangeiros (clientes/ Know how) Estabelecimento de acordos entre bancos nacionais e estrangeiros no desenvolvimento do negócio imobiliário para não residentes • Novos canais Internet associada à oferta de imóveis e produtos para financiamento, com antecipação do momento da decisão • Previsível aumento dos financiamentos em outras moedas estrangeiras e em Euro, durante a fase de transição 155 3. INOVAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS • Venda cruzada Crédito ao consumo Seguros Serviços • Novos produtos/modalidades de financiamento Produtos com prazos dilatados adequando os encargos ao nível de rendimentos Ponte entre o arrendamento e a compra Linhas de crédito favoráveis à recuperação do parque imobiliário Financiamentos bancários/negociação de fundos comunitários Melhorar os regimes de financiamento actualmente em vigor Linhas de crédito para aquisição e infra-estruturação de solos Aumentar os solos urbanos disponíveis e a preços adequados para reduzir os custos finais da habitação • Novas formas de captar fundos Desenvolvimento do mercado das obrigações hipotecárias Mercado bastante desenvolvido em alguns países europeus, mas pouco utilizado no nosso País. As alterações recentes vieram simplificar procedimentos burocráticos mas os incentivos ficaram muito aquém do que seria desejável tendo em vista a construção de um mercado hipotecário. Perspectiva-se que, no futuro, haja uma dinamização do mercado Poupança Habitação O sucesso do sistema depende da confiança no mercado, estabilização dos preços e dos incentivos fiscais. Poupanças do exterior Criação de mecanismos que possam atrair poupanças para investir em habitação própria, para férias ou arrendamento, com o apoio de acções de promoção e divulgação. 4. PAPEL DO ESTADO • Regime fiscal da propriedade Tendência de redução dos custos fiscais, nomeadamente com a transmissão e hipoteca de imóveis habitacionais, no que respeita à isenção/redução do imposto 156 de selo das escrituras de compra e venda, escritos particulares, hipoteca, registos e escrituras notariais Alterações ao nível da sisa e da contribuição autárquica • Aligeiramento da carga burocrática Necessidade de simplificar procedimentos e circuitos inerentes ao licenciamento e aquisição de terrenos, registos e escrituras, bem como alargar o âmbito de aplicação do “Contrato por Documento Particular”. Presentemente só se aplica na situação de “aquisição de habitação, com recurso a financiamento através de uma instituição de crédito”, encontrando-se excluídos, nomeadamente, os casos de empréstimos para a aquisição e obras em simultâneo e os empréstimos só para obras. • Ampliação de incentivos fiscais Isentar do imposto de selo os juros dos empréstimos nomeadamente para aquisição de habitação para arrendamento Aumentar o limite de dedução em sede de IRS, dos montantes aplicados em contas Poupança Habitação, e reintroduzir a isenção dos juros destas contas Reintroduzir os incentivos fiscais em sede de IRS para dinamizar o mercado de arrendamento Melhorar os incentivos fiscais a investidores institucionais para dinamizar o mercado de arrendamento (FII e SGII, Fundos de Pensões) Rever a tributação dos ganhos provenientes da transmissão onerosa de imóveis para habitação. • Tendência para uma menor intervenção no mercado Os critérios de convergência, com impacto nas restrições orçamentais e na descida da taxa de juro, vão exigir menor intervenção do Estado no mercado da habitação e aconselhar a canalização de poupanças para o investimento em habitação para arrendamento. 157 ANEXOS 158 ANEXO 1 Evolução do Crédito à Habitação na CGD IPC Prestação por 1000 Variação Valor Médio Montante contos Anual do do Contrato Contratado (%) Valor Médio Capital (Contos) (Milhões de do Contrato Contos) Mutuado (a) 1980 51.109 32.023 23,3 727,6 16,60% 2.520$ (b) 1981 45.701 38.575 36 933,2 28,3% 20,00% 2.520$ 1982 26.114 27.407 32,9 1.200,4 28,6% 22,40% 1983 17.162 19.676 27,7 1.407,8 17,3% 25,50% 5.737$ 1984 25.992 20.483 33,7 1.645,3 16,9% 29,30% 1985 30.547 23.721 43,8 1.846,5 12,2% 19,30% 1986 58.142 32.435 82,5 2.543,5 37,8% 11,70% 2.937$ 1987 48.347 45.526 130,3 2.862,1 12,5% 9,40% 3.824$ 1988 37.320 33.854 107,9 3,187,2 11,4% 9,60% 4.124$ 1989 26.493 30.116 107,5 3,569,5 12,0% 12,60% 5.900$ 1990 33.500 27.554 104,7 3,799,8 6,5% 13,30% 7.319$ 1991 31.617 31.332 140,3 4,477,9 17,8% 11,40% 7.070$-10.722$ 1992 29.714 30.702 155,7 5.071,3 13,3% 8,90% 6.936$-10.530$ 1993 24.325 27.008 149,6 5.539,1 9,2% 6,50% 5.858$-9.099$ 1994 31.836 30.270 192,6 6.362,7 14,9% 5,20% 5.420$-7.900$ 1995 33.311 34.363 241,2 7.019,2 10,3% 4,10% 5.248$-7.682$ 1996 39.126 38.277 278,1 7,265,5 3,5% 3,10% 5.015$-7.202$ (a) Classe com maior percentagem de bonificação, a qual tem representado cerca de 80% na estrutura do crédito bonificado. (b) Esta prestação surge com criação do novo sistema de prestações progressivas (Dec.-Lei n.º 435/80). No regime anterior a prestação mais baixa era de 5.520$00 por cada 1.000 contos de capital contratado. Em 1991, iniciou-se o regime de prestações constantes com bonificações e foi abolido. O valor do fogo para enquadramento dos empréstimos no regime bonificado. Fonte: CGD ANO Pedidos Entrados (n.º) Contratos Celebrados (n.º) 159 ANEXO 2 Evolução dos saldos do crédito ao sector da Construção, Obras Públicas e Habitação Comparação com o total do crédito concedido a empresas e particulares (curto, médio e longo prazo) ANO CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS PARTICULARES PARA HABITAÇÃO VALOR % do total VALOR VAR % do total VALOR VAR % do total VALOR VAR 8,2% 10,4% 9,9% 9,9% 11,1% 11,7% 10,4% 8,8% 8,6% 8,7% 9,0% 9,3% 9,0% 9,0% 9,0% 9,0% 141,9 191,7 249,5 331,2 446,2 572,6 714,2 869,4 986,4 1.107,8 1,291,5 1,502,7 1,811,6 2.272,4 2.792,8 3.435,0 35,1% 30,2% 32,7% 34,7% 28,3% 24,7% 21,7% 13,5% 12,3% 16,6% 16,4% 20,6% 25,4% 22,9% 23,0% 8,6% 11,5% 12,0% 13,1% 15,8% 18,1% 22,0% 25,2% 27,3% 24,8% 23,3% 23,3% 25,2% 29,5% 31,8% 34,6% 276,9 364,4 456,0 580,1 757,9 942,6 1.052,8 1.171,4 1.295,9 1.495,1 1,794,6 2.100,4 2.461,1 2.948,9 3.541,9 4.227,0 31,6% 25,1% 27,2% 30,6% 24,4% 11,7% 11,3% 10,6% 15,4% 20,0% 17,0% 17,2% 19,8% 20,1% 19,3% 16,8% 21,9% 21,9% 23,07% 26,9% 29,9% 32,4% 34,0% 35,9% 33,5% 32,4% 32,6% 34,3% 38,3% 40,4% 42,6% 1.651,6 1.661,8 2.081,2 2.523,3 2.818,7 3.157,6 3.249,8 3.443,4 3.608,7 4.459,3 5.540,4 6.448,9 7.185,5 7.693,7 8.769,8 9.925,0 0,6% 25,2% 21,2% 11,7% 12,0% 2,9% 6,0% 4,8% 23,6% 24,2% 16,4% 11,4% 7,1% 14,0% 13,2% VAR 1981 135,0 1982 172,7 27,9% 1983 206,5 19,6% 1984 248,9 20,5% 1985 311,7 25,2% 1986 370,0 18,7% 1987 338,6 -8,5% 1988 302,0 -10,8% 1989 309,5 2,5% 1990 387,3 25,1% 1991 503,1 19,9% 1992 597,7 18,8% 1993 649,5 8,7% 1994 676,5 4,2% 1995 759,1 10,7% 1996 792,0 5,7% Ano de 1996 – Estimativa. (1) Empresas não Financeiras. Fonte: B.P. SUB-TOTAL 160 CRÉDITO TOTAL A EMPRESAS E PARTICULARES (1) IPC 20,0% 22,4% 25,5% 29,3% 19,3% 11,7% 9,4% 9,6% 12,6% 13,4% 11,4% 8,9% 6,5% 5,2% 4,1% 3,1% ANEXO 3 Desenvolvimento de um empréstimo em prestações progressivas, pelo prazo de 25 anos – Classe de bonificação I, Nas condições abaixo indicadas 1) Taxa de juro nominal: 2) Juros não capitalizáveis: 3) Data presumível do contrato: 4) Taxa de referência para cálculo bonificações Prazo Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Capital no Início do Ano (Esc.) 1.000.000 1.054.004 1.109.027 1.164.753 1.220.792 1.276.674 1.331.831 1.385.585 1.437.134 1.485.427 1.529.652 1.568.204 1.599.662 1.622.258 1.633.942 1.632.341 1.614.714 1.577.900 1.518.256 1.431.585 1.313.048 1.157.055 957.111 705.575 393.136 Variação Capital (%) 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,3 4,0 3,7 3,4 3,0 2,5 2,0 1,4 0,7 -0,1 -1,1 -2,3 -3,8 -5,7 -8,3 -11,9 -17,3 -26,3 -44,3 Bonificação Mensal (Esc.) 5.555 5.855 6.007 6.147 6.104 6.029 5.919 5.773 5.589 5.589 5.364 5.099 4.792 4.443 4.055 3.631 3.174 2.691 2.193 1.193 729 321 0 0 0 161 16,667% 46% Mar-88 18,000% Prestação Mensal (Esc.) 4.167 4.538 5.097 5.706 6.540 7.448 8.431 9.494 10.638 11.864 13.172 14.562 16.031 17.575 19.187 20.858 22.576 24.326 26.088 27.837 29.544 31.701 32.701 33.907 35.794 Variação Prestação (%) 8,9 12,3 12,0 14,6 13,9 13,2 12,6 12,0 11,5 11,0 10,6 10,1 9,6 9,2 8,7 8,2 7,8 7,2 6,7 6,1 5,5 4,9 3,7 5,6 ANEXO 4 Desenvolvimento de um empréstimo em prestações progressivas, pelo prazo de 25 anos – Classe de bonificação I, nas condições abaixo indicadas 1) Taxa de juro nominal: 2) Juros não capitalizáveis: 3) Data presumível do contrato: 4) Taxa de referência para cálculo bonificações Prazo Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Capital no Início do Ano (Esc.) 1.000.000 1.040.226 1.080.190 1.119.567 1.157.981 1.194.995 1.230.107 1.262.740 1.292.236 1.317.841 1.338.700 1.353.840 1.362.161 1.362.418 1.353.205 1.332.937 1.299.834 1.251.891 1.186.863 1.102.231 995.177 862.550 700.833 506.106 274.019 Variação Capital (%) 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 2,9 2,7 2,3 2,0 1,6 1,1 0,6 0,0 -0,7 -1,5 -2,5 -3,7 -5,2 -7,1 -9,7 -13,3 -18,7 -27,8 -45,9 Bonificação Mensal (Esc.) 5.841 6.076 6.151 6.212 6.087 5.933 5.748 5.531 5.283 5.003 4.691 4.349 3.978 3.581 3.161 2.725 2.278 1.828 1.386 966 581 252 0 0 0 162 17,522% 56% Abr-89 19,000% Prestação Mensal (Esc.) 5.670 6.042 6.595 7.183 7.977 8.818 9.706 10.640 11.618 12.637 13.692 14.780 15.892 17.021 18.155 19.282 20.387 21.449 22.448 23.356 24.143 24.771 25.198 25.226 25.060 Variação Prestação (%) 6,6 9,2 8,9 11,0 10,5 10,1 9,6 9,2 8,8 8,4 7,9 7,5 7,1 6,7 6,2 5,7 5,2 4,7 4,0 3,4 2,6 1,7 0,1 -0,7 ANEXO 5 Desenvolvimento de um empréstimo em prestações progressivas, pelo prazo de 25 anos – Classe de bonificação I, nas condições abaixo indicadas 1) Taxa de juro nominal: 2) Juros não capitalizáveis: 3) Data presumível do contrato: 4) Taxa de referência para cálculo bonificações Prazo Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Capital no Início do Ano (Esc.) 1.000.000 1.038.370 1.076.324 1.113.539 1.149.640 1.184.197 1.216.718 1.246.639 1.273.319 1.296.032 1.313.952 1.326.148 1.331.569 1.329.031 1.317.205 1.294.600 1.259.545 1.210.173 1.144.403 1.059.916 954.138 824.225 667.047 479.208 257.144 Variação Capital (%) 3,8 3,7 3,5 3,2 3,0 2,7 2,5 2,1 1,8 1,4 0,9 0,4 -0,2 -0,9 -1,7 -2,7 -3,9 -5,4 -7,4 -10,0 -13,6 -19,1 -28,2 -46,3 Bonificação Mensal (Esc.) 5.348 5.553 5.612 5.657 5.533 5.383 5.205 5.000 4.767 4.505 4.216 3.901 3.560 3.198 2.818 2.423 2.021 1.618 1.224 850 510 220 0 0 0 163 18,794% 60% Abr-90 17,500% Prestação Mensal (Esc.) 7.383 7.810 8.402 9.025 9.832 10.679 11.565 12.486 13.441 14.424 15.431 16.455 17.548 18.520 19.539 20.531 21.478 22.360 23.154 23.831 24.358 24.696 24.797 24.470 23.672 Variação Prestação (%) 5,8 7,6 7,4 8,9 8,6 8,3 8,0 7,6 7,3 7,0 6,6 6,3 5,9 5,5 5,1 4,6 4,1 3,5 2,9 2,2 1,4 0,4 -1,3 -3,3 ANEXO 6 Desenvolvimento de um empréstimo em prestações progressivas, pelo prazo de 25 anos – Classe de bonificação I, nas condições abaixo indicadas 1) Taxa de juro nominal: 2) Juros não capitalizáveis: 3) Data presumível do contrato: 4) Taxa de referência para cálculo bonificações Prazo Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Capital no Início do Ano (Esc.) 1.000.000 1.004.303 1.006.868 1.007.525 1.006.093 1.002.377 996.170 987.250 975.380 960.307 941.762 919.456 893.083 862.317 826.809 786.189 740.063 688.013 629.594 564.336 491.793 411.278 322.399 224.530 117.094 Variação Capital (%) 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,4 -0,6 -0,9 -1,2 -1,5 -1,9 -2,4 -2,9 -3,4 -4,1 -4,9 -5,9 -7,0 -8,5 -10,4 -12,9 -16,4 -21,6 -30,4 -47,8 Bonificação Mensal (Esc.) 3.500 3.515 3.436 3.350 3.169 2.982 2.789 2.591 2.390 2.185 1.978 1.770 1.563 1.358 1.157 963 777 602 441 296 172 72 0 0 0 164 10,500% 58% 11,020% Prestação Mensal (Esc.) 4.908 5.069 5.322 5.580 5.929 6.282 6.636 6.989 7.342 7.691 8.034 8.369 8.694 9.006 9.302 9.578 9.831 10.056 10.250 10.406 10.519 10.584 10.592 10.495 10.322 Variação Prestação (%) 3,3 5,0 4,8 6,3 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 3,0 2,6 2,3 1,9 1,5 1,1 0,6 0,1 -0,9 -1,7 ANEXO 7 Desenvolvimento de um empréstimo em prestações progressivas, pelo prazo de 25 anos – Classe de bonificação I, nas condições abaixo indicadas 1) Taxa de juro nominal: 2) Juros não capitalizáveis: 3) Data presumível do contrato: 4) Taxa de referência para cálculo bonificações Prazo Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Capital no Início do Ano (Esc.) 1.000.000 999.896 998.050 994.319 988.549 980.577 970.231 957.326 941.668 923.052 901.258 876.056 847.200 814.432 777.477 736.045 689.831 638.511 581.744 519.171 450.415 375.079 292.752 203.008 105.428 Variação Capital (%) 0,0 -0,2 -0,4 -0,6 -0,8 -1,1 -1,3 -1,6 -2,0 -2,4 -2,8 -3,3 -3,9 -4,5 -5,3 -6,3 -7,4 -8,9 -10,8 -13,2 -16,7 -21,9 -30,7 -48,1 Bonificação Mensal (Esc.) 3.167 3.166 3.082 2.991 2.817 2.639 2.458 2.274 2.087 1.900 1.712 1.526 1.341 1.161 985 816 655 506 368 247 143 59 0 0 0 165 9,500% 58% 9,925% Prestação Mensal (Esc.) 4.758 4.897 5.117 5.341 5.644 5.949 6.252 6.554 6.852 7.146 7.433 7.711 7.979 8.235 8.475 8.698 8.899 9.077 9.228 9.348 9.432 9.477 9.476 9.391 9.244 Variação Prestação (%) 2,9 4,5 4,4 5,7 5,4 5,1 4,8 4,6 4,3 4,0 3,7 3,5 3,2 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,3 0,9 0,5 0,0 -0,9 -1,6 ANEXO 8 Desenvolvimento de um empréstimo em prestações progressivas, pelo prazo de 25 anos – Classe de bonificação I, nas condições abaixo indicadas 1) Taxa de juro nominal: 2) Prazo:: 3) Montante: Prazo Anos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Capital no Início do Ano (Esc.) 1.000.000 989.716 978.412 965.986 952.326 937.311 920.805 902.662 882.717 860.794 836.694 810.203 781.082 749.071 713.883 675.203 632.684 585.945 534.568 478.091 416.009 347.766 272.749 190.288 99.642 Variação Capital (%) -1,0 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,2 -2,5 -2,8 -3,2 -3,6 -4,1 -4,7 -5,4 -6,3 -7,4 -8,8 -10,6 -13,0 -16,4 -21,6 -30,2 -47,6 9,500% 24 anos 1.000.00 Esc. Bonificação Mensal (Esc.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 Prestação Mensal (Esc.) 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 8.737 Variação Prestação (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dr. António Amaral Gomes * Comentador 1. O FINANCIAMENTO COMO INSTRUMENTO DE UMA POLÍTICA DE HABITAÇÃO Uma política de habitação consistirá genericamente num conjunto de medidas, instrumentos e acções que de uma forma integrada e coerente levem à satisfação das necessidades em habitação de uma dada população. O financiamento entendido como o conjunto dos recursos financeiros e a forma como estes são obtidos e aplicados representa um dos instrumentos principais de qualquer política de habitação. Estamos a falar em habitação a qual, considerada como um bem ou serviço representa o maior esforço na sua aquisição que qualquer família terá que suportar para ver satisfeita a sua necessidade de abrigo. O financiamento não pode, contudo, ser considerado como um fim em si nem sempre o instrumento privilegiado de qualquer política de habitação. O estado de desenvolvimento de um dado sector de habitação será o condicionador do papel a desempenhar pelo instrumento – financiamento. Este estado de desenvolvimento deverá ser entendido como, por um lado, o grau de satisfação das necessidades em habitação e por outro o grau de desenvolvimento ou sofisticação que os vários instrumentos de política atingiram. Se no âmbito do financiamento os instrumentos específicos como a taxa de juro, os montantes, os prazos, etc. são genericamente aplicados, já o mesmo não podemos dizer quanto a outro tipo de condições que podem estar inerentes a qualquer sistema de financiamento. Exemplo: política de subsídios, condicionamento de custos, regionalização, formas de acesso, etc. O instrumento financiamento, enquanto enquadrado por um elevado grau de necessidades, deve ter como objectivo o proporcionar uma aplicação o mais racional possível dos limitados recursos financeiros levando à realização do maior número de fogos com o menor dispêndio de recursos. A intervenção que agora comentamos vem mostrar-nos que o financiamento foi “A política de habitação” e não um dos seus instrumentos. Não abarcando todos os aspectos do financiamento relativamente ao ciclo de promoção, “do terreno ao notário”, vem confirmar a importância dada nas últimas duas décadas ao financiamento à aquisição de habitação, enquanto produto acabado quer ele tenha sido produzido com maior ou menor grau de eficiência. Não abarca também a questão do financiamento público em habitação, parte que não sabemos se irá ser tratada na intervenção sobre habitação social. * COOCICLO. 167 O observatório privilegiado que é a CGD possibilita-nos a leitura de um documento retratando de uma forma global e coerente toda a problemática do financiamento à aquisição de habitação nos últimos vinte anos. A tarefa de comentar o texto em causa não se traduzirá numa crítica ao mesmo já que estamos perante um trabalho de qualidade com uma análise em profundidade de vários aspectos deste tema, profusamente documentado com dados estatísticos difíceis de obter por quem tivesse procurado desenvolver trabalho idêntico. 2. MODELO DE FINANCIAMENTO A – Fontes de financiamento Ousaremos dizer que num sistema de financiamento do sector da habitação a componente mais importante será a fonte ou as fontes dos recursos financeiros. Como se afirmou atrás o bem ou serviço habitação, representa o maior esforço financeiro para qualquer família. Isto implica que a sua aquisição tenha quase sempre de se apoiar no crédito através, normalmente, da contracção de um empréstimo. Por outro lado e dado os montantes em causa, os esquemas financeiros de amortização inerentes implicam prazos longos, o que por sua vez implicam a obtenção alongada no tempo dos recursos necessários para sustentar um processo de financiamento continuado, dentro dos mesmos prazos. A fonte pública de financiamento tendo como origem dos recursos o sistema de impostos tem sofrido grandes variações ao longo do tempo e está quase sempre ligada a períodos de reconstrução em larga escala ou então quando a dimensão e nível das necessidades é grande e em que o apoio do Estado se torna importante dada o baixo nível de rendimentos de grande parte das famílias. A origem de recursos tendo como fonte os descontos para o sistema de previdência ou descontos semelhantes (sistema do 1% em França) tem também sempre subentendido o princípio base a ter em conta – longos períodos de recuperação dos recursos aplicados implicam formas contínuas, longas e sustentadas de obtenção desses mesmos recursos. As transformações observadas no sistema bancário português a partir de 1993 levaram a que os bancos procurem fidelizar o cliente mutuário na compra de habitação conseguindo assim aumentar a fonte dos seus recursos complementado com o cruzamento na venda de outros serviços. B – Aplicação dos recursos no processo de promoção O processo de promoção de habitação é muitas vezes iludido pelo bem em si (a habitação) já construído, sem termos em conta todo o conjunto de acções que levaram à sua realização (adquirir e urbanizar o terreno, elaborar o projecto, construir e 168 finalmente proporcionar o seu acesso pelas várias formas que este pode revestir – venda e arrendamento). O início do processo de promoção pela urbanização do terreno constitui a evolução lógica; mas se tivermos em atenção que até 1971 não havia nenhum Plano Geral de Urbanização aprovado em conformidade com a lei é de admitir que o financiamento a esta fase no processo, não tenha ganho significado e experiência. Foram as entidades públicas, Câmaras Municipais, e organismos da Administração Central que desenvolveram, com recursos próprios, processos de urbanização com alguma escala até 1974. As experiências existentes antes de 1974 de financiamento à aquisição e urbanização de terrenos a entidades privadas pelo sector bancário foram dolorosa e traumaticamente repercutidas após esse ano numa posição de recusa a este tipo de financiamento. Situação que começa agora a diluir-se e a abrir-se e a retomar lentamente este tipo de operações. O financiamento à construção tem assumido uma importância idêntica à dimensão e qualidade dos promotores. O pequeno promotor construtor, cliente base desta fase, normalmente com recursos próprios, vê no sistema bancário um complemento aos seus próprios recursos, nunca proporcionando a dimensão e a utilização de formas de análise e decisão por parte do sistema bancário capazes de imporem acções mais racionalizadas por parte deste (ex: no projecto, na localização, no cumprimento de prazos, na capacidade produtiva, etc.). A tentativa dos CDH no período de 1975 a 1978 não teve tempo de mostrar as suas potencialidades. A fase final, já com a habitação construída, tem sido aquela onde todas as atenções e medidas se debruçaram e onde se adquiriram todas as experiências num período de tempo em que as condições de financiamento tiveram taxas que variaram de 6% a 32,5%, onde os financiamentos chegaram a atingir 100% do valor do fogo e onde o controlo administrativo do crédito obrigou a demoras de mais de 8 meses na concessão de um empréstimo. 3. EVOLUÇÃO DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO NAS DUAS ÚLTIMAS DÉCADAS A – A ausência de planeamento O crédito à aquisição de habitação própria constitui, desde Março de 1976, o principal e para nós único instrumento importante posto em prática pelos vários governos em funções desde essa data. Falava-se então em ...“relançamento da indústria da construção civil” ... “proporcionar a muitos agregados familiares a possibilidade de adquirirem a sua casa” ... “criar instrumentos que eliminem definitivamente quaisquer práticas especulativas”... Nascia assim com a R.C.M. de 19 de Março de 1976 “a título experimental” este regime de crédito. 169 Seguiu-se-lhe em Novembro de 1977 o D.L. 515/77 em Outubro de 1980 o D.L. 435/80 em Dezembro de 1981 o D.L. 340/81 em Dezembro de 1983 o D.L. 459/83 em Setembro de 1986 o D.L. 328-B/86 e uma infindável série de portarias e outros decretos. Esta sequência de normas legislativas reflecte por um lado a adaptação, na óptica do legislador, às circunstâncias do momento (taxas de juro, regime de prestações, aplicação especial aos jovens, etc.) e por outro responder a solicitações dos promotores e construtores que resolvessem as contradições que o próprio sistema contém e que só mais tarde se tornarão mais sensíveis. Verificava-se, contudo, que cada uma destas medidas era acompanhada com um conjunto de intenções que na prática apareciam desadequadas face a condicionalismos impostos pela política financeira global. As discordâncias entre a Secretaria de Estado da Habitação e o Ministério das Finanças são crónicas e existem desde 1976. As intenções de relançamento ou apoio à promoção de habitação pela publicação de cada nova portaria actualizando os parâmetros do crédito bonificado esbarrava com restrições aos montantes de crédito ao global da economia. Ao longo de uma década e meia passou-se por fases em que era possível e tecnicamente sustentável a programação de recursos financeiros do sistema bancário (lembremo-nos que eram na altura os três IECs as principais entidades financiadoras) com destino exclusivo à habitação proporcionando-se um volume de recursos que suportasse o número de pedidos e as intenções dos adquirentes de habitação face às novas portarias que iam sendo publicadas. Embora contendo o “vírus” que o iria saturar, este sistema de crédito iludia os promotores numa primeira fase, pois ao proporcionar em dado momento condições aos adquirentes bastante favoráveis provocava nestes um aumento do número de pedidos de crédito e um consequente número de vendas. Este facto levava por sua vez a uma reacção em cadeia que se traduzia em inícios de processos de promoção cujas habitações só entrariam em mercado anos mais tarde, altura em que, as condições dadas ao adquirente eram já diferentes e, por vezes, altamente refreadoras ficando os fogos por vender, criando um stock que em 1984 chegou a dizer-se atingir os 40 000 fogos. São nítidos estes períodos em 1980/84 e 1986/89/90. Observem-se os quadros respectivos reveladores destas variações e os seus parâmetros condicionadores, nomeadamente o valor da prestação por cada 1000 c. de empréstimo. 170 B– Gestão de subsídios Numa análise dos quadros que nos indicam o número de pedidos e de contratos quando comparados com o valor das prestações mais bonificadas e ainda referenciados às taxas de juro activas de longo prazo, verifica-se que não foi a taxa de juro de mercado que comandou o valor das bonificações, mas sim critérios de outra ordem mas que verdadeiramente constituíram o factor que marcava o comportamento dos potenciais adquirentes. Alguns exemplos: ano 1983 1985 1989 1991 v. da prestação 6.340$00 3.591$00 6.896$00 7.530$00 1 taxa de mercado 30% 32,5% 19,5% 20% Este meio de intervenção do Estado só sofria atrasos quando as condições financeiras globais obrigavam à contenção do crédito. Em 1985/86 era tido como pressuposto aquando do cálculo dos valores das prestações ao longo dos vários anos do empréstimo que a inflação baixaria nos primeiros anos e que consequentemente baixariam as taxas de juro, sendo a bonificação o primeiro factor a ser absorvido por esta diminuição. As previsões dessa altura só se vieram a concretizar tendencialmente em 1991 e 1992 com repercussões visíveis, certamente, em 1993. Os vários governos mostraram-se sempre relutantes em trazer a público os montantes de subsídios pagos às várias instituições de crédito sendo possível agora saber que foram dispendidos cerca de 400 milhões de contos desde 1976 em bonificações no crédito à aquisição de habitação. As portarias regulamentadoras das bonificações começaram por estabelecer parâmetros relativos às habitações limitando o seu custo por m2 e o seu valor global, assim como o rendimento familiar do destinatário da bonificação. Mais tarde os limites passaram a ser somente o valor global da habitação e o rendimento familiar. Hoje limitamo-nos a observar o rendimento familiar como única condicionante à concessão da bonificação. É hoje possível adquirir uma habitação nas Amoreiras (Lisboa) com crédito bonificado! Neste longo período de vinte anos não se proporcionou nem se exigiu que houvesse um esforço no sentido de se diminuírem os custos de construção. Apoiou-se o mercado sem exigir nada em troca; e a troca poderiam ter sido mesmo maiores lucros se se tivessem tomado medidas com vista à diminuição de custos de 1 Valor da prestação no regime mais bonificado; valores recolhidos pelo comentador eventualmente não explícitos na intervenção base. 171 construção (racionalização do projecto, novos métodos construtivos, formação profissional 2 etc.). Por outro lado, com a metodologia seguida em desparametrizar a concessão das bonificações “empurraram-se” as famílias para áreas e tipologias cada vez mais pequenas relativamente à dimensão do agregado familiar. Este aspecto tem consequências sociais, difíceis de quantificar, mas que são sentidas por todos quando observamos as influências na família pela falta de espaço em casa, tendendo esta a ser um pólo de repulsão e não de atracção para os membros do agregado familiar. C – Poupança prévia As contas poupança-habitação existem desde 1972 nunca tendo produzido efeitos visíveis (contratos de empréstimo tendo por base estas contas). As causas são sempre as mesmas para que desde essa altura até aos dias de hoje esta medida não tenha constituído senão, por vezes, um mero instrumento de ordem fiscal. Este sistema de incentivo tem como exigência um ritmo lento no aumento do preço da habitação no mercado. O cenário para o potencial aforrador, no início do processo, é um dado preço da habitação, mas no fim (três, quatro anos mais tarde) os valores em causa estão completamente distorcidos para os valores poupados e não chegam, por vezes, para o sinal. Actualmente constitui uma mera medida fiscal (e mesmo assim cada vez menos incentivadora) e terá alguns efeitos práticos em estratos de rendimento acima da média. D – Custos do esgotamento do modelo Os custos de esgotamento do modelo podem-se ver fundamentalmente em dois aspectos: o peso do crédito à habitação na economia e o atingir-se o ponto máximo na “liberalização” dos parâmetros que definem o crédito bonificado. A relação entre a dimensão da habitação e o seu preço e a correspondente bonificação foi-se esbatendo ao longo dos anos a tal ponto que podemos dizer hoje que qualquer habitação pode ter crédito bonificado desde que haja alguém que reúna os restantes requisitos ao seu acesso. Atingiu-se o ponto máximo permitido pelo sistema a partir do qual vai ser difícil inovar sem traumatismos 3 . Queremos com isto dizer que se habituaram os agentes que 2 A formação profissional na construção civil é um factor altamente condicionante ao aumento da produtividade e à alteração de tecnologias de construção; quaisquer medidas neste campo implicam acções de massa que se estendam a todo o país e que não obriguem o trabalhador a deslocar-se ao centro de formação, mas pelo contrário, que o centro de formação se desloque ao trabalhador. 3 Uma diminuição drástica nas bonificações causará certamente pesadas consequências nos promotores e construtores. 172 intervêm no sector a “uma vida fácil” ao longo de mais de 15 anos e que qualquer alteração ao sistema obrigará a uma maior racionalização no processo de promoção procurando reduzir custos, atitude que até aqui ninguém procurou ter. Para reduzir custos na promoção de habitação sem baixar a qualidade ou reduzir a dimensão do fogo é necessário bastante tempo já que se mexe com vários intervenientes que não só o promotor – gestão do solo urbano 4 projecto, construção, etc. 4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS A aplicação de recursos financeiros na produção de solo urbanizado com recurso ao crédito nunca foi modalidade bastante utilizada como vimos atrás. Começam a existir condições para que, de uma forma lenta mas pedagógica e com operações protótipo, se possa começar a conceder crédito para aquisição e infraestruturação de terrenos. Para isso impõe-se que haja: a) estrita ligação ao planeamento urbanístico – PDM, planos gerais e de pormenor; b) enquadramento em contratos programa de urbanização o que pode facilitar muito a habitual incompatibilização entre a estrutura fundiária e os planos de pormenor; c) penalizações pela não promoção nos prazos acordados. A simples concessão de crédito à infra-estruturação, o seu próprio incentivo à figura da Associação entre a Administração e proprietários poderá constituir um passo importante para uma maior implementação desta forma associativa. O controlo de custos, entendido na sua globalidade, não existe em Portugal. Impõese, desde já, uma acção didáctica e informativa. Ter-se-á como ideia base a de que a concessão de subsídios à aquisição de habitação deverá ser só aplicada a habitação de custos controlados. Mas o controlo de custos tem de existir e não ser só uma “capa” para a obtenção de crédito mais barato. O crédito mais barato, que é o que tem motivado os promotores deste tipo de habitação, tem de ser concedido proporcionando escalonamentos nas condições de aplicação dos subsídios, sendo estes tanto maiores quanto menores forem os custos. O estabelecimento de escalões passa por ser uma das primeiras medidas a tomar. A área das habitações dever-se-á enquadrar neste tipo de escalonamento. Obter-se-á assim uma maior racionalidade na aplicação dos recursos públicos. 4 A recente constatação de que o preço dos terrenos em Almada atingem valores superiores aos de Lisboa pressupõe que o promotor ou construtor prevê que uma vez construído o edifício as habitações atinjam um valor compatível com preço pago pelo terreno. 173 A ideia base da exclusividade do subsídio na aquisição de habitações de custos controlados, retirando-o do mercado, é a única forma de se provocar uma análise interna nos habituais promotores e outros agentes ligados ao sector e levá-los à reconversão de vários aspectos da sua actividade (projecto, métodos construtivos, materiais de construção, controlo de qualidade, etc.) Impõem-se ainda medidas urgentes ao nível dos registos e notariado no sentido do embaratecimento e desburocratização. 174 Painel Arrendamento 175 Engenheiro Mário de Azevedo * Relator 1. ARRENDAMENTO E “DIREITO À HABITAÇÃO” Nas sociedades urbanizadas de hoje, e no quadro do atendimento às necessidades de habitação, a possibilidade de acesso a um alojamento em regime de arrendamento apresenta-se como um factor essencial de garantia da liberdade dos cidadãos. Posto de parte o cenário opressivo e sempre ameaçador de um Estado que detenha todo o património edificado para habitação e os mecanismos da sua atribuição, são evidentes também o irrealismo e os inconvenientes de um panorama em que a resolução dos problemas de habitação devesse unicamente apoiar-se na propriedade, por parte de cada indivíduo ou aglomerado familiar, do próprio fogo ocupado. A possibilidade de opção por regimes em que o direito à ocupação mais ou menos longa de um alojamento é obtido por acordo com o respectivo proprietário, público ou privado, impõe-se assim naturalmente e conjuga-se com a diversidade de situações individuais e familiares, a especialização de vocações e os diferentes níveis e variedade dos papéis sociais desempenhados pela multiplicidade de agentes da vida urbana. A generalizada aspiração a um alojamento condigno não pode ser ignorada pelo Estado, como necessidade primária fundamental consagrada em termos de “direito à habitação”, direito este que, não legitimando atitudes isoladas de reivindicação de cada cidadão perante o Estado, não pode deixar de se entender como responsabilidade política de qualquer Governo no sentido de garantir e fomentar a satisfação dessa exigência básica da população. É princípio que hoje ninguém contestará. Não são precisos também grandes estudos nem decerto esboço de debate para a afirmação elementar de que o problema habitacional se resolve mediante a construção e recuperação de habitações pelo menor custo, em quantidade suficiente e nos lugares requeridos. Os problemas surgem, no entanto, quando examinamos os diversos factores que podem afectar os objectivos em vista e qual o maior ou menor grau de intervenção dos poderes públicos. 2. ENQUADRAMENTO DE UMA POLÍTICA DE HABITAÇÃO O “mercado da habitação” apresenta-se, de alguma forma, como um fenómeno novo, constituindo um dos elementos caracterizadores da evolução e crescimento das nossas cidades nos séculos mais recentes. Nesse contexto, o desenvolvimento da * Presidente da Comissão para o Arrendamento Habitacional. 176 construção, componente fundamental da actividade económica, envolve e afecta valores que ultrapassam largamente o campo da simples economia. A clara separação que progressivamente se acentuou, em paralelo com outros sectores de actividade, entre os agentes da produção e do consumo determinou a inversão de relações entre os agrupamentos sociais e as estruturas materiais da cidade que os acolhem – entre a “cité” e a “ville”, na linguagem de Fustel de Coulanges para a cidade antiga. A construção deixou de se orientar para a satisfação de pedidos e de necessidades conhecidas de agregados ou comunidades preexistentes, sendo certo que mudam também de significado os conceitos de proximidade e de vizinhança. A cidade construída, a “ville”, é concebida em abstracto, para agregados familiares-tipo, constituindo o grande supermercado onde a habitação, como produto em série, é procurada pelo utente que, uma vez instalado, encontrará ou não depois a sua “cité” de enquadramento. Ora a habitação não pode ser encarada como simples ocupação de um fogo, independentemente de tudo o que o rodeia, equipamento da área e seus acessos, bem como dos laços sociais que o tempo vai consolidando e sedimentando, gerados a curta e a longa distância através das redes em que a habitação se integra, noção essa a ter sempre presente quando na lei se ponderam os direitos e os deveres de cada um dos intervenientes. Acresce que a habitação, não sendo simplesmente uma mercadoria lançada no confronto da oferta e da procura, é em qualquer caso um produto de elevado custo e exige assinalável tempo de fabrico, desde a preparação do terreno, infra-estruturas e projecto até à sua fase de utilização. No jogo da vida económica, pelas suas características específicas e processos de produção e de decisão, a oferta de habitação situa-se como regra numa perspectiva de médio e de longo prazo, respondendo sempre lentamente à procura. Uma política de habitação visará assim, no quadro de uma adequada utilização do território, garantir, e incentivar quando necessário, as condições para que as iniciativas de construção se desenvolvam em tempo e de forma ordenada e as necessidades da generalidade da população sejam satisfeitas em termos compatíveis com a diversidade de situações económicas e sociais. 3. PRODUÇÃO E MERCADO DA HABITAÇÃO Pelo sentimento de segurança e de garantia de independência que confere, constituindo ao mesmo tempo para muitos um factor de auto-estima e de promoção do seu “status” social, a habitação própria continuará a ser uma ambição de parte significativa da população, frequentemente inatingível sem apoios, ou só alcançável e compatível em fase adiantada de uma vida profissional e pessoal estabilizada. Saliente-se, no entanto, que a opção por habitação própria por parte daqueles que a ela conseguem aceder, designadamente com compromissos e encargos a longo prazo e num esforço que obriga tantas vezes à fixação em áreas que não seriam as mais 177 desejadas em termos de transportes e de inserção comunitária, nem sempre se revelará merecedora de protecção especial ou prioritária. Adoptada como solução num contexto em que outras alternativas economicamente equilibradas não se apresentavam, pode transformar-se num factor de aprisionamento, de limitação de mobilidade, com perda de oportunidades de promoção individual e familiar cujos custos sociais e pessoais são difíceis de aquilatar. No sector da habitação própria, de relevante importância, tem a administração pública um amplo campo de intervenção indirecta, na disciplina e ordenamento do território, licenciamento de iniciativas individuais ou empresariais, incentivos à construção que em cada conjuntura se justifiquem, e providências de vária ordem no apoio a formas colectivas de promoção e acesso à propriedade, designadamente no âmbito das cooperativas, matérias essas que não cabe aqui abordar. No campo do arrendamento, mas em condições de muito fortes condicionamentos e limitações, uma vultuosa parcela correspondente às populações mais carenciadas não poderá dispensar uma intervenção directa e de iniciativa do Estado, a nível nacional, regional e local, bem como de instituições de solidariedade social ou outras entidades vocacionadas. Estaremos nos domínios da chamada “habitação social”. Esta intervenção activa do Estado pode ainda alargar-se a investimentos privados em programas de construção apoiados para rendas condicionadas ou outros regimes controlados, a que terão acesso camadas com diferentes níveis de poder económico, realizações essas que não deixarão de influenciar o quadro em que o mercado da habitação se estabelece. Abordam-se seguidamente alguns dos temas mais correntes na análise do arrendamento de livre iniciativa privada. 4. O ARRENDAMENTO E A INTERVENÇÃO ESTATAL Dê-se como assente que as iniciativas privadas de construção ou de aquisição de fogos para arrendamento se fundamentam na racionalidade económica do investimento, ponderado no confronto com formas alternativas de aplicação de capitais e tendo presentes, para além do valor imediato de uma renda, outros factores, nem sempre convergentes, ligados à segurança, à regularidade de receitas, à facilidade de gestão, ao sentido de posse e de controlo pessoal, ao peso fiscal, à contabilização dos encargos regulares e periódicos previsíveis, aos constrangimentos de transmissão e de liquidez, e a um sem número de outros elementos muitas vezes de índole puramente cultural, para além da expectativa quase sempre presente no meio urbano de valorização efectiva e automática da área de implantação das construções com o decorrer do tempo. Todos esses factores intervêm no mercado da habitação mas, para o seu livre funcionamento em termos de vida económica, e se outros valores não estiverem simultaneamente em jogo, o mínimo de interferência do Estado seria então desejável. 178 Reconhece-se, no entanto, que não há mercados de arrendamento totalmente livres e, mesmo nas sociedades mais confiantes nos êxitos da plena concorrência, há sempre alguma intervenção do Estado, sob a forma de protecções legais ou de subvenções. Essa intervenção tende normalmente, pela força das circunstâncias, a ir além da indispensável e primordial garantia de funcionamento das instituições administrativas e judiciais. Nenhum governo consegue nem deve alhear-se dos problemas que se levantam no domínio da habitação, com a marginalização em tantos países de amplas camadas socialmente desfavorecidas e significativas dificuldades da maioria da população perante o grau de esforço exigido para acesso a esse bem essencial de elevado custo. A solução do arrendamento está naturalmente indicada, por razões que não são apenas as de ordem económica, para uma parcela substancial das necessidades de habitação que se manifestam. O esforço correspondente neste campo tem-se apoiado e continuará decerto a depender dos investimentos privados, designadamente através da captação de pequenas poupanças. Mas está também reconhecido, e a experiência continua a demonstrá-lo à saciedade desde há muitas décadas, que uma condição primordial para que algum sucesso se possa alcançar e consolidar neste sector reside na permanência de um quadro institucional e jurídico, não sensível a flutuações de política a curto prazo, capaz de estabelecer (no nosso caso, de restabelecer) um clima de confiança, facilmente perdido num dia e só recuperável em muitos anos. Do ponto de vista do investidor, a preocupação centra-se naturalmente nas garantias de manutenção das condições básicas em que fundou a sua decisão e as suas expectativas de aplicação de capitais, com acompanhamento de instituições de julgamento e de arbitragem de conflitos que garantam com celeridade o cumprimento das cláusulas contratuais definidoras das mútuas obrigações das partes, aspirando ainda, se possível, a um contexto de incentivos ou de apoios, às vezes justificados, em que o habitual apelo a protecções fiscais não costuma ficar esquecido. Do ponto de vista do utilizador, para além do bom acolhimento que dá a todas as medidas de desburocratização, embaratecimento da construção ou outras que possam tender ao embaratecimento das rendas, aguardam-se naturalmente situações que propiciem um mercado acessível e onde a viabilidade de escolha seja uma realidade, a par de medidas legais de respeito e protecção do seu estatuto de morador, com garantias preferenciais de permanência do agregado familiar dentro das condições e nível de qualidade que determinaram o seu contrato. A posição do Estado orienta-se assim pela necessidade de alcançar o equilíbrio entre a eficácia do mercado (atribuída a mecanismos de livre concorrência capazes de motivar iniciativas de aplicação de capitais privados para rendimentos compatíveis) e as restrições que, sem o anular, não pode deixar de impor a esse mesmo mercado por motivos de justiça social, embora corrigindo e complementando a intervenção que lhe 179 compete neste domínio, sempre que necessário, com a introdução a seu cargo de ajustados apoios aos desfavorecidos. 5. PROTECÇÃO E DISCIPLINA DO ARRENDAMENTO HABITACIONAL As normas que enquadram os regimes de arrendamento habitacional procuram naturalmente proteger as necessidades essenciais de quem habita, devendo ao mesmo tempo respeitar e incentivar (ou, pelo menos, não desincentivar...) aqueles que, através de um mercado tanto quanto possível livre e na previsão de um rendimento justo, desempenham também uma função social envolvendo os seus bens e as suas economias na construção dos fogos que permitem que esse mesmo arrendamento exista e possa expandir-se à medida da procura. Grande parte da resolução dos problemas da habitação depende desses investimentos, com significativo relevo na vitalidade da indústria da construção e inquantificáveis efeitos multiplicadores noutros domínios e a outros níveis, para além dos seus reflexos puramente económicos. Na procura do desejado equilíbrio de interesses, é de esperar que o Estado defina o regime legal e as regras essenciais a que devem obedecer os contratos de arrendamento habitacional, tornados obrigatórios para a devida segurança e estabilidade do alojamento. Há que contemplar, nesse contexto, as situações em que o contrato pode ou deve ter o seu termo, bem como a forma de assegurar a sua normal continuidade, quando devida; as garantias do pagamento e a manutenção da qualidade do prédio arrendado; os problemas de subarrendamento, de hospedagens, de desvirtuamento de função ou de transferência para outro titular; a própria possibilidade de participação do locatário em actos de gestão ou de beneficiação dos imóveis; as vias de julgamento ou de arbitragem na multiplicidade de problemas que sempre afectam um contrato de médio ou longo prazo, com frequentes alterações de circunstâncias e de situações dos contraentes; e tantos outros aspectos determinantes de uma equilibrada relação e salvaguarda dos interesses em jogo, numa hierarquia de valores que se desejaria consensual. O panorama do arrendamento habitacional no nosso País exibe, como está largamente reconhecido, extraordinárias distorções, com dois regimes distintos de arrendamento em vigor e a confiança dos investidores longe ainda de reconquistada. O longo rol de intervenções do Estado, em monarquia ou república, sob autoritarismos pessoais ou sob influência dos votos, não é decerto exemplar como história e como modelo, mas é bom que da penosa evolução sofrida ao longo de tantos decénios se tirem ao menos as lições possíveis para evitar repetição dos mesmos erros. O certo é que a multiplicidade de agentes e a natureza dos interesses conflituais em jogo, na intensidade com que se fazem sentir e se manifestam no contexto da sociedade, confere sempre uma dimensão de natureza política à actuação dos poderes 180 públicos no campo da habitação. Para além dos estudos técnicos (com soluções a esse nível sempre fáceis de encontrar), como base de apoio de uma adequada fundamentação, as medidas a adoptar exigem uma mobilização global de pessoas e de instituições. Em momentos conjunturais de especial dificuldade, que não são apenas as que possam resultar das destruições de guerra que afectaram tantos países e originaram disposições de bloqueamento do mercado idênticas às nossas, a tentação de atendimento a curto prazo dos problemas emergentes surge de novo através de intervenções imediatistas que, a curto prazo, se revelam contraproducentes. E a posterior anulação de tais medidas assume também um cariz político e é porventura de mais difícil solução ainda. É talvez oportuno lembrar que, como observam estudiosos da matéria em casos de outros países, a relação de causa e efeito entre o estabelecimento de disposições de controlo (um bloqueio de rendas, por exemplo) e a paralização do mercado não corresponde sempre ao início dessa história infeliz. As decisões de intervenção daquela natureza aparecem muitas vezes por efeito de anteriores situações anómalas e de limitação do mercado disponível, e não como sua causa original, embora acabem por assumir esse papel causal agravando a situação, se não forem tidas como medidas puramente conjunturais a corrigir no mais breve prazo. E não se pode dizer que no nosso caso isso tenha sucedido. Vale a pena lembrar alguns problemas que com frequência suscitam controvérsia. 6. VALOR DAS RENDAS O nível das rendas pedidas orienta-se naturalmente sob influência de factores em que pesarão os custos de financiamento, de construção, e de exploração, a dimensão e a qualidade do fogo do ponto de vista do utilizador, e a procura de um rendimento competitivo com outras formas de aplicação de capitais e em harmonia com o valor atribuído ao prédio no mercado. As tentativas de intervenção nesse campo, salvo em universos restritos de edificação em regime especial, susceptíveis de efectivo acompanhamento e de controlo, cedo se revelam frustradas e nocivas para o desejável funcionamento de um mercado que possa atrair investimentos para novas realizações. Perante contratos de prolongada duração como os de arrendamento, a verdade dos preços impõe a necessidade de uma correcção periódica, proporcionando a actualização dos valores numéricos fixados para a renda, princípio já consagrado na lei, embora de forma um pouco mitigada. Deve entender-se como defensável a adopção automática e simples de um índice publicamente reconhecido e que acompanhe a inflação ou traduza uma evolução geral de custos, a seleccionar. Na origem dos actuais critérios de actualização, conducentes a valores um pouco inferiores aos de uma recuperação integral, poderão estar argumentos defendendo que o envelhecimento do prédio arrendado corresponde a uma gradual perda de qualidade 181 do fogo oferecido. Nessa base, dentro do propósito de moderação do nível de rendas, ter-se-á partido do princípio de que uma pequena dedução na taxa teórica de actualização estaria justificada e não seria determinante para desmotivar investidores em prédios de rendimento, dado que a segurança associada a um título de propriedade e a confiança na valorização, por força do crescimento urbano, do capital imobilizado continuarão a incentivá-los. Mas esta expectativa de valorização poderá servir também de argumento em sentido contrário. Se admitirmos, no todo ou em parte, a validade de tais considerações, uma modalidade intermédia de correcção de rendas poderia ser encarada dispondo, por exemplo, que a actualização integral contemplaria prédios com menos de 20 ou 30 anos, e atenuando-a de alguma forma nos prédios mais antigos que não tivessem sido objecto de obras de beneficiação adequadas. Em período de baixa inflação, contudo, essa diferenciação tanto poderá revelar-se facilmente aceitável como preciosismo sem interesse visível. 7. NÍVEL DE RENDAS NOS “ARRENDAMENTOS ANTIGOS” É mais complexa a situação dos chamados “arrendamentos antigos”, sujeitos desde há várias décadas a restrições que acumularam desajustamentos e disparidades flagrantes nas condições de ocupação de fogos idênticos da mesma época e entre esses arrendamentos e outros gerados dentro do regime da legislação actual. Para esse vasto parque imobiliário, cuja degradação será criminoso continuar a aceitar, foi estabelecido o chamado sistema de “correcção extraordinária”, de modestíssimo efeito e hoje sem qualquer significado. Mas, uma vez mais, porque não estão em causa apenas valores materiais e porque há posições legitimamente criadas e consolidadas que não podem deixar de ser tidas em conta, a atenção ao problema terá de ultrapassar a simples aplicação de um critério técnico de aumento gradual fácil de conceber, a menos que se pretendesse conceder hipotéticas compensações pelo passado à custa de novas injustiças, de pólo oposto mas idênticas às que acompanharam a gestação da lamentável situação actual. Uma observação objectiva permite classificar de quase grotesco o panorama do arrendamento e da degradação do património edificado em vastas zonas das nossas cidades, e em especial nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. O reconhecimento deste facto traz implícito, e é manifesto nos contactos e trocas de impressões que o problema suscita entre técnicos e populações afectadas (embora em debate público isso não seja abertamente afirmado) que existe um generalizado consenso quanto ao princípio de actualização das rendas desde que acompanhada da recuperação e da valorização dos prédios, bem como da atenção aos inquilinos na protecção da sua situação socioeconómica. Não pode retardar-se mais uma actuação concertada e consistente. Não devem ignorar-se as situações familiares e pessoais que serão geradas e a que importa atender 182 perante qualquer alteração conducente a aproximar as rendas de níveis razoavelmente aceitáveis. Não faz grande sentido elevar rendas em fogos degradados e sem um mínimo de condições de habitabilidade. Esse, o contexto a enfrentar. O sistema de subsídios de renda, devidamente revisto e amplificados os seus níveis de aplicação, poderá revelar-se um instrumento indispensável num quadro de intervenção a estabelecer em curto prazo. Coordenar essa oportunidade com apoio ao locatário carenciado através de um rendimento familiar mínimo, ou esquema similar em que a situação especial de acréscimo do encargo com habitação fosse contemplada, são também hipóteses a ponderar. Outros advogam a manutenção de uma prestação baixa para o pagamento da renda a cargo do inquilino que se comprove estar em situação de debilidade económica, com um complemento ao proprietário por parte do Estado, na assunção da responsabilidade social que politicamente lhe cabe. Mais do que nos critérios a adoptar ou no esforço financeiro exigido, as dificuldades continuarão predominantemente a situar-se no peso e complexidade dos procedimentos administrativos, e nas raras vezes credíveis declarações de rendimentos como base de detecção dos casos a atender. Paralelamente, o reforço de aplicação de instrumentos como o actual RECRIA e regimes similares, com possível reformulação que os prepare para a escala das realizações que se impõem e motive devidamente as autarquias e os donos de obra, servirá de apoio à progressiva e indispensável recuperação do parque imobiliário. A recolocação no mercado dos numerosos fogos devolutos em prédios degradados, quando recuperáveis, é tarefa que deve ser encarada e incentivada. A própria existência de tais fogos, e a possibilidade de um contrato de arrendamento actualizado, é factor favorável à viabilidade económica das obras de renovação necessárias. Sabe-se que, relativamente à utilização de fogos recuperados em prédios antigos, continua a prevalecer a tendência para posterior colocação à venda com vista a habitação própria. A efectiva disponibilidade para inserção no mercado do arrendamento está condicionada pelos mesmos factores que determinam a permanência de muitos fogos devolutos em prédios recentes. No campo da recuperação de prédios degradados, a multiplicidade de situações a encarar e a diversidade de capacidades dos senhorios (pela idade, vocação, recursos financeiros, indefinição ou número de titulares da mesma propriedade, etc.) envolvem apreciáveis problemas de ordem administrativa, judicial ou de reforço dos quadros técnicos, designadamente nas componentes que não possam deixar de caber às autarquias. Razões de sobra para que não se retardem os estudos e as acções necessárias. 183 8. PRAZOS DOS CONTRATOS Se a mobilidade é frequente exigência da vida urbana, determinando mudanças de alojamento a que os regimes contratuais não devem levantar obstáculos sensíveis ou reservas desnecessárias, também é certo que o “direito à habitação” só será plenamente concretizado se estiver garantida a possibilidade de permanência e de estabilidade, quando for essa a opção do locatário. A ponderação atenta, por parte dos poderes públicos e do legislador, do valor dessa estabilidade, quando desejada, não pode afastar-se de um conceito amplo de habitação, associada a todo o complexo de ligações do agregado familiar que se desenvolvem e se consolidam em função da localização do fogo, com apoio em redes e equipamentos implantados num território concreto. São inegáveis os elevados custos materiais e sociais inerentes a cada mudança de residência que um contrato de arrendamento a prazo poderá impor periodicamente a um agregado familiar. Em teoria, mesmo num mercado abundante e livre, o inquilino desejoso de permanecer no termo de um contrato tenderá a aceitar renda levemente superior à praticada na zona, numa negociação para renovação desse contrato, tendo presentes os inconvenientes do desalojamento. É verdade que, entre nós e na conjuntura actual, com rendas altas nos novos arrendamentos, o problema não se apresenta generalizado, sendo mais frequentes os apelos de proprietários à garantia de que o fogo ficará ocupado e as rendas serão pagas até final dos prazos estipulados, com desejo de que o inquilino possa permanecer em contrato renovado. Mas não deixa de ser oportuno equacionar a conveniência de definir fórmulas que, respeitando normas de um mercado habitacional que importa fazer reviver, possam futuramente assegurar uma negociação equilibrada de renovação dos contratos, com prioridade atribuída à estabilidade de residência, considerada como valor que se situa para além do simples jogo de interesses económicos, embora os não possa contrariar. Sem prejuízo do que ficou dito, e embora a retoma do mercado do arrendamento habitacional ensaie ainda os primeiros passos à luz do regime da legislação de 1990, torna-se evidente que a possibilidade de contratos a prazo limitado, à semelhança do que em tantos países se pratica, constitui o factor determinante para que os investidores e os proprietários se aventurem de novo nesse campo. Será grave erro ignorá-lo. Nem sempre é possível conciliar totalmente a realidade das forças económicas com a mais desejável salvaguarda de valores de outra natureza. É de admitir que, em termos de simples racionalidade do investimento, a possibilidade de opção por prazos contratuais limitados não se apresentasse como elemento essencial, desde que estivesse regulamentada uma actualização real e regular das rendas. O incentivo que essa possibilidade trouxe ao arrendamento, e a defesa ardorosa que dela fazem os investidores no sector, parece fundar-se mais numa 184 atitude de procura de segurança, no clima geral de desconfiança acumulada ao longo dos anos e que ainda se mantém. Compreensível é que um senhorio se queira precaver, no receio de que, em situações de emergência ou perante a pressão de forças sociais e de motivações políticas a curto prazo, novas decisões imediatistas dos poderes públicos possam surgir e anular as garantias em que acreditaram. A recuperação da confiança pública é um processo ainda com um longo caminho a prosseguir, e a promover com o acompanhamento e participação de todos os agentes do sector. No entanto, dentro do sempre salutar princípio da menor intervenção possível do Estado, só perante um mercado de ampla oferta se poderá dizer que o estabelecimento de prazos mínimos para a duração dos contratos é matéria de somenos, já que poderia então o locatário, se desejasse garantir a hipótese de continuidade e de permanência, optar com facilidade por senhorio que não lhe impusesse tal condicionamento. Uma observação final, que corresponde a afirmados inconvenientes, em casos especiais, da falta de flexibilidade no estabelecimento de prazos contratuais mínimos: a ausência temporária do morador que deixa livre o fogo por período inferior ao mínimo legal de contrato, ou o caso daquele que construa para venda e que, não encontrando adquirente ou preferindo imobilizar o capital investido por um tempo igualmente restrito, deseje arrendar, são dois tipos de situações que, entre outras, não devem ser desperdiçadas, ao menos como excepção a regulamentar. 9. CONSERVAÇÃO E ENCARGOS CORRENTES DOS PRÉDIOS Por questões de simplicidade de gestão e de resolução prática imediata de problemas de manutenção corrente do interior dos prédios habitados, evitando pequenas degradações progressivas que afectam directamente o inquilino e a que o senhorio distante tarda ou se nega a atender, seria de toda a conveniência que tal responsabilidade fosse atribuída ao morador, ainda que com o reflexo da pequena diminuição no valor de renda, ditada em princípio pelo jogo de um mercado livre onde tal norma venha a ser reconhecida. No quadro actual de habitações e de rendas degradadas, em paralelo com novos contratos de rendas altas já firmadas, a controvérsia estabelecer-se-á no confronto de interesses estabelecidos noutra base, mas a pacificação de relações entre as partes contratantes e o interesse de permanente conservação da qualidade de cada prédio habitado aconselhariam a obtenção de consensos nesse sentido. Relativamente às despesas correntes de utilização colectiva de prédios em condomínio, está já reconhecida a normalidade de possível atribuição desses encargos ao utilizador, e a clareza e simplificação das relações de arrendamento só beneficiariam com a generalização dessa prática, também com a natural compensação média na renda. 185 Quanto a responsabilidades de maior vulto e de outro âmbito da responsabilidade do senhorio, estabelecido o princípio de que obras realizadas por imposição camarária podem dar origem a uma alteração do valor da renda, algo há a dispor no sentido de que encargos de idêntica natureza, não realizados coercivamente mas de necessidade e de interesse reconhecido por entidade idónea, indispensáveis para que o prédio mantenha ou alcance padrões de qualidade e de durabilidade convenientes, venham a ter o mesmo tratamento no reflexo no rendimento do prédio. De outra forma não haverá incentivos para a qualificação de um património imobilizado. Neste domínio, e como reflexão de carácter mais geral, conviria prestar atenção à anómala dissonância, desde sempre passivamente aceite na legislação, entre o carácter temporário de qualquer edifício de habitação corrente (com período de existência mais ou menos longo, mas sempre limitado) e as disposições que se referem ao seu arrendamento. Os diplomas legais parecem subentender a possibilidade de permanência de um inquilino em regime de eternidade, quando um prazo não foi fixado (caso dos “arrendamentos antigos”, em especial), mesmo que o prédio revele de forma visível a precariedade da sua existência. Registam-se assim situações frequentes de prédios altamente degradados, sem outro valor especial e não recuperáveis em termos económicos, perante os quais a Administração Pública é chamada a fazer intimação de obras, a menos que deva declarar situação de risco iminente, o que raras vezes sucede e se traduziria então para si em encargos de realojamento. Embora com naturais problemas de regulamentação, justificar-se-á ponderar as vantagens de estabelecer normas que permitam fixar por peritagem o período de vida útil de tais edifícios, com consequências legais de anúncio de cessação, a prazo, dos contratos de arrendamento envolvidos. 10. O PESO FISCAL Qualquer que seja o sector, quando se debatem os problemas de uma actividade de forte componente económica, é quase inevitável que os seus agentes insistam na diminuição dos tributos que oneram essa actividade. Sem se poder negar a frequente justiça de tal apelo, previsível é que a pretensão seja tomada como solução de facilidade e se revele talvez a mais irrealista, perante a incurável voracidade do Estado. No entanto, vale a pena focar aspectos em que, sem necessidade de estudos aprofundados, se poderá dizer que as receitas públicas são as mais prejudicadas, nas colectas imediatas e nos efeitos negativos multiplicados noutros domínios, para além dos custos sociais indirectos e inquantificáveis. Sabe-se como o peso do fisco incide sobre qualquer construção, nas diferentes fases de aquisição dos materiais e do desenvolvimento da obra, após todos os ónus já sofridos no longo e penoso processo de elaboração do projecto e da sua aprovação, 186 sem falar já da aquisição dos terrenos e todos os encargos financeiros determinados por esperas e imobilizações a que não pode furtar-se. Todos esses custos constituem naturalmente entrave aos investimentos no sector, valendo a pena ponderar até que ponto a retracção provocada é ou não contraproducente no total de receitas do Estado, e elevam de tal forma o preço final da habitação que não podem deixar de afectar toda a política nesse domínio, com as consequências sociais correspondentes. O nível das rendas e a oferta nesse campo sofrem necessariamente, e de forma directa, os reflexos. Mas excede as pretensões destas notas referir todo o conjunto de factores a montante do mercado de arrendamento, e menos ainda os condicionamentos de política de terrenos e de ordenamento do território que o antecedem e envolvem. Em mais imediata ligação com esse mercado, o aberrante imposto de sisa merece ser citado. Mau grado alguns milhões que possa gerar de receitas, e posto de parte o deplorável contexto de generalizada aceitação da falsidade de declarações, quando não é acompanhada de corrupção, não se encontra explicação para a introdução desse factor de “viscosidade” no mercado da habitação, que eleva preços, retrai a procura e as iniciativas, e é um factor que contraria pesadamente a mobilidade dos que adquirem a sua residência bem como o interesse de muitos que poderiam aplicar os seus capitais na construção para arrendamento. Aliás, noutras sociedades onde um fogo pode transaccionar-se sem obstáculos e praticamente sem encargos, quase como uma simples viatura pessoal ou outro bem corrente, a mobilidade dos que optam por casa própria não diferirá muito da dos que a arrendam. Os prejuízos para a dinamização do sector são entre nós evidentes. O saldo final da sisa é seguramente negativo para o Estado, e não pode deixar de se saudar o anúncio do seu possível próximo desaparecimento. Quanto aos rendimentos de um prédio arrendado para habitação, e sem referir aqui a hipótese de uma medida de política que os isentasse como incentivo ao investimento, há também insistentes pedidos no sentido de, não penalizando em excesso tais rendimentos, sujeitá-los a uma taxa liberatória que igualizasse o seu tratamento, à semelhança de regimes de aplicação de capitais em depósitos ou formas equivalentes de poupança. Medidas desta natureza poderiam, sem esforço do Estado, revelar-se positivas. O domínio da fiscalidade oferecerá decerto muitas outras pistas dignas de aprofundamento. 11. A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS De uma forma generalizada, as demoras dos tribunais, e a incerteza quanto à efectiva aplicação das suas decisões em tempo útil, testemunhadas pela experiência em que se registam situações de retardamento, prolongadas na prática para além dos 187 limites de razoabilidade que cabem no senso comum, representam um persistente obstáculo à obtenção de um clima de confiança e à dinamização do sector. A promulgação de novas leis no domínio da habitação ou as correcções introduzidas para aperfeiçoamento das disposições vigentes deparam sempre com grande descrença pública na efectiva aplicação das melhores intenções legislativas, por ineficácia das instituições em que se apoiam. Trata-se de matéria complexa que aqui apenas se cita, mas que terá de estar sempre presente quando se idealizam e se propõem medidas teoricamente adequadas à melhoria da situação da habitação por arrendamento. O encontro de sistemas simplificados de arbitragem para os conflitos e as quebras contratuais mais correntes, com uma institucionalização que pudesse ser credibilizada e comummente aceite para integração nos contratos como instância de apelo imediato, possivelmente com a participação responsável de representantes dos agentes envolvidos e não só dos poderes públicos, afigura-se domínio justificativo de urgente atenção e de estudo por parte de todos os interessados. É óbvio que a formalização de propostas neste domínio, em termos que permitissem antever o recurso a tribunais desejado apenas numa minoria de casos, teria simultaneamente de envolver a preocupação com o outro problema de base: a necessidade de efectiva execução das deliberações de arbitragem tomadas. Também aí o exame de experiências alheias e alguma imaginação de adaptação ao nosso caso poderão dar frutos. A questão é que não pode ser iludida. 12. SEGURANÇA E INCENTIVOS NO MERCADO DE ARRENDAMENTO A falta de confiança, ainda generalizada, quanto à segurança do rendimento de investimentos em habitação para arrendamento, tendo presentes os riscos de falta de pagamento, bem como as demoras judiciais em processos de decisão e de execução de despejos, assim como o receio, sempre persistente, de que qualquer governo poderá ter sempre a tentação de intervir futuramente, perante dificuldades sociais, com novas providências legislativas que anulem garantias anteriormente vigentes, definem um quadro que condiciona fortemente o mercado. A progressiva especialização e “profissionalização” dos investidores neste campo permite adivinhar uma eventual perda do papel, em tempos desempenhado pelo tradicional pequeno investidor isolado, aforrador de economias para gestão, por sua própria conta, de uma fonte de futura reforma. A captação dessas poupanças continuará a merecer o maior interesse para as realizações habitacionais, canalizando-as possivelmente através de novas vias institucionais, e não só por fundos de investimento imobiliário ou outros sistemas onde a propriedade se dilui num bem colectivo apenas titulado de forma abstracta. Aos olhos de muitos, tais fórmulas continuarão a não ser atractivas e a aparecer como 188 possibilidade de lucro mas também de riscos que não querem assumir, não oferecendo a segurança e sentimento de posse que preferem. Por isso, certas experiências estrangeiras apenas esboçadas entre nós merecem ponderação e talvez incentivo, se adaptadas ao condicionalismo português. Podem referir-se, por exemplo, as instituições criadas e em desenvolvimento na Bélgica e em França, sem fins lucrativos e constituídas com apoio de capitais públicos, cuja missão consiste no arrendamento e gestão de imóveis de habitação que lhes são confiados dentro de condições preestabelecidas. Sabe-se que, em países com condições favoráveis de mercado, organizações puramente privadas surgem com idênticos objectivos, de gestão integrada de agrupamentos de pequenos ou grandes patrimónios imobiliários. De tais entidades o proprietário obtém a garantia de recebimento regular de uma renda com um nível acordado, sem perda da propriedade concreta e individualizada do seu fogo ou conjunto de fogos confiados para gestão, podendo sempre, no termo dos prazos contratuais ou mediante condições estabelecidas, retomar a plenitude dessa propriedade para uso próprio, alienação ou administração por sua conta, ou outros fins. O sentido tradicional de posse de um bem concreto mantém-se para o pequeno aforrador, encorajando os que desejam investir sem perda sensível do domínio sobre o que acumularam pacientemente ao longo de anos e pretendem poder transmitir pessoalmente ou por herança. Os efeitos das flutuações do mercado e a resolução dos conflitos com os ocupantes, colocados como subarrendatários, são naturalmente absorvidos por essas organizações, às quais pode caber também a recepção de prestações do Estado em casos de renda apoiada. O aval ou o envolvimento dos poderes públicos, de nível central ou autárquico, em sociedades deste tipo, a que deve augurar-se tendência deficitária em mercados débeis, revelar-se-ão provavelmente menos onerosos do que as intervenções directas de construção de um parque estatal imobiliário e sua problemática gestão. Por outro lado, a institucionalização destas organizações de significativa dimensão – comparticipadas, auto-geridas sem fins lucrativos ou inseridas simplesmente no jogo do mercado – poderá constituir mais um factor de reforço e de consolidação da chamada “sociedade civil” no seu diálogo com o Estado. Com todo o peso social e económico que lhes caiba, tornarão talvez menos prováveis alterações de regimes legais ditadas por preocupações de curto prazo ou de mero oportunismo político, contribuindo, em paralelo com as demais entidades representativas do sector, para a consolidação de um clima de confiança a prazo que importa estabelecer. A divulgação de fórmulas deste tipo, com análise cuidada de experiências similares e, se necessário, com apoio de legislação específica, poderá incentivar iniciativas com influência muito positiva no mercado do arrendamento. 189 13. APONTAMENTO FINAL Não podem as notas anteriores pretender mais do que apresentar alguns tópicos para um debate, a prosseguir com continuidade e no acompanhamento permanente das alterações legislativas que progressivamente venham a ser promulgadas e das lições que possam tirar-se da sua aplicação. No panorama das carências de habitação em Portugal, para além das extensas áreas subintegradas de construção precária, evidenciam-se, em amplo e diversificado leque de caracterização das ocupações por arrendamento, casos frequentes que vão desde o mais refinado parasitismo até às dramáticas, e infelizmente muito numerosas, situações de alojamento sub-humano, de sobreocupação, de degradação e em total carência de recursos económicos, plenamente inseridas no tecido urbano a qualificar. Se o simples confronto das forças económicas num mercado ideal de arrendamento totalmente livre, por alguns defendido, está longe de poder corresponder de forma adequada à prioridade de valores em que se fundamenta o direito à habitação, mais difícil seria admitir, no atendimento aos problemas actuais do alojamento no nosso País, uma atitude de passividade dos poderes públicos. Em qualquer caso, revelar-se-á sempre ilusório supor que um saudável funcionamento do mercado de arrendamento privado possa alcançar-se sem que, simultaneamente, se registem progressos no âmbito dos demais regimes de alojamento, seja no campo da habitação social, em sentido lato, seja no da habitação própria, com ou sem apoios. A interdependência desses campos, ao nível da oferta e da procura, não deve ser ignorada. Será oportuno ainda lembrar o elevado interesse de que poderia revestir-se um sistema de recolha sistemática de informação, tornada acessível aos responsáveis, aos técnicos e ao público em geral, a nível central e local, onde a cada momento estivessem recolhidos dados permanentemente actualizados de descrição da situação habitacional (aliás, em grande parte existentes mas dispersos) e que servisse de apoio às propostas e às decisões de política a adoptar, conferindo-lhes meios de maior ajustamento e rigor e possibilitando uma mais fundada previsão da amplitude da sua aplicação e dos seus possíveis efeitos. Para esse objectivo, afastando uma exclusiva responsabilidade da Administração Pública, deveriam contribuir todos os corpos representativos do sector. É uma lacuna institucional que, com um esforço de organização e coordenação, e a facilidade que os actuais meios técnicos de transmissão da informação proporcionam, merece ser colmatada. 190 Professor Diogo Lucena * Comentador 1. O Eduardo Carvalho da Silva falava há pouco de gregos e troianos. Depois das intervenções anteriores se eu pudesse, seguia o exemplo do sábio Ulisses, calava-me, e passava-se já ao debate. Mas como acho que a organização não me perdoaria essa atitude, vou tentar fazer alguns breves comentários. Devo dizer que é uma tarefa um pouco difícil para mim, porque não é uma área em que eu tenha trabalhado especificamente. Poderei portanto ter algumas ideias erradas sobre o que se passa no terreno, pelo que peço perdão, desde já, a quem sabe mais do assunto, quando for esse o caso. Tentarei simplesmente aplicar os que eu julgo que são os sólidos instrumentos analíticos da teoria económica à discussão deste tema. Limitar-me-ei a falar de alguns pontos deixando muita coisa em aberto. 2. Comentando directamente a intervenção, (do Eng. Mário Azevedo), devo dizer que há dois pontos de partida que me agradam particularmente. Um é o de que a filosofia subjacente me parece ser um pouco a de que deveríamos procurar uma intervenção mínima do Estado. O que me agrada. Não que o Estado deva estar impedido de intervir, mas no sentido de que o ónus da prova da necessidade dessa intervenção deverá estar em quem a defende e não o contrário. Neste sentido apoio fortemente esta ideia. O segundo ponto é a aceitação de que é razoável – e eu diria, não só que é razoável como que é realista – esperar que os agentes hajam com racionalidade económica. E, portanto, fazer leis pensando que as pessoas se vão comportar de outra forma, é completamente absurdo. Estes pontos de partida são bastante mais poderosos do que podem parecer à primeira vista. A prova disso é que, quando se fazem leis de congelamento de rendas que só fazem sentido com base na (secreta) esperança de que as pessoas não se comportem de uma forma economicamente racional, o mercado deixa de funcionar bem e o resultado é catastrófico. Estes são pois pontos de partida que me agradam especialmente. 3. Uma outra questão, mas onde agora terei alguma divergência, tem a ver com o balanço entre o gradualismo e a velocidade na introdução de reformas. Quando se acumularam distorções brutais, como se acumularam neste mercado ao longo de 40 anos, há sempre um ponto a favor do gradualismo. O problema é que o gradualismo em Portugal tende muito rapidamente para o imobilismo. E de facto, avaliando o progresso que se fez nos últimos anos, vejo que ele foi muito mais reduzido do que, na minha opinião, poderia ter sido. Embora eu aceite, em termos de princípio, que o * Universidade Nova - Faculdade de Economia 191 gradualismo é uma estratégia a ser considerada, julgo que este gradualismo foi excessivo. Esta é a crítica que eu faço à condução da política da habitação em Portugal nos últimos anos. E portanto, talvez valha a pena, nestes fora, defender um pouco mais de radicalismo e um pouco menos de gradualismo, não como uma posição filosófica de fundo, mas porque, neste caso concreto, estamos a pecar por defeito e não por excesso. 4. Um terceiro comentário, que não é propriamente relativo à comunicação, mas é um comentário de carácter geral, é o de que existe frequentemente uma enorme tentação de corrigir distorções com outras distorções. E devo dizer que, em boa teoria económica, isto às vezes se justifica. Mas, em geral, é muito mais eficaz eliminar a primeira distorção do que acrescentar-lhe outra por cima. Deixem-me dar-vos um exemplo: o controlo de rendas, como eu julgo que hoje em dia toda a gente concorda, matou o mercado de arrendamento. Depois, tentou-se resolver o problema dizendo: “tem de haver habitação própria”. E começou-se a subsidiar a compra de habitação própria. Isto é o que eu chamo criar uma segunda distorção para corrigir a primeira. É que os subsídios para a compra da casa própria vão distorcer também o mercado de investimento. Em consequência vamos ter uma má afectação de recursos noutros mercados, além de a termos no mercado da habitação. Este é o exemplo clássico de acumulação de distorções em cima de distorções, que têm como efeito ampliar ineficiências transmitindo-as de mercado para mercado. O problema que se coloca aqui é de que, quando o ponto de partida é muito distorcido, é também muito difícil fazer regras de aplicação geral: ou seja, é muito difícil para um economista ter uma receita geral que tenha a certeza que seja boa, quanto ao método a seguir para reduzir os custos das distorções. Há uma enorme dependência das condições específicas da situação concreta. É preciso conhecer em detalhe o funcionamento do mercado; como é que a oferta e a procura reagem ao preço; etc. Questões deste tipo têm que ser medidas, concretamente, para se ter a certeza de que a melhor forma de corrigir os problemas é esta ou aquela. Infelizmente eu não tive muito tempo para me preparar, e não sendo esta a minha área de especialização, posso estar a avaliar mal. Mas andei à procura e encontro-me perante a quase total ausência de estudos efectuados em Portugal. Fiquei convencido de que não se sabe, de todo, como é que funciona este mercado no nosso País. Não há números fiáveis e portanto não há regras fiáveis. É por isso que eu disse no princípio que me deveria ter calado. De facto, aquilo que eu podia dizer depende muito daqueles dados, e estes não existem, pura e simplesmente. Esta necessidade de uma maior e melhor informação, de haver muito mais investimento em aprender, em detalhe, como funciona o mercado, parece-me uma coisa indispensável para discutir reformas de forma inteligente. 192 5. Há um ponto, também expresso na comunicação, que eu gostava de reforçar. É muito importante, quando se fala de mercado de arrendamento, perceber que este tem ligações com outros mercados. Não só em termos de mercados de habitação (ou “demais regimes de alojamento”, citando uma expressão que o Senhor Engenheiro Mário de Azevedo usou) ou em termos de mercado dos terrenos, mas também com outros mercados. Sobretudo, o mercado de emprego. Mais uma vez, não consegui encontrar nenhum estudo para Portugal, mas encontrei alguns para a Inglaterra, onde, durante muitos anos, existiu este tipo de situação que nos preocupa. Houve controlo de rendas, houve habitações geridas pelas autarquias, houve planeamento urbano. Enfim, todo o tipo de regras que existem em Portugal e que podem causar distorções no mercado da habitação, também existiram lá. Julgo que o Reino Unido não acumulou uma distorção tão grande. No entanto, as estimativas que foram feitas no caso inglês, mostram que, em termos de eficiência económica, estas distorções directas no mercado da habitação eram significativas, mas eram muito inferiores às distorções que, através de efeitos na mobilidade, eram causadas no mercado de emprego. Ou seja, os custos económicos da grande rigidez do mercado de habitação inglês reflectiram-se, sobretudo, através do mercado de emprego. Se isto também for verdade para nós, como eu julgo que é, o argumento a favor de uma maior velocidade de ajustamento e não de um maior gradualismo é muitíssimo reforçado. Note-se que é também provavelmente verdade que uma parte muito substancial das distorções do mercado de trabalho vêm por esta via e não pelo problema da flexibilidade dos salários ou outros. Quando se olha para os números ao longo do tempo, vê-se que os salários em Portugal se ajustam ao ciclo mais depressa que na maior parte dos países europeus. Neste momento há já uma fracção muito grande do nosso emprego em contratos temporários. Em muitas indústrias haverá um mercado dual, tal como na habitação. Há empregados com umas histórias antigas, que têm um tratamento e outros com umas histórias novas, que têm outro. Estou convencido que, neste momento, uma das maiores barreiras ao bom funcionamento do mercado de trabalho é de facto a imobilidade induzida pela actual situação do mercado de habitação. 6. Se bem entendi na intervenção do Eng. Mário de Azevedo há um ponto onde tenho algum desacordo, e que se prende com as formas de mercado – arrendamento versus casa própria – e o seu impacto na criação de imobilismo. Penso que não é forçoso que, num mercado onde a maior parte das pessoas tenham casa própria, em vez de arrendar, haja uma grande imobilidade. Eu vivi nos Estados Unidos, onde uma grande parte da população tem casa própria, mas as casas compram-se e vendem-se como quem compra e vende fatos. Em Portugal este aspecto da imobilidade tem também muito a ver com os mecanismos de funcionamento da compra e venda de habitação própria. Nós temos 193 custos de transacção brutais e a sisa é, certamente, um dos maiores. Não será o único, mas é um encargo que não faz sentido nenhum. 7. Quanto ao tema de apoio social à habitação: a regra de ouro para os esquemas de apoio social é não subsidiar actividades económicas mas subsidiar pessoas. Algumas pessoas neste momento estão a receber subsídios significativos sem razão nenhuma. As pessoas mais velhas em muitas famílias estão a receber subsídios enormes, dos donos das casas, sem qualquer razão lógica, apenas porque têm rendas antigas. Mas é completamente descabido, pedir-lhes que saiam destas casas. Estão sozinhos em casas grandes demais, mas é completamente irracional pensar em sair. Se forem para uma casa mais pequena noutro sítio, irão pagar o triplo. Porque é que hãode sair? Só se forem masoquistas. Não há melhor exemplo de ineficiência de afectação de recursos. Em contrapartida, por exemplo, conheço pessoas que compram uma casa só porque conseguem um subsídio para essa compra. Na altura nem lhes convinha fazer o investimento. Isto também é uma ineficiência económica. E não se está a subsidiar pessoas pobres. Estamos a subsidiar gente que, ao longo do seu ciclo de vida, virão a ser até relativamente ricas. Quer dizer, não há razão social para estes subsídios. Muitas das políticas de apoio social que nós temos vindo a seguir, têm vindo a apoiar a classe média e não quem necessita. Comprar habitação é uma coisa que não está ao alcance dos genuinamente pobres e excluídos. Subsidiar a compra de habitação não é, pois, na minha opinião, defensável em termos sociais. É evidente que politicamente é muito interessante porque a classe média dá muitos votos. Mas é preciso perceber que isto é uma razão política, e não económica nem social. 8. Relativamente ao controlo de rendas eu julgo que o diagnóstico está feito neste colóquio, e não vale a pena refazê-lo. Mas é importante apontar que corresponde a uma transferência de direitos de propriedade que é completamente arbitrária e portanto injustificável. Hoje, antes da sessão, o Dr. Silva Lopes falou-me de um estudo, que eu não conheço, que tentava medir estas transferências do direito de propriedade, e os números eram esmagadores. Há, de facto, uma expropriação do senhorio em favor do inquilino, que não obedece a nenhum critério de racionalidade económica, nem a nenhum critério de redistribuição social. Temos casas devolutas, porque as pessoas, no momento em que as puserem no mercado de arrendamento, arriscam-se a fazer uma transferência de riqueza para o inquilino. Isso não faz nenhum sentido, criando toda a espécie de ineficiências. E não há demonstração nenhuma de que os inquilinos tenham de ser mais pobres do que os senhorios, como regra universal. Um dos problemas essenciais deste mercado reside no facto de termos os direitos de propriedade mal definidos, em dois sentidos. Em primeiro lugar estão mal definidos porque o estão de forma errada. Em segundo lugar estão mal definidos, porque são incertos. 194 São incertos, e aqui voltamos ao velho problema da lei e da sua aplicação. A lei nem sempre é muito clara. Os tribunais funcionam muito mal. A execução das suas decisões não é feita. É fácil demais fazer umas “manobras” para voltar atrás dilatar tempos. Mesmo quando se chega ao fim, a passagem de tempo já eliminou muitos dos benefícios dum julgamento favorável. E depois, há sempre e ainda o medo da revisão de políticas, o que cria uma enorme incerteza sobre os direitos de propriedade. A pessoa quando investe não sabe o que de facto é dela ou não é dela, porque de repente, se alugou a casa, uma alteração legal transfere muitos dos direitos de propriedade de uma parte para a outra. As transferências arbitrárias de direitos de propriedade causadas pelas intervenções sob a forma de subsídios, impostos, controles de rendas causam distorções. Mas este problema de incerteza é provavelmente ainda mais grave. Nestas circunstâncias é difícil pensar que se consegue estimular muito o mercado de arrendamento. 9. Quanto à fiscalidade, já se falou bastante sobre a sisa e eu gostaria de falar um pouco do imposto autárquico e da sua reforma. O imposto autárquico é também uma injustiça enorme, discriminando entre casas que têm valores antigos e casas que têm valores novos. Eu conheço pessoas que pagam cerca de setenta vezes mais do que outras, para casas equivalentes. Isto é uma distorção completamente absurda. Acho até estranho como é que isto não é politicamente mais custoso para os governos. Mas de facto, aparentemente, não é. Agora, quando se fala em reforma do imposto autárquico, isso significa em geral fazer o reequilíbrio destas situações. Vamos admitir mesmo que o Governo promete fazer a mudança de forma a obter as mesmas receitas e não aproveitar (como sucederia com uma simples actualização de valores antigos) para aumentar os impostos, mas apenas para redistribuir a carga fiscal. Vamos outra vez bater com o problema do controlo das rendas. Como é que se vai aumentar o imposto autárquico de uma pessoa, admitindo que o valor de mercado da casa, se ele pudesse transaccioná-la em mercado livre, é relativamente elevado, (e é sobre este valor que deve incidir o imposto autárquico), quando, de facto, os direitos de propriedade estão todos no inquilino? O qual paga 200$00 de renda! Não faz sentido. A única maneira seria dizer que, já que os direitos de propriedade foram passados para o inquilino, deveria ser ele o responsável por esse aumento do imposto autárquico. Mas parece-me isto um pouco complicado como solução. Mais uma vez, seria corrigir uma distorção com uma outra. Mais vale começar por eliminar a primeira distorção. 10. Um último ponto (porque julgo que o meu tempo também está a acabar) tem a ver com o problema dos contratos a longo prazo. Este é um problema sério e genuíno. Quando há um contrato a longo prazo, é preciso ter um sistema eficaz de governar esse contrato ao longo do tempo. E, porque os tribunais funcionam mal, por a lei ser mal definida, este sistema não existe na realidade. Se os contratos forem todos de longo prazo, por imposição legal, este problema é grave. Mas este é outro ponto, onde 195 eu julgo que tenho algum desacordo com a comunicação inicial. Eu não referiria tanto a necessidade de garantir que os contratos sejam de longo prazo. Entendo que a liberdade contratual é o princípio que deve vigorar. Se o senhorio e o inquilino chegam a um acordo, por um ano, o contrato é por um ano; se chegam por dez, o contrato é de dez anos. Não estou convencido que haja interesse dos senhorios, na ausência de contratos de longo prazo, em “correr” com as pessoas, a não ser em certas circunstâncias especiais. O princípio da racionalidade económica faz com que o senhorio não vá “correr” com as pessoas só para as “incomodar”, só para lhes causar custos! Até porque ele também terá custos. Num mercado a funcionar normalmente fica, provavelmente, com a casa desocupada durante algum tempo, até encontrar outro inquilino. O que vai acontecer, certamente, é que se houver liberdade contratual, o inquilino, se calhar, estará disposto a pagar um pouco mais de renda se lhe garantirem um prazo de dez anos. E, portanto, é de esperar que as rendas se ajustem um pouco, em função das durações dos contratos. Isso permitia, também, evitar muita da discussão sobre qual é um bom índice de actualização de rendas. Até porque fazer um índice de actualização único, para todos os segmentos do mercado e para todas as áreas geográficas, significa fixar os preços relativos. E, neste momento, por exemplo, há certas áreas da cidade que são muito mais procuradas que outras e é natural que os preços subam mais nestas áreas da cidade. É bom que os preços tenham a flexibilidade de se ajustarem relativamente uns aos outros. Assim, quando eu obrigo a contratos de longo prazo com índices de actualização iguais por toda a parte, estou de facto a matar um mecanismo económico importante de ajustamento, que é deixar os preços relativos mudarem por segmentos de mercado. Há condições em que pode ser preciso condicionar contratos de longo prazo. Quando uma das partes tem que fazer um investimento que é específico para essa relação contratual, e não tem valor fora dela, isso permite à outra parte explorá-lo no futuro. Porém não vejo nenhum investimento específico que tenha que ser feito para uma relação de arrendamento, e portanto, julgo que o argumento, neste caso não é relevante. É preciso que alguém demonstre que existe este investimento. Eu não vejo que o inquilino o tenha que fazer, e necessite por isso de alguma protecção legal. É evidente que, se fizer parte do meu contrato com o inquilino ele fazer obras na casa, o seu investimento é específico desta relação contratual, e então, é natural que exija um contrato de longo prazo a seguir. Mas isso não tem que ser imposto por lei. Um acordo livre entre as partes pode resolver o problema. As forças económicas naturalmente levarão a esse resultado. 11. Só um último comentário a que não resisto. Também na conversa que tive com o Dr. Silva Lopes, ele referia que alguém lhe tinha dito que houve um seminário deste tipo há catorze anos, no qual se falou destes tópicos e depois nada aconteceu. 196 Julgo que, do ponto de vista da teoria económica, não é muito difícil perceber quais são os mecanismos que estão por detrás do mau funcionamento deste mercado, e o que é que se pode corrigir e como. Parece-me que aqui há um problema de reforma política, que é um problema aparentemente muito mais complicado de gerir. Se o diagnóstico está feito há catorze anos. Se toda a gente está de acordo e depois não se consegue fazer... Julgo também que não é por maldade intrínseca dos políticos. Pode ser por maldade apenas no sentido de não terem a coragem de fazer certas coisas. Pode pois valer a pena debater de uma forma desapaixonada que tipo de reformas se podem fazer já, e quais aquelas cuja introdução irá trazendo, a pouco e pouco, mais gente para o lado dos reformistas. Que as reformas são indispensáveis parece inquestionável. Haverá um custo brutal na economia por não as fazermos. Agora é preciso que essas reformas sejam politicamente viáveis. Eu estou aqui a falar um pouco contra o meu instinto. Neste tipo de discussão a minha inclinação é pensar que “se não fazem é porque não têm a coragem para o fazer”. Mas percebo que haja limitações do processo político. E a pergunta é: quais são elas?. E julgo que aqui também há muitas ilusões. Provavelmente, quando se fizerem certas reformas, vai haver muita menos gente a sofrer do que parece à primeira vista. Já noutras ocasiões se criaram mecanismos para proteger a enorme quantidade de gente que iria ser prejudicada com certas reformas. Depois essas pessoas nunca aparecem e estou convencido que este é um dos tais casos em que o desconhecimento concreto, detalhado, estatístico, da realidade, estará a criar escusados fantasmas. Um pouco de investimento em informação poderia desbloquear imenso a decisão política, nestes casos. 197 Senhor Eduardo Carvalho da Silva * Comentador Pelo que já conhecíamos do ilustre conferencista, Exmo. Senhor Eng. Mário de Azevedo, especialmente, na qualidade de Presidente da Comissão para o Arrendamento Habitacional recentemente nomeada pelo Governo, a sua comunicação não nos surpreende e, ressalvados alguns aspectos de pormenor que não subscreveríamos merece o nosso inteiro acordo e aplauso: é independente, honesta, rigorosa e bem estruturada, tal como um competente universitário não podia deixar de produzir. Com a devida vénia e sem que pretendamos apoucar o mérito da comunicação e do seu autor, antes bem pelo contrário, diríamos que para além dos requisitos que a caracterizam de documento completo, a comunicação em apreço foca sabiamente todos os aspectos que desde há anos, muitos anos, têm sido objecto da nossa luta contra todos os governos post 25 de Abril de 1974, infelizmente, até à data, sem êxito ou com êxito muito mitigado. Com uma diferença apenas: enquanto a comunicação do Senhor Eng. Mário de Azevedo é sobretudo um documento desapaixonadamente elaborado, quase tudo quanto tem sido dito e difundido pela Associação Lisbonense de Proprietários e mais recentemente pelas outras Associações congéneres e pela CNAPI – Confederação Nacional de Associações de Proprietários Imobiliários tem sido tematicamente marcado pelo que nos tem sido imposto – lamentamos ter de reafirmá-lo – pela demagogia eleitoralista e irresponsabilidade de quantos elencos nos têm governado e, como tal, nem sempre isento da paixão a que a desigualdade de forças, inevitavelmente conduz. Para evidenciarmos, perante a nossa audiência, a unidade de pontos de vista do orador e nossa, em relação ao diagnóstico de situação apresentado bastará reproduzir a parte final da petição que no dia 7 de Janeiro, último, foi entregue pela CNAPI a sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. “9 – Desta situação de verdadeiro incumprimento do fundamentado princípio de igualdade de todos os cidadãos perante a lei resultam ainda graves inconvenientes a que urge pôr cobro, tais como: 9.1 – A obsolência e degradação quase irremediáveis do parque habitacional existente; 9.2 – O saldo desde há muito deficitário do equipamento habitacional; 9.3 – A ausência de um mercado de arrendamento estável e equilibrado, indispensável ao relançamento e desenvolvimento da actividade de construção e indústrias afins; * Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. 198 9.4 – A orientação forçada e exclusiva do cidadão no sentido de um oneroso mercado de habitação própria, que não se revela compatível com a actual conjuntura económica e com a progressiva mobilidade das populações activas. Face ao exposto, vêm os cidadãos abaixo assinados, no uso do Direito de Petição, previsto no Art.º 52.º da Constituição da República Portuguesa e regulamentado na Lei n.º 43/90, de 10 de Agosto, na sua redacção actualizada pela Lei n.º 6/93, de 1 de Março, requerer ao Digníssimo Plenário da Assembleia da República, a bem do interesse público, que, à semelhança dos nossos parceiros comunitários, o Estado assuma uma posição imparcial e objectiva em matéria de legislação de arrendamento urbano, por forma a garantir a igualdade de todos os cidadãos perante a lei e a restabelecer a confiança no mercado, a qual deve passar por uma correcção do valor das rendas, em todos os contratos celebrados antes de 21 de Setembro de 1985, através da fixação pelo Estado, depois de ouvidos os representantes das partes (senhorios e inquilinos), de coeficientes realistas que permitam a reabilitação urbana e o saneamento financeiro dos proprietários, sobre que recaíram os mais elevados custos das desastrosas políticas entretanto adoptadas”. *** Na especialidade, vejam-se alguns pontos que merecem observações: 1. ARRENDAMENTO E “DIREITO À HABITAÇÃO” 2. ENQUADRAMENTO DE UMA POLÍTICA DE HABITAÇÃO 3. PRODUÇÃO E MERCADO DA HABITAÇÃO 4. O ARRENDAMENTO E A INTERVENÇÃO ESTATAL Nestes pontos, trata-se de uma matéria política, ou, melhor dito, da enunciação do que, no entender da Comissão, é a delimitação do estado actual da situação do imobiliário no País. Revela-se a necessidade, reconhecida pela Comissão, de atrair a iniciativa privada para o investimento no imobiliário para arrendamento, que também reconhece a extrema dificuldade no restabelecimento da confiança dos investidores nesse domínio. Conclui-se pela necessidade de existência de um mercado de arrendamento tanto quanto possível vasto a reger-se pelas leis da oferta e da procura. Isto, salvaguardando, por um lado, os casos da chamada “habitação social”, em que o Estado tem, forçosamente, uma intervenção destinada a proteger as camadas sociais tidas como mais desfavorecidas, e por outro, aqueles outros casos em que é desejo, legítimo de alguns, possuírem casa própria. Parece-me, pois, ser este um bom princípio de equidistância, na base do velho ditado latino, “in medio virtus” (no meio é que está a virtude). 199 Contudo, não deixamos de salientar que, quando se refere aos mais desfavorecidos, reporta-se aos inquilinos, ou pretendentes a inquilinos, nunca qualificando assim os senhorios dos prédios mais antigos e com rendas degradadas. Ressalve-se, ainda, a preferência, aliás despropositada, da Comissão em vincar a dignidade e a seriedade do direito à habitação, praticamente não referindo (pelo menos, em termos expressos e inequívocos) a dignidade e a seriedade do direito de propriedade. É de todos conhecido a aptidão que o Estado Português possui na intervenção no mercado de arrendamento, quer através de políticas habitacionais, quer através de legislação sobre matéria tão sensível como é a do arrendamento. Uma e outra têm demonstrado à saciedade a falta de coragem política por parte do Estado em assumir as suas responsabilidades no domínio da intervenção no arrendamento. Ao longo dos anos a que temos assistido? À degradação completa do parque habitacional português por culpa exclusiva dos poderes públicos que não têm conseguido agradar a gregos e troianos. Mas neste caso o senhorio português tem tido o papel de vítima do sistema. O resultado está à vista: rendas degradadas, que não acompanham a evolução do mercado, falta de apoios e incentivos aos proprietários para a realização de obras nos prédios que são seus, existência de legislação que permite as maiores arbitrariedades aos inquilinos que fazem seus aquilo (o prédio) que o não é. Exemplificando: A famigerada Lei das Rendas que, segundo se pensava, poderia acabar com a “pobreza” dos proprietários, pelo contrário ainda agravou mais a sua situação – delapidou por completo aquilo que o Estado chama de Propriedade Privada (mais parece Propriedade Pública). O RECRIA, embora tivesse resolvido pontualmente algumas questões – no que respeita à realização de obras nos prédios – veio impor ao proprietário descapitalizado grandes sacrifícios, no que respeita ao pagamento da parte não comparticipada, por falta de crédito com juros bonificados. Resultado: Autarquias depauperadas financeiramente e o RECRIA paralisado. Mas, o mais espantoso exemplo da intervenção estatal no arrendamento, é a proibição imposta pelo RECRIA na venda dos imóveis, até que o “pobre” do proprietário pague o que deve à Câmara. Maior inconstitucionalidade que esta não pode haver. Esta é a violência da intervenção estatal no arrendamento. 200 5. PROTECÇÃO E DISCIPLINA DO ARRENDAMENTO HABITACIONAL Suscita alguma preocupação o 5.º parágrafo deste ponto (pág.194-195). Do seu texto resulta que a Comissão espera que o Estado defina o regime legal e as regras essenciais a que devem obedecer os contratos de arrendamento habitacional, tornados obrigatórios para a devida segurança e estabilidade do alojamento. Parece ser a intenção de voltar ao regime legal da renobabilidade obrigatória e automática para o senhorio, estabelecendo-se a possibilidade de instituir um termo certo somente a título excepcional. Trata-se de um escandaloso retorno ao passado, na sua fase mais negra, e que mais contribuiu para gerar o clima de desconfiança que, ao que a Comissão propala, se pretende combater. Visar tal finalidade (a do retorno ao regime antigo) revela, inequivocamente, um total desconhecimento da evolução, “no terreno”, dos arrendamentos a cinco anos: as mais das vezes, os senhorios deixam renovar-se os contratos, apenas os denunciando quando o inquilino não corresponda às expectativas do senhorio (porque se atrasa a pagar a renda e o senhorio sabe que, se recorrer aos tribunais, terá de esperar longos anos por uma sentença, ou porque degrada demasiado o fogo arrendado), ou quando este necessite do fogo para habitação, sua ou de um seu familiar. 6. VALOR DAS RENDAS 7. NÍVEL DE RENDAS NOS “ARRENDAMENTOS ANTIGOS” Reconhece a Comissão a total ineficácia da correcção extraordinária, bem como da “actualização” através da aplicação anual da taxa de correcção monetária. Não há memória de essa taxa ser fixada de acordo com a inflação, tendo os sucessivos governos adoptado o valor mínimo indicado na lei, e fixando-a, portanto, em 3/4 da inflação apurada no ano anterior (e mesmo assim sem habitação). Na página 197 (3.º parágrafo), e com notável candura, afirma a Comissão que a actualização das rendas merece consenso desde que acompanhada da recuperação e valorização dos imóveis. Pode não ser essa a intenção, mas teme-se que a Comissão entenda que, ao permitir uma actualização das rendas antigas, o senhorio (descapitalizado de há muitos anos) passe a ficar desde logo auferindo de invejável liquidez, e seja, consequentemente, obrigado a efectuar intervenções de grande vulto nos seus prédios. De notar que a Comissão reconhece a necessidade de actualizar as rendas antigas. Mas somente para níveis razoavelmente aceitáveis (p.197, 4.º parágrafo). O que será razoável, e que raciocínio (ou de quem) fixará os critérios de razoabilidade? Aqui haverá um reparo a fazer quando se afirma (pág.197 - 4.º§), não fazer grande sentido elevar rendas em fogos degradados e sem o mínimo de condições de 201 habitabilidade. Normalmente, as rendas em fogos degradados, equivalem a contratos bastante antigos e, consequentemente, a rendas baixas que nunca poderão pelos mecanismos actuais existentes, virem a ser muito elevadas. Inclusive, como já foi defendido, em recente Acórdão da Relação de Lisboa, o facto de o imóvel arrendado não possuir condições de habitabilidade justifica o não pagamento da renda e a não residência permanente. Sobre o subsídio de renda, desconhecerá a Comissão, certamente, que o número de pedidos de subsídio de renda ficou muito aquém das expectativas do Estado, quando foi criado. Propõe-se um valor mínimo de renda, em função da correcção monetária, única forma de se alcançar um critério objectivo que acompanhe o preço de mercado e crie ao inquilino meios que lhe possibilitem um maior acesso aos subsídios de renda. 8. PRAZOS DOS CONTRATOS Aqui são, ainda, mais evidentes os intuitos da Comissão em regredir. Propugna (p.199, 1.º parágrafo) pela estabilidade do direito à habitação, fala nos custos materiais da mudança de residência, que são impostos ao inquilino, e refere que o senhorio se aproveita deste desejo de estabilidade para, findo termo do contrato, exigir um despropositado aumento da renda, a troco de deixar renovar o arrendamento. Gonçalvismo do mais puro...e certamente “mieux que nature” ... Logo a seguir confessa este seu irreprimível desejo de regresso ao passado, pretendendo fazer reviver o sistema de aplicação de fórmulas para a fixação das rendas, seja no regime da renda condicionada, seja no regime da renda livre (que, inevitavelmente, deixará de ser livre...). Parece-me, no entanto, no que se refere às transmissões para os descendentes que a actual legislação não tem resolvido a perpetuidade dos arrendamentos antigos. Embora o proprietário possa denunciar tais arrendamentos, o certo é que basta ao transmissário oferecer uma renda à volta dos 20,30 contos mensais – valor, hoje diminuto – para que aquele proprietário de fracos rendimentos não possa entregar a quantia indemnizatória, que poderá rondar os dois mil, três mil ou mais contos. Aqui poderia colocar-se como alternativa e desde que a renda oferecida pelo transmissário não atingisse um “plafond” mínimo, a imposição de um novo arrendamento de duração limitada, tal como a lei prevê nos casos do direito ao novo arrendamento, com a diferença de que naqueles casos o regime de renda seria o da renda livre. 202 9. CONSERVAÇÃO E ENCARGOS CORRENTES DOS PRÉDIOS Refere-se, finalmente, o princípio de que as despesas correntes de manutenção deverão ser suportadas pelos moradores. Mas, claro, com uma diminuiçãozinha da renda... Essa possibilidade apenas existe nos prédios sujeitos ao regime de propriedade horizontal. Ora, esses são em geral os prédios cujas rendas se encontram actualizadas e, na verdade, o que mais uma vez releva são os arrendamentos dos prédios antigos não sujeitos a esse regime. A solução não poderá deixar de se situar numa relação entre o montante da renda e o montante das despesas com as partes comuns do imóvel, independentemente de existir ou não propriedade horizontal. E, mesmo que seja o próprio inquilino a pessoa incumbida de controlar tais despesas. Relativamente aos prédios sujeitos ao regime da propriedade horizontal, mais uma vez foram esquecidos os imóveis urbanos antigos, sujeitos àquele regime antes da entrada em vigor do RAU. Ainda há proprietários que recebem rendas inferiores à prestação que têm que satisfazer ao condomínio... 10. O PESO FISCAL Saúda-se o entendimento de que a sisa é aberrante e inútil. A não penalização em excesso dos rendimentos prediais, sujeitando-os a uma taxa liberatória, parece ser critério, por ora, aceitável, sem prejuízo de se tentar determinar o que é a penalização em excesso... Conviria referir a possibilidade de isentar os rendimentos mais baixos, por exemplo os inferiores ao salário mínimo nacional. Na mesma linha, merecem ainda aplauso as reflexões em torno dos incentivos fiscais a adoptar em matéria de rendimentos auferidos do arrendamento para habitação. 11. A RESOLUÇÃO DE CONFLITOS É de todos conhecido a morosidade dos nossos tribunais. Não escapam a esta desagradável situação as acções de despejo. Acções há, que demoram 3/4 anos ou mais a serem resolvidas. Este estado de coisas leva a que muitos proprietários se sintam obrigados a negociar com os inquilinos, durante as acções, chorudas indemnizações para poderem entrar na posse do seu património – indemnizações essas, nas mais das vezes injustíssimas. Propõe-se o aprofundamento de experiências de arbitragem, enfatizando-se a necessidade de dotar o sistema de mecanismos executórios. 203 12. SEGURANÇA E INCENTIVOS NO MERCADO DE ARRENDAMENTO 13. APONTAMENTO FINAL Política não comentável ... Estes pois os comentários que a brevidade do tempo concedido me merecem e que espero lhe possam ser úteis. *** Para finalizar, seja-me, apenas, permitido dirigir duas últimas palavras: uma, à ilustre Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses que me sucederá, igualmente, como comentadora do Orador e outra, a Sua Excelência, o Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. À Senhora Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses, perante a evidência dos factos tão bem transmitida pelo orador, desejamos solicitar que a sua Associação, despida, tal como a nossa, de qualquer paixão, nos encare como parceiro que, no contexto promovido pelo actual Governo, lhe dará a melhor colaboração no sentido de serem encontradas as soluções mais adequadas à resolução do nosso grave problema comum da habitação arrendada, um problema que nos transcende, de âmbito verdadeira e prioritariamente nacional. A Sua Excelência, o Ministro João Cravinho, desejamos manifestar-lhe o nosso apreço por, finalmente, ter reconhecido que a revisão do Regime do Arrendamento Urbano é, na verdade, uma prioridade, confiando em que, apesar de muitas dificuldades, saberá com os seus pares, encontrar uma solução condigna e de verdadeiro interesse nacional. Dos fracos não reza a história! 204 Dra. Alexandra Gonçalves * Comentadora Em primeiro lugar permitam-me em nome da organização que represento e em meu nome pessoal, agradecer o convite que nos dirigiu o Conselho Económico e Social, e dizer que muito nos honra participar neste interessante e oportuno colóquio sobre “A Política da Habitação”. Permitam-me, ainda, uma nota prévia Qualquer reflexão sobre habitação, está para nós sempre presente, e certamente partilhado por muitos de vós, que a habitação é uma necessidade primária, é um direito reconhecido pela nossa Constituição. A falta de casa, a casa degradada sem o mínimo de condições, onde cada um e todos não tenham espaço para preservar a sua intimidade e privacidade, é um factor desestabilizador, gerador de grande insegurança, de violência, de prostituição, de insucesso escolar, de droga, de tudo que concorre e desaba na exclusão social. Sendo um dos mais graves problemas de ordem social, afecta largos estratos da população portuguesa, e principalmente os de menor recursos económicos e os jovens. A situação habitacional em Portugal caracteriza-se por um elevado déficite, falta de centenas de milhar de fogos, milhares de fogos devolutos, um parque habitacional envelhecido e degradado, inexistência de uma política de solos, uma alta taxa de fogos sobreocupados ou desviados dos seus fins e uma alta taxa de construção clandestina e barracas. O défice habitacional tem vindo a agravar-se, dado a produção não conseguir acompanhar a procura. O destino da maioria de fogos continua a ser para habitação própria e permanente com recurso ao crédito bancário e não para o mercado de arrendamento. A oferta de fogos no mercado de arrendamento é escassa, e a existente é a preços inacessíveis, incompatíveis com os salários e o rendimento familiar. Nos últimos meses, e depois de publicado em Diário da República o despacho de nomeação da Comissão para o Arrendamento Habitacional, presidida pelo Senhor Eng. Mário de Azevedo, surgem quase diariamente, na comunicação social, as notícias sobre alterações ao arrendamento urbano. Com o devido respeito, e é muito, este documento em análise respiga as diversas notícias publicadas nos jornais e traça cenários essencialmente virados para objectivos tendentes a alterações do arrendamento numa perspectiva de apoio claro aos proprietários. Senão vejamos: * Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonense. 205 – a habitação é um produto de elevado custo, que responde certamente à procura pelo que deve ser garantido e incentivado; – para o livre funcionamento, o Estado deve interferir o mínimo; – permanência de um quadro institucional e jurídico não sensível a flutuações políticas, de modo a estabelecer um clima de confiança; – celeridade no acompanhamento por parte das instituições de julgamento e de arbitragem; – protecção fiscal; – protecção e disciplina do arrendamento: – definição do regime legal e regras essenciais dos contratos de arrendamento – termos do contrato – garantias do pagamento e manutenção da qualidade do prédio com participação do arrendatário – problemas de subarrendamento, hospedagem e desvio da função – vias de julgamento ou de arbitragem; – confiança dos investidores; – adopção de uma correcção periódica da renda, com base num índice publicamente reconhecido como acompanhante da inflação ou tradução de uma evolução geral de custos; – adopção de uma técnica mais consentânea de aumentos das rendas dos contratos antigos; – incentivos à colocação no mercado de fogos devolutos; – prazos nos contratos; – responsabilidade do inquilino pela conservação e encargos do prédio; – fixação por peritagem de período de vida útil de imóveis degradados; – resolução de conflitos célere e se possível por arbitragem; – confiança na segurança do rendimento de investimento; risco para a falta de pagamento da renda, demoras judiciais dos processos e das execuções de despejo. Ora entendemos que não é a alteração da legislação existente, e principalmente a visão economicista de aumento de rendas, que irá resolver a grave situação habitacional, como as últimas alterações legislativas o demonstraram. É oportuno lembrar que as rendas praticadas, mesmo no período das rendas congeladas, a partir de 1948 em Lisboa e Porto, atingia valores muito acima dos salários médios praticados na altura, pois havia liberdade em estipular a renda inicial nos contratos celebrados. A inflação era baixa. Desde 1981, toda a legislação tem vindo a reforçar os direitos dos proprietários e ignorar as correspondentes obrigações. 206 – O Dec.-Lei n.º 148/81 institucionalizou os contratos nos regimes de renda livre e renda condicionada, quer para os novos contratos quer para os contratos pré-existentes em que se verificasse transmissão por morte; – o Dec.-Lei n.º 328/81 possibilitou a actualização de rendas, quando por morte do arrendatário os contratos se transmitissem aos descendentes com mais de 25 anos de idade ou à pessoa com direito a novo arrendamento; – o Dec.-Lei n.º 294/82 possibilitou aumentos de renda, desde que realizadas obras no prédio – a Lei 46/85, regulou os aumentos de renda de arrendamentos anteriores a 1/01/1980 – correcções extraordinárias – o Dec.-Lei n.º 321/B/90 que aprovou o Regime de Arrendamento Urbano – RAU introduziu alterações significativas, nomeadamente actualizações anuais, regime de obras com aumentos de renda, regime do contrato de duração limitada (contrato a prazo), caducidade do arrendamento por cessação dos poderes legais de administração, ficar a cargo dos inquilinos as despesas correntes das partes comuns e pagamento de serviços de interesse comum, aumento do prazo de limitação ao direito de denúncia para habitação própria de 20 para 30 anos. – O Dec.-Lei n.º 278/93 veio introduzir alterações ao RAU, possibilitando a denúncia do arrendamento em caso de transmissão por morte e a actualização da renda até à da renda condicionada, quando o inquilino for arrendatário ou proprietário de outro prédio na área metropolitana de Lisboa ou Porto. Todas estas alterações, dizia-se, eram feitas para reposição e confiança do investidor e reabilitar o parque habitacional. Hoje repetem-se os argumentos. E o que podemos constatar? Os prédios continuaram a degradar-se independentemente do rendimento auferido; o RECRIA possibilitou a recuperação dos prédios a fundo perdido e o aumento das rendas na parte não comparticipada e a venda dos andares recuperados a valores elevados sem qualquer ressarcimento à entidade financiadora (Câmara e IGAPHE); os fogos devolutos aumentaram; os contratos de duração limitada proliferam; os prédios são arrendados sem qualquer controle de qualidade e a valores exorbitantes; mantémse a inércia e a ineficácia das autoridades camarárias para cumprimento das imposições administrativas, etc., etc. Para nós, a resolução dos problemas passa por uma reforma estrutural em que tenha em conta a definição de uma política habitacional coerente, intervenção do Estado como regulador do mercado e promotor de habitação social, sistemas de financiamento virados não só para a aquisição de habitação própria mas também para o arrendamento, política de solos que combata a especulação, medidas eficazes com 207 vista à reabilitação, conservação e utilização do parque e combate aos fogos devolutos. Consideramos que é urgente tomar algumas medidas, nomeadamente: – definição de uma política coerente tendo em conta os interesses das partes envolvidas, inquilino e senhorio, e não ao sabor do momento, com constantes mutações trazendo consigo inseguranças e incertezas; – reconhecer os proprietários como agentes económicos não apenas com direitos mas também com obrigações; – intervenção a nível estatal tendo em vista o combate à especulação de terrenos, ao aumento da oferta de habitação através da construção, promoção de: • medidas de conservação e manutenção do parque habitacional; • aumento dos níveis de habitabilidade dos fogos antigos. – incremento do programa RECRIA; – levantamento dos fogos devolutos através das autarquias, atribuindo competências para acompanhar e gerir estas situações; – atribuição às autarquias de meios eficazes e actuais de prevenção para controle do estado das principais causas de degradação do parque habitacional, designadamente, por vistorias periódicas aos prédios. 208 Sessão de Encerramento 209 Intervenção de Sua Excelência o Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território Engenheiro João Cravinho Senhor Presidente do Conselho Económico e Social Senhor Vice-Presidente do Conselho Económico e Social Ilustres Conferencistas Minhas Senhoras e Meus Senhores Ao encerrar este Colóquio, as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Conselho Económico e Social, pela forma como soube organizar este espaço aberto ao debate da Política da Habitação. As intervenções aqui proferidas, seja pelos oradores e pelos comentadores, seja pelos participantes no encontro, constituem um incentivo que nos anima a prosseguir os difíceis caminhos de uma Política que tão directamente incide na qualidade de vida dos cidadãos. A todos, conferencistas e participantes, agradeço a vossa disponibilidade e o vosso contributo, saudando, de uma forma muito especial, o Presidente do Conselho Económico e Social, o Senhor Professor Silva Lopes, de quem aguardo um relato circunstanciado e conclusivo do Colóquio. Uma palavra de apreço também é devida à Caixa Geral de Depósitos, pelo acolhimento que soube prestar a este Encontro. Ao Presidente do Conselho de Administração, Dr. João Salgueiro, dirijo os meus agradecimentos e expresso a minha convicção de que, no próximo futuro, a Caixa continuará a desempenhar um importante papel no Crédito à Habitação. Minhas Senhoras e Meus Senhores A circunstância de ter sido precedido pela Senhora Secretária de Estado da Habitação e Comunicações dispensa-me de apresentar, com algum pormenor, as Linhas da Acção Governativa que presentemente são desenvolvidas no domínio da habitação. Assim, vou centrar a minha intervenção em questões de âmbito mais geral, procurando esclarecer determinadas opções de Política que sustentam e dão sentido às medidas que, no domínio que aqui nos interessa, vêm sendo tomadas pelo Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território. É opção fundamental do Programa do Governo a promoção de um correcto Ordenamento do Território. Recorro propositadamente a esta fórmula sintética para me aproximar do texto Constitucional, que precisamente eleva o “correcto Ordenamento do Território” à condição de incumbência fundamental do Estado. 210 Ora, atendendo à dignidade atribuída ao Ordenamento do Território, será necessário estabelecer, em Sede Parlamentar, os princípios que hão-de orientar a Acção do Estado, nele se incluindo, obviamente, as Regiões Autónomas e as Autarquias Locais. É no sentido de corresponder a esta exigência Constitucional que se encontra em debate público um Anteprojecto de Proposta de Lei de Bases do Ordenamento do Território. Uma vez concluído o debate público, cujo termo se encontra aprazado para o próximo dia 15 de Abril, será elaborado o Projecto de Proposta de Lei, desejando o Governo que a sua apresentação à Assembleia da República ainda ocorra na presente Sessão Legislativa. Para o bom entendimento desta iniciativa legislativa e, concretamente, para a compreensão da sua previsível incidência no domínio da Habitação é conveniente não perder de vista quer a natureza de que se reveste uma Lei de Bases, quer a opção do Governo de reservar, para momento posterior, a Revisão da Lei de Solos de 1976. Em relação à natureza da Lei de Bases, e tal como é sugerido pela sua própria designação, importa salientar que nela devem ser acolhidos princípios que suscitem o mais amplo consenso. Será o respeito por esta exigência que irá garantir a longevidade da Lei, conferindo a desejada segurança no desenvolvimento dos seus normativos pela legislação ordinária. Dado que não estamos habituados a equacionar a produção legislativa desta forma, não resisto a abrir aqui um parêntesis para invocar o exemplo da Holanda, o primeiro país europeu a dotar-se de uma Lei do Urbanismo e da Edificação de sentido moderno. Refiro-me concretamente à Lei da Habitação de 1901, que ainda hoje continua em vigor, embora pontualmente alterada. À luz deste simples facto, bem se compreende aquele holandês que estranhava a facilidade com que as leis, em Portugal, são alteradas, revogadas ou substituídas – estranheza que só desfeita quando foi dada resposta à seguinte pergunta: e todas as leis novas são efectivamente aplicadas e cumpridas? Ora, o Governo deseja que a revisão da Lei dos Solos conduza à consagração de normas destinadas a ser efectivamente aplicadas, o que pressupõe um grande rigor na sua fundamentação e na sua formulação, bem como a sua inserção num quadro legislativo tão consensual quanto possível. Para isso deverá servir a Lei de Bases do Ordenamento do Território, sem prejuízo de nela se definirem os princípios que regem a acção fundiária dos poderes públicos e dos particulares, porventura com maior desenvolvimento do que aquele que lhe foi dado no Anteprojecto submetido a debate público. Aliás, esse mesmo diploma deverá também estabelecer as linhas mestras que hãode presidir quer à reforma dos Regimes de Licenciamento Municipal de Operações de 211 Loteamento, de Obras de Urbanização e de Obras Particulares, quer à consagração de um novo quadro jurídico da Edificação. Em relação aos Regimes de Licenciamento Municipal chamo a vossa atenção para o facto de o Anteprojecto de Lei de Bases prever a possibilidade de as entidades públicas e de os particulares procederem à elaboração de planos de pormenor, de acordo com bases fornecidas pela Câmara Municipal. Esta solução, a traços largos idêntica àquela que vigora em Espanha, França e Itália, deverá traduzir-se numa maior qualidade das actuações urbanísticas dos particulares e deverá conferir uma maior operacionalidade às acções de planeamento promovidas pelos Municípios. Mas, não menos importante do que estes aspectos, essa mesma solução permite equacionar a Reforma do Licenciamento Municipal em termos de vir ao encontro da sua desejada simplificação, sem, com isso, deixar de atender à necessária prossecução do interesse público. De facto, os trabalhos já desenvolvidos neste domínio antevêem a possibilidade dos regimes que actualmente se encontram organizados em termos sequenciais – Loteamento, Obras de Urbanização, Edificação – virem a ser substituídos por um Regime Único, centrado na noção de empreendimento, o qual deverá abranger um conjunto coerente de actos sujeitos a Licenciamento Municipal. Será escusado sublinhar os ganhos em tempo que uma solução deste tipo permite. Saliento apenas que o mesmo critério é seguido noutros países europeus – como no caso da Espanha e da Suíça – e que a licença de construção unificada garante uma melhor percepção dos contornos das iniciativas dos particulares por parte da Administração Pública, ou seja, permite uma mais adequada ponderação dos interesses públicos e privados em presença. Entretanto, a Reforma do Licenciamento Municipal deverá ser acompanhada pela definição de um novo regime jurídico respeitante ao processo da Edificação, envolvendo a caracterização das suas diferentes fases, desde a promoção à conservação do edificado, a identificação dos agentes intervenientes e a tipificação das suas responsabilidades e respectivas garantias. Trata-se essencialmente de colmatar uma lacuna manifestada pelo actual sistema, que, precisamente pela superficialidade com que trata estas matérias, não facilita o recurso a mecanismos hoje correntes na generalidade dos Estados-membros da União Europeia, como sejam o seguro de projecto e seguro de construção. Bastaria este simples enunciado para se perceber que o Projecto de Diploma que vem sendo designado por “Lei da Edificação” visa sobretudo garantir a qualidade da construção e a adequada utilização e manutenção dos edifícios, assim contribuindo para valorização do nosso Parque Habitacional. Apenas acrescento que o Projecto de Lei da Edificação releva do Direito Privado, o que equivale a dizer que pretende enquadrar as relações contratuais a estabelecer entre os diversos agentes. 212 Isto significa, na prática, que se trata de um diploma em cuja aplicação não se fará sentir o peso da Administração Pública, exactamente porque um dos objectivos centrais do Diploma em Projecto é eliminar o actual primado do tratamento burocrático dos processos, substituindo-o sistematicamente por um sistema de responsabilidade e garantia a todos os níveis. Esta preocupação é, aliás, um dos eixos estruturantes de toda a Linha da Acção desenvolvida pelo Governo, designadamente quando promoveu a flexibilização dos Programas de Realojamento, eliminou processos burocráticos desnecessários e garantiu Linhas de Crédito para estes Programas, suficientes para atingir níveis de investimento superiores a duzentos milhões de contos. A eficácia deste processo de desburocratização permitiu ainda que grupos financeiros privados aderissem aos Programas de Realojamento, praticando taxas de juro cerca de 50 por cento mais baixas do que aquelas que se verificaram no início de 1996. Estão assim a ser dados passos concretos no sentido de um maior envolvimento de todos os agentes e da Administração Central, na realização de parcerias; e de uma participação dos cidadãos na transformação do espaço edificado, por forma a encontrar respostas adequadas às suas necessidades. As classes médias têm sido afectadas pela ausência de resposta adequada às suas possibilidades económicas. Este facto levou a que o Estado assumisse um encargo de quase cem milhões de contos por ano, com a bonificação de juros para a aquisição de habitação própria. A este encargo junta-se outro – o da classe média baixa, que viu agravar as suas condições de habitação; condições cada vez mais degradadas, por inacessibilidade aos custos de mercado. Também nesse campo, o Estado tem de assumir as suas responsabilidades, conferindo aos detentores de rendimentos medianos a possibilidade de acederem a uma habitação condigna. Num esforço de resposta a camadas médias de população, auferindo rendimentos baixos e medianos foram ainda definidas novas regras, mais claras e mais eficazes para as Cooperativas de Habitação. Para esse efeito, simplificaram-se os processos; passou-se da ineficácia de uma Legislação dispersa por mais de duas dezenas de diplomas, para a objectividade de dois novos Decretos já aprovados. A capacidade de mobilização de Solo, que responda ao crescimento urbano, é outro desafio a enfrentar. Um desafio que, à semelhança da habitação em si, exige também a participação de todos, uma vez que tem de se aumentar a eficácia dos processos de mobilização dos solos para a construção a custos controlados, permitindo maior rapidez de resposta por parte do Poder Local às necessidades dos seus habitantes. Estou convicto que o conjunto destas medidas, de concretização apela à iniciativa não só das Autarquias Locais mas também da sociedade civil em geral, irá contribuir 213 decisivamente para a atenuação do forte desequilíbrio entre a oferta e a procura de habitação que tem perdurado ao longo dos anos em Portugal. Ao contrário da ideia veiculada pela comunicação social, o Governo não pretende liberalizar as rendas. O Governo tem como objectivo no domínio do arrendamento antigo a reabilitação e manutenção do parque habitacional que se tem degradado aceleradamente com graves prejuízos para a qualidade de vida nas nossas cidades. Para o efeito o Estado apoiará os proprietários que garantam a conservação dos prédios arrendados e apoiará os inquilinos cujos rendimentos não permitam suportar o esforço na reabilitação dos fogos que habitam. Mas não basta dar resposta à degradação das situações herdadas do passado. É necessário dar resposta àqueles que não dispõem de rendimentos para a compra de casa própria e não encontram no mercado casas para alugar a preço compatível com as suas posses. Assim, o Governo lançará um vasto programa de habitações para novos arrendamentos a custos moderados. Para o efeito o Estado disponibilizará linhas de crédito altamente bonificado e a longo prazo que permitam a construção de habitações para arrendamento adaptadas às carências dos portugueses que apenas têm recursos para pagar com esforço uma renda média. 214 Programa 215 PROGRAMA COLÓQUIO A POLÍTICA DA HABITAÇÃO 3 e 4 de Abril de 1997 (Pequeno Auditório da Caixa Geral de Depósitos) Dia 3 de Abril 09H15-09H45 Abertura • Secretária de Estado da Habitação e Comunicações Senhora Dra. Leonor Coutinho 09H45-11H15 Análise da Situação actual: evolução recente, perspectivas Orador: • Prof.ª Dra. Clara Mendes (Faculdade de Arquitectura) Comentadores: • Dr. Manuel Ataíde Ferreira (Presidente da DECO) • Senhor Carlos Silva (Vereador da C.M. de Vila Franca de Xira e Presidente da CHASA) 11H15-11H30 Intervalo para café 11H30-13H00 Planeamento urbano e oferta de terrenos Orador: • Eng.º A. Fonseca Ferreira Comentadores: • Senhor Guillerme CONFECOOP) • Vilaverde (FENACHE e Vice-Presidente da Arqt.ª Helena Roseta (Deputada) 13H00-15H00 Intervalo para almoço 15H00-16H30 A actividade da construção: regulamentação, técnicas e custos, Fiscalidade e apoios na construção e na habitação Orador: • Eng.º Rui Manuel Nogueira Simões (Presidente da AECOPS e VicePresidente da CIP) Comentadores: • Prof. Sidónio Pardal (UTL e Presidente da Comissão de Contribuição Autárquica) • Prof. Vítor Abrantes (Faculdade de Engenharia do Porto) 16H30-16H45 Intervalo para café 216 16H45-18H15 Habitação social Orador: • Dr. Eduardo Vilaça (Presidente do INH) Comentador: • Prof.ª Dra. Isabel Guerra (ISCTE) Dia 4 de Abril 09H45-10H30 Financiamento Orador: • Dr. Rui Mendes (CGD) Comentador: • Dr. Amaral Gomes (COOCICLO) 10H30-11H45 Intervalo para café 10H45-12H45 Arrendamento Orador: • Eng.º Mário Azevedo (Presidente da Comissão para o Arrendamento Habitacional) Comentadores: • Prof. Diogo Lucena (UN – F. Economia) • Senhor Eduardo Carvalho da Silva (Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários) • Dra. Alexandra Gonçalves (Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses) 12H45 Encerramento: • Ministro do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, Senhor Eng.º João Cravinho 217
Download