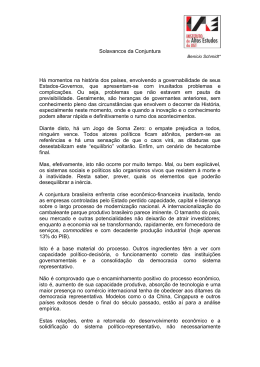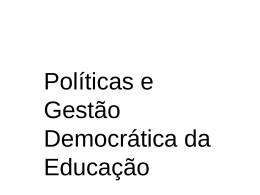ÉTICA, MORAL E DEMOCRACIA: PARADOXOS DA PRÁXIS ORGANIZACIONAL1 José Henrique de Faria (CEPPAD/UFPR) RESUMO A questão que orienta este trabalho é se aos conceitos admitidos de ética, moral e de democracia, que são considerados como os que devem balizar o comportamento das relações sociais e políticas em geral, correspondem práticas organizacionais semelhantes. A partir de uma pesquisa efetuada com cerca de 200 gestores, este estudo investiga se há um conceito do que deveria ser a prática social e outro, diferente deste, do que é de fato a prática organizacional vivida pelos sujeitos, de forma que, tomando por base a análise da ética associada à democracia, do ponto de vista da práxis organizacional seria correto afirmar que aí se estabelece um paradoxo entre teoria e prática. INTRODUÇÃO Pesquisas mais recentes têm dado ênfase a determinadas práticas e códigos organizacionais relativos à “banalização da injustiça” (DEJOURS, 1999), à “corrosão do caráter” (SENNETT, 1999), à reestruturação produtiva e ao acirramento dos comportamentos competitivos (KATZ et alii, 1995), ao desenvolvimento do individualismo e da opressão (CHANLAT,1996), e a outros temas correlatos que, em resumo, estão na base da discussão acerca da análise dos códigos éticos e morais e da prática da democracia no âmbito das organizações. Os estudos acerca da ética, da moral e da democracia, quase tão antigos quanto à própria filosofia e as ciências sociais, continuam sendo motivo de reflexão (NOVAES, 1992; PENNA, 1999), ganhando destaque agora no contexto da globalização (CHANGEUX, 1999). Para se ter uma idéia da sua atualidade e importância, basta notar que existiam, no início do ano 2000, 928 sites na Internet sobre este tema. O presente artigo analisa, a partir de uma pesquisa baseada em um survey, no qual são entrevistados proprietários, diretores e gerentes de diversos níveis, de diferentes tipos de organização, tomando como referência a ética e a moral associados fulcralmente às atitudes democráticas, os paradoxos entre o discurso que afirma o que se acredita que deve ser e as atitudes que definem o que de fato é ou, mais precisamente, os paradoxos da práxis organizacional no âmbito do que se pode chamar de economia do poder2. Motivado pela constatação de atitudes, adotadas pelos sujeitos nas organizações em geral, nas quais há uma distância entre a aparência e a essência, especialmente no que se refere aos conteúdos da ética, da moral e da democracia, e que este fato ocorre, em uma observação ligeira, com muito mais freqüência do que formalmente se admite, pretende-se discutir a concepção de ética, moral e democracia no ambiente das organizações e investigar empiricamente o paradoxo entre o discurso, sustentado por uma teoria aceita como portadora dos conceitos apropriados, e uma prática que, negando o discurso, estabelece atitudes diferentes, a referendar, na vida organizacional cotidiana, conteúdos ou comportamentos que o próprio discurso entende não éticos, de moral coercitiva e autoritários, os quais são rigorosamente observados e aceitos neste ambiente enquanto portadores de uma lógica competitiva, de sobrevivência e de esperteza. Entendendo a práxis enquanto processo de transformação integrando teoria e prática, a questão que orienta este trabalho é se aos conceitos admitidos de ética e de democracia, que são considerados como os que devem balizar o comportamento das relações sociais e políticas em geral, correspondem práticas organizacionais semelhantes. Dito de outro modo, procurarse-á investigar se há um conceito do que deveria ser a prática social e outro, diferente deste, 1 do que é de fato a prática organizacional vivida pelos sujeitos, de forma que, tomando por base a análise da ética associada à democracia, do ponto de vista da práxis organizacional seria correto afirmar que aí se estabelece um paradoxo entre teoria e prática. Pretende-se questionar que dinâmica é esta que permite ao sujeito, nestes casos, conviver com o paradoxo, podendo ou não se dar totalmente conta dos mesmos. Isto seria um indicativo de que se trata do fato dos sujeitos terem um comportamento desviante ou destituído de caráter? A questão de fundo seria a existência de um encobertamento induzido pala concepção, reforçada em algumas proposições da própria teoria organizacional, de que o dito corresponde sempre à realidade, atribuindo um certo poder mágico ao discurso? A teoria que demanda esta indagação propõe que quando o discurso se articula em direção ao desejo do sujeito, o mesmo passa a representar a realidade, impedindo que se desvende aquilo que teima em se esconder por detrás das palavras. O discurso passa, deste modo, a se constituir enquanto esconderijo conceitual (BAIBICH, 1995), fundando uma concepção, esta sim, portadora de um sentido deformado, do que se encontra na superfície, enfim, uma teoria das máscaras, das aparências: quando os sujeitos formulam tal teoria desvinculada da prática, formulam igualmente uma concepção de mundo sem limites, no qual tudo parece ser possível. Esta teoria correspondente a tal concepção acaba por se constituir, no que se refere à práxis ética e democrática nas organizações, em um obstáculo às transformações, ajudando a reproduzir aqueles sentidos que já estão dados, que se pode rubricar, sobre os quais nada há a questionar (ENRIQUEZ, 1997). Mas é justamente aqui que, ao mesmo tempo em que se observa a existência destas restrições, se desvendam novas possibilidades na construção de um sentido a ser descoberto, de um outro constructo teórico a ser formulado a partir da análise das contradições presentes na práxis organizacional. ÉTICA, MORAL E DEMOCRACIA Moral e ética são conceitos diferentes, mas usualmente entendidos como sinônimos. Analisando dois pólos contraditórios, quais sejam, o caráter social da moral e a intimidade do sujeito, Aranha e Martins (1993:274-5), salientam que moral “significa maneira de se comportar regulada pelo uso”, ou mais amplamente, “conjunto de regras de conduta admitidas em determinada época” por um grupo de pessoas, enquanto a ética “se ocupa com a reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral”, reflexão esta que “pode seguir as mais diversas direções [...]: a moral, ao mesmo tempo que é um conjunto de regras que determina como deve ser o comportamento dos indivíduos do grupo, é também a livre e consciente aceitação das normas [de forma que] o ato só é propriamente moral se passar pelo crivo da aceitação pessoal da norma. A exterioridade da moral contrapõe-se à necessidade da interioridade, da adesão mais íntima”. Além disto, continuam Aranha e Martins (1993:275), “a vida moral se funda numa ambigüidade fundamental, justamente a que determina seu caráter histórico. Toda moral está situada no tempo [de sorte que] as normas, adequadas em determinado momento, tornam-se caducas e obsoletas em outro e devem ser mudadas. As contradições entre o velho e o novo são vividas quando as relações estabelecidas entre os homens, ao produzirem sua existência por meio do trabalho, exigem um novo código de conduta. [...] Por isso é difícil, para pessoas que estão ‘do lado de fora’, fazer avaliação do que deveria ou não ser feito”. Piaget, em seus estudos acerca do desenvolvimento cognitivo, afirmava que, em termos gerais, a moral constitui um sistema de regras e a essência da moralidade consiste na forma pela qual os indivíduos se relacionam e respeitam estas regras. Ao examinar o juízo moral nas crianças, Piaget (1994) observou que quando as regras são tidas como imanentes, 2 intangíveis, imutáveis, constituem a moral heterônoma da coerção, do respeito unilateral . Quando dependem de costumes, de concordância e de consentimento mútuo, podendo ser modificadas voluntariamente, desde que em consonância com a maioria e no sentido do bem comum, representam a moral da cooperação. Ao analisar atitudes de crianças diante de um dano causado, Piaget observa que quando a letra da lei e não seu espírito são observados, isto resulta de um realismo moral, próprio do sujeito egocêntrico desta fase do desenvolvimento. As atitudes decorrentes do realismo moral implicam um sentimento de responsabilidade objetiva, sendo que a ênfase neste sentimento vai diminuindo à medida em que a criança se desenvolve, ao mesmo tempo em que vai adquirindo importância o da responsabilidade subjetiva. O estágio primitivo do realismo moral está relacionado ao realismo da natureza: a moral se encontra nas regras externas. É assim que, de acordo com uma perspectiva baseada na evolução cognitiva, Piaget (1994) faz uma distinção entre a moral que se estabelece a partir de uma relação heterônoma, em que o sujeito obedece obrigatoriamente às normas formuladas externamente devido à coerção, até a que se funda em uma relação autônoma, em que o sujeito co-opera (visto que o desenvolvimento cognitivo, par e passo, com o moral, permite a coordenação de mais de uma dimensão, bem como a reversibilidade, ausentes anteriormente) com outros sujeitos tendo uma condição interna da avaliação crítica das normas. Nesta mesma linha cognitiva, Kohlberg (1969) propõe a existência de estágios no desenvolvimento moral ou ético, quais sejam, o da obediência às regras (evitando castigos), o da submissão ao grupo (obtendo recompensa e trocando favores), o do bom comportamento (evitando rejeição), o do cumprimento do dever (evitando censura, subversão da ordem e culpa), o da orientação legalista (mantendo o bem comum) e o de consciência ou de princípios (valorizando a fidelidade às escolhas antes que as normas). A moral, segundo Piaget (1994), guarda relação com a justiça, de forma que aos dois níveis de moral correspondem dois níveis de justiça: o nível da justiça imanente, que se relaciona à sanção expiatória, relativo à moral da coerção; o nível da justiça retributiva, que se relaciona à sanção por reciprocidade, relativo à moral da cooperação. No primeiro caso, Piaget nota que a crença na justiça se origina em uma transferência, para o objeto, de sentimentos adquiridos sob a influência da repressão; no segundo caso, que o castigo é entendido como uma retribuição necessária à desobediência. Entretanto, Piaget observa que, no que se refere à justiça, à medida em que progridem, as crianças alcançam a fase da justiça distributiva, que consiste em considerar vários graus de responsabilidade além dos motivos internos. A forma como se estabelecem as regras e sua correspondência com os níveis de moral e de justiça, propostos por Piaget, ainda que se refiram ao desenvolvimento cognitivo, permitem compreender as relações entre estas instâncias na vida cotidiana. O estabelecimento das regras, como se percebe, não pode decorrer do livre arbítrio, ou seja, não pode deixar de levar em consideração as outras consciências promovendo antes da anomia do que da autonomia, e tampouco pode ser imposta, conduzindo à coação moral: o desenvolvimento moral encontra-se no respeito mútuo e na cooperação. De fato, se o julgamento de quais os códigos morais devem ou não ser aceitos ficar restrito às escolhas do sujeito, tem-se uma sociedade individualista, na qual o sujeito tudo pode, de acordo com seus interesses, necessidades ou percepções. Assim, é necessário considerar o caráter social da moral, especialmente quando se enfatizam os aspectos da vida coletiva, as relações entre os sujeitos. É preciso, contudo, não cair na dimensão oposta, considerando somente o aspecto social, seja para que a sociedade não venha ser guiada pelo moralismo, sempre nefasto, seja para que não venha a sucumbir ao engessamento ditado pelas regras: deve haver a possibilidade de avaliação das regras de conduta e de sua transformação e é aqui que entra a ética, enquanto reflexão. 3 Esta também é avaliação de Chauí (1994), para quem a moral refere-se ao comportamento normativo, em que as regras são definidas pela sociedade, e a ética refere-se ao comportamento autônomo do indivíduo capaz do desejo. Deste modo, a moral impõe as regras do comportamento e da ação e define as sanções para a prática desviante, enquanto a ética supõe um sujeito livre, capaz de estabelecer valores por si mesmo e de respeitá-los. Ainda que diferentes quanto à sua origem, ética e moral aparecem imbricados em três pontos: (a) quando a prática da ética e o comportamento moral se definem pela disposição do indivíduo (ética) e da sociedade (moral) de dar fim à todo o tipo de violência, em seu sentido mais amplo; (b) quando ambas constituem o campo da práxis, onde o agente da ação, a ação e a finalidade da ação são uma só e mesma coisa; (c) quando ambas operam no campo do necessário e do possível, de forma que o que será possa ser diferente do que é, pela ação humana. Assim, ética e moral vinculam-se à prática política, constituindo-se em meios de julgamento. De fato, quando atitudes políticas são tomadas, é inevitável que sejam apreciadas pelos diretamente atingidos e, muitas vezes, até mesmo pelos que por elas não são afetados. A avaliação das atitudes acaba por se referir, grosso modo, às noções de certo e de errado, bom ou mau, seja do ponto de vista dos códigos individuais (da ética), seja das normas sociais (da moral). Como ensina Heemann (1993), estes padrões aglutinam-se em três grandes grupos: (a) o teológico, em que o padrão para a decisão moral depende de suas conseqüências; (b) o deontológico, em que o padrão para a decisão moral pode ser obrigatória ou correta pelo bem que promove ou igualmente por sua natureza; (c) o relativista, que recusa os princípios absolutos oriundos do fim último ou do dever, admitindo este em um quadro espaço-tempo mutável. Já Ricoeur (1991: 200-2) propõe uma distinção entre ética e moral que, embora convencional, é de muita utilidade: o termo “ética” é reservado à “perspectiva de uma vida concluída” e o termo “moral” à “articulação dessa perspectiva em normas caracterizadas ao mesmo tempo pela pretensão à universalidade e por um efeito de constrangimento”. Isto implica em que “a moral somente constituiria uma efetuação limitada, embora legítima e mesmo indispensável, da perspectiva ética, e a ética nesse sentido envolveria a moral”, de forma que a perspectiva ética (o momento teleológico) corresponde à estima de si e a moral (o momento deontológico) o respeito de si. Neste sentido, deve ser “evidente: 1) que a estima de si é mais fundamental que o respeito de si; 2) que o respeito de si é o aspecto que reveste a estima de si sob o regime da norma; 3) enfim, que as aporias do dever criam situações em que a estima de si aparece não somente como a origem mas como o recurso do respeito quando já nenhuma norma certa oferece guia seguro para o exercício hic et nunc do respeito”. Em síntese, Ricoeur conclui que “a distinção entre ética e moral responde à obrigação humana de um fosso lógico entre prescrever e descrever, entre dever-ser e ser”, de forma que se o ponto de vista deontológico subordina-se à perspectiva teleológica, então “a distância entre deverser e ser parecerá menos intransponível que numa confrontação direta entre a descrição e a prescrição ou, segundo uma terminologia próxima, entre julgamentos de valor e julgamentos de fato”. O que se depreende desta análise kantiana é que o sujeito, embora possa ser constrangido pelas regras da moral, é capaz de definir uma perspectiva teleológica ditada por outra razão, e isto é feito em circunstâncias específicas em que o respeito de si pelo outro passa a ser um código valorizado pelo sentimento de pertença ao seu próprio grupo ou pela ocupação de espaços políticos de poder nas organizações. Assim, como a estima de si (a ética) é mais fundamental que o respeito de si (a moral), o sujeito pode se propor justificações, de tal forma que a moral, já não tendo a última palavra, pode conviver, nas organizações, com 4 outras éticas que não lhe correspondem e os sujeitos nem por isso irão se sentir totalmente desconfortáveis por esta distinção. O que justifica a prática de uma ética em descordo com os códigos morais pode ser ou a falta de condição da norma para continuar a oferecer um “guia seguro”, ou as apreciações de caráter avaliativo, tanto da ética como da moral. Neste segundo caso, a prática é aquela em que a qualificação da ética passa a ser assegurada não por sua correspondência ou pela necessidade de renovação deontológica, mas pelo desenvolvimento de “padrões de excelência” (MACINTYRE, 1981), os quais definem o sucesso esperado, tornando-se regras aceitas por uma certa coletividade organizacional e interiorizada por seus membros. Tal prática resulta em atividades com regras socialmente estabelecidas, cujos padrões têm sua própria história a justificar os critérios do que é uma organização bem sucedida e do que são os seus melhores colaboradores. Na prática organizacional, estes padrões, nem sempre escritos, mas usualmente sugeridos nas definições das estratégias, levam os sujeitos a conviver com conjuntos de diferentes códigos: os do dever-ser e os do ser, o que os leva a valorizar mais o parecer-ser do que o de-fato-ser. Ao fim, nota-se, em termos gerais, que a questão da relação entre ética e moral se põe de forma a tentar compreender as razões pelas quais uma pessoa ou um grupo venham a agir ou não de determinada maneira dadas as alternativas possíveis. Assim, julgar as ações ou omissões, aprovando as consideradas boas ou censurando as consideradas más, está relacionado ao objeto sobre o qual incide a judicação moral. As sanções morais, desta maneira, funcionam como finalidade do próprio julgamento, sendo sociais quando se referem ao outro e sendo da consciência quando se referem a si (Cardia, 1992). É um fato normal e inevitável que as pessoas julguem o modo de agir e de ser de outras pessoas, o mesmo ocorrendo com e no interior dos grupos e das organizações. Quando o que anima os julgamentos são códigos fundados em princípios éticos coletivamente construídos, pode-se mesmo falar em moral da cooperação ou em moralidade social; mas quando o julgamento funda-se em dogmas e crenças que pertencem à natureza particular de pessoas, grupos, organizações, seitas ou corporações ou quando se baseia em um discurso cobertura, que atende conveniências muito específicas, impondo-se aos sujeitos, estes estão na presença de uma moral da coerção, sem conteúdo ético, precisamente porque os interesses particulares ou os que se explicitam como se fossem coletivos não podem ter a pretensão à universalidade. Como os sujeitos que pertencem a grupos ou organizações sabem que seus interesses pessoais não podem ser expressos como sendo pessoais, vão buscar um discurso cobertura que transforme este interesse particular em uma razão coletiva aceita, capaz de conferir legitimidade ao que não é necessariamente legítimo. É por esta razão que a cena política e social precisa valorizar, como sugere Chauí (1994), um outro tipo de sujeito, o coletivo, que vincula ética e moral, ética e direito, ética e cidadania, ética e democracia, de maneira que a distinção entre a esfera privada da ética e a esfera pública da moral não possa mais ser mantida, pois não há ética sem garantia de direitos: “a questão ética tornou-se inseparável da democrática, na medida em que a democracia afirma os princípios da igualdade, da justiça, da liberdade e da felicidade como direitos universais, criados pelos agentes sociais, assim como o princípio do direito às diferenças, universalmente reconhecidas como legítimas por todos”. Esta observação é importante na medida em que a chamada ideologia pós-moderna inaugura, no âmbito do neo-liberalismo político, um esfacelamento da pretensão ética à universalidade e à diferença. Os imperativos da competição, deificada como arranjo intransponível das relações de produção da vida material, transformam a violência em modelo de ação humana destruindo as possibilidades éticas. Sem dúvida, não há como falar em ética senão, tal qual propõe Paulo Freire (1996: 14-22), em “ética universal do ser humano”, “ética que condena o cinismo”, que “condena acusar por ouvir dizer”, “falsear a verdade, iludir o 5 incauto”, “testemunhar mentirosamente, falar mal dos outros pelo gosto do falar mal”, lançar suspeições sutis, dizer inverdades, deixar pairar dúvidas, induzir maliciosamente. Para Paulo Freire (1996: 14-22 ), “ética, respeito aos outros, coerência, capacidade de viver e de aprender com o diferente, não permitir que o mal-estar pessoal ou a antipatia com relação ao outro o façam acusá-lo do que não fez", são obrigações a que o sujeito deve perseverantemente se dedicar. Dito de outro modo, não há ética nas ações sorrateiras, na promoção da cizânia, no fomento à intriga, à maledicência, à traição. Por isso, Paulo Freire (1996:22) afirma que “a ética de que se fala é marca da natureza humana, algo indispensável à convivência, que lhe dá suporte quando constata, compara, avalia, valora, decide e rompe". Quadro 01: Ética, Moral e Democracia: posturas indicadas QUESTÕES Concorda A democracia é a melhor opção de governo e de exercício do poder. 81,5 Pessoas que possuem comportamentos (ou adotam atitudes) preconceituosas não estão em condições de exercer cargos de chefia. 92,6 Valores morais da sociedade devem ser sempre observados pelas pessoas em quaisquer circunstância. 88,9 O diálogo deve ser a melhor estratégia de gestão e de comportamento no ambiente de trabalho. 96,3 As pessoas devem ter sempre comportamentos éticos, independentemente da situação. 96,3 As organizações competitivas devem sempre adotar atitudes aceitas como moral e eticamente adequadas pela sociedade. 92,6 Pessoas que adotam atitudes coercitivas não devem ocupar cargos de chefia. 88,9 No mundo moderno as organizações devem valorizar mais o indivíduo cooperativo que o competitivo. 77,8 Normalmente, qualquer pessoa que tenha, nas organizações, atitudes desonestas, de qualquer espécie, deve ser exemplarmente punida. 85,2 A fidelidade com colegas e amigos, em qualquer circunstância e situação, é um princípio de conduta inegociável. 74,1 Os gestores devem ser sempre rigorosos quanto à observância de valores éticos e morais 100 Pessoas que costumam cometer injustiças não possuem condições de exercer liderança 74,1 Em % Discorda Os dados da presente investigação3, no que se refere às posturas indicadas pelos gestores como sendo aquelas que devem se constituir no arcabouço teórico da ética, da moral e da democracia no âmbito das organizações (Quadro 01), é muito elucidativa a este respeito. Da perspectiva teórica, fica evidenciada a forte vinculação dos gestores com o exercício da democracia e da justiça, a recusa às atitudes preconceituosas, desonestas, injustas e infiéis, a aceitação dos princípios éticos e morais vigentes na sociedade, a coerência de princípios e a cooperação. As posturas indicadas pelos gestores sugere que suas teorias acerca da prática da ética, da moral e da democracia no interior das organizações correspondem aos conceitos normalmente aceitos na literatura sobre os mesmos temas, como os aqui expostos. Entretanto, como se verá adiante, é preciso denunciar a existência de uma falsa concepção de que o conceito, uma vez claramente formulado, logo teria relação com a prática, que a teoria, assim que é racionalmente construída, corresponderia imediatamente às atitudes e que, portanto, o que é pensado seria o que de fato é, nada mais restando a ser feito. Não se trata de uma discussão metodológica sobre a construção teórica, ou sobre o idealismo ou, ainda, sobre a metafísica. Trata-se, neste caso, do estabelecimento de um paradoxo entre o que é conceituado e o que é executado. Por isso, é preciso, ao mesmo tempo: (a) distinguir que dizer-se ético não é, por si só, ser ético; (b) afirmar que à ética, em uma perspectiva de construção coletiva, junta-se a 6 prática da democracia, que lhe dá sustentação política; e (c) compreender que a ética justifica e fundamenta o comportamento moral. DEMOCRACIA E RESPONSABILIDADE Desde Platão e Aristóteles a literatura brinda a todos com reflexões importantes sobre política, governo ou, mais claramente, sobre relações de poder, processo nuclear da constituição da vida em sociedade (FARIA, 1999). Há um século e meio, dois jovens cientistas sociais, Marx e Engels (1976), ao analisarem a contradição entre Estado, enquanto sociedade política, e sociedade civil, mostraram que em uma democracia seus membros, para manter a unidade universal, não podem atribuir-se ou conquistar importância diferente daquela que lhes compete. Talvez isto pareça simples, mas não o é. De fato, nesta análise explicita-se com clareza tanto como o exercício da ética e da democracia supõem responsabilidade política, quanto como, no cumprimento das suas atribuições, deve-se garantir a função social do universal e do particular acima de quaisquer interesses específicos. Esses jovens cientistas, ao mostrarem como o governo do povo, com responsabilidades definidas, transformou-se em um governo formal na sociedade burguesa, indicaram como nesta última tudo se apresenta dividido: o singular encontra-se em oposição e em luta com todos os outros; a totalidade desintegra-se nas partes; o particular separa-se do universal; o homem social afasta-se do homem político. Deste modo, criou-se um entendimento, assumido sem crítica na vida organizacional, de que na democracia o processo formal supera o conteúdo, de que o coletivo é um agregado de muitos singulares e não uma unidade substancial. É nesse prisma que circulam livremente, ao sabor dos contextos, textos e discursos sobre democracia, participação e autoritarismo4. Quando, portanto, a unidade coletiva é ameaçada por desvios particulares, é fundamental garantir aquela pela correção desses: esta é uma intervenção política responsável e necessária. Fora disto, apenas resta incentivar a existência de um universal totalmente aparente que, de novo, é somente a soma de infinitas particularidades, cada qual, sem abdicar de seus interesses privados e encerrada na sua esfera, caracterizando o coletivo como elemento do particularismo, essencialmente desorgânico, onde a união se realiza apenas inconscientemente, nas costas dos indivíduos. Tal concepção do ethos singular embutido na estrutura coletiva, tomada como princípio genérico, afirma, em nome do todo, que a sociedade coletiva é apenas um conjunto de pessoas ou grupos privados, que a organização é simplesmente a soma dos seus colaboradores e que todos, defendendo seus interesses particulares, transformam-nos em coletivos, em metas e objetivos comuns: com este sentido, o universal torna-se não uma construção, mas uma soma, não um fim, mas um meio, não um valor, mas uma instância de legitimação dos agregados particulares5. Nesta perspectiva de democracia formal, os laços do homem com a espécie se rompem: o egoísmo e a necessidade particularista tomam seu lugar e a comunidade a ser preservada e a organização a ser construída desenvolvem-se em um mundo de indivíduos atomísticos, hostilmente contrapostos uns aos outros. É no interior desta concepção que se abriga a proclamação do direito do cidadão como sendo um direito independente, onde uns ligam-se a outros pelo laço do interesse privado (AGUIAR, 1984). Quando o coletivo deixa de se caracterizar por uma compenetração entre o singular e a totalidade, entre o indivíduo e a comunidade, preservadas as diferenças na constituição da unidade coletiva, o objetivo de resgatar, construir e manter a totalidade orgânica transforma-se na mais perniciosa farsa, onde a liberdade torna-se independência, a autonomia soberania e o coletivo uma agregação destituída de sentido. Como mostra Aguiar (1984) se é verdade que a liberdade e a autonomia 7 coletiva devem tutelar a liberdade e a autonomia de seus membros, também é verdade que a desobrigação destes para com aqueles é o meio mais seguro de rompê-las. A unidade coletiva, que deveria ser o núcleo a partir do qual se poderia construir a identidade organizacional, tendo como base princípios e compromissos comuns, os quais não seriam apenas explicitações formais de desejos dos indivíduos na relação mas manifestações concretas da vontade coletiva, acabou por se transformar naquilo que Robert Michels (1982) tão pertinentemente denominou de a “lei de ferro da oligarquia”. Desta forma, a definição de princípios e de compromissos, enquanto manifestação da vontade coletiva, corre sempre o risco do uso que ideólogos moralistas fazem dos seus termos, apropriando-se deles de forma dogmática, emprestando deles a base política a partir da qual foram formulados, separando-os das relações concretas. PRINCÍPIOS E COMPROMISSOS Princípios indicam condições primeiras, preceitos, identidades, posições diretoras, que guiam ações. Os princípios, assim, contêm a possibilidade de mudanças qualitativas, aproximando as práticas coletivas da prática social concreta e sustentando compromissos com a construção cotidiana, a qual não admite a destruição, o descuido com os códigos e o desrespeito com as normas institucionais, com as políticas e atribuições que lhe são próprias, compreendendo, contudo, que quando as regras instituídas não mais comportam as práticas, não são estas, mas aquelas, que se devem alterar. Não se cumpre um princípio sem outros, porque nenhum é único e nem o conjunto é fragmentado: a ação democrática está imbricada nos códigos de cidadania, forjada nos pressupostos democráticos universais de preservação do público em contraposição ao corporativo e ao particular. Sendo gerais, os princípios podem caber em qualquer instância e em qualquer situação, o que não justifica que sejam observados no particular em detrimento do geral. Fazer, portanto, de circunstâncias específicas um jogo de verdades inapeláveis, onde parece ser adequado produzir conflitos do tipo teoria e prática, forma e conteúdo, intenção e gesto, é reduzir o valor dos princípios à aplicações subordinadas, nas quais tudo vale e das quais se pode deduzir, finalmente, a única verdade. Se cada circunstância pudesse reivindicar uma verdade, uma democracia, uma moral e uma ética, nenhum código seria produzido, nenhuma sociedade seria organizada e nada seria instituído. Isto não significa que, uma vez definidas, as verdades, assim como os princípios de conduta, se tornem imutáveis. De fato, como analisa Engels (1979), em sua crítica ao Senhor Düring, se o produto do exercício do pensamento pudesse reivindicar a validez soberana das verdades, a sociedade alcançaria um nível tal que se teria esgotado a infinidade do mundo intelectual. Se tudo já estivesse pronto, nada mais haveria a produzir. Se tudo já se soubesse, nada mais haveria a investigar. Entretanto, é interessante verificar que mesmo em situações que se caracterizam pela renovada produção intelectual e pela permanente investigação também acabem emergindo estes axiomas, definitivos e inapeláveis, dos quais se extraem as deduções da existência humana, do poder-ser e do dever-ser. E é interessante observar que justamente aí é que alguns membros das organizações asseguram, em seus discursos, que só a sua concepção é aceitável, que tudo o mais é equívoco e, como profetas recém saídos do forno, trazem em sua mochila organizacional, pronta para ser posta em circulação, a única verdade e a verdadeira ética, a moral eterna e a eterna justiça. A vida cotidiana nas organizações passa a ser, assim, preenchida por vários espaços em que o falso toma a forma do verdadeiro, instituindo um pacto no qual ali tudo é aceito como norma, como próprio da natureza, de maneira a que as verdades impostas e a ética conceituada não venham a provocar, nos sujeitos, incômodo, envolvimento ou dor. Os grupos 8 e alguns de seus líderes, no sentido de manter uma unidade competitiva na luta pelo poder, desfilam um conjunto de regras, de comportamentos e de condutas administrativas e morais, a partir do que julgarão outros grupos ou seus membros mais destacados; entretanto, o que deveria ser princípio e compromisso, não passa de discurso. Na medida em que aquilo que, antes definido como ético, moral ou democrático, venha a se constituir em obstáculo ao exercício ou à luta pelo poder, toda a lógica passa a ser reconstruída, de forma a abarcar as novas regras, atitudes ou comportamentos agora necessários e, portanto, aceitos. Tais alterações não se processam, destarte, apenas pela dinâmica das relações, pela dialética da natureza, mas por interesses particulares. Assim, os princípios que guiam estes filantropos da intelectualidade no interior das organizações aparecem sem estilo e sem densidade política, porque resolvem suas carências com frases tradicionais e com bordões; sem conteúdo, porque sendo vazios de teoria preenchem suas falas com estéticas duvidosas; sem horizonte, porque sua visão de mundo não ultrapassa a porta da sala de reuniões; e sem compromissos, porque legitimam práticas organizacionais com superficialidade e, às vezes, com a profundidade do que Dejours (1999) vai chamar de “banalização da injustiça”. São princípios nos quais não cabe a sabedoria e nos quais o sujeito não vale pelo afeto que cultiva, mas pela esperteza capaz de lhe conferir vantagens competitivas6. As dimensões da ética, da moral e da democracia, que todos os membros da organização defendem no público, nem sempre possuem a mesma consistência na prática privada dos grupos ou dos indivíduos. A realidade das organizações se constitui, assim, em um mundo do que é dito e do que é não dito, da cena e da outra cena (ENRIQUEZ, 1974). As interpretações produzidas nos princípios formulados por estes membros da intelectualidade organizacional, independentemente do lugar que ocupem na estrutura formal, por estarem voltadas aos seus interesses específicos, aos seus objetivos e à sua concepção de mundo, pretendem se constituir em uma panacéia que, aplicada em qualquer condição, impõem, como sendo fruto maduro do pensamento soberano, um mero encadeamento de frases com vários (e, em alguns casos, sem nenhum) sentidos. Este tipo de prática, muito adequada a impactos momentâneos, na realidade não é senão uma nova versão do velho e favorito método ideológico, apriorístico, que consiste em estabelecer e provar propriedades de um objeto partindo não dele mesmo mas do conceito que dele antes se formou. Assim, não é o conceito que se ajusta ao objeto mas este que se ajusta àquele (Engels, 1979). Quando princípios são conceituados desta forma, desconectados da realidade e segundo uma lógica previamente definida, os mesmos cabem onde se deseja pô-los antes até de os construir: a realidade é deduzida não de si mesma, mas da idéia, por isso não é senão ideologia7. Sem dúvida, o ideólogo organizacional deseja construir princípios da moral, do direito, da ética, da democracia e do comportamento que devem ser respeitados na organização, não baseados na realidade das condições sociais que lhe dão suporte, mas partindo de um conceito já previamente formulado no interior de seu grupo, sua seita ou corporação, sobre o que é moral, direito, ética, democracia e comportamento. Duas ordens de evidências se põem: os vestígios escassos de realidade que ainda possam existir nas abstrações servem de base à construção teórica; o conteúdo do conceito sobre o qual repousa a teoria encontra-se na própria consciência de seu formulador. Neste sentido, o conceito de princípio ético, moral e democrático pode ser o que for mais conveniente aos seus elaboradores e usuários ocasionais. Mas os fatos, quando postos em evidência, indicam que o que quer que os ideólogos das organizações façam, onde quer que coloquem seus mofados discursos, o resultado será que a realidade, que eles expulsam pela porta, volta a entrar pela janela, restabelecendo-se a 9 primazia do concreto. E é aí que reside aquela parte da história das organizações que é preciso sempre investigar. ÉTICA, MORAL E DEMOCRACIA: ANÁLISE DOS PARADOXOS DA PRÁXIS ORGANIZACIONAL A atitude de, em situações de divergências explícitas, (a) (pré)conceituar o outro sem aguardar seu pronunciamento, (b) trocar o espaço do debate pelas intrigas dos bastidores, (c) fugir dos enfrentamentos ou jamais estabelecer o diálogo aberto, preferindo falar do outro, no público e no privado, na sua ausência, (d) buscar, a qualquer preço, a promoção pessoal desqualificando o outro, manipulando conceitos, fatos e informações ou mesmo mentindo, (e) negar ao outro manifestação e defini-lo por palavras que ainda sequer pronunciou ou por atitudes que sequer tomou, (f) julgar o outro por procedimentos tomados sem considerar as razões que os motivaram. Eis um conjunto de atitudes que podem ser observadas em organizações e que normalmente são definidas como sendo não éticas, decorrentes da moral da coerção e autoritárias. Tais atitudes, como sugere a pesquisa, não são tão raras como se poderia a princípio pensar. Na avaliação dos gestores8 são indicadas com clareza as atitudes relativas às práticas organizacionais que revelam o paradoxo teoria-prática. Pelo menos cinco tipos de paradoxos relativos à ética, à moral e à democracia puderam ser identificados: os que mostram as práticas autoritárias e preconceituosas (Quadro 02); os que mostram as práticas injustas e de auto-preservação (Quadro 03); os que mostram as práticas nas quais a ética subordina-se à competitividade (Quadro 04); os que mostram as práticas conformistas (Quadro 05); os que mostram as práticas de desvalorização humana e de auto-depreciação (Quadro 06). Quadro 02: Paradoxo do Autoritarismo e Preconceito QUESTÕES Concorda No ambiente organizacional os debates e críticas são usualmente feitos de forma franca e aberta. O ambiente nas organizações é freqüentemente democrático, com amplas possibilidades da participação de todos nas decisões. Há situações nas quais os chefes impõem seu pensamento, dado que a discussão não gera os resultados por ele esperados. 96,3 As pessoas costumam emitir julgamentos sobre outras pessoas por ouvir falar, sem conhecer suas razões. 92,6 Existem formas, via de regra veladas, de discriminação nas organizações quanto ao tipo de trabalho, formação profissional, habilidades, etc. 88,9 Existem discriminações nas organizações, ainda que não explícitas, quanto a gênero, opção sexual, cor, raça, etnia, credo religioso, etc. 77,8 Pessoas críticas, politicamente vinculadas a partidos e à militância sindical, não são muito bem vistas nas organizações. 88,9 Em % Discorda 66,7 77,8 Mais do que a freqüência, quando estas atitudes ocorrem nas organizações, podem vir a desencadear o desrespeito às diferenças que devem compor um ambiente organizacional democrático. Se há distância entre discurso e atitude, se o comportamento hipócrita se impõe sem se assumir, se a pusilanimidade passa a ser o signo da gentileza, é grande a possibilidade de se encontrar o renascimento da prática inquisitória, em que uma razão cínica ocupa todos os espaços da vida cotidiana. 10 Quadro 03: Paradoxo da Injustiça e Auto-Preservação QUESTÕES Concorda É mais comum que as pessoas critiquem seus pares e superiores em ambientes informais (dentro ou fora da organização) do que na presença deles. 100 É comum o fato das pessoas terem uma opinião sobre alguém acerca de um assunto em que o mesmo esteja envolvido sem ouvir sua opinião/versão. 100 Para obter promoção pessoal ou reconhecimento não é incomum que pessoas desqualifiquem outras, manipulem informações e distorçam fatos. 66,7 Em uma organização é pouco significativa a diferença entre o que as pessoas dizem e o que elas fazem. Na vida organizacional a esperteza é tida como um valor necessário. 85,2 Nas organizações é bastante incomum que pessoas "pisem" em outras para se promover. A afirmação "se alguém tem que ser dispensado que seja o outro", ainda que não seja dita abertamente, é um lema observado nas organizações. 88,9 Nas organizações as pessoas competem freqüentemente por espaços de poder, utilizando as "armas" que melhor lhes convém para conquistá-los. 96,3 Os valores e interesses pessoais constituem o motor das relações humanas nas organizações. 70,4 No mundo competitivo das organizações é verdadeira a expressão "cada um por si". 74,1 As decisões, além da parte técnica, contêm igualmente um forte componente de valores, julgamentos e interesses pessoais ou de grupos. 88,9 Em % Discorda 77,8 77,8 Neste ambiente, há uma probabilidade de que os detentores do conhecimento supremo, da suprema sabedoria, do juízo final, que pretendem ocupar os lugares mais importantes das organizações, acabem por veicular suas manobras urdidas no que não pode ser manifesto, tramadas nos esconderijos do poder, cochichadas por detrás das portas e alimentadas nos bastidores organizacionais. É aí que razões e conceitos podem ser convenientemente transformados em dogmas, mentiras em verdades, ignorância em pretenso saber distinto, atitude de desonestidade em esperteza política, desejos individuais em "interesses coletivos" sustentados pela lógica da racionalidade formal. Quadro 04: Paradoxo da Subordinação Ética e Competitividade QUESTÕES Concorda A competição entre as organizações obriga-as a adotar atitudes nem sempre tidas como éticas pela sociedade. 85,2 A competitividade entre as organizações nem sempre é considerada necessariamente compatível com as regras de comportamento moral definidas pela sociedade. 88,9 Quando a competitividade torna-se forte, aquelas pessoas que não estão aptas às necessidades do sistema de trabalho são dispensadas das organizações. 77,8 As organizações precisam ser mais eficazes que as concorrentes para permanecer no mercado. 100 Relações democráticas na sociedade não têm o mesmo sentido que relações democráticas em organizações que dependem de eficácia competitiva para 96,3 subsistir. Em% Discorda Atitudes, que se constituem em julgamentos, do tipo rito sumário, pronunciados pelos que se auto-intitulam guardiões do templo da moralidade, se valem de abstratas desvinculações éticas e morais e acabam por distinguir o lícito em política do obrigatório em moral. O critério segundo o qual se julga uma ação política é, portanto, diferente do que se considera uma ação moral, pois enquanto esta é julgada em relação a uma norma cujo preceito é considerado categórico, independentemente do resultado, aquela o é baseada exatamente no resultado (Bobbio, 1995). Assim, enquanto em um caso a ação moralmente correta não 11 deveria ser praticada senão com a finalidade de cumprir o próprio dever, em outro não há indicação a que se possa apelar se o que está na mira é o fim. A interpretação desta diferença já havia sido realizada, entre outros, por Max Weber (1989), que distinguiu a ética da convicção, usada para julgar as ações individuais, da ética da responsabilidade, usada para julgar ações coletivas ou individuais desde que estas sejam praticadas em nome da coletividade. Quadro 05: Paradoxo do Conformismo Em % QUESTÕES Concorda As pessoas acreditam que é sempre melhor ter um emprego, qualquer que seja, do que não ter nenhum. 81,5 A perspectiva de aumento de salários e de promoção faz com que as pessoas revejam algumas de suas atitudes e comportamentos, adaptando-os aos esperados pela organização. 85,2 Há uma tendência das pessoas buscarem recompensas e favores do grupo a que pertencem, aceitando as "regras não escritas" do mesmo. 77,8 As pessoas procuram evitar a rejeição por parte dos outros adotando comportamentos valorizados pelos mesmos, ainda que dele discordem. 85,2 Entre a ameaça de desemprego e o fato de ter que tomar atitudes nem sempre adequadas, as pessoas preferem garantir o emprego. 92,6 Discorda Os desdobramentos decorrentes deste tipo de juízo nem sempre refletem os entendimentos que atravessam as organizações. Trata-se, com este sentido, de uma questão não só política e conceitual, mas também verdadeiramente ética e moral, onde a dissimulação, a crueldade e a violência não são assumidas pelos sujeitos, os quais são, então, qualificados por seus pares como articuladores políticos, que é a maneira como podem ser aceitos no grupo, seja porque tais sujeitos necessitam esconder-se sob a capa institucional, seja porque o próprio grupo necessita proteger-se de seus atos, de seus avais e referendos com relação à prática mesquinha de seus membros, de forma a não serem julgados pelos membros da organização ou mesmo pela sociedade como portadores da moral da coerção e da falta de ética. Estes sujeitos, exatamente porque não agem segundo uma ética e uma moral cooperativa, precisam disfarçar suas atitudes, assumindo formas que, ao mesmo tempo em que atendam suas conveniências e interesses, sejam encobertas pelo verniz do discurso cobertura. A competitividade; a busca do êxito econômico e financeiro; as disputas por espaços políticos de poder; os receios advindos do desemprego, do desalojamento de ocupações e de funções na estrutura; todas estas questões, aliadas tanto às restrições referentes à explicitação de diferenças, aos conflitos e à palavra livre, quanto aos sentimentos de pertença a grupos e suas recompensas, constituem as formas política e psíquica que justificam a prática organizacional separada da teoria a pronunciar interdições estruturantes da subordinação do sujeito ao instituído, tidas como necessárias à vida das organizações e à existência conformada de seus membros. Que sentimentos tais práticas instauram e o que desencadeiam? Estas práticas instauram e reforçam sentimentos de menos-valia, de auto-depreciação de si, de conformismo àquilo que se encontra estabelecido heteronomamente, de tolerância à injustiça visando sua auto-preservação (de qualquer forma passageira, pois que o sujeito candidata-se a dela ser vítima). A cisão entre teoria e prática desencadeia um imaginário que parece cristalizar um movimento instituinte capaz de dar sentido à diferença entre o admitido na esfera social e o desenvolvido na esfera organizacional, sentido este que funda o paradoxo no qual os códigos morais, a ética e a democracia subordinam-se a uma lógica diferente daquela presente nos seus conceitos, no qual a prática se distancia da teoria. 12 Quadro 06: Paradoxo da Desvalorização Humana e Auto-Depreciação QUESTÕES Concorda As pessoas são sempre fiéis em suas escolhas, atitudes, decisões e valores. As pessoas, quando não alcançam o desempenho esperado pelas organizações, tendem primeiramente a considerar que isto se deve à sua própria falta de condição. Na perspectiva das organizações, necessidades humanas básicas ligadas às emoções possuem um status semelhantes às ligadas as competências técnicas. No ambiente das organizações as pessoas costumam demonstrar solidariedade e intolerância quanto ao sofrimento ou às injustiças cometidas com as outras pessoas em geral, tomando atitudes em sua defesa. Ninguém gosta de ser censurado, especialmente em presença de outras pessoas. 92,6 As pessoas não gostam de se sentir culpadas. 81,5 No mundo globalizado nota-se que os empregados cada vez mais ficam temerosos de não estar à altura das novas exigências da organização do trabalho. 85,2 As organizações exigem das pessoas desempenhos cada vez melhores, maior dedicação e disponibilidade. 100 As pessoas costumam colocar-se no lugar dos outros no sentido de avaliar seus pontos de vista. As pessoas valorizam mais os "prêmios" que lhes são conferidos (distinções, deferências, vantagens) do que ter seus direitos atendidos pelas organizações. 70,4 Em % Discorda 70,4 81,5 81,5 70,4 70,4 ENCAMINHAMENTO REFLEXIVO A pesquisa realizada ainda não autoriza uma conclusão, apenas uma reflexão. O objetivo deste artigo era o de investigar se os gestores avaliam a existência ou não de uma diferença entre os conceitos de ética, moral e democracia e sua prática, ditadas pelo pragmatismo nas organizações. No que se refere à contribuição teórica, era intenção igualmente formular um questionamento sobre a dinâmica que permite aos sujeitos conviver com este paradoxo. No primeiro caso, ficou relativamente claro que do ponto de vista da avaliação dos gestores entrevistados tal diferença é evidente: significativa maioria dos gestores concorda que o que deveria ser não corresponde ao que é. A questão que resta, então, é sobre qual o significado deste paradoxo. Trata-se de um comportamento desviante ou de um encobertamento proporcionado pela crença de que o dito corresponde sempre à realidade? Como sugere Ricoeur (1991:130), o problema é delimitar a esfera de acontecimentos da qual pode-se tornar o sujeito responsável e isto não é fácil porque o mesmo “não está nas conseqüências como ele está de algum modo no seu gesto imediato”. “Em primeiro lugar, [...] os efeitos de uma ação destacam-se de algum modo do agente [...]. É deste modo que a ação tem efeitos, podemos dizer, não desejados e mesmo perversos”. Em segundo lugar, existe uma espécie de confusão que torna “difícil atribuir a um agente particular uma série determinada de acontecimentos: a da ação de cada um com a ação de cada outro”. Neste sentido, é relativamente fácil observar que se trata de uma questão teórica bastante complexa, para a qual não há respostas contundentes, razão pela qual, neste momento, o que é possível é somente considerar que a maneira como o sujeito faz o entendimento analítico ou a leitura interpretativa9 de si mesmo constitui sua própria ética, sendo este entendimento, de alguma forma, vinculado com o entendimento dos códigos morais da sociedade, seja para seguí-los, seja para modificá-los ou mesmo para desrespeitálos, total ou parcialmente. Tais entendimentos, relacionados à disposição genética e aos códigos específicos que o sujeito construiu ao longo de suas relações pessoais e políticas (BUSS, 1999), formam a estima de si. Assim, como mostra Ricoeur (1999:211), “no plano ético, a interpretação de si torna-se estima de si. Em troca, a estima de si segue o destino da interpretação. Com esta ela dá lugar à controvérsia, à contestação, à rivalidade, em suma, ao conflito das interpretações, no exercício do julgamento prático”. As atitudes, as decisões, 13 desta forma, não estão relacionadas apenas à observação, ao aprendizado, às teorias, mas também ao funcionamento psíquico, aos julgamentos, à convicção do sujeito baseada nas evidências de sua experiência. Se a ética, no entanto, deve se estruturar para fortalecer ou modificar a moral, enquanto um conjunto de normas a serem seguidas, resta evidente que a mesma deve se impor sobre a moral. Para isto, é necessário que a ética seja enriquecida pela norma, de maneira que não se funde uma ética que abrigue tantas éticas quanto são os sujeitos que as formulam para justificar a si e seus atos. A correspondência entre a ética e a moral só alcançará sua plena significação, como aponta Ricoeur (1999:238), “quando o respeito da norma tiver se expandido com respeito a outrem e ao si mesmo como um outro”, de sorte que a moral seja a ética sob a regime da norma. É necessário, então, que o respeito de si seja igualmente o respeito ao outro e que a estima de si possa estar vinculada à convivência com a estima do outro. Desta forma, o paradoxo entre a ética idealizada e a confessa, entre a moral sugerida e a praticada, entre a democracia defendida e a exercitada, poderia constituir um momento privilegiado para o sujeito estar diante de si. Como estar diante de si em uma situação como esta gera, pelo menos, desconforto, o sujeito tende a fugir do confronto, transferindo a responsabilidade de conviver com o paradoxo para o outro, omitindo-se de sua parte na relação, fuga esta que lhe impede o desenvolvimento. É possível que, em algum momento da vida, o sujeito tenha aderido à convicção de que ele precede o outro, que a dor do outro não lhe toca, não lhe incomoda, não lhe dói. É justamente aqui, onde a estima de si não se submete ao respeito de si, que se desenvolve o hedonismo. O que o sujeito ignora, neste caso, não é apenas que ele sonega ao outro sua condição emocional, mas também que ele mesmo, pela ausência da genuína troca afetiva, reifica-se. Para desenvolver e garantir sua autenticidade individual o sujeito precisa igualmente se reconhecer responsável por suas próprias atitudes e assumir as conseqüências de seu fazer, especialmente quando este se contrapõe a interesses da organização, de grupos ou de pessoas. Quando o sujeito atribui a outro ou a algum fato externo a responsabilidade pelos fatos decorrentes de sua atitude, como que a justificar inclusive para si mesmo seu (não) fazer, seu (não) incômodo, e sua (não) dor, ele ou adota uma postura escapista e covarde, ou uma postura de medo e vergonha. De ambos os casos decorre uma desvalorização de si, uma diminuição da estima de si, o que não permite ao sujeito compreender que é apenas quando ele se torna capaz de apreciar criticamente suas ações é que ele adquire condições de apreciar, no duplo sentido do termo, a si mesmo como seu autor. Mas isto não se processa sem dificuldades: a verdade, o erro assumido e o custo pessoal e público pelas conseqüências, são garantias do desenvolvimento da estima de si, mas nem por isso deixam de ser dolorosos, na medida em que obrigam o sujeito a se deparar com sua falta, com sua impotência, com o que ele não é e com o que ele é e não aprecia. Daí a grande dificuldade da transformação. A convivência com os paradoxos podem indicar, e certamente indicam, algumas atitudes desviantes, injustas ou mesmo desonestas, como observado nas argumentações desenvolvidas. Podem igualmente indicar uma certa concepção bastante arraigada, que vem desde a Grécia antiga, segundo a qual a teoria pertencia à "elite" e a prática aos "escravos", concepção esta freqüentemente reafirmada na expressão "na prática a teoria é outra". Entretanto, as primeiras reflexões desta pesquisa permitem sugerir que a convivência com o paradoxo e sua não percepção decorre também de um aspecto importante, e nem sempre suficientemente trabalhado pela teoria das organizações, que é o funcionamento psíquico do sujeito e suas dificuldades para lidar com o que lhe provoca dor, assunto este que, do ponto de vista epistemológico, pertenceria ao campo exclusivo da psicologia, mais notadamente da psicanálise. É exatamente este aspecto da investigação que deve ser aprofundado pela teoria 14 das organizações, pois é ele que permite estudar qual a dinâmica que possibilita ao sujeito acreditar que: o que é pensado é aquilo que de fato é; a simples compreensão teórica é suficiente para desencadear mudanças de atitude; a intenção, enfim, supõe o gesto. NOTAS 1 O autor agradece à Profa. Tânia Maria Baibich pela leitura crítica e atenta. Os dados aqui utilizados constituem parte de uma pesquisa mais ampla sobre Organização e Economia do Poder, coordenada pelo autor. 3 Neste aspecto da pesquisa, referente à ética e à moral, objeto da presente análise, foram utilizados, como instrumento de coleta de dados, entrevistas semi-estruturada e estruturada. No último caso, foram aplicados cerca de 200 questionários, contendo 56 questões, em uma escala de concordância/discordância, divididas em duas partes, uma relativa a um diagnóstico situacional e outra relativa a posturas indicadas. Isto permitiu estabelecer uma confrontação entre o que se avalia que é feito (a prática) e o que se avalia que deve ser feito (a teoria). As respostas obtidas permitem cruzamentos muito interessantes que, dada a amplitude das relações estabelecidas e os detalhes sugestivos que estas revelam, constituem objeto de outro estudo, já em desenvolvimento. 4 Estas concepções invadiram a literatura organizacional sob a forma de defesa de modelos de “Gestão Participativa”, em que a participação assume o mesmo significado que democracia. Para uma crítica e estes “modelos”, ver Faria (1987; 1992). 5 É interessante notar como, em presença de uma platéia, especialmente organizada para saudar o discurso oficial, aquele que preparou o terreno para se mostrar aos outros como seu grande intérprete toma ares de uma retórica que, se desnudada, revela que o dono da palavra nada mais tem que a sua palavra, que o que veementemente condena é o que faz, que o que desqualifica é o que inveja e pretende, que o que critica é o que gostaria de ter tido a iniciativa de fazer e que o que rejeita e nega é o que é. 6 Entendo que existem pelo menos dois tipos de competitividade: a. a absoluta, referente aos enfrentamentos diretos entre organizações ou pessoas cujo objetivo é o de eliminar os concorrentes; b. a relativa, referente aos enfrentamentos indiretos entre organizações ou pessoas, cujo objetivo é o de conquistar, ampliar ou manter espaços entre concorrentes. No primeiro caso, o que está em jogo é o monopólio econômico ou político. No segundo caso, o que se valoriza são os benefícios decorrentes da ocupação de espaços econômicos ou políticos estratégicos ou, dito de outro modo, o que se valoriza são as vantagens competitivas. 7 Um exemplo é a crítica que certos círculos progressistas fazem à adoção critérios em processos de avaliação institucional em instituições públicas, os quais revelam fragilidades que, para eles, seria melhor que permanecessem escondidas. Esses círculos interpretam o movimento dialético da vida coletiva como um simples avanço da competitividade capitalista no espaço público, tomando este como se fosse o altar da justiça social e não a sua coxia. Assim, defendem a ausência de critérios e de atitudes não porque estes sejam impróprios, mas para esconder suas segundas intenções, para abrir espaço de manobra política às suas velhas e surradas práticas de distribuição de favores. Os discursos coberturas que sustentam esta tese, contudo, parecem, ao público, ter saído dos mais puros manuais democráticos. 8 O perfil dos gestores entrevistados revela que 66% são homens, 66% possuem entre 30 e 50 anos, 73% atuam na área de administração geral, 59% são proprietários, diretores ou ocupam funções de alta gerência, 70% possuem mais de 10 anos de experiência profissional e 70% tiveram maior tempo de trabalho em organizações privadas. 9 O entendimento analítico é uma leitura interpretativa ou, no dizer de Freud, uma auto-análise e, portanto, não se confunde, conceitualmente, com os esquemas interpretativos, baseados em crenças e valores. 2 BIBLIOGRAFIA AGUIAR, Roberto A. R. De. Direito, poder e opressão. São Paulo: Alfa-Omega, 1984. ARANHA, M. L. e MARTINS, M. H. Filosofando. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1999. BAIBICH, Tânia Maria. Perfil das universidades públicas. Curitiba: UFPR, Cadernos de Extensão no. 1, 1995. BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Brasília: Editora da UnB, 1995. BUSS, David M. Evolutionary Psychology: the new science of the mind. Needham Heights: Allyn and Bacon, 1999. CARDIA, Mário Sottomayor. Ética: estrutura e moralidade. Lisboa: Editorial Presença, 1992. 15 CHANGEUX, Jean-Pierre. Org. Uma ética para quantos? Bauru: EDUSC, 1999. CHANLAT, J. Coord. O indivíduo nas organizações. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1996. CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia. 2ª ed. São Paulo: Moderna, 1981. _____. Público, privado e despotismo. In: NOVAES (1992) _____. Ética e democracia. São Paulo. snb. 1994. DEJOURS, C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV, 1999. ENGELS, F. Anti Düring. Porto: Presença, 1979. ENRIQUEZ, Eugène. A organização em análise. Petrópolis: Vozes, 1997. _____. Imaginário social, recalcamento e repressão nas organizações. São Paulo: Tempo Brasileiro, 36/37: 53-94, jan.-jun. 1974. FARIA, José Henrique de. Comissões de fábrica: poder e trabalho nas unidades produtivas. Curitiba: Criar, 1987. _____. Tecnologia e processo de trabalho. Curitiba: Editora da UFPR, 1992. _____. Relações de poder nas organizações e nas instituições da sociedade. Curitiba: UFPR, 1999. (Texto para Discussão). FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996. HEEMANN, Ademar. Natureza e ética. Curitiba: Editora da UFPR, 1993. KATZ, C. et alii. Novas tecnologias: crítica da atual reestruturação produtiva. São Paulo, Xamã, 1995. KOHLBERG, L. Stage and sequence: the cognitive-developmental aproach to socialization. In: GOSLIN, D. A. org. Handbook of socialization: theory and research. Chicago: Rond Mcnally, 1969. pp. 347-480. MACINTYRE, A. After virtue: a study in moral theory. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1981. MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed. 1998. MARX, Karl e ENGELS, F. A ideologia alemã. Porto: Presença, 1976. MICHELS, Robert. Sociologia dos partidos políticos. Brasília: UnB, 1982. NOVAES, Adauto. Org. Ética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. PIAGET, Jean. O juízo moral na criança. São Paulo, Summus, 1994. PENNA, Antonio G. Introdução à filosofia da moral. Rio de Janeiro: Imago, 1999. PULASKI, Mary Ann S. Compreendendo Piaget. Rio de Janeiro: LTC, 1986. RICOEUR, Paul. O si-mesmo como um outro. Campinas: Papirus, 1991. SENNETT, Richard. A corrosão do caráter. Rio de Janeiro: Record, 1999. VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 13ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1992. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1989. 16
Download