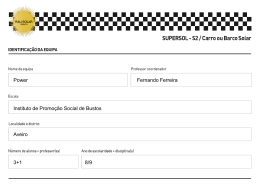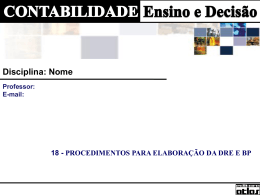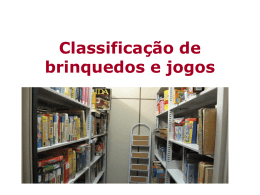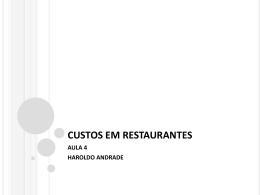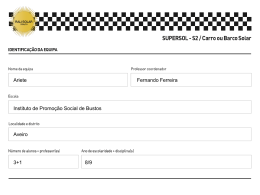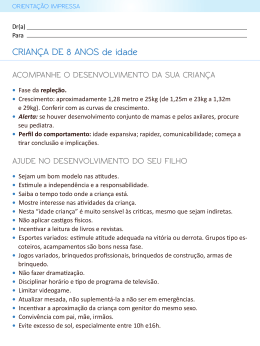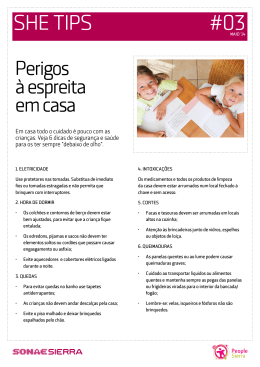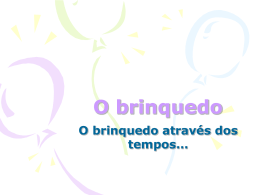EDITORIAL Prezado (a) pediatra, A revista Correios SBP inicia em 2004 seu décimo ano de publicação, sempre mantendo o espírito que inspirou seus idealizadores, de educação médica continuada direcionada aos pediatras brasileiros. Durante minha participação como Coordenador dos Correios e de maneira integrada com a Coordenação dos Documentos Científicos e Diretoria de Publicações, introduzimos os Documentos Científicos, que se tornaram importante canal dos Departamentos Científicos com os pediatras, tendo sido publicados 19 normas e recomendações, em 12 diferentes especialidades. Foram também publicados mais de 60 artigos comentados nas mais variadas especialidades pediátricas. Neste número teremos oportunidade de apreciar os seguintes assuntos: cetoacidose diabética, intoxicações, cuidados com o aleitamento materno e citomegalovírus, suplementos nutricionais e um artigo muito útil sobre os cuidados e a melhor escolha de brinquedos para cada faixa etária e utilizados pelas crianças, tanto em casa como nos consultórios pediátricos. Quero ainda parabenizar toda a Diretoria da SBP que encerra suas atividaddes nesta gestão, desejando o mesmo sucesso à nova Diretoria 2004/2006. Antonio Carlos Pastorino Coordenador dos Correios SBP ÍNDICE Cetoacidose Diabética como quadro de apresentação do diabetes mellitus tipo 1 na infância Neu A, Willasch A, Ehehalt S, Hub R, Ranke MB. Pediatric Diabetes 2003; 4:77-81 ......................................... Reações adversas a drogas Departamento de Alergia e Imunologia da SBP .................. 5 7 Selecionando brinquedos apropriados para crianças pequenas: o papel do pediatra Glassy D, Romano J, and the Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care Pediatrics 2003; 111: 911-3 .............................................. 16 Intoxicação em crianças: Parte 1 - Conduta Genérica Transmissão do citomegalovirus pelo leite humano para os bebês prematuros. É um problema? Riordan M, Rylance G, Berry K. Bryant P, Morley C, Garland S, Curtis N Arch Dis Child 2002; 87:392-6 ......................................... 11 Arch Dis Child Fetal Neonatal 2002; 87: F75-F77 ........... Suplementos nutricionais não regulamentados: medicina amarga para crianças Cartão do RN Baker S. Departamento de Neonatologia da SBP ........................... J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33:439-41 ................ 13 21 25 CORREIOS DA SBP - Diretor de publicações: Dr. Renato Soibelmann Procianoy - Coordenador do PRONAP: Dr. João Coriolano Rego Barros - Coordenador dos Correios: Dr. Antonio Carlos Pastorino - Coordenador de Documentos Científicos: Dr. Paulo de Jesus Hartmann Nader - Conselho Editorial: Darci Vieira da Silva Bonetto, Elsa Regina Justo Giugliani, Charles Kirov Naspitz, Délio José Kipper, Edmundo Clarindo Oliveira, Valéria Maria Bezerra Silva Luna, Ana Maria Cavalcanti e Silva, José Hugo Lins Pessoa, Bernardo Gontijo, Durval Damiani, Luciana Rodrigues da Silva, Marcos José Burle de Aguiar, Regina Célia de Menezes Succi, Eleonora Moreira Lima, Cléa Rodrigues Leone, Magda Lahorgue Nunes, Fernando José de Nobrega, Mara Albonei Dudeque Pianovski, Moacyr Saffer, Jayme Murahovschi, Clemax Couto Sant’anna, Flávio Roberto Sztajnbok, Jorge Harada, Eric Yehuda Schussel, José Américo de Campos, Cléa Maria Pires Ruffier, Paulo Ramos David João. - Comitê Executivo: Dr. Claudio Leone, Dr. Clóvis Artur Almeida da Silva, Dra. Heloisa Helena de Souza Marques, Dra. Lúcia Ferro Bricks, Dra. Marta Miranda Leal, Dr. Mário Cícero Falcão, Dra. Luiza Helena Falleiros R. Carvalho, Dra. Valdenise Martins Laurindo Tuma Calil - PRONAP / SBP – Programa Nacional de Educação Continuada em Pediatria – Rua Augusta, 1939 - 5º andar - sala 53 – Cerqueira César – São Paulo – SP – CEP: 01413-000 – Fone: (11) 3068-8595 – Fax: (11) 3081-6892 – E-mail: [email protected] Colaboraram neste número: Dra. Thais Della Manna, Dr. Cláudio Schvartsman, Dra. Renata Dejtiar Waksman, Dra. Lélia Cardamone Gouvêa, Dra. Roseli Saccardo Sarni Revisor deste número: Dr. Antonio Carlos Pastorino e Dra. Marta Miranda Leal. As opiniões expressas são da responsabilidade exclusiva dos autores e comentadores, não refletindo obrigatoriamente a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria. Tire suas dúvidas, faça suas críticas e sugestões aos editores sobre os artigos aqui publicados, pelo e-mail: [email protected] Criação, Diagramação e Produção Gráfica: Atha Comunicação e Editora – Rua Machado Bittencourt, 190 - 4o andar Conj. 410 – Cep: 04044-000 – São Paulo – SP – Tel: (11) 5087-9502 - Fax: (11) 5579-5308 – E-mail: [email protected]. Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 3 DIRETORIA SBP 2004/2006 PRESIDENTE: Dioclécio Campos Júnior DIRETORIA DE QUALIFICAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL: José Hugo Lins Pessoa COORDENAÇÃO ADJUNTA DE GRADUAÇÃO: Sílvia Wanick Sarinho 1º VICE-PRESIDENTE: Nelson Augusto Rosário Fº COORDENAÇÃO DA ÁREA DE ATUAÇÃO: Mauro Batista de Morais RESIDÊNCIA E ESTÁGIO-CREDENCIAMENTO: COORDENAÇÃO: Cristina Miuki Abe Jacob 2º VICE-PRESIDENTE: Fábio Ancona Lopez SECRETÁRIO GERAL: Eduardo da Silva Vaz 1º SECRETÁRIO: Rachel Niskier Sanchez COORDENAÇÃO DA RECERTIFICAÇÃO: Mitsuru Miyaki DIRETORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS: Fernando José de Nóbrega 2º SECRETÁRIO: Dennis Alexander Rabelo Burns REPRESENTANTES: IPA: Sérgio Augusto Cabral 3º SECRETÁRIO: Elisa de Carvalho MERCOSUL: Vera Regina Fernandes DIRETORIA FINANCEIRA: Mário José Ventura Marques DIRETORIA DOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS: José Sabino de Oliveira 2º DIRETOR FINANCEIRO: Cléa Maria Pires Ruffier 3º DIRETOR FINANCEIRO: Marilúcia Rocha de Almeida Picanço DIRETORIA DE PATRIMÔNIO: Edson Ferreira Liberal COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA: Eduardo Carlos Tavares Edmar de Azambuja Salles CONSELHO ACADÊMICO PRESIDENTE: Reinaldo Menezes Martins SECRETÁRIO: Nelson Grisard CONSELHO FISCAL: Clóvis José Vieira da Silva Alda Elizabeth B. Iglesias Azevedo Nei Marques Fonseca ASSESSORIAS DA PRESIDÊNCIA: Anamaria Cavalcante e Silva Carlos Eduardo Nery Paes João de Melo Régis Filho Marco Antonio Barbieri Nelson de Carvalho Assis Barros Virginia Resende Silva Weffort COORDENAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHO: Álvaro Machado Neto COORDENAÇÃO DO CEXTEP: Clemax Couto Sant’Anna DIRETORIA ADJUNTA DOS DEPARTAMENTOS CIENTÍFICOS: Joel Alves Lamounier DIRETORIA DE CURSOS E EVENTOS: Ércio Amaro de Oliveira Filho COORDENAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO: Cláudio Leone COORDENAÇÃO DA PESQUISA: Álvaro Jorge Madeiro Leite DIRETORIA DE PUBLICAÇÕES DA SBP: DIRETOR DE PUBLICAÇÕES: Danilo Blank EDITOR DO JORNAL DE PEDIATRIA: Renato Soibelmann Procianoy COORDENAÇÃO DO PRONAP: Regina Célia de Menezes Succi COORDENAÇÃO DOS CORREIOS DA SBP: João Coriolano Rego Barros DOCUMENTOS CIENTÍFICOS: COORDENAÇÃO: Antonio Carlos Pastorino DIRETORIA ADJUNTA DE CURSOS E EVENTOS: Lúcia Ferro Bricks CENTRO DE INFORMAÇÕES CIENTÍFICAS: COORDENAÇÃO: José Paulo Vasconcellos Ferreira COORDENAÇÃO DA REANIMAÇÃO NEONATAL: José Orleans da Costa DIRETORIA DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA: Rubens Trombini Garcia COORDENAÇÃO DA REANIMAÇÃO PEDIÁTRICA: Paulo Roberto Antonacci Carvalho DIRETORIA DE DEFESA PROFISSIONAL: Mário Lavorato da Rocha CENTRO DE TREINAMENTO EM SERVIÇOS: COORDENAÇÃO: Hélio Santos de Queiroz Filho DIRETORIA DA PROMOÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: Célia Maria Stolze Silvany COORDENAÇÃO DO CIRAPS: Wellington Borges DIRETORIA DE ENSINO E PESQUISA: Gisélia Alves Pontes da Silva COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO: Rosana Fiorini Puccini DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: COORDENAÇÃO: Rachel Niskier Sanchez COMISSÃO DE SINDICÂNCIA: Analíria Moraes Pimentel Aroldo Prohmann de Carvalho Edmar de Azambuja Salles Fernando Antonio Santos Werneck Cortes João Cândido de Souza Borges DIRETORIA FSBP 2004/2006 CONSELHO CURADOR DIRETORIA EXECUTIVA Fernando José de Nóbrega DIRETOR PRESIDENTE Lincoln Marcelo Silveira Freire Benjamin Israel Kopelman Carlos Antônio Tilkian DIRETOR VICE PRESIDENTE Jefferson Pedro Piva Eduardo da Silva Vaz Ércio Amaro de Oliveira Filho Fábio Ancona Lopez Ivan Fábio Zurita Miguel Gellert Krigsner Nelson de Carvalho Assis Barros Reinaldo de Meneses Martins Sidnei Ferreira 4 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 SUPLENTES: João Coriolano Rego Barros José Hugo Lins Pessoa CONSELHO CONSULTIVO: DIRETOR SECRETÁRIO Dirceu Solé Eduardo Luiz Barros Barbosa ASSESSOR ESPECIAL PRESIDÊNCIA Nelson Augusto Rosário Filho Clóvis Francisco Constantino CONSELHO FISCAL: Claudio Leone Julio Dickstein Sara Lopes Valentim Charles Kirov Naspitz Sérgio Ephim Mindlin Pedro Celiny Ramos Garcia José Roberto Abreu de Souza Eleuses Vieira de Paiva Agnelo Santos Queiroz Filho Mário Castelar da Silva ENDOCRINOLOGIA Cetoacidose Diabética como quadro de apresentação do diabetes mellitus tipo 1 na infância - freqüência e apresentação clínica Ketoacidosis at onset of type 1 diabetes mellitus in children - frequency and clinical presentation Neu A, Willasch A, Ehehalt S, Hub R e Ranke MB. Pediatric Diabetes 2003; 4:77-81 INTRODUÇÃO: RESULTADOS: A Cetoacidose Diabética (CAD) é ainda a maior causa de mortalidade relacionada ao diabetes na faixa etária pediátrica. Esta descompensação aguda caracteriza-se pela tríade: hiperglicemia, acidose e cetose. Os fatores precipitantes da CAD costumam ser infecções, omissão de doses de insulina, doses baixas de insulina e primodescompensação. Aproximadamente 25% dos casos de CAD acontecem no início da doença. Apesar do quadro clínico da CAD ser bem reconhecido, não existem muitos estudos baseados em grandes casuísticas. A CAD foi confirmada em 26,3% (n = 558) desses pacientes, cuja idade média foi de 7,9 anos. A freqüência de CAD foi maior em meninas do que em meninos (28,9 vs. 23,8%; p = 0,0079). A faixa etária de 0 a 4 anos foi mais freqüentemente acometida (p < 0,0001) pela CAD (36,0%). A porcentagem de primodescompensações manteve-se constante ao longo dos dez anos. Alteração de nível de consciência esteve presente em 23,3% da casuística; 10,9% dos quais com sinais clínicos de coma. Não houve óbitos. A proporção de CAD não aumentou no inverno. OBJETIVO: CONCLUSÃO: Descrever a freqüência e o quadro clínico da primodescompensação diabética na forma de CAD na infância. CASUÍSTICA E MÉTODOS: Trinta e um centros pediátricos e um centro de diabetes do estado alemão de Baden-Wuerttemberg participaram do estudo. Os prontuários de 2.121 crianças menores de quinze anos foram analisados, retrospectivamente, entre os anos de 1987 e 1997, definindo-se CAD como glicemia > 250 mg/dL, pH < 7,30 ou bicarbonato < 15 mmol/L e presença de cetonúria. A análise estatística foi realizada após transformação logarítmica para se obter uma distribuição normal. A proporção de primodescompensação com CAD na infância é significante. Crianças menores de cinco anos e meninas apresentam risco aumentado. A doença diabética que se inicia na forma de CAD pode resultar de um subtipo particularmente agressivo de diabetes. COMENTÁRIOS: Este estudo retrospectivo, realizado no estado alemão de Baden-Wuerttemberg, detectou uma incidência média de episódios de CAD de 12,5/100.000 crianças menores de quinze anos, num período de dez anos. A primodescompensação diabética representou 26,3% desta casuística, afetando mais freqüentemente meninas Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 5 menores de cinco anos de idade. Um risco aumentado para crianças menores de cinco anos já foi encontrado por outros estudos. Os autores relatam que no período entre 1987 a 1997 houve significativa melhora da infra-estrutura de saúde, assim como do esclarecimento público sobre diabetes e, apesar disso, a freqüência de primodescompensações com CAD permaneceu constante ao longo desses dez anos. Além disso, a sazonalidade normalmente relatada em relação a descompensações diabéticas em geral, que são mais freqüentes no inverno europeu, não foi notada nessa população de primodescompensações com CAD. A procura desses pacientes pelo serviço de saúde aconteceu três dias antes do que a população total do estudo. Esses fatos podem indicar que a doença diabética que se inicia na forma de cetoacidose resulte de um tipo particularmente agressivo de diabetes, e não simplesmente de um diagnóstico tardio como é freqüentemente assumido. Mesmo assim, a taxa de mortalidade de crianças por CAD é baixa, em torno de 1-2%, não havendo nenhum óbito por primodescompensação diabética no período analisado. Os quadros de diabetes que se iniciam nos primeiros cinco anos de vida são tradicionalmente encarados como formas de início mais súbito e curso mais agressivo; além disso, em crianças menores de dois anos, os sintomas clássicos de poliúria e polidipsia podem não ser de tão fácil reconhecimento. Em nosso meio ainda são poucos os estudos epidemiológicos em diabetes na faixa etária pediátrica. Não contamos com estudos multicêntricos que possam compor casuística tão grande de episódios de CAD para estabelecer uma comparação com centros europeus e norte-americanos. Nos últimos dois anos, acompanhamos 58 casos de CAD no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Nossa população foi composta, na sua maioria, por vários episódios de CAD nos mesmos pacientes, cuja idade média foi de 11,92 anos, prevalecendo o sexo feminino (42F:16M). Dentre os fatores precipitantes mais freqüentemente identificados estiveram as omissões de doses de insulina, associadas a transgressões alimentares. As primodescompensações corresponderam a 6,38% (n = 11) dos casos, com idade média de 9,5 anos. Neste mesmo período foram admitidas catorze crianças menores de cinco anos para acompanhamento ambulatorial procedentes de outros hospitais. Infelizmente, em nossa casuística, a ocorrência desse quadro de descompensação aguda e grave esteve mais relacionada à falta de aderência ao tratamento proposto e à falta de acesso aos recursos materiais necessários ao bom controle metabólico, como os glicosímetros portáteis de uso domiciliar, fitas para glicemia de ponta de dedo, lancetas e seringas de precisão. Também, entre nós, não houve óbitos por CAD. Tradução e comentários: Dra. Thais Della Manna Referências Bibliográficas International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes. Consensus Guidelines 2000. Zeist: Medical Forum International; 2000. Bui PB, Werther GA, Cameron FJ. Trends in diabetic ketoacidosis in childhood and adolescence: a 15-yr experience. Pediatr Diabetes 2002; 3:82-8. Kitabchi AE, Fisher JN, Murphy MB, Rumbak MJ. Diabetic ketoacidosis and the hyperglycemic, hiperosmolar nonketotic state. In: Kahn GC, Weir CR, editors. Joslin’s Diabetes Mellitus. Philadelphia: Lea and Febiger; 1994. p. 738-47. Neu A, Ehehalt S, Willasch A et al. Varying clinical presentations at onset of type 1 diabetes mellitus in children – epidemiological evidence for different subtypes of the disease? Pediatr Diabetes 2001; 2:147-53. Lebovitz HE. Diabetic ketoacidosis. Lancet 1992; 339:905-9. McCowen C. Diabetes in the under-fives. In: Court S, Lamb B, editors. Childhood and adolescent diabetes. Chichester: John Wiley & Sons; 1997. p. 41. Eurodiab Ace Study Group. Variation and trends in incidence of childhood diabetes in Europe. Lancet 2000; 355:873-6. 6 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 DEPARTAMENTO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DOCUMENTO CIENTÍFICO Reações adversas a drogas Reações adversas a drogas podem ocorrer em indivíduos normais (superdosagem, efeitos colaterais, interações com outras substâncias) ou podem ocorrer em um pequeno grupo de pessoas devido à idiossincrasia, reações imunológicas (alergia) e pseudoalérgicas (radiocontrastes). As reações alérgicas a drogas são respostas imunologicamente mediadas a agentes farmacológicos ou excipientes farmacêuticos. As reações alérgicas devem ser distinguidas das reações anafilactóides (pseudoalérgicas) que são causadas pela liberação direta de mediadores de mastócitos e basófilos, sem a presença de anticorpos IgE específicos. Reações pseudoalérgicas podem ocorrer ao primeiro contato com a droga, uma vez que não há necessidade de sensibilização prévia. Exemplos são as reações provocadas por antiinflamatórios não hormonais (AINEs) e meios de radiocontraste. Alergia a drogas pode ser classificada pelos critérios de Gell e Coombs: • Tipo I – Mediada por IgE, resultando em reações imediatas, tais como a anafilaxia. O exemplo mais comum, em pediatria, é o desencadeado pela penicilina. • Tipo II – Mediada por anticorpos citotóxicos. O exemplo clássico é a anemia hemolítica induzida por penicilina e seus derivados ou pela metildopa. • Tipo III – Mediada por imunocomplexos. Drogas que são prováveis causadoras são as penicilinas, sulfonamidas, tiouracil e fenitoína. • Tipo IV ou reação de hipersensibilidade retardada Mediada por linfócitos. Ocorre na dermatite de contato. Há outras inúmeras reações cuja imunopatogênese é desconhecida. Como exemplo a reação fixa provocada por sulfonamidas e barbituratos. Os mais importantes fatores de risco para reações alérgicas estão relacionados às propriedades químicas e peso molecular das drogas. Entretanto, principalmente na infância, podem haver outros fatores relacionados. Parece ocorrer menos freqüentemente em lactentes. O aspecto mais importante para o diagnóstico é uma história clínica cuidadosa. Deverá ser dado enfoque para o uso prévio e atual de drogas, a toxicidade ou alergenicidade das mesmas, assim como a seqüência temporal de eventos entre o início da terapia e o começo dos sintomas. De modo geral, os métodos diagnósticos são de valor prático limitado para o clínico que está avaliando um paciente com uma suspeita de alergia à droga. PENICILINA As penicilinas são um grupo de antimicrobianos de amplo uso na prática pediátrica devido ao seu espectro de ação, comodidade posológica e custo acessível. Por isto, reações adversas à penicilina são freqüentemente relatadas. Reações anafiláticas à penicilina são raras, com incidência de 0,04 a 0,2 % e com taxa de letalidade de aproximadamente 1 caso para 100.000 tratamentos. Sabese que a positividade aos testes alérgicos para penicilina está em torno de 20% dos pacientes com história positiva de reação a esta droga. Pacientes com história positiva e teste cutâneo positivo têm 50% de chance de apresentar uma reação imediata à penicilina. Na maioria das vezes, as pessoas que se dizem alérgicas à penicilina na verdade não o são. Sabe-se que os pacientes com reação prévia à penicilina são os que têm maior probabilidade de apresentar uma nova reação. Porém, pacientes com história familiar positiva para alergia à penicilina não necessitam ser testados, porque não apresentam risco maior do que a população geral. A via parenteral traz maiores riscos de reações graves do que a oral. A história de atopia parece não predispor a maior risco, mas traz chances de reações mais graves, especialmente em pacientes asmáticos, cujo risco de fatalidade é maior. A penicilina é degradada e ligada a macromoléculas levando à formação de conjugados imunogênicos que são divididos em: • Determinante antigênico maior (PPL) – corresponde aproximadamente a 95% dos antígenos penicilínicos. É constituído pelo grupo benzilpeniciloil sendo o principal responsável pelas reações urticariformes. Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 7 • Determinantes antigênicos menores (MDM) – formados pela penicilina G e por vários metabólitos como o peniloil e o peniloato são os principais responsáveis pelas reações anafiláticas. A avaliação de reação alérgica à penicilina começa com uma história detalhada. Procura-se relacionar o quadro clínico com a possível exposição à substância e se já houveram reações semelhantes anteriormente. O método mais conveniente e adequado para se avaliar uma reação mediada por IgE à penicilina é através de testes cutâneos. A dosagem de IgE específica através do RAST é menos sensível que o teste cutâneo e identifica somente os pacientes sensíveis ao determinante maior da penicilina. Portanto, seu uso é limitado a situações especiais. O teste cutâneo deve ser realizado por puntura e, se negativo, por via intradérmica. De modo ideal, deve-se utilizar o penicil polilisina (PPL), que é o determinante maior e o MDM (mistura de determinantes menores), além de controles positivo (histamina) e negativo (diluente). Já estão disponíveis comercialmente no Brasil. No entanto o custo é elevado e o prazo de validade curto. O Ministério da Saúde (Manual de Testes de Sensibilidade à Penicilina – 1999) recomenda a realização do teste com solução de penicilina G, na concentração de 10.000 U/mL, substituindo a MDM. Porém, se usada sozinha no teste cutâneo, a penicilina G poderá identificar apenas cerca de 15 % dos pacientes sensíveis, pois a maioria das reações ocorre por causa da sensibilidade ao determinante maior. A indicação precisa para o teste cutâneo é a necessidade imperativa de penicilina em paciente com história compatível de alergia a esta substância, na ausência de antibiótico alternativo eficaz. O teste deve ser realizado imediatamente antes da administração da droga. Não se deve: • Testar paciente sem história de alergia à penicilina. • Testar paciente que nunca fez uso de penicilina. • Testar paciente com história de reações não alérgicas (reações vasovagais, síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica). • Utilizar penicilina benzatina ou penicilina procaína para a realização de teste, pois são potentes irritantes cutâneos, levando a reações falso-positivas. O teste com penicilina benzatina tem sido um erro muito freqüente no nosso meio. É muito importante estar sempre atento à possibilidade de reação à penicilina, sobretudo quando administrada por via parenteral. É fundamental que ela seja administrada em local apropriado (com material emergencial disponível), por profissional capaz de identificar prontamente qualquer reação adversa. O paciente deverá 8 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 ficar sob observação por no mínimo 30 minutos após a aplicação, independente de sua história pregressa. Há que se lembrar que a administração de ampicilina ou amoxicilina está associada ao surgimento de erupção cutânea morbiliforme em cerca de 10% dos pacientes. Esta reação não é alérgica. Portanto estes pacientes não são considerados de risco maior para alergia à penicilina e derivados, não devendo ser submetidos a testes cutâneos. As cefalosporinas e as penicilinas têm estruturas semelhantes e, por isso, o risco de reações alérgicas cruzadas com as cefalosporinas de primeira geração é de aproximadamente 10 % para os pacientes alérgicos à penicilina. Cefalosporinas de segunda e terceira geração trazem risco muito menor de reação cruzada com a penicilina. ANTI-INFLAMATÓRIOS NÃO-HORMONAIS A ação dos antiinflamatórios não-hormonais (AINEs) decorre da diminuição na produção de prostaglandinas através do bloqueio da enzima cicloxigenase (COX). Há duas formas de cicloxigenase: uma constitucional, que é expressa na maioria dos tecidos e tem claramente funções fisiológicas (COX-1); e outra que é induzida por estímulos pró-inflamatórios em várias células (COX-2). O efeito terapêutico dos antinflamatórios decorre principalmente de sua ação na COX-2. A inibição da COX-1 é a maior responsável por seus efeitos colaterais. A prevalência de hipersensibilidade aos AINEs é de 0,3% da população. A aspirina e os AINEs podem causar várias reações adversas que incluem: • Reações anafilactóides e cardiorrespiratórias, ocorrendo minutos após a administração. • Urticária e angioedema. • Exacerbação de urticária em pacientes com urticária crônica idiopática. • Asma com ou sem rinoconjuntivite. A associação de asma, polipose nasal e sensibilidade à aspirina é denominada “tríade da aspirina”. Ainda não está bem esclarecido se pacientes com urticária aguda desenvolvem mecanismo mediado por IgE após o uso de antiinflamatórios. No entanto, a atopia pode representar um importante fator de risco para a sensibilização a essas drogas. A aspirina (AAS) pode provocar broncoconstrição em asmáticos e isto é devido ao bloqueio da enzima cicloxigenase (COX-1 e COX-2). É resultante do desvio metabólico do ácido araquidônico, levando a um aumento na produção de leucotrienos, que têm propriedades broncoconstritoras e pró-inflamatórias. Pode haver reações cruzadas com todos AINEs em pacientes com a “tríade da aspirina” e também nos portadores de urticária crônica. O diagnóstico de alergia a antinflamatórios deve ser estabelecido pela história. Testes cutâneos não têm valor e não existe teste in vitro capaz de detectar a sensibilidade aos antinflamatórios. Os testes de provocação (ingestão da droga) podem precipitar reações asmáticas ou sistêmicas severas necessitando tratamento de urgência. Por isso, estes testes devem ser conduzidos em centros especializados e próximos à unidade de terapia intensiva. Uma vez feito o diagnóstico, deve ser evitado o uso do AINEs e aspirina. O manejo inclui a orientação ao paciente sobre produtos combinados que contém estas drogas em sua formulação. Os pacientes devem ser instruídos sobre os riscos da automedicação e estimular a leitura de bulas. Para os pacientes que já tiveram reações graves há a necessidade de se usar um bracelete com informações sobre medicamentos de risco. Também é importante a seleção de analgésicos com nenhuma (opiáceos) ou mínima (paracetamol) atividade sobre a COX-1, para que possam ser utilizados com critério. Inibidores específicos da COX-2 (celecoxib e rofecoxib) não estão liberados para uso em crianças de baixa idade. MEIOS DE CONTRASTE RADIOLÓGICO Reações sistêmicas à administração de meios de radiocontraste não são uma ocorrência clínica rara. Sabese que estas substâncias podem provocar reações adversas como urticária, angioedema, broncoespasmo, laringoespasmo e hipotensão que podem ser ameaçadoras à vida. Essas reações envolvem a ativação de mastócitos, com liberação de histamina, devido à hiperosmolaridade da solução. Por não depender de anticorpos IgE específicos, elas são chamadas de reações anafilactóides. Vale lembrar que os contrastes com iodo não participam deste processo, sendo totalmente desnecessários os questionamentos comumente feitos por profissionais da saúde. Estima-se que cerca de 1 % dos indivíduos que recebem radiocontrastes padrões (soluções hiperosmolares, iônicas) experimentam reações significativas. Devem ser distinguidas das reações vasomotoras, que são as mais freqüentes. Estas reações ocorrem em 5 a 8% dos pacientes. Consistem em náusea, vômito e rubor. Reações fatais ocorrem em aproximadamente 1:50.000 procedimentos. Fatores que aumentam o risco de reações incluem história de reação prévia a radiocontraste, doença cardíaca, uso de beta-bloqueadores, atopia, asma e antecedente pessoal de alergia a drogas. O sexo feminino está associado ao risco maior de reações e de maior gravidade. Mais recentemente, desenvolveram-se novos agentes de radiocontraste não-iônicos com baixa osmolaridade, reduzindo o número de reações em relação aos agentes convencionais. Estas novas preparações possuem um custo mais elevado, menor número de reações, devendo ser preferida sempre que possível. O tratamento para reações agudas é o mesmo de qualquer outra manifestação sistêmica mediada por mastócitos (anafilaxia). A chave para o êxito é o reconhecimento e início precoce do tratamento, visando evitar o agravamento do quadro. A prevenção é preferível ao tratamento. Pacientes de alto risco deverão receber profilaxia através de pré-medicação. O regime de pré-medicação acarreta poucos efeitos colaterais sendo simples sua aplicação em qualquer serviço. Radiologistas devem estar alertados para estes casos. O Quadro 1 apresenta um esquema de pré-medicação com as doses dos medicamentos e o horário em que elas devem ser administradas, antes que se realize o exame contrastado. Quadro 1: Pré-medicação para pacientes de alto risco (via oral). Tempo antes do exame (horas) Droga Dose (mg/kg) 13 Prednisona Prednisolona 1 7 Prednisona Prednisolona 1 1 Prednisona Prednisolona 1 1 Dexclorfeniramina 0,1 1 Cimetidina* 4 * Deve ser usada se um bloqueio combinado de H1 e H2 é desejado. Devido ao elevado benefício obtido e ao baixo custo, há autores que aconselham que a pré-medicação seja feita em todas as pessoas que forem se submetidos a exames com radiocontrastes, independentemente do risco que elas apresentem. ANESTÉSICOS LOCAIS Apesar dos pacientes comumente relatarem reações adversas a anestésicos locais, as reações alérgicas verdadeiras são extremamente raras. A maioria das reações com anestésicos locais é devida a reações não alérgicas, Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 9 que incluem reações vasovagais, tóxicas (provavelmente devido à injeção intravenosa inadvertida), efeitos colaterais da adrenalina ou ansiedade. As reações vasovagais manifestam-se com bradicardia, sudorese e palidez. A melhora é rápida ao se colocar o paciente deitado. O primeiro passo para se avaliar um paciente com possível alergia a anestésicos é uma história clínica minuciosa tentando identificar sintomas compatíveis com hipersensibilidade imediata (urticária, angioedema, broncoespasmo, etc.). Após é necessário identificar qual anestésico foi utilizado. Existem dois grupos de anestésicos locais: éster do ácido benzóico e amida (Quadro 2). Os anestésicos do grupo éster freqüentemente reagem entre si, porém eles não apresentam reação cruzada com aqueles do grupo amida. Por isso, pacientes que apresentaram reações a anestésico do grupo éster podem usar substâncias do grupo amida e vice-versa. Testes cutâneos somente serão feitos se houver necessidade real de se realizar algum procedimento onde seja imperioso o uso do anestésico em questão. Deve-se seguir um protocolo padronizado, utilizando reagentes que não contenham adrenalina ou outros aditivos como paraben ou bissulfitos. CONCLUSÃO Quadro 2: Anestésicos locais injetáveis. Ésteres do ácido benzóico Procaína Cloroprocaína Tetracaína Amidas Lidocaína Mepivacaína Prilocaína Ropivacaína Bupivacaína Etidocaína A melhor maneira de abordar um paciente com história de reação adversa a uma droga é utilizar uma outra substância que não apresente chance de reação cruzada. Os testes cutâneos deverão ser aplicados por profissionais treinados e em pacientes especiais. Referências Bibliográficas Attaway NJ. Familial drug allergy. J Allergy Clin Immunol (Abstract) 1991;87:227. Coordenação de DST e AIDS. Manual: Testes de Sensibilidade à Penicilina. Brasília: Ministério da Saúde, 1999. Disease management of drug hypersensitivity: A practice approach. Annals of Allergy 1999;83:665-700. Gauderer MC. Reações Alérgicas a Drogas. In: Manual de Alergia e Imunologia II p. 89-101. Gruchalla R. Understanding drug allergies. J Allergy Clin Immunol 2000;105:637-44. Lang DM. Gender risk for anaphylactoid reaction to radiographic contrast media. J Allergy Clin Immunol 1995;95:813-7. Marshall GD. Anaphylactoid reactions to radiocontrast agents. Immunol Allergy Clin North Am 1998;18:799-807. Quarantino D. Tolerability of meloxicam in patients with histories of adverse reactions to nonsteroidal anti-inflama- 10 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 tory drugs Ann Allergy Asthma Immunol 2000;84:613-17. Rosário NA, Ribeiro AC. Achados clínicos da sensibilidade a analgésicos e antinflamatórios não-hormonais. Revista Ass Méd Brasil 2000;46:201-6. Sanchez-Borges M. Atopy is a risk factor for non-steroidal anti-inflammatory drug sensitivity. Ann Allergy Asthma Immunol 2000;84:101-6. Soto-Aguilar MC, Dawson ES. Aproach to the patient with suspected local anesthetic sensitivity. Immunol Allergy Clin North Am 1998;18:851-65. Stevenson DD. Adverse reactions to nonsteroidal antiinflamatory drugs. Immunol Allergy Clin North Am 1998;18:77398. Sullinvan TJ. Drug Allergy. In: Allergy Principles and Practice. Saint Louis: Mosby. 1993 p. 1726-1742. Weiss ME. Drugs Allergy. Med Clin North Am 1992; 76:85782. SEGURANÇA INFANTIL Intoxicação em crianças: Parte 1 - Conduta Genérica Poisoning in children 1: General Riordan M, Rylance G, Berry K. Arch Dis Child 2002;87:392-6 RESUMO No primeiro de uma série de cinco artigos, os autores abordam os princípios básicos no tratamento das intoxicações em crianças e que incluem as seguintes etapas: 1) Identificação do tóxico. Sempre que possível os constituintes da substância ingerida e sua quantidade devem ser bem identificados. 2) Identificação da síndrome tóxica. Nos casos em que houver suspeita de intoxicação que não possa ser confirmada pela história clínica, algumas síndromes podem facilitar o diagnóstico: simpatomimética, parassimpatomimética, anticolinérgica, acidose metabólica, pneumonia, ataxia ou nistagmo agudo, metemoglobinemia, insuficiência renal e vômitos profusos. 3) Prevenção da absorção. Não há lugar para o uso de eméticos e a utilização rotineira de lavagem gástrica e de carvão ativado é inapropriada. 4) Aumento da excreção. As técnicas de eliminação ativa têm um papel limitado no tratamento; seu uso deve ser restrito a situações em que a exposição prolongada a altas concentrações do tóxico é previsível. São considerados o uso de doses múltiplas de carvão ativado, diurese forçada, alcalinização e acidificação urinária, irrigação intestinal total, diálise, hemoperfusão e hemofiltração. 5) Investigações laboratoriais. Existem técnicas que identificam uma grande variedade de tóxicos no sangue ou na urina, particularmente drogas de abuso. Esses exames podem ter importantes conseqüências médicolegais e sociais, mas raramente alteram o tratamento clínico. 6) Critérios para internação. Dependem de um grande número de fatores, desde a natureza e a quantidade do tóxico, até as circunstâncias familiares. 7) Uso de antídotos específicos. Flumazenil, adrenalina, glucagon, oxigênio, N-acetilcisteína, anticorpos antidigoxina, desferrioxamina, piridoxina, bicarbonato de sódio, dopamina, azul de metileno, etanol, fomepizol, prociclidina, naloxona, atropina, pralidoxima e propanolol. 8) Tratamento de suporte. Além do tratamento inicial referente às vias aéreas, respiração e circulação, devem ser considerados o tratamento da depressão do sistema nervoso central, desidratação, hipotensão, acidose metabólica, função hepática e renal, hipoglicemia e convulsões. Quando o tratamento de suporte não for suficiente para controle de arritmias cardíacas de origem tóxica, podem ser usadas diversas drogas anti-arrítmicas, incluindo: bicarbonato de sódio, atropina, glucagon, amiodarona, gluconato de cálcio e naloxona. A investigação e o tratamento de ingestões cáusticas por crianças são controversos. A utilidade da endoscopia gastrintestinal precoce e da corticoterapia quando são identificadas queimaduras esofágicas, tem sido questionada. COMENTÁRIOS Apesar da freqüência e da importância da intoxicação aguda em criança, seu atendimento e, em especial, seu tratamento, continua sendo muito controverso. Talvez em virtude das dificuldades, inclusive de ordem ética, para a realização de pesquisas cientificamente válidas. Resultados contraditórios são descritos em praticamente todas as fases do tratamento, desde a eficácia e segurança dos procedimentos de descontaminação, até o uso adequado dos antídotos específicos. Medidas que visam prevenir a absorção do tóxico ingerido (descontaminação gastrintestinal) eram Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 11 rotineiramente utilizadas, especialmente no atendimento de criança, na qual o acidente tóxico ocorre, na quase totalidade dos casos, por via digestiva. No entanto, nestes últimos anos, sua eficácia tem sido questionada em virtude da insuficiência de evidências científicas apropriadas. A tendência atual é a seguinte: • O uso de eméticos, inclusive do xarope de ipeca, não é recomendável nos serviços hospitalares de urgência, bem como seu uso rotineiro em todos os casos de ingestão. A quantidade de tóxico removida é muito variável e diminui com o tempo. Além disso, seu efeito na melhora do prognóstico do paciente é pouco expressivo e, com freqüência, seus riscos suplantam os possíveis benefícios. • Da mesma forma, não é conveniente o uso rotineiro da lavagem gástrica. No entanto, quando o atendimento é feito em serviço bem equipado, por pessoal experiente, no período de tempo adequado, respeitadas as contraindicações, e quando o tóxico ingerido representar um risco potencial de vida ou um quadro clínico grave, pode haver alguma justificativa para sua realização. • Apesar dos resultados discutíveis, o uso do carvão ativado chega a ser reconhecido como tratamento de escolha na descontaminação gastrintestinal em muitos acidentes tóxicos, podendo ser administrado com resultados satisfatórios pela população leiga em ambiente domiciliar. • Não há motivo para administração isolada de qualquer tipo de laxante e seu uso, mesmo com carvão ativado, não é recomendado. Irrigação intestinal total pode ser considerada apenas nos casos de ingestão de doses potencialmente tóxicas de drogas com revestimento entérico. • Apesar de todas essas restrições, é preciso ter presente que a remoção de alguns miligramas ou mesmo microgramas do tóxico, podem representar, para o paciente, significativa mudança de evolução. Assim sendo, é imperioso destacar que as recomendações sobre a descontaminação gastrintestinal devem ser seguidas de um modo racional, caso a caso, e com conhecimento adequado dos seus possíveis efeitos sobre a cinética do tóxico no organismo humano. Com relação aos antídotos específicos, convém destacar que, além dos referidos nesse artigo, existem outros tradicionalmente utilizados e de eficácia reconhecida quando usados de modo adequado: BAL, no tratamento da intoxicação por arsênico e outros metais pesados; EDTA cálcico, no tratamento da intoxicação por chumbo e outros metais pesados; penicilamina, no tratamento da intoxicação por cobre e outros metais pesados; além dos nitritos e do hipossulfito de sódio, na intoxicação cianídrica que tem alguma importância em pediatria, principalmente pela ingestão da mandioca brava. Outros antídotos, de introdução relativamente recente, e que parecem ser eficazes, incluem: DTPA (ácido dietilaminopentacético), indicado na intoxicação por metais radioativos, bem como por arsênico e nióbio; Succimer (ácido dimercaptosuccinico), indicado na intoxicação por chumbo, arsênico, mercúrio e prata; Octreotide, análogo da somatastina, considerado um medicamento promissor no tratamento da intoxicação pelas sulfoniluréias. O reconhecimento da síndrome tóxica constitui um valioso auxiliar para diagnóstico etiológico da intoxicação aguda. Além das síndromes já referidas, podem ser citadas a tríade sintomática (depressão respiratória, depressão neurológica e miose), observada na intoxicação por ópio e seus derivados, bem como a síndrome extrapiramidal, observada na intoxicação por fenotiazínicos e butirofenonas. Tradução e Comentários: Dr. Cláudio Schvartsman Referências Bibliográficas Rouse AM, Pelucio M. Drug and antidote dosages. I n : Fo r d M . C l i n i c a l To x i c o l o g y. 1 s t e d . U S : . W.B.Saunders Co; 2001. p.1055-1060. Schvartsman S. Intoxicações Agudas. 4 a ed. São Paulo; Brasil. 1991. 12 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 Spiller HD. Evaluation of administration of activated charcoal in the home. Pediatrics 2001;110:199-200. Tenenbein M. Recent advancements in pediatric toxicology. Ped Clin North Am 1999;46:1179-88. NUTRIÇÃO Suplementos nutricionais não regulamentados: medicina amarga para crianças Unregulated dietary supplements: bitter medicine for children Baker S. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33:439-41 RESUMO A autora, nesse editorial, aborda aspectos importantes com respeito a suplementos dietéticos tais como, conceituação, gastos, regulamentação nos EUA, riscos de sua utilização, especialmente por crianças e adolescentes, e finaliza com uma orientação de como os profissionais devem encarar e intervir nessa questão. A medicina alternativa ou complementar (CAM) pode ser definida como “uma ampla gama de recursos de tratamento que inclui todas as modalidades práticas e as suas respectivas teorias e crenças, que não aquelas intrínsecas ao sistema de saúde politicamente dominante, de uma sociedade ou cultura particular, em um determinado período histórico”. Esta definição é aceita pela Academia Americana de Pediatria. Os suplementos dietéticos (SD) podem ser considerados uma forma de CAM. Os SD são produtos que têm a intenção de suplementar a dieta para melhorar a saúde e incluem vitaminas, minerais, aminoácidos, ervas e outros vegetais, e substâncias, tais como, enzimas, tecidos orgânicos, glandulares e metabólicos. Além do mais, um SD não é representado como um alimento convencional ou como item isolado de uma refeição ou dieta, e é apresentado para ingestão na forma de cápsula, pó, gel ou cápsula gelatinosa. Um nutracêutico é um SD que contém uma forma concentrada de um componente biologicamente ativo de um alimento em uma matriz não alimentar, no intuito de melhorar a saúde. Um exemplo de nutracêutico é a genisteína, purificada a partir de grãos de soja e disponível como pílulas que contém dosagens mais elevadas do que as consumidas em alimentos naturais contendo proteína de soja. SD e nutracêuticos diferem dos alimentos funcionais, onde o ingrediente ativo está contido dentro de uma matriz alimentar. Um exemplo de um alimento funcional é o pão ou cereal matinal acrescido de ácido fólico. Aditivos alimentares são substâncias que aumentam o sabor ou aroma, mas não o valor nutricional de um alimento. SD, nutracêuticos e alimentos funcionais são desenhados para suplementar a dieta humana, aumentando a ingestão de agentes bioativos que se acredita melhorarem a saúde e o bem estar. Nos EUA está aumentando o uso de CAM entre todos os membros da população. Entre 1990 e 1997, houve um aumento em 47% nas visitas a profissionais de CAM (420 para 629 milhões), que excedeu o total de visitas ao sistema básico de saúde (atenção primária). Quanto aos gastos com CAM, uma estimativa é que, em 1997, 21,2 bilhões foram destinados a esse fim. Antes de 1994, os SD estavam submetidos aos mesmos regulamentos de outros alimentos. Entretanto o “Dietary supplement health and education act (DSHEA)” (http://www.fda.gov/opacom/laws/dshea/html) criou um novo regulamento para segurança e rotulagem dos SD. Sob essa regulamentação, o fabricante de um SD é responsável por determinar se um suplemento é seguro, e qualquer afirmação feita a respeito do produto deve ser apoiada por evidências adequadas para mostrar que a afirmação não é falsa ou enganosa. SD não necessitam de aprovação do FDA antes de sua comercialização e nem necessitam demonstrar segurança ou eficácia. Exceto no caso de um novo ingrediente dietético, para o qual uma revisão prévia de dados de segurança e outras informações são exigidas por lei, um fabricante não precisa fornecer ao FDA a evidência que ele utilizou para apoiar suas afirmações, antes ou depois da comercialização do produto. Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 13 O artigo que a autora comenta nesse editorial ressalta como pais bem intencionados, mas equivocados, intoxicaram seu filho (McIntyre E, Wilcox J, McGill J, et al. Silver toxicity in an infant of strict vegan parents. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2001; 33:501-2). Este artigo, embora australiano, mostra uma experiência que não deve ser desprezada por médicos em outras partes do mundo. Este é um de muitos relatos de casos de crianças com sérias conseqüências resultantes da ingesta de SD de maneira não controlada. As crianças com doenças crônicas são as mais susceptíveis, pois seus pais vivem à procura de uma cura para elas. Por exemplo, há famílias desesperadas para conseguir secretina, que seria efetiva no tratamento de alguns sintomas do autismo, apesar de não haver evidências científicas comprovando sua eficácia. Vendedores inescrupulosos agiram rapidamente no sentido de capitalizar sobre essa falsa esperança. Os adolescentes são outro grupo vulnerável ao consumo de substâncias que prometem controle do peso, modelagem do corpo e modificações no humor. A indústria tem sido agressiva na obtenção de informação a respeito de quais são os segmentos da população que utilizam SD e por quais razões. As principais razões para as pessoas utilizarem SD são: melhorar a saúde e o bem-estar, suplementar a alimentação, tratar resfriados e aumentar a energia. Os pais dão SD às crianças para serem bons pais, controlarem a saúde, aliviar culpas, e como substitutos da boa nutrição, freqüentemente baseados em experiências pessoais positivas, divulgação na imprensa ou na opinião de especialistas que lidam com CAM. Os proponentes da medicina alternativa não reconhecem que práticas utilizadas na era pré-moderna nunca foram muito efetivas (prata, arsênico, mercúrio) e que houve boas razões para seu uso ser descontinuado em favor de medicações mais específicas, seguras e eficazes. Muitas vezes os fabricantes também não oferecem aos consumidores todas as informações do conteúdo completo dos suplementos (ingredientes bioativos, veículos utilizados e eventuais contaminantes) e têm pouca ou nenhuma informação sobre dados em estudos animais e humanos para confirmar a segurança. Na melhor hipótese, esses produtos são pouco perigosos; na pior, são capazes de causar sérios danos. Recentemente, o New England Journal of Medicine descreveu um adulto que se intoxicou com um suplemento não regulamentado contendo vitamina D (Koutkia P, Chen TC, Holick MF. Vitamin D intoxication associated with an over-the-counter supplement. N Engl J Med 2001;33:66-7). Os investigadores encontraram pouca correlação entre a rotulagem e o conteúdo real do produto. Em três lotes analisados, a concentração de vitamina D encontrada variou de 26 a 430 vezes da quantidade listada no rótulo pelo fabricante. Um problema final de rotulagem é a falha uniforme de informação em relação à meia vida 14 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 de produtos não regulamentados, que é crítica para a atribuição de eficácia. A Farmacopéia americana (USP) foi legalmente reconhecida em 1906, quando o Congresso aprovou a primeira lei sobre alimentos e drogas. Alguns SD seguem os padrões exigidos pela USP e recebem esta sigla na marca ou rotulagem. Sabemos que muito pacientes portadores de doenças crônicas usam medicações alternativas ou SD. O que fazer a respeito? Uma discussão recente sobre as obrigações éticas com respeito ao CAM sugere que deveríamos respeitar a autonomia do paciente, não causar danos desnecessários e ajudá-los a alcançar objetivos legítimos, tais como promover a saúde, prolongar uma vida que tenha sentido e atenuar o sofrimento. Nesse sentido, nós deveríamos educar-nos e sermos céticos em relação a propagandas, assim como olharmos para fontes reputáveis para obtenção de informação. A Academia Americana de Pediatria (AAP), através da Task Force on Complementary and Alternative Medicine, está trabalhando na publicação de documento que fornecerá alguns subsídios para avaliação da CAM. O National Institute of Health tem publicado o National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) com a meta de trazer um rigor científico para essa área. Recentemente, o Comitê de Crianças com incapacidades da AAP publicou uma lista de recomendações para pais e médicos de crianças que utilizam medicina alternativa em seu tratamento. Nós podemos defender uma avaliação científica rigorosa de todos os produtos rotulados como benéficos para a saúde da criança, especialmente SD, para garantir sua segurança e eficácia, assim como a honestidade nos rótulos dos produtos. Esses rótulos precisam claramente listar todos os ingredientes e a concentração de cada um deles. Nós podemos insistir na regulação da produção, evitando que as concentrações se modifiquem lote após lote. Finalmente, nós precisamos discutir esses produtos com nossos pacientes. Nós podemos orientar as famílias com respeito aos danos causados pela administração de substâncias não regulamentadas às crianças. Podemos, ainda, aconselhar que procurem a designação USP em qualquer produto que considerarem para consumo. COMENTÁRIOS O editorial em questão enfoca a importância da disseminação do uso de suplementos nutricionais não regulamentados nos Estados Unidos, enfatizando o risco de danos à saúde que podem ser provocados pela utilização desses produtos. A autora ressalta, de maneira bastante apropriada, as complicações que podem advir da utilização desses suplementos e propõe que os profissionais de saúde se atualizem no tema e discutam com as famílias, os potenciais riscos envolvidos no consumo desses produtos, especialmente por crianças. No Brasil, a utilização de alimentos alternativos tem sido veiculada de maneira bastante intensa. Nesse âmbito, devemos salientar a disseminação da utilização da multimistura composta de farelos de arroz e trigo; pó de folhas de mandioca, batata-doce, cenoura, beterraba, couve-flor, abóbora, brócolis, serralha, caruru, dente de leão e vinagreira; pó de sementes de gergelim, girassol, abóbora, melancia, melão, mamão, nozes e castanhas e pó de casca de ovo. A propagação da utilização de multimistura foi implementada pela Pastoral da Criança da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e, há treze anos, incorporada em alguns serviços da rede de saúde e educação. Analisando os estudos da literatura em relação ao valor nutricional e condições sanitárias da multimistura, verificamos que, até o momento, a segurança e eficácia ainda não estão comprovadas. Assim, acreditamos que há muitas ambigüidades, lacunas e contradições do conhecimento nesse campo que não sustentam sua incorporação, de forma acrítica, a nível de política alimentar e nutricional. A presença de algumas substâncias de risco comprovado à saúde humana, tais como, fatores antinutricionais (ácido fítico, reduzindo a biodisponibilidade de micronutrientes), agentes carcinogênicos (aflatoxina, nitrosaminas, alcalóide, ptaquilosídeo, etc) e o alto grau de contaminação microbiana, aumenta a preocupação com a utilização disseminada do produto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da resolução – RDC 53, de 15 de junho de 2000, definiu um regulamento técnico para fixação de identidade e qualidade de mistura à base de farelos de cereais, prevendo normas para a multimistura na forma industrializada. Entretanto, a maior parte da população de baixa renda recebe o produto acondicionado em sacos plásticos, não seguindo nenhuma regulamentação como a proposta pela ANVISA. Há um posicionamento contrário ao uso de alimentação alternativa na população pediátrica, emitido pela Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) em 1997, especialmente nos programas emergenciais de combate à fome, que não devem ser baseados na utilização de subprodutos industriais não estudados em profundidade, pelo simples fato de serem de baixo custo. Reiterando essa posição, o Conselho Federal de Nutricionistas também se coloca em posição contrária à preconização desse produto. Outro aspecto bastante atual, também enfocado pela autora, diz respeito à utilização indiscriminada de suplementos nutricionais por adolescentes buscando controle de peso, definição de formas físicas, melhor desempenho nas atividades físicas e funções cognitivas. Com respeito a esse tema, o Departamento de Nutrição da SBP atualizou-o buscando responder aos seguintes questionamentos: Os suplementos são seguros? São eficazes? Infelizmente, a grande maioria dos suplementos vendidos em nosso meio não foi testada de maneira adequada para que a sua eficácia possa ser confirmada. O mesmo pode se dizer em relação à sua segurança. A ausência de uma legislação que regulamente o uso desses produtos e a possibilidade de pessoas leigas adquirirem livremente esses suplementos são dois aspectos que devem ser ressaltados, sempre que se fala em sua segurança e eficácia. O aumento da massa muscular, diminuição de gordura e aumento de performance são os grandes objetivos do adolescente que recorre ao uso de suplementos. Embora existam estudos que mostrem aumento de estoques intramusculares de alguns aminoácidos, ainda não se pode afirmar, com segurança, o quanto são eficazes para a performance do exercício. O uso abusivo de suplementos protéicos pode levar à toxicidade renal e hepática, além de causar transtornos digestivos e até do sistema nervoso central. Existem correlações altamente positivas entre o uso de suplementos nutricionais e distúrbios de comportamento que podem afetar a saúde, como maior risco de se tornar alcoólatra, ou usuário de drogas, ou ainda de participar de brigas e arruaças. Aos médicos, fica a obrigação de buscar conhecer com detalhes todos os aspectos que envolvem o uso dos suplementos nutricionais, desde a sua composição até seus efeitos benéficos e colaterais, tentando manter a mente aberta, mas sempre se amparando nas bases científicas. Rotineiramente o clínico deve indagar ao adolescente que tipo de suplemento ele está usando, em que doses e com que objetivos. E deve estar alerta para exercer o aconselhamento preventivo a todos aqueles que estão consumindo esses produtos. Tradução e Comentários: Dra. Roseli Saccardo Sarni Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 15 SEGURANÇA INFANTIL Selecionando brinquedos apropriados para crianças pequenas: o papel do pediatra Selecting appropriate toys for young children: the pediatrician´s role Glassy D, Romano J and the Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care Pediatrics 2003; 111: 911-3 RESUMO Brincar é essencial para o aprendizado das crianças e as ferramentas dos divertimentos são os brinquedos. Os tipos de materiais e como são utilizados são igualmente importantes. Adultos que cuidam de crianças devem ser lembrados que os brinquedos facilitam, mas não substituem, os aspectos mais importantes da criação – calor, amor, relacionamentos seguros. Brinquedos devem ser seguros, disponíveis, apropriados para o desenvolvimento, distrair e envolver a criança durante um espaço de tempo. Crianças não precisam de brinquedos caros. Os pediatras, através das informações descritas neste artigo, poderão orientar os pais na seleção dos brinquedos. INTRODUÇÃO As crianças estão em aprendizado contínuo, desde o nascimento, seus pais ou guardiões são os responsáveis em fornecer experiências de qualidade, através das quais as crianças aprendem. Os pais freqüentemente solicitam ao pediatra informações sobre os brinquedos mais apropriados, livros, jogos de computador ou video game, por saberem da importância que estas ferramentas representam no desenvolvimento da criança. Estas questões podem ser aproveitadas pelo pediatra como oportunidade para discutir a importância de um ambiente doméstico seguro e saudável. O crescimento e desenvolvimento da criança pequena são mantidos e realçados através do brincar. Brinquedos mantêm juntos pais, responsáveis e crianças. Através disto o pediatra tem a oportunidade de ajudar os pais na compreensão do papel do brincar em todas as áreas do desenvolvimento, incluindo a cognitiva, social, física, emocional e da linguagem. Os brinquedos podem servir de ponte para as interações da criança com as pessoas com quem se relaciona, embora os brinquedos nunca possam ser utilizados como substitutos de amor e atenção incondicional. Quando adultos participam das brincadeiras, o aprendizado aumenta. Os pais ficam aptos a observar as habilidades da criança e podem auxiliar na sua expansão.Por exemplo, uma criança de 18 meses que está ingressando no mundo do “faz de conta” ao construir com blocos uma torre, seu pai pode introduzir a idéia de 16 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 que os blocos podem também ser uma garagem para carros ou uma casa para animais. A auto-estima e o domínio da criança também aumentam quando o adulto participa de suas brincadeiras. Alguns brinquedos podem oferecer riscos sociais ou emocionais. Jogos violentos de computador ou video game, brinquedos com a forma de armas ou outros que promovam a violência devem ser desencorajados. Os pais devem considerar também se o brinquedo promove estereótipos raciais, étnicos, culturais ou sexuais. Existem propagandas que falam de brinquedos que aumentam setores específicos do desenvolvimento infantil. Não há evidência científica que apóie o fato de um brinquedo ser necessário ou suficiente para um ótimo aprendizado. Esta publicidade leva a informações errôneas, a expectativas inapropriadas e a gastos desnecessários. E, para piorar, pode-se instalar um sentimento de culpa nos pais que não podem comprar tais brinquedos. Normas e regulamentos governamentais, padrões melhores de segurança para a manufatura e uso dos brinquedos e testes nos produtos têm feito com que a maioria dos brinquedos seja segura, desde que utilizados de forma apropriada para as diversas faixas etárias e fases do desenvolvimento. Um produto que esteja à venda no mercado, porém, não significa que ofereça segurança. Os pediatras podem utilizar as informações descritas a seguir, que auxiliam na seleção e manutenção de brinquedos nas salas do consultório e disponibilizá-las para os pais. Embora não ocorra aumento de incidência de doenças agudas em crianças que estiveram recentemente num consultório de pediatria, os brinquedos que lá estão devem ser rotineiramente limpos.Tipos de brinquedos que se encontram nos consultórios pediátricos e como são mantidos servirão de modelo para os pais. RECOMENDAÇÕES PARA CONSULTÓRIOS DE PEDIATRIA: 1. Os brinquedos deverão oferecer segurança para todas as idades. • Não ter brinquedos pequenos ou aqueles que destacam partes ou componentes. • Não ter brinquedos com cordas, cordões ou correntes. • Não ter brinquedos com bordas cortantes ou afiadas. • Não ter brinquedos que façam barulhos estridentes ou altos. • O material dos brinquedos deve ser atóxico. • Os brinquedos devem ser guardados em locais seguros e ventilados, evitar caixas ou baús com tampas. • Disponibilizar brinquedos que possam ser fácil e rotineiramente higienizados. Quando possível, cada vez que um brinquedo tenha entrado em contato com saliva ou outra secreção corporal, deve ficar imerso em uma solução com alvejante a 10% durante 2 minutos, então enxaguado e seco. 2. Brinquedos de consultório devem encorajar a criatividade e distrair as crianças. 3. Os consultórios deveriam ter livros e revistas apropriados para cada faixa etária. 4. Cartazes de segurança e prevenção devem estar localizados em áreas de destaque no consultório. 5. Para se obter uma lista de brinquedos apropriados para cada faixa etária, pode-se consultar o site: http:// www.cpsc.gov/cpscpub/pubs/285.pdf. Goodson B, Bronson MB. Which Toy for Which Child: A Consumer’s Guide for Selecting Suitable Toys, Ages Birth Through Five. RECOMENDAÇÕES PARA PAIS E RESPONSÁVEIS: • Ter em mente que o brinquedo mais educativo é aquele que favorece a interação de um adulto com uma criança de forma incondicional. Brinquedos nunca devem substituir a atenção que um adulto deve dispensar a criança. • As crianças devem ter brinquedos seguros e com recursos que sejam compatíveis com a sua faixa etária. Incluir brinquedos que auxiliem no aprendizado e crescimento de todas as áreas do desenvolvimento. Evitar brinquedos que as desencorajem de usar a imaginação. Habilidades sociais e emocionais são desenvolvidas e acentuadas enquanto a criança utiliza o brincar para trabalhar problemas da vida real. • Fazer uma seleção de brinquedos e lembrar-se que um bom brinquedo não precisa ser caro. • Usar livros e revistas para brincar e ler juntos. • Desconfiar dos apelos educativos dos fabricantes, especialmente quando os produtos pretendem desenvolver a intelectualidade. • Solicitar ajuda ao pediatra na distinção de brinquedos seguros ou não. • Brinquedos que promovem violência ou estereótipos negativos sociais ou raciais não são recomendados para crianças. • Limitar o uso de video game, jogos de computador e televisão, para um total diário de 2 horas. Crianças com idade inferior a 5 anos podem brincar, acompanhados de um adulto, com jogos de computador ou video games se tiver propósito educativo. COMENTÁRIO 1 PADRÕES DE SEGURANÇA DE BRINQUEDOS Os acidentes continuam a ser causa principal de mortes e incapacidades entre crianças e adolescentes. O aconselhamento adequado, realizado por pediatras, a respeito dos riscos ambientais e de comportamento, pode alertar os pais e crianças e assim diminuir o número de vítimas de acidentes. Devido ao desejo natural de colocar tudo que estiver ao alcance na boca e ao tamanho reduzido das vias aéreas superiores, crianças com idade inferior a 3 anos representam a população de maior risco de engasgo e aspiração de objetos pequenos. Das mortes relacionadas a brinquedos, embora a maioria deve-se à aspiração ou sufocação, as crianças podem também sofrer quedas, estrangulamento, queimaduras, afogamentos e intoxicações. A maioria dos acidentes relacionados aos brinquedos é conseqüente a quedas, tropeços ou golpes, levando a lacerações, abrasões, contusões e fraturas. Aproximadamente 2/3 das lesões ocorrem na região acima do pescoço e envolvem a face, cabeça, boca e olhos. Os acidentes causados por brinquedos são conseqüentes a erros de desenho, materiais inadequados, fabricação deficiente. As indústrias de brinquedo devem exercer controle extremo ao desenhar e produzir brinquedos. No Brasil, foi elaborada a Norma de Segurança do Brinquedo - pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 11786). Um brinquedo pode ser submetido a centenas de provas para garantir sua segurança, as indústrias já se adequaram no sentido de respeitar esta norma – já imprimem em suas embalagens a garantia que seus produtos estão de acordo com a norma. Outra instituição preocupada com a segurança da criança é a ABRINQ (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos). Podem ser consultadas para mais informações através dos sites: www.abnt.org.br e www.abrinq.com.br . Pelo menos quatro estratégias devem ser utilizadas na prevenção de lesões relacionadas a brinquedos: • as crianças devem utilizar somente brinquedos apropriados para sua idade; • as crianças devem ser supervisionadas quando brincam; • os pais ou responsáveis devem se assegurar que os brinquedos estão sendo utilizados em ambientes seguros e adequados; • devido ao envolvimento da cabeça e face em lesões relacionadas a brinquedos, os responsáveis devem evitar brinquedos que ejetem projéteis. As leis Norte-Americanas têm sido úteis ao protegerem as crianças de lesões relacionadas aos brinquedos. As principais recomendações daquele país referemse a: • brinquedos contendo substâncias perigosas, níveis tóxicos de chumbo, ou que representem riscos elétricos, mecânicos ou térmicos são proibidos pela Lei Federal de Substâncias Perigosas. • avisos em destaque do perigo de engasgos, aspiração e ingestão, nas embalagens de brinquedos (bolas pequenas, balões,bolinhas de gude) e jogos que contém pequenas partes, para crianças entre três e seis anos, além da proibição de uso em menores de três anos pela Lei de Proteção e Segurança da Criança; • identificação na embalagem de materiais de arte perigosos ou inapropriados para crianças é obrigatória pela Lei de Materiais de Arte Perigosos; Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 17 • a indústria de brinquedos estabeleceu voluntariamente padrões de segurança, sob os Padrões de Especificação de Segurança de Brinquedos para o Consumidor (ASTM F963), a fim de minimizar o risco de lesões durante a utilização normal e o abuso razoavelmente previsível; • as armas de brinquedo devem obedecer às normas do Departamento de Comércio, a fim de distinguí-las de armas reais. Embora a maioria dos brinquedos seja segura, podem se tornar perigosos se utilizados de forma incorreta ou por crianças que são muito pequenas para eles. A escolha e o uso adequados, combinados com a supervisão dos pais ou responsáveis, vai reduzir de forma significativa à incidência e gravidade deste tipo de acidente. COMENTÁRIO 2 - PADRÕES DE HIGIENE DE BRINQUEDOS O papel das mãos dos médicos, pacientes, sejam crianças ou adultos, e seus acompanhantes é muito importante no contexto do controle de infecções. A medida mais simples, altamente eficaz e reconhecida universalmente como de grande valor para a prevenção, é a lavagem das mãos com água e sabão. A área do consultório, quanto ao risco potencial de transmissão de infecção, pode ser classificada como semicrítica, representando menor risco de transmissão, pois é ocupada, na maioria das vezes, por pacientes portadores de doenças não infecciosas, ou de baixa transmissibilidade. Quanto aos brinquedos e livros utilizados, podem ser classificados em: semicríticos, aqueles que entram em contato apenas com a mucosa integra e não-críticos, que entram em contato apenas com a pele íntegra do paciente, ou nem mesmo tem contato direto com o paciente. Nestes objetos espera-se encontrar pequeno número de microorganismos, normalmente presentes na microflora humana. A limpeza, antes do início das atividades, deve ser feita com água e detergente líquido à base de amoníaco (chão), das mesas e banquinhos com pano umedecido em igual solução, o tampo das mesas dever ser higienizado com álcool a 70%, os brinquedos de plástico e borracha lavados semanalmente com água e sabão neutro; nos demais brinquedos e prateleiras, retirada do pó com pano umedecido em água. O brinquedo pode ser contagioso, mas é um contágio de divertimento, pois mesmo a criança doente pode ser capaz de demonstrar seu desejo de brincar e, a partir de um pequeno estímulo, tentar vincular-se com as pessoas à sua volta e com o ambiente. Com a garantia de um local seguro é fundamental que o pediatra entenda o significado do brincar para a criança, estimule, valorize e reconheça a necessidade deste brincar e permita que ele seja efetivamente exercido. “Todas as crianças merecem viver num ambiente seguro” Comitê de Prevenção de Acidentes e Intoxicações da Academia Americana de Pediatria. Tradução e comentários: Dra. Renata Dejtiar Waksman Referências Bibliográficas American Academy of Pediatrics, American Public Health Association, and Maternal and Children Health Bureau. Caring for our Children. National Health and Safety Performance Standards: Guidelines for Out-of-Home Care, 2nd ed. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 2002. 20 mission; 1995.Available at:http://www.cpsc.gov/cpscpub/ pubs/281.htm. American Academy of Pediatrics, Committee on Public Education. Media violence. Pediatrics 2001;108:1222-26. Goodson B, Bronson MB. Which Toy for Which Child: A Consumer’s Guide for Selecting Suitable Toys, Ages Birth Through Five. Washington DC: Consumer Product Safety Commission. Available at: http://www.cpsc.gov/cpscpub/ pubs/285.pdf American Academy of Pediatrics, Committee on Public Education.Children, adolescents and television. Pediatrics 2001;107:423-26. Lobovits AM, Freeman J, Goldmann DA, McIntosh K. Risk of illness after exposure to a pediatric office. N Engl J Med 1995;313;425-28 American Academy of Pediatrics. Toy Safety: Guidelines for Parents, Parts I and II. Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics; 1994. National Association for the Education of Young Children. Toys: Tools for Learning. Washington, DC: National Association for the Education of Young Children; 1999. Bronson MB. The Right Stuff for Children Birth to 8: Selecting Play Materials to Support Development. Washington DC: National Association for the Education of Young Children; 1995. Shonkoff JP, Phillips DA, eds. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development, Washington, DC: Institute of Medicine, National Research Council, Board on Children, Youth and Families; 2000. Consumer Product Safety Commission. For Kid’s Sake: Think Toy Safety. Washington, DC: Consumer Product Safety Com- Thompson KM, Haninger K. Violence in E-rated video games. JAMA 2001;286:591-98. Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 ALEITAMENTO MATERNO Transmissão do citomegalovirus pelo leite humano para os bebês prematuros. É um problema? Cytomegalovirus transmission from breast milk in premature babies: does it matter? Bryant P, Morley C, Garland S, Curtis N Arch Dis Child Fetal Neonatal 2002; 87: F75-F77 A infecção congênita pelo citomegalovírus (CMV), a partir de infecção primária materna e, menos freqüentemente, pela reativação da infecção materna é uma forma bem conhecida de morbidade e mortalidade. Em contraste, a transmissão pós-natal do CMV da mãe para o bebê, através do leite materno, tem sido bem menos estudada. A infecção pós-natal primária pelo CMV não se associa à doença significante no recém – nascido a termo. Na maioria dos casos a fonte de infecção é materna e o bebê é protegido com imunidade passiva, adquirida por anticorpos anti-CMV de sua mãe. Em contraste, bebês muito prematuros não têm essa proteção, pois a transferência de anticorpos ocorre, fundamentalmente, após a 28ª semana de gestação. Bebês muito prematuros podem ser suscetíveis à infecção pós-natal por CMV provindas das secreções maternas, incluindo leite materno ou transmissão perinatal de secreções cervicais. Mais recentemente estudos demonstraram que o CMV no leite é transmitido para bebês prematuros e pode estar associado com a doença. Esta revisão aborda a evidência da presença do CMV no leite humano e sua possível transmissão para o bebê, a infecção adquirida pelo CMV no período pós-natal podendo causar doença em bebês prematuros, e os métodos para a produção de leite humano livre de CMV. A PRESENÇA E TRANSMISSÃO DO CMV NO LEITE HUMANO A presença do CMV no leite humano foi sugerida no início da década de 70, quando bebês que não haviam sido infectados congenitamente apresentaram a infecção pelo CMV na forma adquirida no final do primeiro mês de vida. Historicamente, a infecção perinatal foi atribuída à transmissão através da secreção cervical. Contudo, a ausência do CMV no swab da secreção cervical materna em muitos casos sugeriu uma outra fonte de contaminação. Em 1972, Hayes et al isolaram o CMV do leite humano em 27% das mães soro-positivas. Uma proporção similar foi encontrada por Reynolds et al. que observaram também um aumento no número de crianças que excretavam o CMV após os primeiros quatro meses, sugerindo infecção ao nascimento ou logo após, a partir de fonte materna. O CMV foi detectado no leite humano de 13 a 50% das mães lactantes. Esta ampla variação é parcialmente devida às diferenças de sensibilidade dos métodos de detecção. A proporção foi maior quando o método utilizado foi a reação em cadeia da polimerase (PCR). Como era esperado, em nenhuma das mães soronegativas foi encontrada a excreção viral. Quando as mães soropositivas para o CMV foram testadas especificamente, 32% a 96% delas excretavam o CMV no leite. O valor mais elevado foi descrito recentemente por Hamprecht et al, que usaram o PCR para detectar o CMV tanto nas células do leite como soro. Esse grupo demonstrou anteriormente que, testando o leite não fracionado o resultado é menos fidedigno. O mecanismo de reativação e excreção do CMV no leite materno em mães lactantes é desconhecido. O CMV foi isolado no leite materno desde um dia até nove meses após o nascimento. O pico de excreção foi descrito no estudo de Vochem et al como sendo o período entre a 3ª e a 4ª semana. O último trabalho mais detalhado a este respeito foi feito por Hamprecht et al, eles demonstraram que o DNA do CMV aparece no soro dentro das primeiras três semanas do nascimento, na grande maioria das mães soropositivas para o CMV. O DNA foi detectado nas células do leite um pouco mais tarde. Esse estudo também realçou a baixa sensibilidade da cultura do vírus, já que o CMV não foi isolado nem no soro nem nas células do leite, vários dias após haver sido detectado pelo método do PCR. Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 21 O CMV é excretado pelo leite materno? Bebês amamentados por mães excretando o CMV no leite são comumente infectados e assintomáticos. No estudo de Hamprecht et al, 33 de 87 prematuros (38%) alimentados com leite de mães que excretavam o CMV se tornaram infectados.O CMV foi cultivado a partir da urina dos bebês, em média 47 dias após o nascimento. O leite materno é a única fonte de transmissão? Há pelo menos um estudo que documentou infecção pelo CMV em bebês cujas mães aparentemente não excretavam o CMV pelo leite materno. Tentativas foram feitas para excluir outras possíveis fontes de transmissão do CMV. A infecção congênita foi excluída pela ausência de excreção do CMV pelos bebês entre o 5º e o 21º dia de vida. A eliminação do CMV por outras secreções maternas, como urina e secreção cervical foram excluídas por amostras maternas negativas, ou por swab auricular do bebê ao nascimento, como um substituto para a secreção cervical. A transmissão horizontal pelo sangue foi excluída por uso de produtos sanguíneos livres do CMV. A transmissão horizontal por outras pessoas como a equipe médica, de enfermagem e visitantes é difícil de excluir. Assim como a transmissão horizontal pela saliva materna é virtualmente também impossível de excluir. Havia até recentemente, somente evidências circunstanciais da transmissão por outras fontes que não o leite humano. Um estudo, por exemplo, mostrou que o número de irmãos (considerado um marco potencial de exposição) não foi relacionado à infecção pelo CMV. Em outro estudo, a possibilidade das crianças que foram amamentadas por mais tempo se infectar, foi provavelmente maior. Outros estudos demonstraram que o genótipo viral foi o mesmo na dupla mãe-filho, pela técnica em que o fragmento do DNA de interesse é obtido pela clivagem no sítio de reconhecimento de uma enzima de restrição. Contudo, há hoje maior evidência favorecendo o conceito que o CMV é transmitido mais pelo leite humano, que pela secreção cervical. No estudo de Hamprecht et al., a grande maioria dos bebês nasceram de parto cesárea e portanto não se expuseram à secreção cervical. A ausência da exposição ao CMV foi confirmada por swabs de superfícies colhidos imediatamente após o parto. Além disso, mães de bebês que se tornaram infectados muito mais provavelmente podem ter o vírus detectado no seu leite, por meio de cultura, do que aquelas cujos bebês não se infectaram. Isto sugere que a transmissão do CMV ao bebê é mais provável quando a carga viral no leite for maior. Além do mais, o DNA do CMV e o vírus são detectados de forma significativamente precoce no leite das mulheres que transmitem o vírus em comparação às que não transmitem. 22 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 A doença causada pelo CMV adquirido no período pós-natal em prematuros. Apesar do CMV ter sido detectado no leite humano e poder ser transmitido ao bebê, há menos informações sobre a significância clínica da infecção primária pós-natal pelo CMV. Acredita-se que a doença grave como resultado da infecção pelo CMV adquirida no período pós- natal, a partir da mãe, é incomum em bebês a termo, pois eles adquiriram por imunidade passiva anticorpos maternos. Foi demonstrado que outros fatores no leite humano, incluindo IgA e lipídeos antivirais exercem também ação protetora.Um estudo recente demonstrou que a vitamina A e a lactoferrina inibiram ”in vitro” o crescimento do CMV no leite humano. Já os recém nascidos muito prematuros, por terem um sistema imune imaturo e por terem nascido antes da transferência da maioria das imunoglobulinas protetoras, o que ocorre após a 28ª semana de gestação, são mais susceptíveis à infecção. Yeager et. al. observaram que mesmo nos recémnascidos que adquiriram os anticorpos maternos contra o CMV, o nível de anticorpos cai mais rapidamente nos prematuros doentes que nos recém nascidos a termo. Yeager et al encontraram que 6 (33%) dos 18 bebês que adquiriram a infecção pós -natal pelo CMV, desenvolveram hepatomegalia, sintomas respiratórios, trombocitopenia, neutropenia, e/oua linfocitose relativa. Entre os recém-nascidos muito prematuros, com menos de 26 semanas de gestação, 80% deles tiveram sintomas que se assemelhavam a sepsis, coincidindo com a infecção pelo CMV. No estudo de Hamprecht et al, dos 33 bebês que foram infectados pelo CMV, 16 (48%) apresentaram sintomas e destes, quatro (25%) tiveram quadro semelhante à sepse, com apnéia, bradicardia e palidez na ausência de infecção bacteriana. Numa avaliação mais detalhada das crianças que desenvolveram doença clínica pelo CMV, os pesquisadores descreveram neutropenia em 88%, trombocitopenia em 25% e evidência de envolvimento hepático em 31%. Esses achados coincidiram com a detecção do DNA do CMV no sangue pelo método do PCR. Colocando isso em perspectiva, do total dos 176 bebês abaixo de1500g nesse estudo, 19% tornaram-se infectados pelo CMV através do leite, 9% desenvolveram uma doença que poderia ter sido relacionada ao CMV e 2% estavam gravemente doentes. Sequelas tardias da infecção pós-natal pelo CMV. Havia sido anteriormente sugerido que a infecção perinatal ou pós-natal pelo CMV não causava seqüelas tardias como ocorre na infecção congênita. Contudo essa visão foi modificada, baseada em dois estudos que avaliaram as conseqüências da infecção adquirida precocemente pelo CMV em prematuros ou bebês doentes, nos quais a infecção congênita foi excluída. Em contraste com a infecção congênita pelo CMV, na infecção perinatal não foi encontrada perda auditiva de causa neurosensorial. Contudo, o início precoce da excreção do CMV foi um fator de risco significante para o dano neurológico grave ou moderado aos três anos de idade. Técnica de remoção do CMV do leite humano. Se a transmissão do CMV pelo leite humano é clinicamente importante, então, a prevenção da transmissão através da técnica de remoção do CMV no leite humano é crítica. Vários métodos de destruição do vírus no leite foram estudados, incluindo congelamento, pasteurização e rápido aquecimento. Uma questão fundamental é se outros constituintes benéficos do leite humano, tais como os fatores imunológicos e nutricionais não seriam afetados desfavoravelmente pelos processos utilizados para destruir o CMV. Por exemplo, a pasteurização (que é o aquecimento a 62,5°C por três minutos ) é altamente efetiva na remoção do CMV viável, mas irá também prejudicar os linfócitos e imunoglobulinas no leite. Em contraste, a refrigeração e o congelamento do leite são menos prejudiciais aos fatores de proteção do leite, mas também são bem menos efetivos na remoção do CMV. Os autores afirmam ter demonstrado, numa investigação não publicada, que em algumas amostras de leite humano positiva para o CMV, que foram armazenadas por dez dias em freezer doméstico (-20°C), o vírus pôde ainda ser recuperado, usando técnicas de cultura sensíveis. Apesar disso, um pequeno estudo recente não controlado sugeriu que o congelamento do leito humano pode estar associado com uma taxa reduzida de transmissão do CMV e infecção em bebês prematuros. O tratamento com altas temperaturas por curto período (por exemplo 72°C por cinco segundos), parece promissor para a eliminação do CMV sem causar os efeitos deletérios da pasteurização, mas necessita de mais estudos. Para evitar tais problemas, um caminho alternativo é a possibilidade de usar leite de mães doadoras soronegativas para o CMV. COMENTÁRIOS Evidências baseadas em vários estudos demonstram que o CMV presente no leite humano é transmitido para os bebês. Há crescentes evidências de que a infecção pelo CMV adquirida no período pós-natal causa doença grave em bebês muito prematuros, embora os números relatados até o presente sejam pequenos. Pesquisas mais detalhadas são necessárias sobre a transmissão do CMV e as conseqüentes seqüelas a longo prazo. Intervenções para a remoção do CMV do leite humano de mulheres soropositivas mães de prematuros são possíveis, mas podem prejudicar outros importantes constituintes do leite. Mudanças na prática não são recomendadas até que tenhamos mais estudos que definam a taxa de risco benefício de tais estratégias. Resumo e Comentários: Dra. Lélia Cardamone Gouvêa Referências Bibliográficas Ahlfors K, Ivarsson AS. Cytomegalovirus in breast milk of Swedish milk donors. Scand J Infect Dis 1985;17: 11-13. Alford CA, Stagno S, Pass RF, Britt WJ. Congenital and perinatal cytomegalovirus infections. Rev Infect Dis 1990;12 (suppl 7):S745-53. Anonymous. American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Human milk banking. Pediatrics 1980;65:854-7. Asanuma H, Numazaki K, Nagata N, Hotsubo T, Horino K, Chiba S. Role of milk whey in the transmission of human cytomegalovirus infection by breast milk. Microbial Immunol 1996;40: 201-4. Ballard RA, Drew WL, Hufnagle KG, Riedel PA. Acquired cytomegalovirus infection in preterm infants. Am J Dis Child 1979; 133: 482-5 Bjorksten B, Burman LG, De Chateau P, et al. Collecting and banking human milk: to heat or not to heat? BMJ 1980;281:765-9 Boeckh M, Boivin G. Quantitation of cytomegalovirus: methodologic aspects and clinical applications. Clin Microbiol Rev 1998;11: 533-54. Brasfield DM, Stagno S, Whitley RJ, Cloud G, Cassel G, Tiller RE. Infant pneumonitis associated with cytomegalovirus, Chlamydia, Pneumocystis, and Ureaplasma: follow-up. Pediatrics 1987;79: 76-83. Cates CR, Gray J, Roberton NR, et al. Acquisition of cytomegalovirus infection by premature neonates. J Infect 1994;28: 25-30. Clarke NM, May JT. Effect of antimicrobial factors in human milk on rhinoviruses and milk-borne cytomegalovirus Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 23 in vitro. J Med Microbiol 2000;49:719-23. Dworsky M, Stagno S, Pass RF, et al. Persistence os cytomegalovirus in human milk after storage. J Pediatr 1982;101:440-3 Dworsky M, Yow M, Stagno S, et al. Cytomegalovirus infection of breast milk and transmission in infancy. Pediatrics 1983;72: 295-9. Friis H, Andersen HK. Rate of inactivation of cytomegalovirus in raw banked milk during storage at – 20 degrees C and pasteurisation. British Medical Journal Clinical Research Edition 1982;285:1604-5. Goldblum RM, Divil CW, Albrecht TB, et al. Rapid hightemperature treatment of human milk. J Pediatr 1984;104:380-5 Granstrom M, Leinikki P, Santavuori P, et al. Perinatal cytomegalovirus infection in man. Arch Dis Child 1977;52:354-9. Hamprecht K, Maschmann J, Vochem M, Dietz K, Speer CP, Jahn G. Epidemiology of transmission of cytomegalovirus from mother to preterm infant by breastfeeding. Lancet 2001;357: 513-18. Hamprecht K, Vochem M, Baumeister A, Boniek M, Speer CP, Jahn G. Detection of cytomegaloviral DNA in human milk cells and cell free milk whey by nested PCR. J Viral Methods 1998;70:167-76. Hayes K, Danks DM, Gibas H, Jack I. Cytomegalovirus in human milk. N Engl J Med 1972;287: 177-8. Ichter D, Hampl W, Pohlandt F. Vertical transmission of cytomegalovirus, most probably by breast milk, to an infant with Wiskott- Aldrich syndrome with fatal outcome. Eur J Pediatr 1977; 156: 854-5. Maschmann J. Cytomegalovirus infection of estremely lowbirth weight infants via breast milk. Clin Infect Dis 2001;33:1998-2003 Minamishima I, Ueda K, Minematsu T, et al. Role of breast milk in acquisition of cytomegalovirus infection. Microbial Immonol 1994;38: 549-52. Mosca F. Pugni L, Barbi M, Binda S. Transmission of cytomegalovirus. Lancet 2001;357:1800 Peckham CS, Johnson C, Ades A, et al. Early acquisition of cytomegalovirus infection. Arch Dis Child 1987;62: 780-5. Preece Pm, Pearl KN, Peckham CS. Congenital cytomegalovirus infection. Arch Dis Child 1984; 59: 1120-6. Reynolds DW, Stagno S, Hosty TS, et al. Maternal cytomegalovirus excretion and perinatal infection. N Engl J Med 1973;289: 1-5. Sharland M, Khare M, Bedford-Russell A. Prevention os postnatal cytomegalovirus infection in preterm infants. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2002;86:F140. Stagno S, Brasfield DM, Brown MB, et al. Infant pneumonitis associated with cytomegalovirus, Chlamydia, Pneumocystis, and Ureaplasma: a prospective study. Pediatrics 1981; 68:322-9. Stagno S, Reynolds DW, Pass RF, et al. Breast milk and the risk of cytomegalovirus infection. N Engl J Med 1980;302: 1073-6. Vochem M, Hamprecht K, Jahn G, Speer CP. Transmission of cytomegalovirus to preterm infants through breast milk. Pediatr Infect Dis J 1998;17: 53-8. Welsh JK, Arsenakis M, Coelen RJ, May JT. Effect of antiviral lipids, heat, and freezing on the activity of viruses in human milk. J Infect Dis 1979;140:322-8. Kumar ML, Nankervis GA, Jacobs IB, Ernhart, CB, Glasson CE, Mcmillan PM et al. Congenital and postnatally acquired cytomegalovirus infections: long-term follow-up. J Pediatr 1984;104:674-9 Yeager AS, Palumbo PE, Malachowski N, Ariagno RL, Stevenson DK. Sequelae of maternally derived cytomegalovirus infections in premature infants. J Pediatr 1983;102:918-22 Liebhaber M, Lewiston NJ, Asquith MT, Olds-Arroyo L, Sunshine P. Alterations of lymphocytes and antibody content of human milk after processing. J Pediatr 1977;91:897-900. Yeager AS, Grumet FC, Hafleigh EB, Arvin AM, Bradley JS, Prober CG. Prevention of transfusion-acquired cytomegalovirus infections in newborn infants. J Pediatr 1981;98: 281-7. ATENÇÃO As publicações da Revista Correios da SBP estão disponíveis no site: www .sbp.com.br (Educação Médica Continuada). www.sbp.com.br 24 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 DEPARTAMENTO DE NEONATOLOGIA DA SBP DOCUMENTO CIENTÍFICO PÉ DIREITO DO RN CARTÃO DE ALTA DO RECÉM-NASCIDO POLEGAR DIREITO DO RN POLEGAR DIREITO DA MÃE NOME: MÃE: NOME DA INSTITUIÇÃO PAI: Data do nascimento: Hora: CONDIÇÕES DE NASCIMENTO Fórceps ( ) Cesáreo ( ) Indicação: Sexo: Masc ( ) 5’ Peso: g Idade Gestacional: DUM ( ) 10’ Comprimento: cm semanas Capurro ( ) AIG ( ) Dubowitz ( ) Tipo Sangüíneo: RN: PC: PIG ( cm ) New Ballard ( ) Outros exames: PKU: • Não existe leite fraco. Quanto mais cedo e mais vezes o bebê mamar, mais rápido o leite aumenta. O leite dos primeiros dias chama-se colostro. Alimenta muito bem e é rico em anticorpos. Parece até uma primeira vacina. • Deixe a criança mamar o tempo que quiser e toda vez que tiver fome (de dia e à noite). Com o tempo ele mesmo regulará as mamadas. Comece oferecendo o seio que estiver mais cheio de leite. Só quando esvaziar um seio é que você deve oferecer o outro. Não ( ) TSH: • Parabéns! O seu bebê nasceu! Acaba de deixar a barriga da mãe, um lugar onde tinha tudo que precisava. Agora os adultos precisam cuidar bem dele. • Procure uma posição confortável e coloque o bebê de frente para você, apoiando bem as costas dele. O bebê deve abocanhar uma boa parte da aréola e não só o bico do seio. Indireto: “Teste do Pezinho”: Sim ( ) GIG ( ) Outro ( ) Mãe: Coombs: Direto: : • O leite materno é o mais completo alimento para o seu bebê. Está pronto, na temperatura ideal, sem perigo de contaminação e é grátis! Tem tudo o que ele precisa para crescer e se desenvolver forte e saudável. Protege o bebê e a mãe contra várias doenças. Fem ( ) Apgar: 1’ / Local: SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA Tipo de parto: Normal ( ) / T4: Triagem Auditiva: • Nos primeiros dias pode ser necessário esvaziar as mamas para evitar que fiquem empedradas. Massagear as mamas com movimentos circulares, começando em torno do bico. Prossiga tirando o leite, até não sentir mais nenhum ponto dolorido. Triagem Visual: Vacinação: Hepatite B ( ) BCG ( ) • Até os 6 meses de vida não precisa oferecer água ou qualquer outro tipo de alimento. DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO • Use seu próprio leite para manter o bico e a autéola limpos e protegido. Banho de sol direto nas mamas ajuda a prevenir cicatrizes e rachaduras. • Passar álcool a 70% no umbigo 2 a 3 vezes ao dia. Não precisa deixar com gaze ou qualquer outro curativo. Não use outros produtos nem faixas, cinteiros ou moedas. Isso não ajuda em nada e pode até fazer mal. • Para o banho, use água morna ou quase fria e sabonete neutro (glicerina ou sabão de coco). A cada troca de fraldas limpe bem a criança com água para evitar assaduras. Não use talco, perfume, xampu ou loções de bebê, pois esses produtos podem causar alergias. Tipo de alimentação no hospital e na alta: Data da Alta: / Peso: Comprimento: Retorno Ambulatorial: Obstetra / / PC: / às : Pediatra • Não deixe o bebê dormir de bruços. Coloque-o de lado ou de barriga para cima. Não coloque travesseiros nem almofadas. O colchão não deve ser muito macio. • Caso a Triagem Neonatal e a Vacinação não tenham sido feitas ao nascimento, procure o Pediatra no Posto de Saúde nos primeiro dias de vida para iniciar as vacinas e fazer o “Teste do Pezinho” e o “Teste da Orelhinha”. Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004 25 ATENÇÃO Em caso de mudança de endereço, comunique-se imediatamente com a Secretaria do PRONAP / SP ou com a SBP / RJ. SECRET ARIA EXECUTIV A DO PRONAP SECRETARIA EXECUTIVA Rua Augusta, 1939 - 5º andar - sala 53 Cerqueira César – 01413-000 – São Paulo - SP Fone: (0xx11) 3068-8595 – Fax: (0xx11) 3081-6892 As publicações da Revista Correios estão disponíveis no Site: .sbp.com.br (Educação Médica Continuada) www www.sbp.com.br Dúvidas e Sugestões: e-mail: [email protected] ou [email protected] SOCIED ADE BRASILEIRA DE PEDIA TRIA SOCIEDADE PEDIATRIA Rua Santa Clara, 292 - Copacabana 22041-010 - Rio de Janeiro / RJ Fone (0xx21) 2548-1999 – Fax: (0xx21) 2547-3567 .sbp.com.br site: www www.sbp.com.br e-mail: [email protected] 26 Ano 10 - Jan/Fev/Março/2004
Download