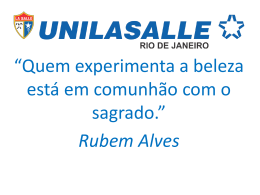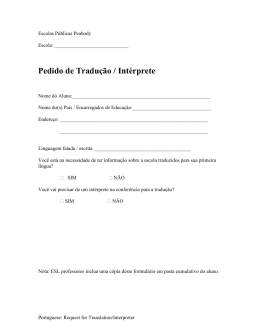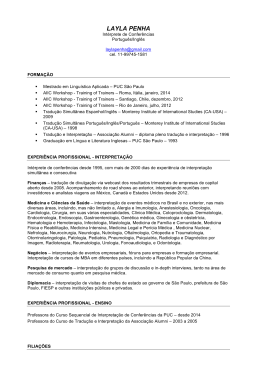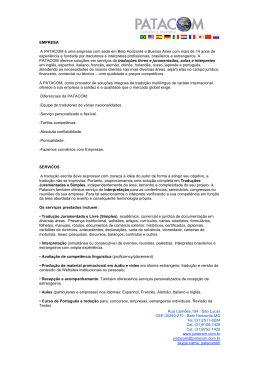Universidade Federal do Rio de Janeiro COMÉDIA NEGRA E OUTROS ASSOMBROS: POLÍTICA, HISTÓRIA E GUERRA NA FICÇÃO DE RUBEM FONSECA Benjamin Rodrigues Ferreira Filho 2008 1 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro COMÉDIA NEGRA E OUTROS ASSOMBROS: POLÍTICA, HISTÓRIA E GUERRA NA FICÇÃO DE RUBEM FONSECA Benjamin Rodrigues Ferreira Filho Tese de Doutorado apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro como quesito para a obtenção do Título de Doutor em Ciência da Literatura (Poética) Orientador: Prof. Doutor Alberto Pucheu Neto 2 2 Rio de Janeiro Setembro de 2008 3 3 Comédia negra e outros assombros: política, história e guerra na ficção de Rubem Fonseca Benjamin Rodrigues Ferreira Filho Orientador: Professor Doutor Alberto Pucheu Neto Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Doutor em Ciência da Literatura (Poética). Examinada por: _______________________________________________ Presidente, Prof. Doutor Alberto Pucheu Neto (UFRJ) ____________________________________________________ Prof. Doutor João Camillo Barros de Oliveira Penna (UFRJ) ____________________________________________________ Profa. Doutora Martha Alkimin de Araújo Vieira (UFRJ) ____________________________________________________ Profa. Doutora Sonia Regina Aguiar Torres da Cruz (UFF) ____________________________________________________ Profa. Doutora Vera Lúcia Follain de Figueiredo (Puc-Rio) 4 4 Rio de Janeiro Setembro de 2008 5 5 Ferreira Filho, Benjamin Rodrigues. Comédia negra e outros assombros: política, história e guerra na ficção de Rubem Fonseca / Benjamin Rodrigues Ferreira Filho. - Rio de Janeiro: UFRJ/ FL, 2008. x, 187f.; 31 cm. Orientador: Alberto Pucheu Neto Tese (doutorado) – UFRJ/ Faculdade de Letras/ Programa de Pós-graduação em Letras (Ciência da Literatura), 2008. Referências Bibliográficas: f. 178-187. 1. Política. 2. História. 3. Guerra. 4. Violência. 5. Realidade. I. Pucheu Neto, Alberto. II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa de Pós-graduação em Letras (Ciência da Literatura). III. Título. 6 6 RESUMO COMÉDIA NEGRA E OUTROS ASSOMBROS: POLÍTICA, HISTÓRIA E GUERRA NA FICÇÃO DE RUBEM FONSECA Benjamin Rodrigues Ferreira Filho Orientador: Alberto Pucheu Neto Resumo da Tese de Doutorado submetida ao Programa de Pós-graduação em Letras (Ciência da Literatura), Faculdade de Letras, da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Letras (Ciência da Literatura). Consideração da obra de Rubem Fonseca a partir da discussão da violência entendida como problema político. Seguindo-se as vertentes política, história e guerra, pretende-se discutir a violência, em qualquer nível ou escala, como uma manifestação política, que ocorre ao longo de todos os tempos históricos e configura as relações sociais como guerra. A violência representada na ficção de Rubem Fonseca tem diversas facetas, mas é situada como uma questão humana presente no contexto político global, durante todo o tempo histórico e cujos elementos são aqueles da “guerra de todos contra todos”. Palavras-chave: Política. História. Guerra. Violência. Realidade. 7 7 Rio de Janeiro Setembro de 2008 8 8 ABSTRACT Benjamin Rodrigues Ferreira Filho Orientador: Alberto Pucheu Neto Consideration of the Rubem Fonsenca’s work from the discussion of the violence understood as a political problem. Following the strands: politics, history and war, the goal of this work is to discuss the violence, in any level or scale, like a political manifestation that occurs over all the historical times and configures the social relations like war. The violence represented in the Rubem Fonseca’s fiction has many facets, but it is situated like a human issue present in the global political context, during all the historical period which elements are those from “war of all against all”. Keywords: Politics. History. War. Violence. Reality. 9 9 Rio de Janeiro Setembro de 2008 10 10 Para Shirlene e Franz, que souberam conviver com um correspondente de guerra. 11 11 Agradecimentos A todos — parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos — que, de uma maneira ou de outra, contribuíram com o trabalho que gerou este estudo, especialmente: Adrianna Meneguelli Da Ros (voz e violão), Ana Augusta Miranda (presença e beleza), Ana Cláudia Araújo de Lima (letras ao léu), Ana Cristina Chiara (correspondência, livros, conversa e paisagem), Ana Cristina Coutinho Viegas (desde 1999), Ana Cristina Givigi (a Kiki que encanta a todos; mas some), Ana Maria Albernaz (melodias rosaclariceanas na UFRJ e no Rio), Andréia Delmaschio (cada coisa), Anne Ventura (ventura), Antonio Celso Goulart (jerez e cultura paulistana, às pampas), Antonio Fabio Memelli (casa aberta a sambas que até hoje repercutem nos corações), Aurélia Hübner (sendas da ficção fonsequiana), Beny Ribeiro dos Santos (discussões e livros pelo Rio), Bernardo de Oliveira (uma filosofia da amizade), Cassiana Lima Cardoso (conversa mineira pelo campus, por ônibus, metrôs e pelas ruas de Botafogo), Célia Sandra Ferreira Garcia (anfitrirmã em Belém), Cláudia Garcia Leal (que gosta de rir da rabugem picaresca), Cnpq (bolsa para viagens na bibliofilia), Edivan Freitas (letra e música), Edson Santos Ferreira (valeu, sumano), Eliana Kuster (arquiteturas da cidade e da comunicação), Espírito Santo (alguns dezoito anos de trogloliria), Fabio Mattos (parceiro de canções sombrias; quando vamos gravar os Noturnos?), Fabíola Simão Padilha Trefzger (intersecções fonsequianas), Flávio Carneiro (ajuda com a banca), Flavio Marcus Ramos Fernandes (diálogos platônicos e outros diálogos nos bares e nas ruas de Vitória), Franz Rohr de Souza Ferreira (amigo de teto e de chão), Germano Pereira de Souza (Corisco de caravanas), Gladson Dalmonech (palavra e tambor), Goiás e Mato Grosso (quando era impossível entender o guerreiro), João Camillo Barros de Oliveira Penna (comentários na banca), José Rubem Fonseca (as letras rubras), Karine Nunes (voz, presença e canções), Lino Machado (conversas na Ufes e na Lama), Luiz Romero de Oliveira (toda a beleza humana do velho Salsa), Manuel Antonio de Castro (caminho; paciência com o chato correspondente de guerra), Marcos Luiz Machado (o Marquinho e a bondade), Maria Fernanda Oliveira (samba e poesia), Martha Alkimin de Araújo Vieira (leitura crítica na banca), Messias Tadeu Capistrano (o Rio de portas abertas), Miriam Rohr de Souza (Ilha do Príncipe, Vitória, Espírito Santo), Orlando Lopes (visão visionária e companhia de bibliofarra), Pará (o lugar e as pessoas; depois de longa ausência, a saudade africana de volta a Belém e ao Pará, em um momento difícil e ao mesmo tempo revigorante; parentes e amigos e refestanças), Patrícia Vasconcelos Almeida (ajuda de última hora), Paulo César Scarim (geografia das viagens), Pedro Antonio Freire (Gazu: alegria social, mas que anda meio puto; quase que a alegria vira alergia, mas: e o humour?), Raimundo Carvalho (Roma, latim e reclamações), Rio de Janeiro (tuas vias e veias), Ronaldes de Melo e Souza (as falas-aulas), Ronaldo Só Moutinho (SOS carioca para o trecheiro do sertão brasileiro), Rossana Mattos (trabalho e festa), 12 12 Sandra Mara Pereira (falas de ouvir), Santa Catarina (catarinense e paraense; recepção sulina abaixo do trópico de Capricórnio, lá pelos 27 graus), Shirlene Rohr de Souza (companhia, teto e terra), Simone Ferreira Duarte (ri de todas as minhas piadas), Sonia Torres (conversa preliminar na UFF e observações na banca), Tapiaim do Favacho (socorro mais que amigo; largou todos os compromissos, juntamente com os Troglolíricos, para fazer a “Nau Clarineta”), Troglolíricos (beleza, manos), Ufes (cursos no litoral), UFPA (Norte, beira do rio), UFRJ (terra, céu e mar), Urubu (tu és o samba), Vera Lúcia Follain de Figueiredo (apontamentos na banca), Vilma Memelli (samba brasileiro e lindeza-alegria em si), Wilberth Salgueiro (Bith, Ufes, Brasil afora), Williams Monjardim (viagens pelas paragens da filosofia), Zezinho Carvalho (nosso preto-samba brasileiro) e Reagradecimentos a Alberto Pucheu Neto, pela orientação segura e amiga. Valeu, camará. 13 13 Sumário Capítulo 1: Comédia negra: política, história e guerra ....................................... 1 Capítulo 2: O verdadeiro fulgor das sumidades: o devido lugar da política ...... 18 Capítulo 3: Os vestígios históricos ...................................................................... 73 Capítulo 4: A guerra disseminada ....................................................................... 121 Capítulo 5: Todos os assombros ......................................................................... 167 Referências .......................................................................................................... 178 14 14 Capítulo 1: Comédia negra: política, história e guerra As imagens de violência, recorrentes na ficção de Rubem Fonseca, expõem um aspecto simultaneamente brutal e delicado de nossa sociedade. O que há de brutal é muito palpável, principalmente para as vítimas e para os seus próximos; está estampado em vermelho, líquido ou coagulado, em todos os jornais do país, essencialmente os de cor (ainda e sempre) marrom; “Tá lá o corpo estendido no chão”1: não é fácil evitar, mesmo para os mais hábeis em fugir do problema, os tradicionais quadros que apresentam os efeitos de nossa truculência social, apesar da alegria e da festa de que não podemos prescindir — mas a festa e a alegria são também irmãs do desentendimento e da perturbação. O que há de delicado na violência é que, por seus efeitos traumáticos, fatais, ela causa lamentação, medo, até horror, e por isso o enfrentamento de seus sentidos mais obscuros é evitado, havendo, no senso comum (e não só), uma postura “humanista”, romântica, utópica para com a questão. “Não à violência”, diz-se, simplesmente, sem maiores aprofundamentos nas implicações radicais do assunto. Entretanto, a energia da violência, delicada e brutal em sua imanência e em suas demonstrações, apresenta inúmeras faces, compõe-se em ondes e quandos aparentemente inocentes e vibra, viva, grávida, no coração humano, embora não nos agrade admitir. Este fator — a violência — implica problemas da maior gravidade, pois atinge de diversas maneiras a população, espalha velada ou acintosamente suas vítimas pelos espaços das cidades e pelas vitrines da imprensa (que aproveita como pode o espetáculo) e enfim constitui um fenômeno extremamente complexo, que possui uma grande força de dissensão, conflito e destruição. Os textos críticos acerca de Rubem Fonseca têm, obrigatoriamente, algum ponto de intersecção com o tema da violência que, afinal, é “reincidente” em todos os livros do autor e emerge brutalmente na superfície do texto sanguinário, na maioria das vezes marcado pela agressividade e pelo palavrão. As marcas socioeconômicas, políticas e culturais que estão presentes no autor de Romance negro e outras histórias prestam-se a constituir palimpsestos cujos vestígios possibilitam uma leitura das relações de poder nas sociedades. Alguns traços de tais vestígios permitem uma abordagem histórica e política da violência na obra de Rubem Fonseca. Considerando toda a história da humanidade, alguma época houve sem que a violência 1 BOSCO, João; BLANC, Aldir. De frente pro crime. In: BOSCO, João; BLANC, Aldir. Caça à raposa. São Paulo: BMG Ariola; Rio de Janeiro: RCA, 1994, 1 CD, faixa 2. O disco original, em vinil, foi lançado em 1975. 15 15 ali estivesse, plena, no esplendor da eclosão de seus terrores? Uma vez que provém de conflitos sociais mal resolvidos ou insolúveis, estando sob um quadro administrativo que procura minimizar os seus perigos, a violência é necessariamente política. Se inclui desavenças, imposições ou ataques entre dramatis personae e constitui ameaça de disrupção, toda violência é política, em qualquer instância. Se a força está presente em sua propulsão e nos ofícios que a exercitam, se seus efeitos podem variar do constrangimento rápido à aniquilação dos envolvidos e se suas conseqüências podem ser devastadoras, a violência pode ser compreendida como guerra? Toda hostilidade é uma forma de guerra, em maior ou menor grau? História, política e guerra: quais são os sentidos de tal trindade nas cicatrizes das civilizações? Rubem Fonseca nasce em 1925 e só publica seu primeiro livro — Os prisioneiros (contos) — em 1963. Daí em diante, sua produção não se interrompe mais; prossegue dessa década até o século XXI. Os contos e romances de Rubem Fonseca registram as idiossincrasias e as marcas socioeconômicas e culturais dos anos em que são lançados, assim como as transformações, seja ligadas aos costumes, seja relacionadas à tecnologia, seja ainda de outra ordem, que ali ocorrem, e também acionam tempos históricos diversos. Assim, aparecem, por exemplo: os anos em que o sangue era vendido aos hemocentros (A coleira do cão), o uso do disco de 78 rotações e do LP na cultura fonográfica (Agosto), nomes antigos de ruas (Romance negro e outras histórias), a datilografia (Agosto), o computador (Bufo & Spallanzani), o telefone celular (Pequenas criaturas) e a comunicação virtual (Diário de um fescenino). Quanto aos tempos históricos, o século XVII europeu aparece em O doente Molière; o século XIX de Carlos Gomes é tema de O selvagem da ópera; o escritor Álvares de Azevedo surge em “H. M. S. Cormorant em Paranaguá” (O Cobrador); a Guerra do Paraguai está presente em “A caminho de Assunção” (O Cobrador); as circunstâncias da morte de Getúlio Vargas em 1954 são assunto de Agosto; a Segunda Guerra Mundial é mencionada em “Henri” (Os prisioneiros); o muro de Berlim, a URSS e o Leste Europeu fazem parte da trama de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos; e ainda há uma projeção para o futuro em “O quarto selo (fragmento)” (Lúcia McCartney). A preocupação com a história, em Rubem Fonseca, pode ainda ser verificada no conto “O livro de panegíricos”, de Romance negro e outras histórias, em que o autor cita os historiadores Jacob Burckhardt, Edward Gibbon, Thomas B. Macauley e Theodor Mommsen. Há um convite, portanto, para que o leitor considere o transcurso do tempo humano, os acontecimentos e os 16 16 registros históricos. Importa muito, pois, a relação entre violência e história, ou seja, é necessário observar a presença — a onipresença, aliás — da violência ao longo da história e considerá-la em seu alto grau de complexidade. Sociedade, política e economia não são, simplesmente, formas resultantes da cooperação mútua, da reunião de forças para o desenvolvimento comunitário e da preocupação com o destino do homem, com a sua dignidade no ambiente coletivo, com o bem-estar do grupo; tal maneira de compreender o mundo resulta de uma perspectiva idealista, utópica ou até mesmo devota. Em Friedrich Nietzsche e Michel Foucault, vê-se a crítica demolidora da ingênua visão da organização política como corpo administrativo a serviço do bem-estar humano. No contexto de Nietzsche, lê-se “civilização” como processo de domesticação da “besta homem”. Em Foucault, denuncia-se uma estratégia política que desenvolve procedimentos disciplinares que são muito eficientes no adestramento dos indivíduos e operam a produção dos “corpos dóceis”. Em ambos os casos, notemos, são apontados mecanismos de controle e constrangimento que levam à adaptação e à sujeição progressivas dos indivíduos a partir de uma micropolítica que está em toda parte. As instituições — e a própria idéia de “homem” — sofrem, com os pensadores citados, duros golpes, que revelam o jogo de interesses e de manipulações, a tensão e a instabilidade que estão na raiz da existência delas, instituições, e da própria sociedade como um todo — e que lhes são inerentes. De maneira que os registros históricos assinalam relações de poder, de dominação e de exploração que são intrinsecamente violentas. No Manifesto comunista2, mesmo orientados por uma esperança visionária (a vitória do “proletariado” sobre a “classe burguesa”), Marx e Engels afirmam que “A história de todas as sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes” e mostram como aquilo que chamam de “burguesia” apodera-se de tudo, no jogo do jugo econômico, e tudo subjuga a seu poder: “A burguesia despojou de sua auréola todas as atividades até então reputadas como dignas e encaradas com piedoso respeito. Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio seus servidores assalariados”. Pode-se visualizar bem a denúncia de uma organização político-econômica que tudo absorve, que tudo usa em favor de si para melhor estabelecer e ampliar os seus domínios. Esvaise a visão singela de que a distribuição das funções na sociedade tem o objetivo de promover a 2 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. Tradução: Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo Editorial, 1998, p. 40 e 42, respectivamente. 17 17 cooperação entre diferentes atividades e agentes. Para Marx e Engels, as profissões e as funções dos membros da sociedade estão submetidas a uma ordem dominante e apenas favorecem esta ordem. Na ficção de Rubem Fonseca, vê-se a mesma crítica, materializada na revolta do protagonista de “O Cobrador” e em seu ódio por todos os profissionais, especialmente por aqueles que têm mais prestígio social: “Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira. Todos eles estão me devendo muito”3 — e ele parte para as suas “cobranças”. Em uma entrevista de 1977, Foucault diz espantar-se com o fato de que os marxistas falam sempre em “luta de classes”, apontam essa categoria como força motriz da história, mas prestam muito pouca atenção ao fator “luta” e insistem muito na questão da “classe”. Importaria, pois, para Foucault, investigar o que “concretamente é a luta”4. Em O mal-estar na civilização, Sigmund Freud ataca de maneira categórica a crédula visão humanitária da vida, afirmando que os homens não são criaturas gentis que desejam ser amadas e que, no máximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrário, são criaturas entre cujos dotes instintivos devese levar em conta uma poderosa quota de agressividade. Em resultado disso, o seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante potencial ou um objeto sexual, mas também alguém que os tenta a satisfazer sobre ele a sua agressividade, a explorar sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, torturá-lo e matá-lo. — Homo homini lupus. Quem, em face de toda sua experiência da vida e da história, terá a coragem de discutir essa asserção?5. As relações humanas não se orientam apenas por gentileza, solidariedade e carinho. O nosso ambiente não é um espaço de paz e amor. A agressividade existe e dá ao mundo outra configuração, aproximando lobos e homens — e vinga toda a conseqüente violência. Muitas idéias sociais, humanitárias ou filantrópicas querem, buscam, sempre, uma homogeneidade, uma 3 FONSECA, Rubem. O cobrador. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, p. 13. Para que seja evitado o acúmulo desnecessário de notas, as citações de Rubem Fonseca, sempre que possível, passam a trazer indicações, no próprio corpo do texto, de capítulos, no caso de romances, ou das narrativas específicas, no caso de livros de contos. O mesmo procedimento será adotado, quando viável, em relação a livros de outros autores repetidamente referidos. A decisão pode não ser a mais recomendada, mas pelo menos auxilia o leitor que queira conferir os dados em edições diferentes das usadas aqui. 4 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 14. ed. Organização, introdução e revisão técnica: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 241-242. A entrevista, no livro organizado por Roberto Machado, tem o título “Não ao sexo rei”. 5 FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Tradução: José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1997, p. 67-68. 18 18 atmosfera de tranqüilidade e harmonia, mas o que se verifica, na vida e na história, são diversidades e conflitos. Certos valores ou orientações, que procuram tornar razoável a aventura da humanidade e harmonizar o mundo e a vida a partir de um sentido último, logo revelam o que têm de mito ou de arbitrariedade. Nietzsche ataca veementemente a moral cristã como fundamento para a existência humana e um dos projetos de sua filosofia é demolir o próprio cristianismo, representante por excelência, segundo ele, de uma moralidade que é contrária à vida e que se disfarça de “bem”. Nietzsche vê na convivência humana uma constante disputa, em que importam a força, a determinação, o poder, não a busca de igualdade. Em Além do bem e do mal (seção 259), nega qualquer possibilidade de convivência pacífica e igualitária: Abster-se de ofensa, violência, exploração mútua, equiparar sua vontade à do outro: num certo sentido tosco isso pode tornar-se um bom costume entre indivíduos, quando houver condições para isso (a saber, sua efetiva semelhança em quantidade de força e medida de valor, e o fato de pertencerem a um corpo). Mas tão logo se quisesse levar adiante esse princípio, tomando-o possivelmente como princípio básico da sociedade, ele prontamente se revelaria como aquilo que é: vontade de negação da vida, princípio de dissolução e decadência. Em Genealogia da moral, Nietzsche afirma que falta “espírito histórico” àqueles que vêem na utilidade e na ação não-egoísta a origem da idéia do que seria “bom”, perspectiva segundo a qual as ações desinteressadas daqueles que agiam sem egoísmo foram sentidas e tidas como “boas” e passaram a ser vistas como a própria “bondade”, caindo no esquecimento a sua utilidade imediata. Historicamente, para Nietzsche, é nas relações hierárquicas entre os nobres dominantes e os inferiores dominados que surgem os juízos de valor. Uma aristocracia guerreira, poderosa e orgulhosa denomina como “bom” tudo o que diz respeito a si e como “ruim” o que se refere às classes subalternas. Histórica e etimologicamente, tudo o que se relaciona a “aristocrático”, “nobre” e “superior” opõe-se radicalmente ao que é “plebeu”, “vil” e “inferior” e confere um pathos de distância às castas superiores em relação às inferiores. É no campo político do direito de dominar, de explorar e mesmo de humilhar ou exterminar que surgem os juízos de valor “bom” e “ruim”; o “bom”, segundo o modo de valoração aristocrático, é aquele que “pode” subjugar o “inferior” (o “ruim”) — porque tem poder para tal. Já as concepções “bom” e “mau” provêm não de uma moral “nobre” e “aristocrática”, mas da valoração dos grupos “ressentidos” 19 19 que, porque não querem ou não podem se erguer e enfrentar seus opressores, invertem a valoração de caráter “nobre” e transformam em “bom” o “oprimido” e em “mau” o “opressor”. Para Nietzsche, não há como evitar a ofensa, a violência, a exploração, porque são elementos constitutivos de todas as sociedades. O homem não pode “equiparar sua vontade à do outro”, simplesmente porque a convivência entre as pessoas é uma convivência conflituosa e toda política é política de dominação. Assim, no final da seção 259 de Além do bem e do mal, Nietzsche afirma que o “fato primordial” da história é o fato da exploração, resultado inevitável da “vontade de poder”, que equivale, finalmente, à própria “vontade de vida”. É importante assinalar que Nietzsche valoriza e afirma aquilo que é “nobre” e assume a sua vontade de poder. E o seu poder efetivo. No entanto, não foi, para ele, o caráter “nobre” que venceu na história, mas sim a “moral dos ressentidos” e por isso a política é sobretudo plebéia, vil, rasteira, oportunista, sagaz e enganosa. Duro golpe sobre o ideal de igualdade: pode haver “igualdade” (“num certo sentido tosco”, não esqueçamos...) entre “iguais”, por aproximação em medida de forças e de valores, mas como unir os absolutamente distantes entre si? Como querer semear a fraternidade entre aqueles que têm apenas relações de interesse, de distância, de indiferença, de desdém ou mesmo de ódio? No vasto campo da multiplicidade, os iguais são, também, diversos. O projeto de construção de uma sociedade mais homogênea depara-se com os obstáculos mais concretos impostos pela astuciosa e obstinada ganância daqueles cuja política é política de inclusão, mas inclusão que domina e submete — pilhagem, em todo caso. Aprofundando a questão: o projeto “igualitário” da democracia é um golpe político, um horroroso bruxo travestido de linda moça, lobo disfarçado de ovelha, estupro sádico vestido de boa justiça. Observa-se que o poder político não é visto como resultado de um contrato pelo bem comum, como uma forma de gerir a boa convivência. Na seção 258 de Além do bem e do mal, Nietzsche assinala que a “fé fundamental” da aristocracia deve ser a de que a sociedade não deve existir a bem da sociedade, mas como alicerce a um modo de ser superior de seletos. Foi construída, no senso comum (e a disciplina ou a “ortopedia social”, de acordo com Foucault, operou diretamente, nesse âmbito — o da domesticação dos corpos e da constituição do sujeito obediente), uma imagem da política como algo magnânimo, como atividade administrativa ilustre, legítima e soberana, mas, segundo Foucault6, há muita vileza por trás do véu de 6 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto Cabral de Melo Machado; Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau; PUC-Rio, 1999. 20 20 grandiosidade que encobre as práticas políticas. Na seção 17 da segunda dissertação de Genealogia da moral, Nietzsche pensa o Estado, em sua fase de nascimento, como uma modalidade de violência mortificante e inexorável exercida sobre uma população ainda “sem normas e sem freios” para justamente submetê-la e forjá-la até obter uma forma relativamente estável. Assim, é “como uma terrível tirania, uma maquinaria esmagadora e implacável” que o Estado aparece — o Estado como imposição política. Nietzsche denomina de “sentimentalismo” o ponto de vista dos contratualistas, que — simplificando um pouco a questão — acreditam na origem da sociedade e do poder político soberano como um “acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo que assinalaria o fim do estado natural e o início do estado social e político”, na formulação de Nicola Matteucci7. No curso Em defesa da sociedade, Foucault opõe à teoria jurídico-política da soberania o discurso histórico-político sobre a sociedade. Segundo a análise de Foucault, a teoria jurídico-política encontra-se entre os filósofos do século XVIII e compreende o poder como um direito original resultante de um contrato que constituiria a soberania política; mas, na realidade, como Foucault denuncia, a soberania mascara o fato da dominação; a soberania serve exatamente para justificar o exercício da força de dominação e de exploração e a sujeição do indivíduo ao poder “soberano”. Já o discurso histórico-político é “um discurso sobre a guerra entendida como relação social permanente, como fundamento indelével de todas as relações e de todas as instituições de poder”8. É preciso, pois, observar que as relações políticas são, necessariamente, relações de poder e que a sociedade guarda, ora velados, ora abertos, conflitos múltiplos que são “resolvidos” ou pela obediência submissa ou pela força que submete. Toda política é estratégia de poder. Toda forma de violência que as políticas instituídas proíbem e criminalizam elas também praticam de algum modo. Aliás, a ação socialmente repreensível praticada abertamente dentro dos procedimentos judiciais e executivos é posta textualmente na seção 14 da segunda dissertação da Genealogia da moral: Nietzsche afirma que, em alguma medida, observando a própria prática judiciária, o criminoso fica impedido de entender sua violação como uma ação “repreensível em si”, já que vê ocorrer o mesmo tipo de atitude a serviço da justiça, “espionagem, fraude, uso de armadilhas, suborno, toda essa arte capciosa e trabalhosa dos policiais e acusadores” e ainda “roubo, violência, difamação, 7 MATTEUCCI, Nicola. Contratualismo. In: _____; BOBBIO, Norberto; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 1, p. 272. 8 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Edição estabelecida, no âmbito da Associação para o Centro Michel Foucault, sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana, por Mauro Bertani e Alessandro Fontana. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 56. 21 21 aprisionamento, assassínio, tortura, tudo próprio dos diversos tipos de castigo — ações de modo algum reprovadas e condenadas em si pelos juízes, mas apenas em certo aspecto e utilização práticas”. Portanto a administração política das sociedades e todo o aparato institucional que a auxilia são também formas de violência — implantadas para forçar a obediência e punir os desobedientes, e isso num grau muito primário de observação. A microfísica do poder daí resultante desenha um quadro muito complexo de manifestação, organização, reunião, enfrentamento e combate generalizado de forças. Por isso Foucault inverte o aforismo de Clausewitz (segundo quem a guerra é a continuação da política por outros meios) e verifica até que ponto a política é a guerra. O que se nota é que a política é basicamente conflito. Para Nietzsche, então, se há que se enfrentar inimigos, que se esteja pronto para isso, que o homem se fortaleça, que se prepare para o combate, que não se abstenha, portanto, da violência. Assim, Zaratustra, ao falar para os homens, valoriza a guerra e o guerreiro, e os encoraja à luta: Deveis amar a paz como meio para novas guerras. E mais a paz curta que a longa. A vós, não aconselho o trabalho, mas a luta. A vós, não aconselho a paz, mas a vitória. Que o vosso trabalho seja uma luta e a vossa paz, uma vitória! Só se pode ficar calado e tranqüilo quando se tem arco e flecha: do contrário, vive-se em ociosas conversas e desavenças. Que a nossa paz seja uma vitória! Dizeis que a boa causa santifica até a guerra? Eu vos digo: a boa guerra santifica qualquer causa. A guerra e a coragem realizaram grandes coisas, muito mais do que o amor ao próximo. Não a vossa compaixão, mas a vossa bravura salvou, até aqui, as vítimas de desgraças. “O que é bom?”, indagais. Ser valente é bom. Deixai às meninas dizer: “Bom é aquilo que é bonito e, ao mesmo tempo, comovedor”9. A luta, portanto, é que importa, e não a aceitação passiva dos valores instituídos, pois tais valores são, no fundo, resultantes de uma política mesquinha, embora travestida de bondade ou grandiosidade. A compaixão, na medida em que tranqüiliza e anula, não pode salvar ninguém; pelo contrário, ela é até humilhante, pois também é uma forma de sujeição e de dominação. A bravura, sim, é útil ao homem, segundo Nietzsche e seu Zaratustra, já que ela representa a defesa dos valores caros ao homem — que, necessariamente, na vida, deve ser guerreiro. Este delicado, perigoso e polêmico ponto, o da guerra — é necessário discuti-lo. No Prólogo de Humano, demasiado humano, Nietzsche observa: 9 NIETZSCHE, Friedrich. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. 8. ed. Tradução: Mário da Silva. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 63-64. 22 22 Já chamaram meus livros de uma escola da suspeita, mais ainda do desprezo, felizmente também da coragem, até mesmo da temeridade. De fato, eu mesmo não acredito que alguém, alguma vez, tenha olhado para o mundo com mais profunda suspeita, e não apenas como eventual advogado do diabo, mas também, falando teologicamente, como inimigo e acusador de Deus [...]. Realmente. Os livros de Nietzsche têm como objetivo atacar, a golpes de martelo, coisas e instituições que durante muito tempo foram vistas como dignas, piedosas, louváveis (e até hoje o são). Suas investidas atingem o cristianismo (e a religião em geral), o idealismo, a metafísica, mesmo a filosofia — para logo alcançarem, mais amplamente, a própria civilização. Empenhado em revelar o que se esconde por trás das máscaras chamadas “boas intenções”, Nietzsche desconfia da organização política das sociedades e dos valores que elas criam. Daí seu tom agressivo e sua meta: “a tresvaloração mesma dos valores existentes, a grande guerra — a conjuração do dia da decisão”10. As coisas boas apresentam-se como boas e devotas, mas na verdade elas mascaram relações de dominação e de exploração; na verdade elas funcionam como mecanismos políticos de coação. Segundo Nietzsche — prosseguindo com a proposta de revelação da verdadeira face dos valores estabelecidos como “bons” —, a “compreensão” só pode levar a ver o desagradável daquilo que é avaliado: “Pessoas que compreendem algo em toda a sua profundeza raramente lhe permanecem fiéis para sempre. Elas justamente levaram luz à profundeza: então há muita coisa ruim para ver” (seção 489 de Humano, demasiado humano). Por isso, Nietzsche prefere o animal homem ao homem civilizado, pois este não passa de uma “besta” domesticada: “O erro fez dos animais homens; a verdade seria capaz de tornar a fazer do homem um animal?” (seção 519 de Humano, demasiado humano)11. A ilusão humana não só criou o homem como também humanizou o mundo; Nietzsche, então, propõe o caminho inverso: “Minha tarefa: a desumanização da natureza e depois a naturalização do homem depois de ele ter adquirido o puro conceito de ‘natureza’”12. Há valores, interesses, mentiras, violências, ilusões e outros agravos ocultos sob a fantasia da civilidade que, por sinal, não está a salvo do risco de implodir: “Pertencemos a uma época cuja civilização corre o perigo de ser destruída pelos meios da civilização” (seção 520 de Humano, demasiado humano). Historicamente falando, Nietzsche 10 NIETZSCHE, Friedrich. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Tradução: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 95. 11 Do diário da personagem Heloísa Wiedecker, de O caso Morel: “Quem me dera ser uma mulher primitiva e me preocupar apenas com o sol e a chuva” (FONSECA, Rubem. O caso Morel. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 140). 12 NIETZSCHE, Friedrich. Sabedoria para depois de amanhã. Seleção dos fragmentos póstumos por Heinz Friedrich. Tradução: Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 111. 23 23 exclama, na segunda dissertação da Genealogia da moral (final da terceira seção): “Quanto sangue e quanto horror há no fundo de todas as ‘coisas boas’!...”. Leitor atento de Nietzsche, Foucault aponta as insídias do poder político e os seus métodos de dominação através da disciplina e de outros mecanismos de controle. Em diferentes textos, Foucault faz a comprovação histórica das relações de poder e da “ortopedia social”. Em Vigiar e punir, discute a legislação penal sob uma perspectiva histórica e demonstra como o controle e a violência do sistema carcerário estão muito além dos limites das prisões. A disciplina é um dispositivo bastante eficiente para moldar os indivíduos: O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por massa tudo o que lhe está submetido, separa, analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição até às singularidades necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis, inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais — pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios. A disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício13. Com Foucault, a crítica radical aponta a onipresença do poder, do controle, da prisão, da violência. Os saberes e as instituições ganham uma faceta perversa e calculista. Denuncia-se uma rede microfísica de atuação política que organiza as linguagens, que forja sensibilidades, inteligências e necessidades e não deixa de atuar em nenhum espaço, construindo, assim, o próprio indivíduo necessário à manutenção dessa ordem, submisso, dócil, adaptado. No último capítulo do livro, no final de Vigiar e punir, lê-se: as noções de instituição de repressão, de eliminação, de exclusão, de marginalização, não são adequadas para descrever, no próprio centro da cidade carcerária, a formação das atenuações insidiosas, das maldades pouco confessáveis, das pequenas espertezas, dos procedimentos calculados, das técnicas, das “ciências” enfim que permitem a fabricação do indivíduo disciplinar. Nessa humanidade central e centralizada, efeito e instrumento de complexas relações de poder, corpos e forças submetidos por múltiplos dispositivos de “encarceramento”, objetos para discursos que são eles mesmos elementos dessa estratégia, temos que ouvir o ronco surdo da batalha. 13 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20. ed. Tradução: Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 143. 24 24 Foucault abandona as idéias de “repressão”, “eliminação”, “exclusão”, “marginalização”. Para ele, já não há apenas edifícios carcerários, a própria cidade tornou-se uma prisão: as grades estão em toda parte e cercam o espaço aberto destinado ao adestramento dos indivíduos e à construção de sujeitos. Não há um mecanismo de marginalização. Ao contrário, tudo é absorvido, tudo é posto dentro (e não à margem) e tudo é processado (através das “pequenas espertezas”, das “atenuações insidiosas”, das “maldades pouco confessáveis”) de modo a favorecer a “disciplina”, a obediência, a sujeição produtiva — e a batalha emite seus tensos ruídos. Sob o olhar informado de todas essas maquinações políticas, textos como “A coleira do cão” e “A força humana” (ambos de A coleira do cão), “O Cobrador” e “Onze de maio” (ambos de O Cobrador), “Feliz ano novo” e “Botando pra quebrar” (ambos de Feliz ano novo) e “Ganhar o jogo” (Pequenas criaturas) — para citar apenas alguns — demonstram ter uma dimensão bem mais ampla que aquela própria da subliteratura que apenas explora, de maneira oportunista, o tema da violência. No pequeno ensaio “Na companhia das palavras: dormindo com o inimigo ou Rubem Fonseca e a literatura selvagem”, Aurélia Hübner14 chama a atenção para as mudanças que ocorrem, socialmente, na sensibilidade humana; “O hábito de escrever cartas e nelas registrar as agruras da vida, por exemplo, embora ainda exista, está na curva descendente desta ‘trajetória das coisas’”. Determinados modelos de sentimento acabam ficando anacrônicos em tempos de novíssima maneira de relação com o ambiente. Assim, Aurélia Hübner aborda “Corações solitários”, de Rubem Fonseca, comparando o conto com o intertexto Miss Corações Solitários, de Nathanael West e entende que o derramamento emocional meloso que West detecta antes Rubem Fonseca já não atesta. Se bem que a comoção açucarada não esteja extinta e até seja explorada de uma ou de outra maneira, na comunicação social de massa, e tematizada nas suas narrativas, em Rubem Fonseca a sensibilidade já é crua e combativa. Na sua prosa, a violência provém das ações daqueles que, em estado de alerta, estão no campo de batalha. E os desatentos podem sucumbir. Os personagens de Rubem Fonseca não se detêm no que “é bonito e, ao mesmo tempo, comovedor”; eles estão de prontidão ou em plena luta. Situar violência, política e sociedade na ficção de Rubem Fonseca, assim como as possibilidades de afirmação existencial de seus personagens (dos atores sociais, em todo caso) no mundo e na história é uma maneira de ler 14 HÜBNER, Aurélia. Na companhia das palavras: dormindo com o inimigo ou Rubem Fonseca e a literatura selvagem. In: SALGUEIRO, Wilberth Claython Ferreira (org.). Vale a escrita?: poéticas, cenas e tramas da literatura. Vitória: Programa de Pós-Graduação em Letras; Centro de Ciências Humanas e Naturais; UFES, 2001, p. 92-99. Os grifos são da autora. 25 25 com cuidado os sentidos da disrupção social que emanam de seus escritos vermelhos. De nada adianta ter uma reação indignada (como é o caso de alguns leitores) contra uma literatura “violenta” e por isso polêmica: o que suas narrativas propõem é que sejam pensados os tão difíceis problemas que ali — e aqui — explodem. Enquanto Aurélia Hübner, para opor sensibilidades anacrônicas e sensibilidades ascendentes, analisa um conto de Feliz ano novo, portanto de 1975, e escreve seu ensaio em 2001, ainda hoje (2008), existem leitores que se melindram com a literatura fonsequiana. Muitas vezes é questão de gosto; mas em outros casos é uma sensibilidade delicada, com resquícios da recepção romântico-folhetinhesca que causa a repulsa ao texto cru. A fobia resultante de uma emoção humanista, de orientação utópica, pode causar, com o fechar dos olhos ou o virar do rosto, também uma espécie de cegueira. O que importa é considerar: primeiro, que os livros de Rubem Fonseca já atravessam décadas (desde 1963); segundo, que se inscrevem na linha da chamada literatura maldita; portanto, enfim, requerem, em certa medida, distanciamento e cautela, mais especificamente coragem diante do horror. Então, o texto agressivo de Rubem Fonseca e a violência das cenas que o compõem desenham dramas — os dramas de nosso mundo, nos quais podemos ler, como resultado dos processos de construção de subjetividades, a história de um sujeito quase sem nenhuma chance de paz, de bem-estar, de dignidade, sempre em pé de guerra com os mais variados inimigos, uma mera peça de um “jogo de cartas marcadas”, em que ele próprio, sujeito produtivo e adestrado, age segundo os sórdidos objetivos de seus opositores. Entretanto, há uma força nos personagens de Rubem Fonseca, que são guerreiros em luta; podemos ver a afirmação vigorosa de tal força como um potente sentido, que pulsa, na literatura e na vida. É preciso perguntar se, na vida, cada um pode ou não buscar, de alguma maneira, propor sentidos aceitáveis, na medida do possível, belos sentidos, para a temporada neste inferno. Toda vida é mesquinha a ponto de constituir-se somente como mero resultado de relações de poder? Se a subjetividade é programada, se o sujeito é efeito das relações de poder, até que ponto o ser humano pode constituir, por meio de seus pensamentos, de sua linguagem, de suas ações, uma vida plausível, uma vida que apesar de todas as adversidades possa ser entendida como algo viável? Ou, como expõe Adimanto, em A República (livro II): “o que se deve ser e que caminho se deve seguir para atravessar a vida da melhor maneira possível?”. Se a vida de cada um é apenas uma vida de lobo, trata-se, entretanto, da única vida, aquela pela qual o vivente deve lutar. Aquela de que ele fará sempre algo. Há uma tentativa político-administrativa de fazer o sujeito 26 26 seguir o fluxo do rebanho, obedecer sempre, dizer amém para os poderes que o submetem e abençoar até mesmo a repressão (no processo de formação de mentalidades, muitos são imbecilizados pela educação de massa15). Propor leituras, transgredir, assumir seus valores, enfrentar a luta de cada dia é outra postura dentro do campo microfísico das relações de poder. Apesar de ser mesmo “construído” para adaptar-se, há no corpo vivo uma força que o move e pode fazer de seus gestos atos de poder contestador (as relações de poder não ocorrem apenas de cima para baixo). O Prometeu de Ésquilo é um exemplo de poder desestabilizador, que mina as determinações instituídas. Sob o acalanto musical da dimensão mítica, podemos fazer também uma leitura mais chã, afinal os deuses gregos também se divertem, odeiam, invejam e têm caprichos. Discordando da política de Zeus, Prometeu ousa roubar o fogo divino e entregá-lo aos homens, porque acha que eles são injustiçados; se é castigado por seu crime, pouco importa, Prometeu não tem nenhuma parcela de arrependimento para oferecer aos deuses e encara com resolução a dor e o sofrimento de sua pena. É bastante perigoso (para a ordem pública), mas podemos ler “Feliz ano novo” como uma contestação da ordem social. Há uma distância enorme entre a postura “engajada” de Prometeu e a violência cruel e até irresponsável dos bandidos de “Feliz ano novo”, mas não é vã a aproximação. O grupo de grã-finos, cuja riqueza provém da usurpação legitimada, todos eles imersos no consumo imediato e nos privilégios de classe, recebe, no assalto que sofre, toda a carga do ódio daqueles desclassificados que também querem consumir, mas só têm direito à privação. Para a consideração dos poderes em conflito, do drama universal que se inscreve historicamente, podemos dedicar o mesmo olhar que dedicamos à arte. De acordo com Nietzsche, “a existência do mundo só se justifica como fenômeno estético”16. Estando mergulhados em relações políticas e econômicas que os submetem e os subtraem, um desânimo quase paralisante acomete alguns personagens de Rubem Fonseca; isto pode ser observado, para citar apenas alguns casos, em “O agente” (Os prisioneiros), “A força humana” (A coleira do cão), A grande arte, Vastas emoções e pensamentos imperfeitos e Agosto. Porém a desistência 15 Em O caso Morel (1973), há uma passagem sobre a relação entre publicidade e imbecilização do público. Paul Morel, o protagonista, é contratado para um trabalho fotográfico de propaganda e considera: “Queriam fazer uma daquelas fotos comuns de mulher com cerveja, na linha dos prazeres da vida, praia, mar, sol. Eu disse que era coisa velha, mas o contato, chamado Alípio, achava que o público esquecia as coisas, que todo mundo era imbecil” (FONSECA, Rubem. O caso Morel. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 140). Ainda hoje os comerciais utilizam os mesmos recursos, “na linha dos prazeres da vida”, e o consumo é o supra-sumo da existência humana. 16 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. Tradução: J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 18. 27 27 dos personagens de Rubem Fonseca não se configura como derrota absoluta. Do âmago das vicissitudes que atravessam, eles conseguem ainda extrair alguma força — e novo ânimo os sustenta e lança adiante. Seus gestos se inscrevem no mundo, traduzindo a atuação dos riscos históricos sobre eles e também escrevendo no corpo da própria história suas vidas pessoais. A vida que se escreve e se inscreve é também um texto a ser lido17. A violência está nele, cintilando em seus sentidos. Na ficção de Rubem Fonseca, a violência não constitui simplesmente uma força ativa ou reativa, localizada e dicotômica; não é apenas um efeito da degradação social, dentro da qual a miséria produziria o crime; não se trata somente do produto de relações de forças binárias (dominantes X dominados, ricos X pobres); ela mostra uma face ainda mais inquietante, pois revela relações de força e oposições de interesses que ocorrem em um contexto extremamente complexo, em que podem ser apontadas a coação social e as manobras mais subliminares (ou mais ostensivas) da luta pelo poder como elementos constitutivos de um conflito generalizado, mais ou menos eficazmente mascarado, que constitui, numa perspectiva mais cruamente realista, a “guerra de todos contra todos”. A violência (tal como as relações de poder em Foucault) é múltipla, complexa e abrangente. Assim, é a violência como efeito das relações de poder que pode ser verificada nas histórias de Rubem Fonseca. Os contos “Feliz ano novo” e “O Cobrador” são, pois, dois textos emblemáticos de uma violência explícita e brutal, mas as relações de força aparecem de diversas maneiras ao longo de sua obra. Em “Cidade de Deus” (Histórias de amor), o traficante Zinho manda matar um menino de sete anos, somente porque sua mulher, para se vingar da mãe da criança, pede que ele o faça. Em “Coincidências” (Secreções, excreções e desatinos), Chico, um homem envolvido com negócios escusos, assassina uma mulher que o seduz, movido unicamente pela suspeita (não pela certeza) de que ela pode representar perigo contra ele. Um policial, embora sua experiência seja filtrada pela percepção e pela opinião de outrem, avalia o assassinato de uma maneira que tem que ser considerada: “Ele via homicídios quase que diariamente, cometidos por pessoas de todos os tipos, pobres e ricos, fortes e fracos, analfabetos e doutores”, julga o narrador-personagem Gustavo Flávio, “e acreditava que o homem sempre fora e continuava sendo um animal violento, matador, por prazer, do seu semelhante e de outras criaturas vivas” (primeira parte de Bufo & Spallanzani); vale contrapor tal 17 “A vida escrita é a vida que se escreve, mesmo que não se saiba” (BRANDÃO, Ruth Silviano. A vida escrita. Destarte. Vitória, vol. 1, n. 2, 2. sem. 2002, p. 217). 28 28 consideração à criminalização fácil, e no mais das vezes estratégica, das camadas mais baixas da população, de resto muito praticada, usada sem nenhum embaraço nos meios de comunicação de massa. No conto “A natureza, em oposição à graça” (também de Secreções, excreções e desatinos), em que se lê a certa altura a sentença “sangue é para ser derramado”, Ricardo elimina seu rival, Sérgio, primeiro para superar uma vergonhosa covardia que o humilha, depois para beber seu sangue e assim adquirir mais coragem para “reagir às provocações do outro”, segundo acredita que ocorrerá. No contexto geral dos livros de Rubem Fonseca, já não se trata da reação contra uma força anterior, mas sim da indicação de que a violência é geral e de que talvez a vida seja a arte da guerra. De fato, no curso Em defesa da sociedade (aula de 7 de janeiro de 1976, p. 22), partindo das análises de Carl von Clawsevitz — que sustenta que “a guerra não é somente um ato político, mas um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações políticas, uma realização destas por outros meios”18 —, Foucault propõe a inversão do aforismo “a guerra é uma simples continuação da política por outros meios” e obtém a sentença “a política é a continuação da guerra por outros meios”, para chegar à conclusão — evidente já na fórmula invertida — de que as relações políticas são relações de guerra. Foucault discute, pois, a guerra como fator de análise das relações de poder: [...] se o poder é mesmo, em si, emprego e manifestação de uma relação de força, em vez de analisá-lo em termos de cessão, contrato, alienação, em vez mesmo de analisá-lo em termos funcionais de recondução das relações de produção, não se deve analisá-lo antes e acima de tudo em termos de combate, de enfrentamento ou de guerra? A guerra, então — não apenas a guerra como metáfora, mas a guerra em sua manifestação em termos de conflito, combate, luta, destruição, morticínio —, seria a medida das relações políticas, não só no nível dos Estados, mas no interior mesmo de toda sociedade. Inerente à pseudotranqüilidade das sociedades “pacificadas”, haveria uma guerra surda, uma infinitude de pequenas e grandes batalhas constantes e devastadoras que, enfim, estariam sempre ocultas sob o manto protetor da paz encenada pelas medidas políticas “conciliadoras”. “Só rindo. Esses caras são engraçados”, diz o Cobrador. Quando comete um duplo assassinato (ou triplo, se a mulher estiver realmente grávida, como argumenta o homem que a acompanha), compõe uma cena a partir da qual podemos pensar a comédia negra da vida 18 CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. Tradução: Maria Teresa Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 27. 29 29 civilizada. O cobrador aguarda a saída de um casal que veio a uma festa de luxo na Vieira Souto, no Rio de Janeiro. Tem um facão oculto por baixo da calça, amarrado à perna, que dificulta os seus movimentos e faz que pareça deficiente (“Pareço um aleijado, me sinto um aleijado”). Quando os dois voltam, obriga-os a entrar no carro em que o próprio casal havia chegado. O terrível passageiro manda o motorista seguir para a Barra da Tijuca — Tirava o facão de dentro da perna quando ele disse, leva o dinheiro e o carro e deixa a gente aqui. Estávamos na frente do Hotel Nacional. Só rindo. Ele já estava sóbrio e queria tomar um último uisquinho enquanto dava queixa à polícia pelo telefone. Ah, certas pessoas pensam que a vida é uma festa. Seguimos pelo Recreio dos Bandeirantes até chegar a uma praia deserta. Saltamos. Deixei acesos os faróis. Nós não lhe fizemos nada, ele disse. Não fizeram? Só rindo. Senti o ódio inundando os meus ouvidos, minhas mãos, minha boca, meu corpo todo, um gosto de vinagre e lágrima. Ela está grávida, ele disse apontando a mulher, vai ser o nosso primeiro filho. — Chega. Deixemos a discussão detalhada para um momento mais oportuno, a leitura atenta do conto “O Cobrador”. Por ora, em clima de suspense, fiquemos com a fórmula “Só rindo”, daquele poeta que cobra (sim, o Cobrador é um poeta), na verdade uma expressão nada divertida. Prestemos também atenção à ironia com sabor de “vinagre e lágrima” — “Ah, certas pessoas pensam que a vida é uma festa” — e ainda ao “inocente” argumento “Nós não lhe fizemos nada”. Como a pilhagem é oficial há milênios, há quem não perceba, sinceramente, as ofensas formais, as humilhações públicas, as violências político-econômicas, a dominação “liberal”, a exploração solene. Lemos em “O Cobrador” a tragicomédia da vida em sociedade, com sua guerra em surdina que alerta uns, mata outros, assombra tantos. “O Cobrador” e “Feliz ano novo” são dois “manifestos” da poética fonsequiana. Não por acaso essas duas histórias dão título aos livros que integram. Voltaremos, depois, a “O Cobrador”, assim como a “Feliz ano novo”, em que após cometerem roubos, estupros e assassinatos, com requintes de frieza cruel, os bandidos celebram sua vitória e o narrador coroa o “sucesso”: “Quando o Pereba chegou, eu enchi os copos e disse, que o próximo ano seja melhor. Feliz ano novo”. Política, história e guerra estão aqui, plenamente, no contexto vermelho e preto da violência social. São três eixos de orientação para abordagem de uma situação de guerra social e política, historicamente posta. A vida não é uma festa, grunhe o Cobrador. Ou é uma festa em que os ânimos se acirram e o tumulto irrompe. Uma festa hierárquica, às vezes muito controlada, na qual frustrações e animosidades não têm muita anuência a oferecer não. Uma festa carnavalesca 30 30 com a configuração de uma briga de torcidas, por exemplo, ou de algo ainda menos definido, mais diluído. Ou quem sabe algo puntiforme, como uma briga aqui, um assalto ali, um assassinato lá, uma organização criminal estabelecida em outra seção. Quem pode nos mostrar o mapa dos assassinatos diários que ocorrem no país? E quem pode pôr às claras não a dominação política oficial, estabelecida (e quase aceita), mas a corrupção política no Brasil em seus meandros e alcances, que festeja, agora com mais segurança (em todos os graus), alegria e luxo, enquanto o fogo incendeia alhures? Mas não é só alhures que as chamas ardem. Assim, nas sociedades, especialmente a brasileira — sobremaneira presente nos textos de Rubem Fonseca —, marcada por uma violência gritante e assustadora, haveria uma guerra, surda e sangrenta, a ser verificada, lida de perto, uma guerra tal como a personagem Liliana indica ao cineasta de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos: “Faz um filme sobre a guerra que está acontecendo aqui, no teu país, agora. Esta nossa guerra hobbesiana de todos contra todos...” (parte I, capítulo 4, p. 30). Trata-se de uma guerra que dia a dia deixa suas marcas de sangue — e que, naturalmente, não está somente aqui, uma vez que se espalha pela terra e pelo tempo. 31 31 Capítulo 2: O verdadeiro fulgor das sumidades: o devido lugar da política Vamos nos dirigir até a estante. Tomemos alguns livros de Rubem Fonseca: Os prisioneiros (1963), A coleira do cão (1965), Lúcia McCartney (1967), O caso Morel (1973), A grande arte (1983), Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988), Agosto (1990), O selvagem da ópera (1994), O buraco na parede (1995), Histórias de amor (1997), O doente Molière (2000) e Mandrake (2005). Folheemos esses exemplares, que incluem todas as décadas de publicação do autor, até agora. Todos os livros que retiramos dos nichos em que se encontravam nos remetem à questão política, ou melhor, ao “duro semblante da política”, de acordo com as palavras de Maurizio Viroli19 — duro ou dramaticamente simpático, inteligente e preocupado, de acordo com a ocasião. Nesses livros, lemos referências a práticas administrativas, à “coisa pública”, à relação do poder político com o povo, à conflituosa convivência dos cidadãos entre si, ao jogo de interesses que pulula nos bastidores, à fome comezinha dos candidatos a cargos ou das autoridades instituídas. Dentro do assunto em pauta, O caso Morel oferece ao leitor pelo menos duas situações políticas, de dois contextos históricos distintos. Remete à prática judiciária da Grécia clássica e sua ação se passa durante o regime militar brasileiro. A certa altura do romance, um personagem reclama da censura do regime ditatorial e em seguida compara sua situação com a de Protágoras, que teve seus livros queimados e foi banido, e com a de Sócrates, condenado à morte por envenenar as ruas de Atenas com sua filosofia, seus diálogos e sua ironia. Mandrake, Os prisioneiros, A coleira do cão e O buraco na parede têm em comum, como um dos assuntos internos, o envolvimento de uma pessoa simples com um nobre, o que representa, na perspectiva aristocrática, uma desobediência à hierarquia dos círculos sociais, que estabelece a posição e o valor de indivíduos e classes dentro do grupo. Em Mandrake, é o famoso advogado criminalista, personagem que reaparece em várias histórias de Rubem Fonseca, que se envolve com uma condessa (Sforza); a condessa Sforza é, segundo as informações que correm, descendente da família Sforza do tempo do papa Alexandre VI. Nos outros livros, um personagem, que surge muitas vezes anônimo, mas é identificado em alguns outros contos como José, entra na convivência de outra condessa (Bernstroff). Este personagem, curiosamente, 19 VIROLI, Maurizio. O sorriso de Nicolau: história de Maquiavel. São Paulo: Estação Liberdade, 2002, p. 47. 32 32 conhece o advogado Mandrake, pois o auxilia numa operação em “O caso de F.A.”, de Lúcia McCartney, nesse caso nomeado como José. Em Histórias de amor, está novamente o personagem José, agora, porém, anônimo, encarregado de uma missão criminal, que cumpre às avessas: é contratado para matar uma mulher e assassina os seus contratantes20. O doente Molière traz as intrigas da corte francesa do século XVII, a vida e a arte em meio à organização política e econômica, a polícia e a justiça do reino em operações que atingem os personagens e compõem a ação do romance. O selvagem da ópera, sobre a vida de Carlos Gomes (1836-1896), mergulha no século XIX brasileiro e nos proporciona pensar sobre a queda da Monarquia e o advento da República, um momento de transformação política muito importante da história do Brasil. No romance A grande arte, a partir de estudos desenvolvidos por personagens (investigações sobre famílias), o narrador menciona vários episódios importantes da história política do Brasil, como a guerra do Paraguai, a abolição da escravatura, o fim da monarquia, a proclamação da República e o desempenho diplomático de José Maria da Silva Paranhos Junior, o barão do Rio Branco. Agosto, narrativa que contém fatos históricos e fictícios em torno da morte de Getúlio Vargas em 1954, apresenta inúmeros diagnósticos da política de então, que constituem, na realidade, características políticas de qualquer época. No capítulo 2, interrogado por Rosalvo se é lacerdista ou getulista, o comissário Alberto Mattos responde: “Tenho que ser uma dessas duas merdas?”. O romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, já que tem como uma de suas linhas de força a vida e a obra do escritor soviético Isaac Babel (1894-1940), não deixa de pontuar elementos sobre a revolução de 1917, sobre a política pós-revolucionária e sobre a atualidade da URSS na década de 1980. Lúcia McCartney, no conto “O quarto selo (fragmento)”, oferece-nos um caso de terrorismo contra autoridades de alto escalão. Além de uma organização institucional extremamente complexa e cheia de segredos de segurança, vemos, em um tempo futuro de um 20 O personagem em questão protagoniza vários contos de Rubem Fonseca, às vezes anônimo (e isso é importante), às vezes com o nome José (e isso também é significativo). Em A confraria dos bibliófilos (FERREIRA FILHO, Benjamin Rodrigues. A confraria dos bibliófilos: leitores e livros na ficção de Rubem Fonseca. Dissertação de Mestrado. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 1999, p. 141-179), há um pequeno estudo, básico e preliminar, sobre as aventuras desse anti-herói: “José: descaminhos da leitura”. 33 33 Brasil reconhecível, os procedimentos oficiais, de um lado, e os terroristas, de outro — porém há intersecções entre ambos, e também equivalências. Em nossa consideração de O caso Morel, podemos dividir o romance em três planos: a) plano da cadeia na qual está preso Paul Morel, nome artístico de Paulo Morais, onde ele recebe Fernando Vilela, ex-policial e atualmente escritor; b) plano dos acontecimentos narrados nos escritos autobiográficos de Paul Morel, em que ele faz algumas adaptações, troca os nomes das pessoas, mas não deixa de expor sua própria saga artística, social e erótica; c) plano da realidade do romance, no qual efetivamente ocorrem os fatos que são narrados e adaptados por Morel em seu livro. O plano da cadeia está inserido no plano da realidade, mas, além de estar separado do plano de vida narrado no livro de Morel, pois há uma linha divisória entre a vida anterior e a vida na cadeia, tem uma certa especificidade, que nos permite considerá-lo à parte: o ambiente carcerário, como a engenharia exata de um inferno particular — há outros, evidentemente, pois nós, seres humanos, somos mestres em criar infernos. A humilhação que atinge os que passam pelas cruéis malhas da polícia e da lei; a marca da justiça sobre os infelizes que “deterioram” a vida social e por isso devem ser vigiados — e punidos; o receio dos cidadãos comuns quanto àquele espaço sombrio e degradante: são alguns elementos que pintam com cores bastante desagradáveis a arquitetura de qualquer prisão, por si só já bastante sinistra. Embora o narrador do romance O caso Morel não carregue, na sua linguagem sintética, estas cores assombrosas do espaço prisional, sabemos que Paul Morel (ou Paulo Morais) está em uma penitenciária. No plano da cadeia, Morel escreve sua biografia e quer consultar um escritor; ajudado pelo policial Matos, consegue uma entrevista com Vilela, que topa auxiliá-lo no empreendimento, isto é, admite ler e comentar os escritos de Morel, o que o leva a fazer seguidas visitas ao prisioneiro. Morel está preso por ter sido acusado de matar Heloísa Wiedecker, no seu livro referida como Joana. No caso, o suposto assassinato, conseqüência de uma relação amorosa que apresenta requintes de sadomasoquismo, é involuntário e remete à seguinte questão: há culpa por parte do agente, quando a morte pela qual é responsabilizado é produzida pelos efeitos da própria perversidade da vítima? Ou, formulando de outra maneira, os critérios morais ou judiciais têm que alcance junto às práticas íntimas e privadas? No caso de Paul e Heloísa, suas ações constituem um drama sexual que, por um lado, revela idiossincrasias assustadoras para a moralidade pública, porém, por outro lado, como nasce no pleno vazio do abismo dos desejos e 34 34 das exigências eróticas amorais dos amantes, requer, mesmo, as violências que o alimentam como drama. No diário de Heloísa, podemos ver o seu desprezo pelo casamento: O casamento institucionaliza a ideologia burguesa da segurança, corrompe a vida emocional das pessoas. Não conheço um casal feliz, um sequer. Conheço os hipócritas, construtores de fachadas-do-que-fica-bem, infelizes que à noite se deitam juntos como velhos companheiros de uma miserável hospedaria, ignorando, ou indiferentes, aos tormentos que afligem o parceiro (O caso Morel, capítulo 19, p. 140). Uma tal consideração do matrimônio, por mais real que se mostre, ainda incomoda muito as pessoas comuns, inocentes cumpridoras dos deveres da hipocrisia social. A mesma perspectiva crítica Friedrich Engels propõe em seu livro A origem da família, da propriedade privada e do Estado, pois, para ele, “os casamentos, antes como agora, permanecem casamentos de conveniência”21 e não são frutos do amor sexual; estão, sim, ligados a condições econômicas — não naturais —, a preocupações materiais e à busca de garantia da propriedade privada. Além do desprezo pela sexualidade oficial, institucional e pré-direcionada do matrimônio, o diário de Heloísa contém várias indicações de sua necessidade de receber agressões, já que fica excitada e precisa disso para incrementar suas realizações amorosas: “Gosto de ser degradada por ele, sentir que Paul me possui, me pune, me sacrifica” (capítulo 14, p. 104). Já Paul Morel revela: “Sim... bater nela foi virando uma liturgia, uma cerimônia eucarística, a crucificação, recriada com as suas bênçãos...” (capítulo 18, p. 134). No efetivo desenrolar das circunstâncias que levam à sua morte (capítulo 14), Heloísa acusa Paul Morel de ter perdido “a sensibilidade e a inquietação”, de estar “poluído e diminuindo” devido à acomodação a um cotidiano para ela tedioso, apesar de nada convencional, que oferece a Paul mulheres, no plural, e um filho postiço; em seguida, Heloísa exige ser espancada: “me fode como antigamente”; “Põe o demônio no meu corpo”; “Você não quer colocar o demônio no meu corpo?”; “Agora, preguiçoso, egoísta. Arranja um pedaço de pau desses aí e bate em mim até o demônio entrar no meu corpo”. Depois, são as conseqüências: “Dei um pontapé em Joana. Ela riu”... “Joana parou de rir”... “Deitei ao lado dela”... “Senti o rosto dela úmido de sangue”... “Viu o que você me fez fazer?”... “Joana não respondeu”. Os problemas da paixão humana estão em jogo, pulsando, no desfecho trágico da prática sexual de Heloísa Wiedecker, de que Paul Morel participa diretamente. 21 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15. ed. Tradução: Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 70. 35 35 Entretanto, o que mais interessa, neste momento de nossa leitura, é que há uma referência à prática de censura em O caso Morel (1973). Tal como ocorrerá, mais tarde, em 1976, com o próprio Rubem Fonseca, que terá Feliz ano novo proibido, em O caso Morel uma publicação de um personagem sofre interdição. O despacho do censor de Rubem Fonseca especifica que fica vetada a publicação e a circulação do livro e que todos os exemplares que estão à venda devem ser recolhidos. Em O caso Morel, Vilela procura o editor que convenceu Paul Morel a ilustrar o livro Vênus R. B. e conversa com ele. Fica, então, sabendo que o livro realmente foi publicado, mas acabou sendo apreendido, por ter como tema a sexualidade explícita e também por conter ilustrações audaciosas para a época (a sexualidade, aliás, é tabu para qualquer época, dependendo do tom e do teor do discurso). Lemos no capítulo 19 de O caso Morel: “Um livro debochado, depravado, escabroso, pernicioso e subversivo, disse o censor”. É no plano do livro autobiográfico de Morel que vemos Magalhães, o editor, tentando contratar o artista para ilustrar Vênus R. B.: “Paul”, disse Magalhães, dramaticamente, “eu dou toda a liberdade para você fazer o que quiser. O mundo só pensa em sexo, tudo é sexo, regime para emagrecer, cirurgia plástica, cosméticos, moda, cultura, religião, política, poder, ciência, arte, comunicação, está tudo a serviço do sexo!” (O caso Morel, capítulo 8, p. 62). Sublinhemos, em nosso método, que as passagens relativas à contratação de Morel e suas primeiras atividades dedicadas a Vênus R. B. (plano do livro de Morel) pertencem ao capítulo 8 do romance; e as passagens relativas ao encontro de Vilela com o editor (plano da realidade) encontram-se no capítulo 19. Depois de persuadido, Morel logo começa a trabalhar nas ilustrações. Vejamos algumas indicações de seus desenhos: “Fiz ainda: ânus, mares de sêmen, seios. O mundo não queria sexo? Um dos ânus era o globo terrestre. Isso era misturado com cruzes, cifrões, triângulos e outros símbolos” (capítulo 8, p. 62). Não podemos perder de vista que a ação do romance O caso Morel coincide com o tempo histórico de sua publicação, 1973. Paul Morel é preso em 1972, como podemos ver a partir da leitura do “Laudo de exame de local de homicídio” e do “Auto de exame cadavérico”, que Matos fornece a Vilela. O tempo da ação, portanto, é o tempo histórico da ditadura militar no Brasil. No plano da realidade, quando Vilela procura o editor, agora identificado como Gomes, e pergunta pelo livro ilustrado por Morel, a resposta de Gomes é muito importante para a nossa leitura: “Vênus R. B.? Foi apreendido pela censura”, diz; e compara: “sou uma vítima das forças da repressão, como Protágoras, que fugiu 36 36 da Atenas de Péricles para não ser preso, mas mesmo assim teve seus livros queimados; como Sócrates, que foi morto porque queria liberdade para discutir suas idéias” (capítulo 19, p. 141). Voltemos à morte de Heloísa e ao tempo histórico em que ocorre, tentemos entender melhor a trama que nos detém. Heloísa é uma mulher masoquista e morre em conseqüência dos espancamentos de Morel, os quais ela mesma quer, solicita, exige; a morte de Heloísa Wiedecker (que no plano do livro de Morel recebe o nome de Joana) ocorre em setembro de 1972. Quando Vilela conversa com o editor e este reclama ser vítima da repressão política, sabemos, destarte, que se trata da repressão da ditadura militar; o discurso do editor Gomes, todavia, é ensaiado, como ele mesmo reconhece, e as referências a Protágoras e Sócrates são, na verdade, recursos da mais deslavada retórica, como podemos ver logo na seqüência de sua fala: “‘Eu sabia isso tudo de cor, uma longa e fundamentada argumentação, cheia de nomes e fatos, mas só me lembro desses dois’. Sorriso cínico”. Não importa, para Gomes, a famosa afirmação de Protágoras, de que “O homem é a medida de todas as coisas”, nem o pensamento profuso de Sócrates que engendra tantas questões. Não estão em questão, para o personagem de O caso Morel, as conseqüências assustadoras do relativismo de Protágoras, ameaça que será exorcizada (tal como o demônio de Sócrates), nem seu distanciamento ou sua aproximação da filosofia socrática, oralidade perigosa que será silenciada. Tudo indica que o discurso artificialmente ilustrado com personagens famosas seria usado em um processo de defesa da circulação do livro. No entanto, o mais relevante de tudo, em nossa leitura de O caso Morel, é o tema da censura, ou melhor, o mecanismo político de avaliar, controlar, proibir e mesmo punir a exposição e a circulação de idéias, de modo que aqueles que têm a petulância de exprimir determinadas coisas, ou de escrevêlas, podem ter que fugir; ou podem ser exilados e ter seus livros queimados, como é o caso de Protágoras; ou podem mesmo ser condenados à morte, como é o caso de Sócrates (que não escreveu livro nenhum), na Grécia clássica. O livro Mandrake, lançado em 2005, contém duas estórias: “Mandrake e a Bíblia da Mogúncia” e “Mandrake e a bengala Swayne”. Na segunda estória, Mandrake, um advogado criminalista, que é personagem de várias narrativas de Rubem Fonseca, como se sabe, está envolvido, profissionalmente, com os seguintes casos: a) atropelamento seguido de morte de um homem por uma lancha da condessa Caterina Sforza; b) acusação de estupro movida por Jéssica Pires Chaves contra o doutor Carlos Medeiros; c) assassinato de Enrico Schipa, no qual a condessa Caterina Sforza está diretamente implicada; d) assassinato de Helder Frota, no qual foi 37 37 usada a bengala Swayne, pertencente a Mandrake, e por isso o advogado é suspeito. Jéssica Pires Chaves, que quer e consegue extorquir dinheiro do doutor Medeiros, ainda tenta contratar Mandrake e seu sócio Weksler22, já que, depois de ter recebido um milhão como resultado de seu bem arquitetado plano de sedução e acusação de estupro, mata o amante Osmar de Freitas que — sendo um consumista imbecil, como observa Weksler — quer usar irresponsavelmente o dinheiro conseguido no golpe; mas Weksler e Mandrake dispensam o caso, porque não vêem em Jéssica uma cliente confiável. Em “Mandrake e a bengala Swayne”, podemos analisar a relação de uma pessoa comum, no caso, Mandrake, o qual, no entanto, é um advogado que mantém comunicação com todas as classes sociais, e uma condessa, Caterina Sforza, cuja genealogia remete aos tempos de Nicolau Maquiavel: A condessa Caterina Sforza era uma italiana de cerca de sessenta anos, educada desde pequena num desses colégios suíços de filhas de milionários. Descendia de uma filha bastarda do duque Galeazzo Maria Sforza, também chamada Caterina, uma mulher audaciosa que participou da conspiração para matar o papa Alexandre VI, tendo sido presa e trancafiada no castelo Sant’Angelo. Isso aconteceu no século XV. A condessa tinha um anel com a insegna araldica dos Sforza (Mandrake, p. 122). Em Os prisioneiros, o personagem anônimo de “Fevereiro ou março” também se envolve com uma condessa e participa da sua paranóia contra o conde, que ela acredita ameaçá-la terrivelmente: “Um miserável como eu não podia conhecer uma condessa, mesmo que ela fosse falsa; mas essa era verdadeira; e o conde era verdadeiro, tão verdadeiro quanto o Bach que ele ouvia enquanto tramava, por amor aos esquemas e ao dinheiro, o seu crime”. O mesmo personagem, anônimo, novamente, no conto “A força humana”, do livro A coleira do cão, no meio de uma discussão sentimental, faz alarde de sua convivência com os nobres: “Não tenho amigos, podia ter, até príncipe, se quisesse”. “O quê?”, disse ela dando uma gargalhada, surpresa. “Não sou nenhum vagabundo, conheço príncipe, conde, fique sabendo”. Ela riu: “Príncipe?!, príncipe! no Brasil não tem príncipe, só tem príncipe na Inglaterra, você está pensando que sou boba”. Eu disse: “Você é burra, ignorante; e não tem príncipe na Itália? Esse príncipe era italiano”. “E você já foi na Itália?”. Eu devia ter dito que já tinha comido uma condessa, que tinha andado com um príncipe italiano e, bolas, quando você anda com uma dona com quem um outro cara também andou, isso não é uma forma de conhecer ele? Mas Leninha também não ia acreditar nessa história da condessa, 22 O nome do sócio do doutor Mandrake aparece com grafias diferentes em “Mandrake” (conto de O cobrador), A grande arte (nestes dois casos, “Wexler”) e Mandrake (agora, “Weksler”). Apesar de parecer um problema evidente de revisão, aqui as grafias serão mantidas conforme os textos das edições usadas. 38 38 que acabou tendo um fim triste como todas as histórias verdadeiras: mas isso não conta para ninguém. Em “Fevereiro ou março”, as cismas da condessa Bernstroff contra as supostas tramas do conde, as coisas que diz acontecerem e a própria nobreza dela não ficam acima de qualquer suspeita. A possibilidade de ela não ser uma verdadeira condessa não só existe como sinaliza a abertura do conto, nos termos de Umberto Eco: fica a prenhe lacuna do texto para o exercício da interpretação — e também da superinterpretação, por que não? — do leitor, a valiosa contribuição de sua leitura. No conto “A carne e os ossos” (O buraco na parede), no qual o personagem reaparece, a suspeita é explicitamente posta: “Quando era jovem conheci uma mulher que me disse ser uma condessa verdadeira, mas acho que era mentira”. Em “A força humana”, o personagem usa o fato de ter conhecido, segundo ele, um conde, uma condessa e um príncipe para valorizar mais sua própria imagem, pois está deprimido e muito concentrado em sua pequenez dentro do mundo e das relações sociais; melancólico e destrutivo, o personagem de Rubem Fonseca inclusive mina suas amizades. Para a leitura de sua tristeza, para a leitura de sua renúncia, cabe até a famosa frase de Blaise Pascal: “O silêncio eterno desses espaços infinitos me apavora”23; com um pouco mais de oferenda dos tantos rebentos que brotam das concepções alucinadas de sua leitura, o leitor pode acionar o sol de “O anjo da guarda” (Histórias de amor) — “A mulher tinha um chapéu na cabeça para protegê-la do sol” — e assim a dimensão cósmica de Pascal não fica ausente da melancolia de José (“E agora, José?”). Seu problema é social, sua raiva provém das porradas — na linguagem fonsequiana — que leva na vida, uma vida ínfima, bandida e estúpida em muitos aspectos, porém heróica de algum modo. Sabemos que ele não conheceu o príncipe italiano, o qual, em “Fevereiro ou março”, é referido como príncipe Paravicini, amante da condessa. Uma condessa, embora não haja certeza quanto à autenticidade de sua nobreza, ele conheceu. E o que nos interessa agora é o absurdo relacionamento de um “zé-ninguém” com uma condessa, isto é, a convivência de um homem do povo com alguém que pertence a “elites ‘definidas’” ou aos “grupos de famílias que de geração em geração mantêm posições de privilégio em termos de poder, de riqueza e de status”, como 23 PASCAL, Blaise. Pensamentos. Introdução e notas de Ch.-M. dès Granges. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 95. Pensamento 206, na edição consultada, no caso, com a ordenação proposta por Brunschvicg. 39 39 formula Giuliano Martignetti24. Consideremos o fato político da invenção da nobreza e suas implicações nas relações sociais, a “determinação do lugar social dos indivíduos”, aproveitando ainda as palavras de Martignetti. Não existe o valor da nobreza. A nobreza, em si mesma, não tem valor nenhum. Nada, aliás, tem valor em si. Os valores são inventados em circunstâncias específicas. O valor da nobreza é construído politicamente, é atribuído a uma classe com o positivo intuito de fortalecê-la e justificar seus privilégios. É por isso que Mandrake, em “Mandrake e a bengala Swayne”, não dedica, de sua parte, qualquer reverência especial a condessas ou a rainhas: Fiquei pensando por que havia comido a condessa, sempre preferi as mulheres com trinta anos, a condessa tinha sessenta. Não foi porque ela era condessa, eu não dava bola para isso, se uma rainha qualquer, da Holanda, da Espanha, essas mais gostosas, quisesse foder comigo eu tirava o corpo fora; foi por causa do Castello Sforzesco, Milano, da Galleria Vittorio Emanuele, do espresso corto, do Scala? (Mandrake, p. 124). Ele não distingue as mulheres nobres das outras mulheres, não considera nenhum sangue azul. Mais do que isto: ofende, com sua linguagem vulgar, o corpo e a linhagem das mulheres nobres de mais alta categoria e autoridade. Desconsiderando-a, Mandrake dissolve a superioridade da nobreza e o leitor pode, praticamente, superinterpretar como desprezo sua indiferença. É muito relevante, no texto, ademais, a revelação de que a condessa Sforza é, na realidade, uma impostora. Como leitores sagazes, lemos, enfim, que todo valor de classe não passa de uma vigarice bem-sucedida — ou de uma imposição de força aristocrática que se assume, estabelece hierarquias e se considera superior. Em A cultura do Renascimento na Itália, Jacob Burckhardt25 comenta, a respeito de Fredrico III: “Suas visitas à Itália têm o caráter de viagens de férias ou recreio, à custa daqueles que queriam ter seus direitos sancionados por ele ou que se sentiam lisonjeados em hospedar com grande pompa um imperador”; por ocasião de uma estada em Ferrara, Burckhardt informa que Frederico III passou o dia acomodado em um quarto, “distribuindo nada mais do que títulos, oitenta no total”; mas que títulos, especificamente? — “notários, cavalieri, dottori, conti — conti, aliás, de matizes diversos, como, por exemplo, conti palatini, conti com direito a nomear dottori (sim, com direito de nomear até cinco dottori), conti 24 MARTIGNETTI, Giuliano. Nobreza. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 2, p. 827. 25 BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio. Tradução: Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 32. 40 40 com direito a legitimar bastardos, designar notários, a declarar honestos notários desonestos etc.”. Títulos de nobreza adquiridos em distribuição: onde está, aqui, a antiguidade genealógica? Uma fala de Sócrates, no Teeteto, questiona a “estulta vaidade” daqueles que consideram bem nascidos os que têm vínculos com antepassados ricos e poderosos; para o filósofo, segundo Sócrates, tratase de uma “estranha tacanhez de espírito”, pois essa “visão baixa e curta” desconsidera que na humanidade toda as pessoas estão ligadas a gerações anteriores nas quais houve “ricos e indigentes, reis e escravos, bárbaros e gregos, que se sucederam aos milhares em todas as famílias”26. Na “Aristocracia”, ou seja, no “governo dos melhores”, de acordo com Giampaolo Zucchini27, os melhores “não equivalem, necessariamente, à casta dos nobres, mesmo se, normalmente, os segundos são identificados com os primeiros”; mas, da fantasia do significado literal à constituição do sentido, “hoje mais comum, de Aristocracia como grupo privilegiado por direito de sangue”, algo ocorreu e uma classe obteve ainda mais direitos de distinção: o que houve? Historicamente, os “aristocratas” venceram os embates das relações de poder e imputaram aos seus membros os emblemas de melhores, os títulos nobiliárquicos e outras formas de elevação, todas violentamente forjadas no contexto social. Mas o próprio desenvolvimento da política econômica que o liberalismo inglês, em tempos de antanho (século XVII), deu à luz não aponta para a generalização do tipo atualmente predominante de democracia de mercado? Não seria uma tendência deste Século XXI extirpar o que resta da encenação da nobreza, que sobreviveu ao ancien régime? Claro que pode continuar havendo nobreza, apesar da decadência histórica que essa classe vem sofrendo há tanto tempo, desde que ela se comporte de maneira adequada, obedecendo; não são imprescindíveis, contudo, essas cortes de contos de fadas, que hoje parecem sobrevivências bizarras de uma fase superada. Quanto à discussão política que estamos desenvolvendo, ainda resta assinalar que a condessa Caterina Sforza é apresentada no texto como descendente da família Sforza, do tempo de Nicolau Maquiavel, o autor de O príncipe. Sua ascendente Caterina Sforza, filha (bastarda) do duque Galeazzo Maria Sforza, que tentou matar o papa Alexandre VI e por isso foi presa, toma, nessa conspiração, uma atitude política. E, para darmos aqui alguma atenção à política 26 PLATÃO. Teeteto. Tradução, prefácio e notas: Fernando Melro. Lisboa: Editorial Inquérito, [s.d.], p. 94. ZUCCHINI, Giampaolo. Aristocracia. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 1, p. 57. 27 41 41 eclesiástica, Maquiavel apresenta, no capítulo XVIII de O príncipe, essas considerações sobre Alexandre VI: Alexandre VI não pensou e não fez outra coisa senão enganar os homens, tendo sempre encontrado ocasião para assim proceder. Jamais existiu homem que possuísse maior segurança em asseverar, e que afirmasse com juramentos mais solenes o que, depois, não observaria. No entanto os enganos sempre lhe correram à medida dos seus desejos, pois ele conhecia muito bem este lado da natureza humana 28. O capítulo XVIII de O príncipe é muito famoso, porque é nele que estão as célebres assertivas de que se pode lutar de duas formas, pela lei e pela força; de que a luta pela lei é própria dos homens e a luta pela força é própria dos animais; de que, já que a primeira às vezes não é eficaz, inevitavelmente é necessário lançar mão da segunda; de que o príncipe deve utilizarse de ambas as lutas, ou seja deve saber acionar em favor de si o que é humano e também o que é animalesco. Segundo Maquiavel, da natureza animal o príncipe deve saber utilizar as qualidades do leão e da raposa: do leão, o poder de aterrorizar, por sua bravura; da raposa, a habilidade finória, a dissimulação, a astúcia, a perfídia — o que é essencial em política, segundo atestam as indicações do conselheiro florentino e comprovam as tramóias de Alexandre VI, cujas qualidades de leão também são apontadas por Maquiavel: “Surgiu depois Alexandre VI, o qual, de todos os pontífices que já existiram, demonstrou como um papa se podia fazer valer, pelo dinheiro e pela força” (O príncipe, capítulo XI, p. 46). O político precisa acionar sempre a astúcia da raposa e a força do leão. Deve relevar, abandonar ou desprezar, quando necessário, as exigências do aspecto humano de sua condição em favor da astúcia ou da força animalesca. O suplício, uma medida política outrora regularmente usada, pode ser visto como uma manifestação dessa força animalesca. Rubem Fonseca oferece aos seus leitores um tal espetáculo em O doente Molière, onde aparece a execução de Jean Hamelin, também chamado de La Chaussée (capítulo 3, p. 39). La Chaussée foi executado em praça pública, na roda. Eu não quis assistir ao sinistro espetáculo e nesse dia fui visitar o meu pai em seu castelo, distante de Paris. Porém soube por várias pessoas como se cumpriu a pena de morte, que seguiu os trâmites estabelecidos pela justiça. Uma multidão cercava o patíbulo erigido na praça de Grève. A chegada de La Chaussée foi recebida com assobios, apupos e impropérios. Quando La Chaussée foi colocado com as 28 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe; Escritos políticos. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 74. 42 42 pernas abertas e os braços estendidos sobre dois pedaços de madeira dispostos na forma da cruz de Santo André, a multidão aplaudiu calorosamente. O carrasco então, com uma barra de ferro, quebrou-lhe os ossos dos braços, dos antebraços, das coxas, das pernas e do peito. A cada golpe a multidão gritava exultante. Apesar de ter quase todos os ossos partidos, La Chaussée, antes da segunda parte do cumprimento da sentença, ainda estava vivo, respirando com dificuldade. O carrasco era experiente, tinha ordem de fazer render o suplício, de retardar a morte. Em seguida o algoz e o seu acólito deitaram o condenado de costas em uma pequena roda de carroça, suspensa horizontalmente no ar por um poste de ferro, seus braços e suas pernas quebrados amarrados atrás do corpo, a face virada para cima, para que, enquanto durasse, fizesse a sua penitência olhando para o céu, à mercê da misericórdia de Deus. Estamos no século XVII de Luís XIV. Rubem Fonseca usa a voz de um marquês anônimo para mostrar as circunstâncias do tempo de Molière (1622-1673). Foucault inicia seu livro Vigiar e punir também com uma cena de suplício, agora no Século das Luzes, precisamente no ano de 1757; no caso, o condenado é Robert-François Damiens. Depois o suplício será abolido. Fala-se em abrandamento da pena, em humanização da punição, em recuperação social do detento, mas Foucault mostra que não se trata de nada disso e sim de uma mudança de estratégia. A sentença de morte é um expediente do poder político e ela não necessariamente é tão cruel como no suplício; pode deixar de prolongar ao máximo o sofrimento do condenado e somente decapitá-lo, como ocorre na condenação de Marie-Madeleine d’Aubray, marquesa de Brinvilliers, naturalmente depois de ela se retratar publicamente, confessar os seus crimes e pedir “perdão a Deus, ao rei e à justiça”. A cena está no capítulo 12 de O doente Molière. No capítulo 11, sabemos que ela também foi submetida a dois tipos de interrogatórios, o interrogatório ordinário, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, o interrogatório extraordinário, “nome que designava vários métodos de tortura”. A marquesa de Brinvilliers é condenada pelo assassinato confesso do pai e dos dois irmãos, mas não só. Ela está envolvida em outros delitos. Mais amplamente, no entanto, há uma prática de envenenamento disseminada em Paris, da qual o próprio Molière é vítima, e que faz parte de uma teia de crimes como abortos, missas negras e feitiçaria. O responsável pelas atividades policiais na França, Nicolas-Gabriel de La Reynie, informa que são muitos os “envenenamentos que vêm ocorrendo em Paris”. As investigações, contudo, chegam a nomes de pessoas importantes e influentes, então La Reynie aconselha o rei a rever as medidas judiciais, pois teriam conseqüências políticas desagradáveis. A Câmara Ardente, tribunal especial criado para encaminhar os julgamentos dos casos, podia ter que condenar muitos membros da nobreza. Lemos no capítulo 15: 43 43 Quando ficou definido que o rei não autorizaria que certas peças do processo fossem mostradas aos juízes da Câmara Ardente, La Reynie, com algum esforço, conseguiu convencer o rei de que o processo deveria parar. Com isso impediria que pessoas culpadas fossem inocentadas por falta de provas essenciais ao processo, bem como que a justiça fosse desmoralizada. Sugeriu ainda que, por meio de lettres de cachet, o rei determinasse o encarceramento por tempo indefinido das pessoas cuja culpabilidade já tivesse sido estabelecida. Sendo um mecanismo que controla forças sociais perigosas e que claramente assegura privilégios e poderes para grupos estabelecidos política e economicamente, a justiça tem que se deter diante de certos nomes, tem que refrear os efeitos de sua encenação pomposa em certas situações. O alcance de sua punição é calculado. A abrangência de sua tortura tem os seus limites. Na Grécia clássica, a pena de Sócrates, levianamente referida pelo editor Gomes, em O caso Morel, não inclui a tortura. Vemos no diálogo de Platão que o filósofo ateniense, acusado de ser impiedoso para com os deuses e de corromper a juventude, acata as leis de sua cidade, enfrenta serenamente sua condenação e, ainda em seus últimos momentos de vida, dedica-se à filosofia. Na edição do ano de 1991 da coleção “Os pensadores”, no final de Fédon, uma nota de rodapé comenta a brandura da sentença de morte dos gregos: seria humana a execução ateniense, por prescindir da dor e do sofrimento do condenado. Realmente, o teor da violência política varia muito ao longo da história. Em O selvagem da ópera, biografia de Carlos Gomes (1836-1896), podemos acompanhar, no meio do turbilhão de vicissitudes familiares, emocionais, artísticas e até orgânicas que atingem Carlos, os tortuosos passos, no Brasil, da transição do Império para a República, que sensibilizam o maestro brasileiro, tão afetuosamente ligado ao imperador dom Pedro II. O selvagem da ópera ainda menciona a guerra do Paraguai, o processo de “abolição” da escravatura e vários transtornos políticos do Brasil do século XIX. O texto de O selvagem da ópera é escrito em forma de notas de planejamento para um filme cinematográfico. Embora não seja o roteiro final, tem características de roteiro e expõe-se como orientação geral para os roteiristas, o diretor e a equipe técnica de um filme a ser feito. Apresenta anotações historiográficas, recolhe informações de diversas fontes, traz a voz de um narrador, que conta a história e também considera e reconsidera a própria matéria que molda. Um texto híbrido, portanto, que se constitui como romance. O começo remete para a projeção no cinema: “Vultos aparecem na tela escura, pouco nítidos, mas logo percebe-se que uma mulher 44 44 luta para se livrar de um agressor maior e mais forte” (capítulo 1, p. 7). O narrador toma decisões, assume preferências, não esconde simpatias: “São vários os músicos, mas só me deterei um pouco a observar o tocador de clarinete, porque é o que melhor sabe tocar e porque é o único negro do grupo” (capítulo 1, p. 8). Revela o substrato de gênero roteirístico dos escritos que dá a ler: “Este é um texto sobre a vida do músico Carlos Gomes, que servirá de base para um filme de longa metragem” (capítulo 1, p. 9). A fronteira entre literatura e história ganha cores leves e linhas tênues e as duas artes se confundem: “Todos os personagens existiram, com exceção de apenas quatro no meio de dezenas e dezenas de nomes citados entre os contemporâneos de Carlos. Todos os fatos são verdadeiros. Algumas lacunas foram preenchidas com a imaginação” (capítulo 1, p. 10). O diálogo entre literatura, música, ópera e cinema, ou, talvez, a homenagem da literatura à música, à ópera e ao cinema aparece claramente: “Isto é um filme, ou melhor, o texto de um filme que tem como pano de fundo a ópera, como principal personagem um músico que depois de amado e glorificado foi esquecido e abandonado” (capítulo 1, p. 10). O narrador considera a possível escritura de um roteiro e a feitura do filme e também atesta o respeito que Rubem Fonseca tem por André Rebouças, patente em outras passagens: “Se eu fosse escrever o roteiro, provavelmente faria de André Rebouças o narrador do filme. Abriria o filme com ele, exilado em Funchal, na ilha da Madeira, contando a história em flashback” (capítulo 2, p. 32); “Rebouças, o maior engenheiro brasileiro desta época, é negro como aquele escravo tocador de clarinete que aparece descalço no início deste filme. Todavia não precisa marcar entrevista com o imperador, as portas do palácio estão sempre abertas para ele” (capítulo 4, p. 78); “Rebouças merece o papel principal em um outro longametragem” (capítulo 4, p. 79). Durante o intervalo da apresentação de O guarani, no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, quando estão conversando Carlos Gomes e André Rebouças, Salvador de Mendonça aproxima-se e revela para Rebouças coisas que provocam divergências entre os três interlocutores: “Amanhã sairá o primeiro número do jornal A República, com o Manifesto Republicano assinado por mim, Silva Jardim, Quintino Bocaiúva, Saldanha Marinho. O manifesto foi redigido na casa de Saldanha. Acredito que a República será a aurora de um novo e melhor tempo para o Brasil”. Rebouças não entende como foi que Salvador se “meteu com aquela gente”. Saldanha, além de republicano, é positivista. Silva Jardim é sabidamente um radical, supõe-se um novo Saint-Just. “Li um folheto em que Silva Jardim chega ao cúmulo de dizer que ‘o Império deve cair pela revolta de toda a população’”. Não querendo discutir com os amigos, Salvador retira-se e não verá o resto da ópera. A idéia de que o Império poderá ceder lugar a uma República é para Carlos totalmente absurda, insana mesmo, e assim ele não dá importância às palavras de Salvador. Mas 45 45 Rebouças, além de detestar a idéia republicana, considera o manifesto uma peça de oportunismo político por relegar a segundo plano a abolição da escravatura (O selvagem da ópera, capítulo 4, p. 77-78). “Brevemente as nações esclarecidas colocarão em julgamento aqueles que têm até aqui governado os seus destinos. Os reis fugirão para os desertos, para a companhia dos animais selvagens que a eles se assemelham; e a Natureza recuperará os seus direitos”: são palavras de um discurso de Saint-Just, que servem como epígrafe ao capítulo “Revolução Francesa”, do livro A era das revoluções, de Eric Hobsbawm. A frase ilustra bem o apaixonado incendiário que André Rebouças tem em mente. Luís XVI, rei da França, não foge para o deserto; é julgado e condenado à morte. O próprio Saint-Just é guilhotinado, assim como Robespierre e Danton. Nem mesmo o inventor da guilhotina, o doutor Joseph Ignace Guilhotin, que pretendeu implantar um método mais humano de execução, escapou de seu próprio aparelho, um caso dessemelhante ao do torturador da narrativa “Na colônia penal”, de Franz Kafka. No texto de Kafka, o oficial encarregado da tortura coadjuvante à pena de morte dispensa o condenado e acopla-se a si mesmo na máquina de punição, pois é um adepto vivaz (não o inventor) do surpreendente mecanismo de execução judicial. André Rebouças, um monarquista, assim como Carlos Gomes também muito ligado a dom Pedro II, reporta-se, não sem razão, à tumultuada França revolucionária posterior a 1789 para avaliar a situação periclitante do Império brasileiro. Quanto ao Brasil, sua história arrasta os seus próprios problemas. Tendo recebido em seu coração pagão, no ano de 1500, oficialmente, a estaca-pedra do padrão português de posse, o Brasil, que não era o Brasil, mas sim uma terra vasta, estranha e indefinida habitada por tribos indígenas, permanece colônia portuguesa até 1822. Pero Vaz de Caminha escreve a sua majestade já considerando a nova terra como propriedade da Coroa, quando divulga, modestamente, a novidade: posto que o capitam moor desta vossa frota e asy os outros capitaães screpuam a vossa alteza a noua do achamento desta vossa terra noua que se ora neesta nauegaçam achou. Nom leixarey tambem de dar disso minha comta a vossa alteza assi como eu milhor poder ajnda que pera o bem contar e falar o saiba pior que todos fazer29. 29 CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. In: CASTRO, Silvio. A carta de Pero Vaz de Caminha: o descobrimento do Brasil. Porto Alegre: L&PM, 1985, p. 39. Atualização de Sílvio Castro: “Posto que o Capitão-mor desta Vossa frota e assim igualmente os outros capitães escrevam a Vossa Alteza dando notícia do achamento desta Vossa terra nova, que agora nesta navegação se achou, não deixarei de também eu dar minha conta disso, ainda que — para o bem contar e falar — o saiba pior que todos” (p. 75). 46 46 No final de sua História da província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil (1576), no capítulo sintomaticamente chamado “Das grandes riquezas”, Pero de Magalhães de Gândavo, considerando algumas pedras encontráveis na terra, pondera sobre seus preços e sobre a riqueza que podem implicar e relaciona isso, quase em forma de oração, com o obséquio de Deus e com a fortuna de Portugal: Do preço delas não trato aqui, porque ao presente o não pude saber, mas sei que tanto destas como doutras há nesta província muitas e mui finas, e muitos metais, de onde se pode conseguir infinita riqueza. A qual, permitirá Deus, que ainda em nossos dias se descubra toda, para que com ela se aumente muito a coroa destes reinos, aos quais dessa maneira esperamos (mediante o favor divino) ver muito cedo postos em tão feliz e próspero estado que mais se não possa desejar30. A bênção de Deus é sempre solicitada, e até dada, pelos religiosos, representantes do poder divino na terra, para pairar sobre as empresas de colonização e exploração, que não poupam os gentios, os quais são domesticados, escravizados ou exterminados, de acordo com as circunstâncias, em nome da Santa Fé e da economia mercantilista que adquire dimensões planetárias e quer ainda mais espaço. Os portugueses deixam, aos brasileiros, como legado, depois que perdem a colônia, a sanha econômica (não a competência do modo vigente de administração ocidental, que não tinham e não puderam transmitir) e a faculdade superior de poder matar os índios, que exercemos até hoje, já que eles não passam de uma relíquia cultural ambivalente, são amostras vivas de algo que resta do Brasil pré-cabralino e, ao mesmo tempo, empecilhos para o avançadíssimo modo de vida europeu aqui imposto. É em função da truculenta e sinistra herança ocidental determinante que Sérgio Buarque de Holanda entoa sua frase incômoda, em Raízes do Brasil, cuja primeira edição é de 1936: “Trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas idéias, e timbrando em manter tudo isso em ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, somos ainda hoje uns desterrados em nossa terra”31. No final de 1807, temendo o ímpeto napoleônico e protegida pela esquadra inglesa, a 30 GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. História da província Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Modernização do texto original de 1576 e notas: Sheila Moura Hue; Ronaldo Menegaz. Revisão das notas botânicas e zoológicas: Ângelo Augusto dos Santos. Prefácio: Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 179180. 31 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 31. Na segunda edição, de 1947, o livro “sai consideravelmente modificado”, como informa o autor, no prefácio. Evaldo Cabral de Mello assinala a diferença entre as duas versões do livro: “Resumindo: a elaboração de Raízes do Brasil saldou-se por uma inflexão de estratégia intelectual de Sérgio Buarque. Se ela hoje não parece tão evidente assim é que o texto que o leitor tem em mãos já não é o texto da primeira edição de Raízes mas o da segunda, publicada em 47 47 família real portuguesa foge da península Ibérica e chega ao Brasil em janeiro de 1808: é um capítulo nem tanto heróico da gloriosa história dos pretensos descendentes de Ulisses, cantada anteriormente por Luís de Camões em Os lusíadas, posteriormente por Fernando Pessoa (ele mesmo) em Mensagem e bastante considerada na literatura portuguesa de um modo geral; os lusitanos que ficam, reagem a sucessivas invasões francesas; novamente sob pressão, pois a situação política de Portugal exige o seu retorno, dom João VI atravessa de volta o Atlântico e regressa a Portugal, em 1821. A independência brasileira é proclamada em 1822. Consciente de sua impopularidade e sem ânimo para enfrentar uma luta política que já não lhe interessa, nosso imperador, dom Pedro I, abdica, em 1831; a bordo do navio Volage, parte do Rio de Janeiro para a Europa. Como seu filho, dom Pedro II, é ainda uma criança, uma regência provisória é providenciada; o período de regência passa por mudanças, até a antecipação da maioridade do príncipe. Este finalmente assume o governo, em 1840, e permanece até a queda da monarquia, em 1889, quando se inaugura o regime republicano e ele tem que se retirar do reino em que nasceu e que a nova política fez se esvair. Carlos Gomes acha absurda a idéia de uma república brasileira porque, tendo nascido em regime monárquico, acomoda-se a esse quadro e não espera que ele seja alterado. As pessoas, dentro do lar, doce e enganoso lar da civilização, acham sempre que estão em segurança, em ambiente estável e equilibrado; não sabem que o Estado, o qual submete todos à norma que estabelece a ordem, está à mercê de perigosas relações de forças e que alterações violentas podem atingi-lo. Quando, no capítulo 10 de O selvagem da ópera, André Rebouças está muito preocupado com os rumos políticos do país e, alarmado com o movimento republicano, teme pelo futuro da monarquia, Carlos mantém-se tranqüilo, pois absolutamente não prevê a queda do império. André Rebouças tenta sacudi-lo de sua inércia: “Carlos, você não entende o que estou lhe dizendo? A situação é grave”. Carlos, contudo, tem outras preocupações; pensa na apresentação de O escravo: “O cenário da ópera ainda não ficou pronto, Rebouças! A República é um sonho de desvairados, não se preocupe, tudo vai acabar bem”. Não é bem assim, Carlos, meu filho. A monarquia é varrida da América do Sul, que nunca foi a sua casa. E tanto faz: monarquia ou república, o jogo de forças permanece e a política é apenas a face mais hipócrita do monstro. A república não é “a aurora de um novo e melhor tempo 1947, e que foi substancialmente modificado pelo seu autor [...]” (MELLO, Evaldo Cabral de. Posfácio: Raízes do Brasil e depois. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 189-193). 48 48 para o Brasil”, como acredita Salvador de Mendonça. Sabemos o que é o Brasil. Sabemos o que é o Brasil? Não sabemos o que é o Brasil, mas podemos ver os cancros sociais que ardem em seu território. Carlos, as coisas não acabam bem para o imperador. No capítulo 10 de O selvagem da ópera, a câmera de cinema que filma os dias de 1889 no Brasil mostra a implantação revolucionária da República. Nada aqui é grandioso, como não é grandioso nenhum “fato histórico”. O halo de grandiosidade que é colocado no “fato histórico” é produto de uma construção política que elabora um valor cívico, nada mais. “Nosso filme mostra Deodoro da Fonseca a cavalo, à frente das tropas, descendo a rua do Ouvidor em direção ao Arsenal de Marinha, em meio aos aplausos populares”; “Não encerramos esta parte do filme com Deodoro em seu cavalo, apesar da plasticidade da cena”; “Vamos encerrar com esta cena”: É noite. Um escaler, conduzindo d. Pedro, se aproxima de um pequeno navio em cuja proa está escrito Parnaíba. Brilham na escuridão as lanternas do barco que conduzirá este desafortunado passageiro até a baía da ilha Grande, onde se encontra fundeado o vapor Alagoas à sua espera. O rosto de barbas brancas de dom Pedro é iluminado por uma luz bruxuleante, enquanto ele sobe, com enorme esforço, as escadas do barco. Close de d. Pedro. Seu rosto mostra tristeza, dor e humilhação. “Eu não queria sair à noite, às escondidas, como um negro fugido...”, murmura. Dom Pedro II parte para o exílio. Naturalmente, ele não volta mais ao Brasil, pelo menos vivo; se tinha algum amor pela terra em que nasceu, agora está órfão de mátria; pior ainda: está para sempre renegado. Morre em Paris. No Brasil, a República caminha, em direção aos dias de hoje. Vivemos em um país continental, rico e alegre, governado por interesses mesquinhos, porém ambiciosos, muito ambiciosos. É uma miserável história política. Logo após a abdicação de dom Pedro I, em 1831, quando dom Pedro II era um infante de cinco aninhos de idade, o quadro político, de altíssima seriedade, era esse: A luta é feita através das facções — não há ainda partidos organizados: os exaltados, pregadores de um liberalismo radical (conhecidos por farroupilhas e jurujubas); os moderados, que ascendem às chefias (conhecidos por chimangos); e os restauradores, desejosos da volta de dom Pedro (conhecidos por caramurus). Era difícil conciliar essas correntes; os exaltados negavam o passado, tinham desconfiança da Câmara e recusavam o Senado, visto como obscurantista; os restauradores eram ainda mais estranhos, pois dom Pedro renunciara voluntariamente e já estava em viagem para a Europa. Ser moderado era difícil, mas a única maneira de conservar o país em suas instituições e com a unidade garantida. Cada facção tinha o seu clube ou associação, a principal das quais era a Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional, dos moderados; os exaltados 49 49 tinham a Sociedade Federal e os restauradores a Sociedade Militar. Os liberais fizeram o 7 de abril, para logo depois se dividirem em exaltados e moderados32. É um texto de Francisco Iglésias e não de um humorista talentoso e derrisório. Caso se tratasse de um texto do mesmo teor, porém historicamente anterior, do tempo de Gregório de Matos, teríamos, para compor melhor o retrato falado da política, um “Juízo anatômico dos achaques que padecia o corpo da república, em todos os membros, e inteira definição do que em todos os tempos é a Bahia” — Triste Bahia!: 1 Que falta nesta cidade? ..................................................... Verdade. Que mais por sua desonra? ................................................. Honra. Falta mais que se lhe ponha? ............................................. Vergonha. O demo a viver se exponha, Por mais que a fama a exalta, Numa cidade onde falta Verdade, honra, vergonha. 2 Quem a pôs neste socrócio? ............................................. Negócio. Quem causa tal perdição? .................................................. Ambição. E o maior desta loucura? .................................................... Usura. Notável desventura De um povo néscio, e sandeu, Que não sabe que o perdeu Negócio, ambição usura. [...] 5 E que justiça a resguarda? .................................................. Bastarda. É grátis distribuída? ............................................................ Vendida. Que tem, que a todos assusta?............................................. Injusta. Valha-nos Deus, o que custa O que El-Rei nos dá de graça, Que anda a justiça na praça Bastarda, vendida, injusta. [...] 9 A Câmara não acode? ...................................................... Não pode. Pois não tem todo o poder? .............................................. Não quer. É que o governo a convence? ........................................... Não vence. 32 IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil: 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 146. 50 50 Quem haverá que tal pense, Que uma Câmara tão nobre, Por ver-se mísera e pobre, Não pode, não quer, não vence33. Em Machado de Assis, teríamos o exemplo da câmara de Itajaí, em “O alienista” e o elucidativo ensinamento de “Teoria do medalhão”. Estamos compondo o retrato falado do bandido ilustre chamado poder político, que “se baseia na posse dos instrumentos mediante os quais se exerce a força física (as armas de toda espécie e potência): é o poder coator no sentido mais estrito da palavra”, como escreve Norberto Bobbio34. Mas o trecho que situa farroupilhas (ou jurujubas), chimangos e caramurus não foi sarcasticamente escrito por Gregório de Matos, Machado de Assis ou algum comediante sorridente, hilariante, ridiculante e ridente; é um texto da Trajetória política do Brasil. O 7 de abril, sabemos, é a renúncia de dom Pedro I. Lemos que só os moderados podem conservar as instituições e o país. Ê, povo ê, povo ê: amigo velho, pra você não tem jeito não. A impotência do “povo néscio e sandeu” de Gregório de Matos, ou seja, da “turba ignara”, da “plebe rude”, da “massa acéfala”, do “rebanho humano” diante do poder da elite! E tudo depende dos moderados... Todo governo ou mandato deve obedecer e “conservar”. Mesmo transformações violentas no fundo tentam conservar hierarquias políticas e econômicas: mudam os atores, para a apresentação da mesma farsa, sucesso ao longo de milênios. O mais revolucionário político, ao chegar ao poder, em algum momento deve conter-se. Deve reorganizar a máquina, se ela foi destroçada nos conflitos, e então os privilégios de quem tem mais dinheiro e força são reafirmados; a divisão desigual do trabalho, da riqueza e do prestígio volta a se impor (quem pode querer igualdade?). Ou deve obedecer a uma nova ordem estabelecida, a uma situação reposta, se sua ascensão não chegou a ser tão destrutiva. Qualquer poder revolucionário uma hora tem que se adaptar às condições econômicas e políticas que, dentro do campo de conflitos de interesses, regem o país — o mundo material e materialista. Durante a regência, as acomodações foram sendo feitas: os caramurus se anularam na própria inutilidade, os jurujubas ou farroupilhas tiveram que se conter, os chimangos conservadores continuaram “conservando”. Uma oscilação quase negociada entre “liberais” e “conservadores”: assim teve que ser o governo de dom Pedro 33 MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. Seleção, introdução e notas: José Miguel Wisnik. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1993, p. 37-39. 34 BOBBIO, Norberto. Política. In: _____; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 2, p. 955. 51 51 II. E, quando o imperador passou a ser um obstáculo, ele teve que ser removido. O homem de estirpe foi extirpado. A mudança da Monarquia para a República é mero desdobramento de disputas políticas. Nada tem a ver com um plano sério de caráter nacional e de interesse pelo bem público. Política nada, absolutamente nada, tem a ver com bem-estar social. O que há de conforto e bem-estar social nos grupos humanos não é uma dádiva ou uma conquista da política; é uma concessão ou um dos resultados dos efeitos do desdobramento de forças de produção, exploração e especulação. Afinal os negócios e os golpes devem ostentar materialmente os seus prodígios e têm que ocorrer em ambientes favoráveis e não sobre ruínas e espeluncas fétidas. E as cidades devem revelar suas riquezas em inúmeros aparatos e monumentos luxuosos. De maneira geral, o que querem os políticos é garantir poder, riqueza, status. Ou são magnatas da manipulação sorrateira, ou são estafetas corruptos de senhores poderosos que os governam. Mas também eles, os políticos, não estão totalmente seguros, como muitas vezes supõem. Quanto menos desonestos, menos segurança têm, é essa a lógica mais freqüente de sua vulnerabilidade. Mas as disputas entre os que se julgam “donos do poder” também podem levar a violências e assassínios. A história o atesta à exaustão, como, por exemplo, em Roma. A fragilidade do valor do cargo de príncipe, como de qualquer cargo ou instituição política, revela-se na expulsão pura e simples de dom Pedro II, de que o ex-imperador reclama, magoado. Cadê o imperador que estava aqui? A comparação que dom Pedro II faz de si mesmo com um escravo (“às escondidas, como um negro fugido...”) pode ser vista como uma reclamação de um nobre pela humilhação indigna que recebe; um tom de superioridade há aqui. Mas também pode ser vista como a equiparação dramática da condição humana em duas posições sociais tão radicalmente distantes na hierarquia dos homens. Escravo ou imperador — ninguém está livre da violência política. A César o que é de César. “Mãos, falem por mim!”, diz Casca, tomando a iniciativa do crime, no momento em que os assassinos apunhalam o imperador, no Júlio César de William Shakespeare35. Dom Pedro II ainda representava uma herança portuguesa indesejada; os homens da terra queriam um Brasil brasileiro, mas o sangue de Portugal doravante ia poluir, para sempre, como já poluía desde 1500, o Brasil, cujo nome, aliás, deriva da carta de propriedade lusitana que provém 35 SHAKESPEARE, William. Júlio César. Tradução: Bárbara Heliodora. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2001, p. 75 (ato III, cena I). 52 52 inteiramente do campo econômico mercantilista: “Brasil” é um nome comercial. “Portugal, meu avozinho”, diria Manuel Bandeira36. Porém Sérgio Buarque de Holanda não se derrete de amores pelo empreendimento lusíada e, ao contrário, manifesta um grande mal-estar por essa herança européia, já que nós, brasileiros, nascemos do desenvolvimento do genocídio das grandes conquistas marítimas que afundam o medievo e inauguram um novo tempo. “Podemos construir obras excelentes, enriquecer nossa humanidade de aspectos novos e imprevistos, elevar à perfeição o tipo de civilização que representamos”, diz, em Raízes do Brasil (capítulo 1, p. 31), “o certo é que todo o fruto de nosso trabalho ou de nossa preguiça parece participar de um sistema de evolução próprio de outro clima e de outra paisagem”. Num Novo Mundo republicano, dom Pedro II era a Monarquia fora de lugar, com seu poder “moderador” irrisório e, no entanto, excessivo para as forças políticas dominantes. No momento em que essas forças se concentram e se lançam sobre sua majestade, toda a constituição de sua autoridade cai e rui também a legitimidade do reino. Antes, Imperador; agora, exilado. Agradeça Dom Pedro II, de todo modo, porque teve um fim menos violento do que os de Luís XVI da França e de Carlos I da Inglaterra. A questão da “abolição” da escravatura também está presente em O selvagem da ópera. Em um de seus momentos mais gloriosos, no Brasil, recebendo homenagens e saudações do povo, Carlos participa de cerimônias de libertação de escravos. No capítulo 8 de O selvagem da ópera, quando está na Bahia, “Uma comissão da Sociedade Democrática Caixeral pede a Carlos que assinale seu primeiro passo na terra de Santa Cruz redimindo do cativeiro uma escrava de nome Felicidade”. No Rio de Janeiro, Carlos é recebido calorosamente e uma multidão o acompanha festivamente pelas ruas; “Ao chegar ao largo de São Francisco, o cortejo faz uma parada e o maestro entrega a carta de liberdade ao escravo Lino, que custou oitocentos réis, conseguidos em subscrição popular realizada pelo jornalista José do Patrocínio”. Carlos participa de outras solenidades de alforria. No filme planejado pelo narrador-roteirista de O selvagem da ópera, “A câmera mostra a libertação do escravo Julião, durante uma representação musical”. É um espetáculo que se desenrola, do qual participa a prima-dona Durand: “Eis que, em meio ao soar de trompetes e tubas, surge a imponente e bonita soprano conduzindo pela mão um negro 36 BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, [s.d.], p. 328-329. O poema “Portugal, meu avozinho” pertence ao livro Mafuá do malungo. 53 53 todo vestido de branco”. Deve o narrador pronunciar-se quanto à encenação da liberdade que ocorre na hora do calor da campanha abolicionista. Todo vestido de branco... Esse rudimentar simbolismo preconceituoso — uma roupa branca para redimir e purificar Julião da infâmia de sua negrura que os jornais dizem ser “de azeviche” — merece uma reflexão. A liberdade de Julião, como a de Felicidade e a de Lino, que mostramos ainda há pouco, custou dinheiro, arrecadado entre comerciantes. Pagar para ser libertado é uma realidade sórdida dos dias que correm. Na verdade, os negros libertados, agora e mais tarde, como se verá neste filme, não serão adequadamente incorporados à sociedade como cidadãos, recebendo, como deviam, uma indenização (terras, por exemplo), além de outras ajudas. A classe dominante não quer indenizar, quer ser indenizada; e indenizar os negros seria admitir que os esbulhou de alguma forma. Não percebem os escravocratas que essas medidas “generosas” seriam, objetivamente, uma maneira de beneficiar, a longo prazo, a sociedade como um todo. Os bem-intencionados — alguns até pronunciarão belos discursos sobre a liberdade — acreditam que um decreto de abolição simples é o bastante; certamente é o suficiente para aliviar-lhes a consciência. Acreditar que a responsabilidade para com os escravos alforriados termina com a emancipação é uma trágica estupidez (O selvagem da ópera, capítulo 8, p. 168-169). Uma trágica estupidez... até porque os efeitos sociais da “libertação” não são os mais dignos. Ora, “dignidade”... Nosso filme mostrará Julião, ainda durante a permanência de Carlos no Brasil, alguns meses depois de ter sua libertação comprada, a pedir esmolas pelas portas das igrejas, sua brilhante roupa branca imunda e esfarrapada, sorrateiro como um rato, para não ser preso por vadiagem ou por “suspeita de escravo”. E mesmo correndo o risco de ser tautológico e piegas, o filme mostrará também os alforriados Felicidade e Lino na mesma abjeta marginalização. Na verdade é melhor ser mendigo do que escravo (O selvagem da ópera, capítulo 8, p. 169). Parece que ninguém tem mais aquela asseada e singela idéia da abolição da escravatura que era, ou é, passada pelos livros de história oficial, recheada de heroísmo, de símbolos pátrios, de autoridades competentes e respeitáveis. Está claro que a “abolição” resultou da pressão inglesa e que a carga humana e carnal de seu problema está em último lugar nas questões importantes. O que mais tinha evidência nos argumentos era a reclamação dos senhores de escravos de que a produção econômica podia cair e até mesmo falir, de que seus investimentos resultariam em prejuízo, de que precisavam de indenização, ou melhor, a exigiam (conforme vemos em O selvagem da ópera). A “abolição” da escravatura resulta de um novo tempo, em que a revolução industrial exige operários livres para serem mastigados pelas máquinas e pelo mercado. A nova liberdade é a liberdade construída pela lábia do liberalismo, já em plena expansão desde o século XVII de John Locke. 54 54 No fim de O selvagem da ópera, no último capítulo, Carlos viaja, enfermo, de Portugal ao Pará, região Norte do Brasil. Uma tomada aérea de Belém. Vemos a baía de Guajará, a Cidade Velha, o movimento urbano. Lá do outro lado está a ilha das Onças, grande e verde, que olhos distraídos e interrogativos procuram do cais de Belém. A partir da margem belenense, de onde espiam esses olhos perdidos, nosso olhar pede um passeio pela cidade. Close em uma casa. Corte. Agora, o compartimento onde está Carlos Gomes. Carlos, bem-vindo ao Pará, caro amigo! Toca aqui, neste lugar amazônico, a tua música cosmopolita. Estás doente, Carlos. O que podemos fazer, aqui em Belém, por ti, tu vieste tão abatido?! Talvez tudo seja dito em silêncio. “São pessoas desconhecidas, as que estão ao seu lado. Os filhos ficaram em Milão; Rebouças, exilado na ilha da Madeira; Juca em São Paulo, Teixeira Gomes na Bahia, Taunay e Castellões no Rio de Janeiro”. Carlos, aqui no Pará, tão logo te recuperes, tu ouvirás as nossas músicas, está bem? São carimbós, lundus, siriás... Conhecerás lugares como Mosqueiro, Soure, Vigia, Bragança. Carlos! “Uma ária da Fosca [...] vem à sua mente, ele tenta cantar, mas da sua boca sai apenas o som rouco de um animal desconhecido agonizante, o que faz alguns dos circunstantes se aproximarem assustados”. Carlos? Carlos absorve o ar com esforço; seu corpo treme convulsivamente e uma golfada de sangue, misturada com um líquido de bolhas esbranquiçadas, é expelida sobre sua camisola suja. As pessoas se afastam cheias de horror. Carlos lança sangue pela boca sem parar, em gorgolhões que fazem seu corpo agitar-se violentamente (O selvagem da ópera, capítulo 12, p. 242-243). Carlos? “O enfermeiro, estarrecido, não sabe o que fazer; segura a cabeça de Carlos. Um último jorro de sangue. O corpo aquieta-se. Carlos está morto”. Carlos? Estás vivo, Carlos? Carlos, Carlos, não estás mais conosco, teu corpo agora é apenas um cadáver inanimado; dorme, meu filho. “Vemos os restos de uma figura repugnante, um destroço (‘meu pai é um destroço do Império’, dirá Ítala)”; o destroço humano está “torto jogado na rede, desgrenhado, fedorento, imundo de sangue e conspurcado por outras substâncias líquidas e semilíquidas excretadas pelo organismo” (O selvagem da ópera, capítulo 12, p. 243). O selvagem da ópera não se encerra com a morte de Carlos Gomes, em Belém, mas sim com o suicídio de André Rebouças, em Funchal, na ilha da Madeira: “Um último olhar para o mar. Rebouças arroja-se do alto do penhasco. Seu 55 55 corpo cai sobre as pedras que ficam no sopé da escarpa, com um baque surdo. Um fio de sangue sai de sua orelha esquerda. Rebouças está morto”. “Fim”. Na trama de A grande arte, entrelaçam-se tradição familiar, casos amorosos, investigação policial, prostituição, crimes, corrupção e outras complicações da dinâmica social. O sumiço de uma fita de vídeo cassete, esquecida por um cliente importante, um membro da high society, Roberto Mitry, na casa de uma “massagista”, Gisela, gera o assassinato dela e de outras prostitutas. O ataque a Mandrake e sua amante, Ada, no qual ele é esfaqueado e ela é seviciada, ocorre porque os interessados na fita achavam que o advogado a tivesse em seu poder. Muitos outros danos ocorrem nos desdobramentos da busca desse objeto banal — mas precioso e mortal, devido a seu conteúdo. Vejamos o embaraço de fios, laços e nós da intriga sobre a qual nos debruçamos. O romance A grande arte está dividido em duas partes: I Percor, que tem 17 capítulos; II Retrato de família, que tem 18 capítulos. A prostituta Gisela, cujo nome verdadeiro é Elisa de Almeida, por ter chantageado seu cliente Roberto Mitry, que ela conhece apenas como Francês, e assustada com a reação dele, procura o escritório de Mandrake e Wexler, tentando se proteger. Em seguida, é o próprio Mitry que visita o escritório, achando que Mandrake e Wexler são advogados de Gisela. Informado quanto ao equívoco de sua suposição, por se sentir ameaçado, Mitry acaba contratando os serviços dos dois. Logo depois, Gisela é assassinada: “Gisela, na verdade, chamava-se Elisa de Almeida. Quando tentamos falar com ela, no dia seguinte, era tarde demais”. Wexler consegue o telefone de Danusa, “nome de guerra” de Carlota Ferreira, colega de Gisela que participou do atendimento a Mitry. Mandrake marca um encontro com a “massagista”, no próprio escritório de advocacia (primeira parte, capítulo 1). As pessoas que sabem de alguma coisa sigilosa, exatamente por saberem, são perigosas; o crime elimina sem maiores reflexões humanitárias. É a vez de Danusa encontrar a morte, sob a força humana de um semelhante. É Wexler que dá a notícia a Mandrake, por telefone: “Mataram Danusa. Aquela que você chamou no escritório ontem” (primeira parte, capítulo 2). A terceira prostituta assassinada é Oswalda, conhecida como Cila, mas que, depois, dona de uma butique recebida de presente de um empresário, adota o nome Laura Lins: “O corpo inchado de uma mulher estava caído sobre a cama; o rosto intumescido parecia o de uma boneca grotesca com a língua projetada entre os dentes, numa careta” (primeira parte, capítulo 4). 56 56 Mandrake e Ada sofrem o fatídico ataque de dois bandidos, que procuram a fita de vídeo cassete. “Eram dois sujeitos, de blusão. Um alto, muito forte, de rosto liso. O outro, de barba ruiva, tinha uma verruga no nariz e uma Browning quarenta e cinco na mão”. É por vingança, por ter sido ferido e saber que sua amante foi violentada, que Mandrake resolve aprender a manusear facas e tentar matar seus ofensores, os dois bandidos que ele pôde ver bem, antes de receber o golpe de faca e cair (primeira parte, capítulo 5). Camilo Fuentes é preso em um prédio da rua Barata Ribeiro. Porta uma passagem para Corumbá, Mato Grosso do Sul. A polícia suspeita que ele tem ligação com o tráfico e planeja soltá-lo para segui-lo. Raul, policial amigo de Mandrake, mostra o facínora ao advogado e pergunta se é o mesmo que ofendeu a ele e a Ada. Mandrake o reconhece. Mandrake viaja para São Paulo, de avião; depois para Bauru, de trem; de lá, novamente de trem, para Corumbá, onde se hospeda no Grande Hotel. Mandrake chega até a Bolívia perseguindo Camilo Fuentes e, na região fronteiriça, sem querer e sem saber, atrapalha e mesmo aborta os planos da polícia, que desenvolvia uma operação para prender traficantes ali (primeira parte, capítulos 9-13). Segunda parte. O próprio Roberto Mitry é eliminado e com ele têm que cair mais duas prostitutas, Titi e Tatá, que dormiam a seu lado no momento do crime (capítulo 4). O assassino de Mitry, Titi e Tatá é Rafael, o outro participante do ataque a Mandraque. A fita de vídeo cassete pertence a Thales Lima Prado, empresário presidente da Aquiles Financeira, organização que mantém várias empresas lícitas, mas também está ligada ao Escritório Central, o qual explora negócios nos ramos de drogas e pornografia. De acordo com Mandrake, que narra a história, parte de Thales Lima Prado a decisão de eliminar as prostitutas e Roberto Mitry, primo de Lima Prado. Thales Lima Prado enfrenta, além dos inconvenientes gerados pelo extravio da fita, a ambição ameaçadora de José Zakkai, o Nariz de Ferro, um anão negro interessado em mais poder e influência nos negócios escusos do conglomerado de empresas: apesar de todo o sigilo quanto às ramificações ilegais do Sistema Aquiles, Zakkai consegue entender o emaranhado dos negócios, marcar uma entrevista com Lima Prado e tentar obter o controle da Pleasure, um braço obscuro da Aquiles. Lima Prado tenta esconder essa ligação: “a empresa que presido, a Aquiles, tem apenas uma pequena participação na Pleasure, assim mesmo indireta” (capítulo 7). É óbvio que, por sua ousadia, também Zakkai deve ser riscado do mundo. Camilo Fuentes e Rafael, os dois bandidos que atacam Mandrake e Ada, não cumpriram sua obrigação, pois o advogado não podia ter sobrevivido; a falha da investida desperta o ódio de Mandrake, sua intromissão nas 57 57 operações do tráfico de entorpecentes e a conseqüente necessidade de eliminação do advogado. Camilo Fuentes ainda falha outras vezes, pois é preso no Rio de Janeiro, é solto por razões investigativas, o que não chega a perceber, dirige-se para a região de fronteira do estado de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, em atividade relacionada ao tráfico de drogas, não executa o advogado Mandrake que o seguira até lá, mata a policial Mercedes, no Grande Hotel, em Corumbá, e passa a ser caçado pela Polícia Federal. De volta ao eixo Rio / São Paulo, onde age, percebe que está sendo perseguido e elimina os dois homens contratados para matá-lo. José Zakkai, o Nariz de Ferro, já em aberta campanha armada contra Thales Lima Prado, avisa Mandrake sobre o risco e contrata Camilo Fuentes para lutar a seu lado; o boliviano mata Hermes, que executaria Zakkai. Os planos de Nariz de Ferro estão indo bem: “Zakkai acreditava que, matando Lima Prado”, pondera o narrador, “não restaria no Escritório Central ninguém com a capacidade de liderança para aglutinar o grupo em torno de um objetivo comum, o que lhe permitiria assumir o comando” (capítulo 15). Thales Lima Prado morre, vítima de um crime, ou, talvez, suicida-se. Quando seu capanga, Capitão Virgulino, retorna, depois de cumprir um pequeno encargo, levar Mônica, garota de programa, acompanhante de Thales Lima Prado, para a casa dela, já se depara com uma vítima — “Lima Prado ainda estava vivo porém inconsciente, e sangrava abundantemente” — e não com o poderoso patrão — “Apesar do seu desespero, o Capitão Virgulino conseguiu ligar para o Hospital Miguel Couto, mas quando a ambulância chegou Lima Prado estava morto” (capítulo 17). Nariz de Ferro consegue exatamente o que queria, o controle da Pleasure, um nome pomposo e sensual para um complexo de operações criminosas — business before pleasure. Mandrake empreende uma investigação minuciosa sobre a família de Roberto Mitry e Thales Lima Prado e verifica que o bisavô de Thales, José Joaquim de Barros Lima foi não só contemporâneo, mas também colaborador e amigo de José Maria da Silva Paranhos Junior, o barão do Rio Branco. Recorrendo aos cadernos de anotações de Thales Lima Prado e ao livro Retratos de família, publicado por Basílio Peralta em 1949 (o livro e o escritor são inventados por Rubem Fonseca), Mandrake, retoma a história política do Brasil, desde o fim da Monarquia até o ano de lançamento do livro de Peralta, aliás, um completo fracasso editorial. A atuação do barão do Rio Branco na resolução do problema de demarcação das fronteiras do Brasil, no sul e no norte aparece em A grande arte graças às pesquisas de Mandrake sobre a família de Thales Lima Prado: 58 58 Barros Lima já era um advogado de grande prestígio quando se casou aos quarenta e dois anos com Vicentina Cintra, filha do senador fluminense Abelardo Cintra, ardoroso defensor da Abolição e da República. No ano do seu casamento ocorreu a libertação dos escravos e logo em seguida, em 89, Deodoro da Fonseca e o Exército acabavam com a Monarquia no Brasil. Com a proclamação da República e o fortalecimento da posição política do sogro, a banca de advogado de Barros Lima tornou-se a maior da capital do país. Seu amigo José Maria também adquirira grande renome como diplomata e estadista após defender com êxito, como principal negociador brasileiro, os interesses do Brasil na disputa com a Argentina, referente ao território das Missões, e na questão dos limites do Amapá com a Guiana Francesa. Quando José Maria, já então conhecido como o barão do Rio Branco, assumiu o Ministério das Relações Exteriores, convidou o amigo para ajudá-lo no ministério, como consultor jurídico. Barros Lima foi um dos principais auxiliares de Rio Branco nos entendimentos diplomáticos que permitiram ao Brasil ocupar a área de cento e cinqüenta e dois mil quilômetros quadrados pertencente à Bolívia e que passou a se chamar, depois de anexada ao Estado Brasileiro, Território Federal do Acre (A grande arte, parte II, capítulo 1, p. 165-166). Vemos, nessa passagem, além do sucesso profissional de Barros Lima, a vitória política do Brasil em relação à demarcação das fronteiras, graças, principalmente, ao barão do Rio Branco. Com relação à Bolívia, na perspectiva brasileira, o episódio do Acre marca uma conquista; mas, ainda nas páginas de A grande arte, podemos ver um outro ponto de vista, a partir da amargura ressentida de Camilo Fuentes. Eis a sua canción por la unidad latinoamericana: Camilo Fuentes acreditava firmemente que, para sobreviver no mundo hostil em que vivia, era preciso estar preparado para matar. Seu pai fora morto na fronteira porque vacilara ao enfrentar seu assassino. Camilo tinha sete anos quando isso aconteceu, mas seu tio lhe contara tudo: o homem que matara seu pai era brasileiro, como eram brasileiros os usurpadores de larga parte do território boliviano, um território tão grande que se transformara num dos estados da República do Brasil, o vizinho imperialista que, com a conivência de governantes bolivianos corruptos, há séculos roubava as riquezas naturais do seu país (A grande arte, parte I, capítulo 10, p. 104). Podemos abordar a política a partir de diversos pontos, em A grande arte. Em primeiro lugar, temos a alusão a políticos ou mesmo a presença física de autoridades. Depois de ouvir de Raul que Rosa Leitão e Cila freqüentavam uma boate para lésbicas, Mandrake pergunta “E na Lesbos sabem que Rosa é mulher de Gonzaga Leitão, presidente da Associação Brasileira do Comércio e Exportação, deputado federal et cetera?” (parte I, capítulo 5). Recordando um caso de amor antigo, seu próprio envolvimento com uma dama de fino trato, Mandrake lembra-se também de uma particularidade do pai da amante: “Nesse instante senti uma inesperada saudade do corpo de Eva, a filha mimada do senador corrupto” (parte I, capítulo 10). No capítulo 6 da 59 59 parte II, Thales Lima Prado desenvolve a defesa de Adolf Hitler diante de “um respeitado senador da República”; mais uma informação: “Tratava o senador com a pouca consideração que habitualmente dispensava àqueles a quem dava dinheiro”. No capítulo 11 da parte II, o presidente da república chega ao hipódromo da Gávea e cumprimenta Thales Lima Prado, a quem já havia sido apresentado anteriormente. O livro A grande arte é lançado em 1983 e Lima Prado, num determinado momento em que conversa com sua avó (parte II, capítulo 2), refere-se à década de 1980 como tempo atual (“Estamos nos anos oitenta, vovó”), o que nos faz deduzir que o presidente em questão é João Batista Figueiredo. Em segundo lugar, e principalmente, vem a questão da participação direta da política no crime organizado, seja recebendo dinheiro, seja enfim na atuação em forma de sociedade (certamente, “anônima”, pelo menos diante da “opinião publica”). A investigação de Raul sobre as transações do grupo de empresas suspeitas detecta a relação direta de gente importante com os negócios ilegais: A Fastfood tem exatamente os mesmos sócios. A Pleasure e a Fun idem. Nadir é coronel reformado do Exército. Gambacorta era dentista. Elísio Pinto Braga trabalhava no Ministério da Indústria e Comércio onde, até pedir demissão, era um obscuro economista. Nenhum deles tinha recurso suficiente para investir nesses negócios. Nariz de Ferro, antes de entrar para a firma, era dono de uma pequena boate falida de homossexuais, em Copacabana. Dos outros dois, o Silva e o Santos — os nomes mais comuns na nomenclatura patronímica brasileira —, nada se sabe ainda. De onde veio a massa de dinheiro exigida para construir, por exemplo, os motéis e a cadeia de lanchonetes? Supomos que seja do tráfico de drogas. Os empregados do segundo escalão dizem que houve um problema na Fastfood, a cadeia de lanchonetes parece que está mudando de mãos. Informações colhidas na Goodtaste indicam que o mesmo está para ocorrer com os motéis, que provavelmente são os negócios legítimos mais rentáveis do grupo. Dos ilegítimos sabemos muito pouco, ou nada. Goodtaste, Fastfood, Pleasure e Fun devem ter, acima deles, controlando-as, uma espécie de holding secreta que, na verdade, funciona como um superbanco que financia os banqueiros conhecidos do jogo do bicho e os grandes traficantes com ramificações internacionais e aplica parte dos seus ganhos nas firmas, que são fachadas, mas nem por isso pouco lucrativas (A grande arte, parte I, capítulo 17, p. 160). Não se trata apenas de comprovar que os grandes negócios criminosos têm representantes de classe. Mais que um prolongamento do crime na ordem de tudo o que é lícito — e vice-versa —, podemos perceber, em A grande arte, a certeza de que a movimentação financeira é suspeita, senão corrupta, por si. Quando Mandrake pergunta a Raul, no último capítulo do livro, quem teria matado Thales Lima Prado, temos, com a resposta do interlocutor e a seqüência do diálogo, a afirmação de que as operações financeiras legítimas são tão lesivas quanto os crimes financeiros: “Está bem. Ad argumentum tantum: ele foi assassinado por quem?”. 60 60 “Zakkai. A serviço de Gonzaga Leitão”. “O marido de Rosa?”. “Leitão corria por fora, na luta pelo poder dentro da Aquiles. Quando, com a morte de Lima Prado, conseguiu o controle da Organização, Leitão deu, ou vendeu baratinho, para Zakkai a Pleasure e as outras empresas. A Aquiles agora só se envolve com atividades legítimas”. “Sei. Agiotagem, mutretas financeiras, etc.”. “Como todos os bancos”. “Quer dizer que o crime compensa, seu cínico?”. “Estes anos passados na polícia fizeram de mim uma coisa pior do que cínico”. “O quê?”. “Lúcido” (A grande arte, parte II, capítulo 18, p. 300-301). Ninguém pode ter dúvida de que o crime compense, sobretudo no Brasil, caso especialmente em pauta; mas há que ser crime de primeira categoria. As CPI’s — que se instalam, detectam e provam crimes e se dissolvem como castelos de areia na praia e que têm as crônicas de suas mortes tranqüilamente anunciadas nos meios de comunicação — o comprovam, para tantos quantos queiram ver. Quando Mandrake refere-se a “Agiotagem, mutretas financeiras, etc.” como “atividades legítimas”, está ironizando o fato de que certas manobras econômicas são proibidas em uma instância e legalizadas em outras; de um lado, são consideradas crime, mas, de outro, são vistas como lícitas e até naturais. E quais são mesmo os números dos lucros bancários? O ápice da dignidade da política, em A grande arte, talvez esteja plenamente revelado em uma reunião de Thales Lima Prado com um agente, no seu escritório da Aquiles Financeira (parte II, capítulo 3, p. 183-184): “Então?”. “Todas as pesquisas indicam um equilíbrio muito grande. É impossível saber-se agora, na conjuntura atual, quem ganhará. Pode ser que o quadro se defina daqui a uns dois meses, mas a hora certa de”, hesitou, “fazer as doações é agora”. “Muito bem. São cinco partidos?”. “Cinco”. “Dá para todos. Mas manobra de maneira que eles tomem a iniciativa de pedir”. “Isso não é difícil. O seu nome é neutro e todos precisam de dinheiro, até o partido do governo”. “Além da doação institucional, que você me garante que não será contabilizada pelos partidos, vamos dar dinheiro também para alguns candidatos, individualmente. Não deixe os radicais de lado. Eles também aceitam, não aceitam?”. “A corrupção não tem bandeiras”. “Isso não é corrupção, Gontijo”. “Tem razão. Desculpe”. “Depois você me dá os nomes sugeridos. Não quero mais ninguém nesta operação. Você reporta direto a mim, está entendido?”. “Sem dúvida. Já fiz os primeiros contatos e lhe farei um relatório preliminar”. “Verbal. Não quero nada escrito sobre o assunto”. 61 61 Thales Lima Prado tem razão: “Isso não é corrupção”. Devemos nos referir a tais transações como “doações para campanhas”, coisa que, aliás, nos dias de hoje, é sabidamente atual e altamente previdente para os negócios de quem investe nesse rentável “ramo”, o ramo político. De toda maneira, o que visualizamos na cena de A grande arte é que os políticos, inclusive os radicais, de um jeito ou de outro, estão vendidos a priori. Em uma festa orgiástica na casa de Roberto Mitry (parte II, capítulo 4), podemos ler: “O principal executivo de um conglomerado de empreiteiras que trabalhava para o governo dizia que se não desse dez por cento jamais conseguiria contrato algum, ‘sempre foi assim desde 1500’”. Trata-se de um exagero. É claro que em 1500 não há uma política brasileira, pois somos apenas índios, não, ainda, “ocidentais”. Mas o “achamento” da terra nova da Coroa Portuguesa já se encontra no contexto dos investimentos econômicos da época e nós herdaremos os negócios portugueses, de modo que, de 1500 até os nossos dias, temos uma abastada história das finanças políticas do Brasil... Há um momento em que Mandrake bebe cerveja, em um boteco, na praça Antero de Quental, e observa o ambiente. “O botequim estava cheio”; conversas entrecortadas e concorrentes lançam palavras e ruídos no ar esfumaçado; “As pessoas, em pé, bebiam cerveja e chope e comiam tira-gostos”; ficamos sabendo que o cardápio inclui “ovos cozidos de casca amarelada por corante, lingüiça, torresmo, moela de galinha, sardinha frita, mortadela, queijo de Minas”. Mandrake olha e ouve. “Três sujeitos discutiam acaloradamente se o ministro do Planejamento era principalmente burro ou principalmente filho da puta” (parte I, capítulo 17). Evidentemente carregada de clichês da linguagem política, mas, por outro lado, com um toque rabelaisiano, lampejos de solidariedade e melancolia social, podemos imaginar tal discussão popular. Juca: O filho da puta do ministro do Planejamento é principalmente burro, porque não compreende que é necessário olhar o povo com respeito e considerar que deve ser melhor distribuída a riqueza produzida no país. Bota uma dose aqui, Bira. Chico: Uma pra mim também, nessa porra! O absurdamente burro ministro do Planejamento é principalmente filho da puta, porque percebe muito distintamente que o poder político reforça a desigualdade social e só considera o povo como força pra produzir mais riqueza e conforto pra elite de abastados. É uma merda o nosso país! 62 62 Zé: Pois pra mim o ministro do planejamento é burro e filho da puta na mesma proporção. Ei, Bira! Vê um pé de porco no feijão! Tem que comer e beber como Gargântua, minha gente, que só sendo forte pra viver no Brasil. Chico: Mas, se ele entende a exploração econômica, por mais burro que seja, ele é mais filho da puta. Mais uma cerveja, Bira! Juca: Mas por mais que ele entenda o processo de dominação e seja um agente, inteligente, direto, do poder instituído, ele não é sábio, só tem astúcia, é um filho da puta muito burro, afinal. Quer um torresmo, amizade? Zé: No Planejamento é que tem muito filé, dinheiro e luxo, hein? Na marmita do trabalhador... é dureza! Bota uma dose caprichada pra mim, Ubiratan! E a conversa de botequim arrasta a discussão. Nem tudo é esclarecido em A grande arte e muito daquilo que Mandrake julga explicar fica sob suspeita, no final do livro. Quem matou Gisela e Danusa, para Mandrake, foi Thales Lima Prado; já Cila, segundo ele, foi assassinada por Rosa Leitão. Quando Roberto Mitry é morto, juntamente com as prostitutas Titi e Tatá, o assassino, Rafael, procura por toda parte a fita esquecida por Mitry na casa de Gisela e que poderia estar ali, com Mitry (parte II, capítulo 4). Nariz de Ferro e Camilo Fuentes torturam Rafael, perguntando pela fita cassete; ele diz não a ter encontrado (parte II, capítulo 12); depois de matá-lo, conseguem a fita — “‘Morreu muita gente para ver, ou não ver, isto aqui’. Zakkai sacudiu o cassete com a fita” —, que Nariz de Ferro coloca no aparelho; Camilo Fuentes não se interessa pelo conteúdo misterioso e deixa o anão sozinho para ver a gravação (parte II, capítulo 16). No capítulo 17 (parte II), em conversa com Mandrake, Nariz de Ferro comenta sobre o filme de vídeo cassete: “Não tinha nada nele. Coloquei no aparelho e só apareceram aqueles risquinhos. Nada”. Nariz de Ferro derruba Thales Lima Prado e assume o controle da Pleasure, como queria. Nariz de Ferro pode estar mentindo, quando diz não haver nada na fita. Revelações criminosas muito contundentes podem existir ali. Entretanto, muita gente morre, simplesmente por estar associada à fita. Há lutas e mortes, de toda forma, que ocorrem por qualquer pedaço de palha ligado a poder, prestígio ou riqueza. Uma vez que na pauta de Agosto está a morte de Getúlio Vargas, é óbvia a temática política do livro. Empregos, ocupações, cargos e outras benevolências estratégicas de caráter administrativo e operacional podem ter um mérito muito maior nos programas parlamentares e funcionais da coisa pública do que normalmente a ciência política lhes atribui. No romance 63 63 Agosto, Salete — personagem que, de acordo com o que é informado, estudou apenas o curso primário —, depois de ficar sabendo que para se inscrever para o secretariado é necessário “possuir o certificado de conclusão do ginásio”, fica envergonhada e lembra-se de uma boa oportunidade perdida: Em julho ela poderia ter arrumado um emprego no Senado. Estava com Magalhães na boate Béguin assistindo a apresentação do cantor existencialista Serge Singer, quando Magalhães lhe dissera “vou meter você no trem da alegria do Senado”. Magalhães tinha muitos cupinchas senadores e seria fácil arranjar um emprego, “você nem precisa ir lá, é só receber no fim do mês”. Ela dissera a Magalhães que “tinha pouco estudo” e ele respondera que o Senado estava cheio de gente que havia “entrado pela janela”. Ela ficara com medo e pedira a Magalhães que nada fizesse. Agora sempre que ouvia seu programa favorito na Rádio Nacional, com Iara Sales e Heber de Boscoli, que se chamava Trem da Alegria, arrependiase de não ter aceito a nomeação. Afinal, poderia ter aprendido datilografia, chegara mesmo a ir a uma escola de datilografia num sobrado da rua da Carioca e vira uma porção de mulatinhas raquíticas batendo nos teclados. Se aquelas infelizes aprendiam a escrever a máquina ela também poderia aprender (Agosto, capítulo 2, p. 36-37). A descrição do “trem da alegria do Senado” não está distante das constantes notícias divulgadas na mídia. Uma pesquisa histórica que examinasse meticulosamente a Câmara Federal, as assembléias legislativas estaduais e as câmaras municipais, além do Senado, apresentaria, certamente, uma grande acuidade médica para compreender os achaques que padece o corpo da República: Gregório de Matos é atual em qualquer tempo brasileiro. Na pista daquilo que Gregório de Matos já apontou — negócio, ambição e usura —, seria muito útil uma história contábil do funcionamento concreto das casas políticas. E são três os poderes a ser considerados. Uma história da corrupção brasileira contribuiria para entendermos melhor as vocações e as especialidades imediatas dos oportunistas que se instalam na máquina pública, que são, geralmente, tartufos felizes que nenhum deus ex machina milagroso consegue eliminar. O que matutam, o que dizem e o que fazem, nas ordinárias sessões, ultimamente tem sido divulgado, ao vivo, em canais televisivos. E os protagonistas sentem-se muito bem, assim, sendo filmados como galãs de cinema. Os principais fatos políticos de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos são: a guerra entre russos e poloneses, de que Isaac Babel37 participa, experiência da qual resulta o livro A 37 O nome do escritor de Odessa, assim como outros nomes russos, aparece grafado de maneiras diversas, no livro A Cavalaria Vermelha (Isaac Babel), publicado pela Ediouro, em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (Isaak Bábel) e em outros textos consultados, por uma questão de diferenças de critérios de transliteração. Aqui, os nomes aparecem tal como estão em cada uma das publicações em que se encontram, embora isso possa causar algum 64 64 Cavalaria Vermelha; a orientação soviética pós-1917; o caminho do fim do socialismo de Estado, com Gorbachev; a Alemanha dividida pelo muro de Berlim — que é visto de perto pelo protagonista do romance. O muro de Berlim foi derrubado em 1989, ano seguinte à publicação de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Um leitmotiv importante de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos é a ilusão do protagonista de que fará um filme baseado nos escritos e na biografia de Isaac Babel. O cineasta lê apaixonadamente tudo o que tem de Babel: “Passei a noite lendo e relendo Bábel. Cada conto era uma obra-prima. Não sei o que me interessava mais: a tensão, o equilíbrio entre ironia e lirismo, a elegância da frase, a precisão, a concisão” (parte I, capítulo 4, p. 34). Logo a seguir, o personagem-leitor segue o roteiro dos desastres da biografia de Babel, completamente tomada pelo contexto político que a envolve. E mergulha no júbilo de sua leitura. Quando o cineasta visita, no hospital, o seu amigo Boris Gurian, um velho sábio que fala de literatura russa com muito entusiasmo, pode aumentar o conjunto de dados que está compondo para auxiliar o seu projeto de filme. As palavras de Gurian são dádivas para o protagonista, já que este está dominado pelo interesse por Babel. Uma vez mais o cineasta ouve um discurso que requer toda a sua atenção, já que Gurian é muito generoso quando se trata daquilo que sabe: “Um sujeito chamado Konstantin Fedin escreveu uma carta para Gorki, em 1924, dizendo ‘todos aqui em Moscou estão extasiados com esse sujeito chamado Bábel’. Moscou havia se tornado o centro da vida literária soviética. As rivalidades e lutas entre os diversos grupos eram muito grandes. Os contos de Bábel eram motivo de controvérsias e debates. O general Budeni afirmara considerar injurioso o retrato que Bábel fizera dos ‘seus homens’. Há uma carta de Bábel, escrita quando estava na campanha da Polônia, em que ele fala do desespero que sentia devido ‘à ferocidade cruel que nunca pára um minuto sequer... eu não fui feito para essa tarefa de destruição’. Bábel diz ainda, nesta carta, que era difícil para ele esquecer o passado, que podia ser mau, mas tinha o aroma da poesia, como a colméia tinha o aroma do mel. ‘Alguns farão a Revolução, e daí? Eu, eu farei as coisas marginais, aquilo que vai mais fundo’. Esta e outras afirmativas — ‘sou o mestre do silêncio’ — e sua maneira de ver a Revolução eram discutidas nas reuniões. Numa carta para sua irmã, Bábel disse: ‘Como todos na minha profissão, sinto-me oprimido pelas condições do nosso trabalho em Moscou’. E acrescentou mais uma frase imperdoável naqueles tempos: ‘Estamos sendo cozinhados em fogo lento num ambiente sem arte e sem liberdade criativa’. Em novembro de 1925, Bábel conseguiu um visto para a França. Ele queria se livrar, não sei em que ordem prioritária, da família, do seu país, dos burocratas, do frio (era asmático), dos editores. Devia ter ficado em Paris. Um americano disse que o verdadeiro artista odeia o país em que nasceu. Imagina ele vivendo sob o domínio de Stalin”. Gurian fez uma pausa e me olhou com pequenos olhinhos cinzentos úmidos: “Você deve estar pensando que sou um velho reacionário tentando denegrir uma das maiores revoluções que a humanidade realizou, não é?”. estranhamento. Também é obedecido o modo de aparição de outros nomes (o de Nicolau Maquiavel e o de Carlos I, por exemplo) de acordo com cada material impresso diretamente usado. 65 65 “Conheço a sua biografia”, eu disse. “Você pode ser acusado de tudo, menos de reacionário”. “É um erro catastrófico supor que, para consolidar uma revolução, é preciso tirar a liberdade dos artistas. Os soviéticos cometeram este erro e pagaram caro, muito caro, por isso” (Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, parte I, capítulo 7, p. 67-68). Recolher e queimar livros é um dos menores poderes da censura. Prender e matar artistas é ainda mais eficiente. E Babel recebeu exatamente este tratamento. Boris Gurian fica preocupado de ser confundido com um reacionário, porque, ainda na década de 1980, em pleno andamento da glasnost, o socialismo ainda era defendido com afinco. Os expurgos de Stalin, entretanto, já tinham operado, e muito, a sua crueldade política em larga escala. A utopia tem que fechar os olhos e os ouvidos, tem que abrir mão de todos os sentidos para poder acreditar em si. E ela própria pode ser tomada pela fúria, se algum incrédulo a afrontar. Não é magnífico que Jeremy Bentham chame o seu projeto de inspeção universal precisamente de “minha própria Utopia”38? O conto “O quarto selo (fragmento)”, de Lúcia McCartney, ambienta em território brasileiro práticas terroristas de avançada organização. No conto, o objetivo maior do Exterminador R, como é referido o protagonista, é eliminar uma autoridade de Estado, o Governador Geral — ou GG, de acordo com o código de comunicação altamente burocrático do tempo. O livro Lúcia McCartney é publicado em 1967, mas a ação do conto se passa em um Brasil futuro. A linguagem do conto imita as narrativas de ficção científica e somos remetidos a um tempo de avançada tecnologia, distúrbios sociais e repressão oficial. O Exterminador R apresenta-se para um encontro clandestino com o Cacique, de quem recebe algumas instruções. Deve matar o Governador Geral (GG). O GG marca uma entrevista pelo Compartimento de Transmissão de Circuito Fechado (CTCF) com Pan Cavalcânti; ordena que ele assuma o Departamento Especial Unificado de Segurança (DEUS); avisa que têm ocorrido tumultos nas Favelas Urbanas Verticais de Alto Gabarito (FUVAGs) e que há o receio de que os terroristas se aproveitem da situação; informa que o ministro do Planejamento foi assassinado — trata-se de uma informação secreta (“Repito: secreta”); há também a suspeita, com 80% de exatidão, de que o Cacique veio dos Estados Unidos para o Brasil, diz o GG, que recomenda que Pan cuide especialmente do Cacique, as agitações urbanas são secundárias. Atentado contra o metrô do Rio. Rebelião popular em Copacabana: duzentas mil pessoas 38 BENTHAM, Jeremy. O panóptico; ou, a casa de inspeção. In: SILVA. Tomaz Tadeu da (org.). O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 36. 66 66 depredam a região do cortiço (estamos no futuro) e seguem para o Centro. Pan Cavalcânti captura o Chefe, perigoso especialista em atentados. O Chefe é torturado. Seu corpo está estourado, esmagado, moído. Antes de o Chefe morrer sob a sevícia, Pan Cavalcânti aproxima o ouvido de sua boca e simula ouvir uma confissão. Pan Cavalcânti se comunica com o GG e marca um encontro, “vis-à-vis”, pois o que foi dito pelo Chefe requer medidas imediatas. O GG é convencido. A entrevista acontece. Com um tiro no olho direito, o governador é assassinado. Por segurança, Pan Cavalcânti ainda dispara um segundo tiro, na base do crânio do GG. Pisa nos miolos da vítima, enquanto pensa: “É preciso tomar cuidado, a medicina de hoje está muito adiantada”. Pan Cavalcânti é o Exterminador R. No Brasil, não há tradição de se matar “autoridades, técnicos e burocratas de alto nível”, como ocorre no conto. Quando algum político ou funcionário é morto, no Brasil, geralmente é porque se posiciona contra algum esquema de corrupção, ou denuncia algo errado, ou investiga crimes de colarinho branco, ou cumpre seu dever institucional contra delinqüentes poderosos, “de alto nível”. Não temos registros de extermínio de políticos corruptos, por exemplo. Se, historicamente, as populações são regidas por oportunistas e marionetes das forças políticas e econômicas predominantes, havendo, como sempre houve, larápios nos cargos — que, além de tudo, têm imunidade —, por que motivo não haveria ou poderia haver forças contrárias, organizadas, que os almejassem? A agressividade inata do ser humano, uma das causas vivas do mal-estar da civilização apontado por Freud, por que não seria, também, direcionada, sistematicamente, contra os vigaristas que administram as sociedades? Ademais, quanto ao terrorismo, trágicos sentidos eclodem juntamente com as suas explosões. No entanto, “O quarto selo (fragmento)” não permite que seja vista uma dimensão social, no sentido de uma exigência direta de benefícios para a sociedade, como móvel dos atentados. Os ataques ocorrem em decorrência de lutas por poder, conflitos difusos de grupos rivais, não se trata de um movimento “revolucionário”. Estamos em pleno campo de batalha e aqui importa a luta, não as “classes dominadas”. O caso Morel, Mandrake, Os prisioneiros, A coleira do cão, O buraco na parede, Histórias de amor, O doente Molière, O selvagem da ópera, A grande arte, Agosto, Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, Lúcia McCartney: todos esses livros de Rubem Fonseca tomam a política como tema e de algum modo desvelam criticamente facetas problemáticas do poder da administração pública e de seus coadjuvantes. 67 67 Está em Platão a idéia de “que todo governo, enquanto governo, objetiva unicamente o maior bem dos indivíduos que governa”39. Este é um dos motes para a busca da política perfeita e da cidade perfeita, em A República. Porém parece evidente, nos diálogos de Platão, uma descrição crítica das circunstâncias políticas que dominam o cenário social, especialmente de sua Grécia. Ao lado do “idealismo platônico”, que os manuais apontam e Nietzsche execra, há uma grave consideração daquilo que efetivamente é a política. E não somente a política é questionada a partir de sua própria constituição e de seus desdobramentos: tudo o que diz respeito ao ser humano, à vida, ao mundo e ao universo passa pela problematização oriunda do amor à sabedoria, pois — se estão em andamento não só discussões sobre o entorno e o cosmo, mas também especulações conflitantes de escolas filosóficas, de teorias e de dicções poéticas — como não considerar o que se dá em volta e as formulações acerca daquilo que existe? Angústia inquietante de achar-se em vida, não só interrogar-se, inevitavelmente, sobre tudo — para as caraminholas que pululam na razão, todas as coisas parecem sondar o pensamento: “Que és? Que somos para ti?” — mas, sobretudo, questionar a ciência que subordina os entes: “ciência e sabedoria são a mesma coisa?”40. Virá daí — de onde? — o “tiro-certo” nas coisas que a civilização atômica ultratecnológica (plus ultra) conseguiu alcançar? Hoje vemos nitidamente que o último estágio da precisão científica que toma as coisas como objeto é, finalmente, a aniquilação — de bagatelas, de maravilhas e de tudo. No livro I de A República, Céfalo comenta os transtornos da velhice, ocasião em que as considerações recorrentes sobre o Hades — de que lá os males cometidos durante a vida são expiados — trazem preocupações quanto ao futuro feliz ou sofrido, após a morte. Entretanto, para Céfalo, a riqueza oferece a solução, pois proporciona que a pessoa não fique devendo nem sacrifícios aos deuses nem dinheiro aos homens, portanto a riqueza, dentro da ordem da moderação, revela-se muito útil para acalmar a inquietação do homem na velhice quanto à morada final no Hades. A fala de Céfalo é o móbil de uma longa discussão sobre a justiça, que se inicia com um exemplo de Sócrates. Sócrates pergunta se a justiça consiste simplesmente em dizer a verdade e restituir algo que se tomou de alguém, ou não. Para ele, claro, essa formulação não é satisfatória. E o seu teste é este: tendo uma pessoa, estando em condições saudáveis, deixado suas armas com 39 40 PLATÃO. A República. Tradução: Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 2000, p. 28 (livro I). PLATÃO. Teeteto. Tradução, prefácio e notas: Fernando Melro. Lisboa: Editorial Inquérito, [s.d.], p. 25. 68 68 alguém, voltando, depois, insana, e exigindo-as de volta, não seria justo devolvê-las, segundo a opinião de todos, assim como não seria injusto não dizer a verdade a um louco. Tal raciocínio prova que essa definição não se sustenta. É preciso considerar, na habilidade discursiva de Sócrates, as coisas ditas por ele em contraposição à justiça virtuosa (ou ideal) que procura. Não podemos, pois, descartar os sentidos nefandos que são postos nos diálogos: a justiça como “arte de furtar, porém a favor dos amigos e em prejuízo dos inimigos” e a concepção de que “é justo prejudicar os que não cometem injustiças”. Assim, quando Trasímaco circunscreve a justiça e a política no âmbito do poder — “Eu digo que a justiça é simplesmente o interesse do mais forte” —, ele (assim como Platão) não faz menos do que uma descrição daquilo que vê ocorrer em termos de organização política (jurídica, judiciária) concreta. A irritação de Trasímaco com a sabedoria de Sócrates ainda se expressa nos seguintes termos: E cada governo faz as leis para seu próprio proveito: a democracia, leis democráticas; a tirania, leis tirânicas, e as outras a mesma coisa; estabelecidas estas leis, declaram justo, para os governados, o seu próprio interesse, e castigam quem o transgride como violador da lei, culpando-o de injustiça. Aqui, tens, homem excelente, o que afirmo: em todas as cidades, o justo é a mesma coisa, isto é, o que é vantajoso para o governo constituído; ora, este é o mais forte, de onde se segue, para um homem de bom raciocínio, que em todos os lugares o justo é a mesma coisa: o interesse do mais forte (A República, livro I, p. 20). A fala de Trasímaco traz em si, sem dúvida, uma conclusão que advém da observação empírica. Sócrates percebe essas dimensões práticas da justiça. Mas está ocupado em combater, por assim dizer, a falta de virtude política, e propor a sua República. Sócrates, portanto, pensa a constituição política mais plausível, buscando corrigir as injustiças e elaborar leis sábias. Por este motivo, precisamente, o político deve ser filósofo. O político não pode, de maneira alguma, para Sócrates (e para Platão), ser incompetente, falacioso, ignorante, ambicioso e subornável, tudo o que, na realidade, ele é, historicamente falando. Platão afirma que o político deve ser sábio e justo e deve pautar sua ação na virtude, estando, segundo se entende normalmente, pensando em termos ideais, não concretos. Para Platão deve haver equivalência entre filósofo e rei, entre poder político e filosofia. Depois de certa indecisão, afinal é um filósofo que fala, Sócrates afirma: Enquanto os filósofos não forem reis nas cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos não forem verdadeira e seriamente filósofos, enquanto o poder político e a 69 69 filosofia não convergirem num mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente perseguem um ou outro destes objetivos de modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nós descrevemos será edificada. Eis o que eu hesitava há muito em dizer, prevendo o quanto essas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja felicidade possível de outra maneira, para o Estado e para os cidadãos (A República, livro V, p. 180-181). Que distância assustadora há, no entanto, entre filósofo e rei, entre a esperteza prática do poder político e a filosofia, considerada enquanto questionamento complexo da realidade. É, de fato, “difícil conceber” tal convergência, principalmente no Brasil, onde informações nem tão sigilosas dão conta de que gatunos rasteiros são autoridades “competentes” e de que o político, regular, profissional, oficial, é o pilantra municipal, estadual, federal, executivo, legislativo e judiciário (o novo malandro de Chico Buarque41). Sem esquecer o Odorico Paraguaçu de Dias Gomes, criado, na peça O bem-amado, a partir do arquétipo do político brasileiro. Considerando apenas os tempos mais recentes, ao longo de décadas inúmeros escândalos que vazam nos meios de comunicação, tramas visíveis para quem quiser ver, constituem amostras nítidas da grandeza da política brasileira. E aquilo que não é visto? E tudo o que não aparece? Seria preciso que um grande historiador se propusesse a escrever uma História da corrupção no Brasil para que uma consideração mais consistente do problema pudesse dispô-lo de maneira adequada. Alguém duvida de que a corrupção seja um dos mais importantes componentes da política? Tanto que o humor de Luis Fernando Verissimo propõe que se implante no Brasil o Ministério da Corrupção42. Murilo Mendes, na sua História do Brasil, de 1932, faz o deputado cantar, no tom do dito popular: “Chora, meu filho, chora. / Ai, quem não chora não mama, / Quem não mama fica fraco, / Fica sem força pra vida, / A vida é luta renida, / Não é sopa, é um buraco”; e mais: “Se eu não tivesse chorado / Nunca teria mamado, / Não estava agora cantando, / Não teria um automóvel, / Estaria caceteado, / Assinando promissória” (“Hino do deputado”). Já no poema “Teoria das compensações”, fica apontada a mútua dependência entre o bicheiro vereador e o presidente da Câmara Municipal, “O bicheiro ganha sempre / Na eleição pra vereador. / E ‘seu’ presidente acerta / Muitas vezes na centena” — bicheiro, empresário, lobista: à teoria das compensações seja acrescentada a teoria das equivalências. A imagem do Brasil como uma 41 Identificado em sua “Homenagem ao malandro” (BUARQUE, Chico. Chico Buarque. [S.l.]: Polygram, 1993, 1 CD, faixa 5). O LP é lançado originalmente em 1978. 42 VERÍSSIMO, Luis Fernando. Comédias da vida pública. 8. ed. Porto Alegre: L&PM, 1996. Ver a crônica “Criar o Ministério da Corrupção” e também a sugestiva e direta “A arte de roubar”. 70 70 grande festa de corrupção política é muito comum, muito presente, muito recorrente e, afinal, definitiva, na cultura brasileira. Que franca resposta podemos dar a isto? Evidentemente existem políticos idealistas e honestos. A honestidade política, contudo, guarda em seu âmago a desonestidade básica dos implementos de dominação e exploração que se disfarça de busca dourada de bem-estar social. O campo da política e da oratória vazia dos tribunais é o seio da intriga, do espírito trapaceiro e da inteligência funcional e astuta; é o contrário do pensamento filosófico, conforme Sócrates os distingue no diálogo Teeteto: o pensamento filosófico não se permite, não pode permitir-se, ficar reduzido ao baixo-nível da política vulgar; o embaraço do filósofo diante do pragmatismo interesseiro do dia-a-dia provoca até o riso dos servos e da multidão, incapazes que são de aceitar que o filósofo, como Tales, caia num poço por manter os olhos no céu e esquecer os acidentes do chão. Em Platão, há uma postura ética a ser assumida pela philosophia. O verdadeiro filósofo sabe que muitas “preciosidades”, às quais é atribuído, ordinariamente, um valor desmedido, não têm, para a phronesis (o pensamento, a sabedoria), valor nenhum. Estando o seu redor em magnífica manifestação, o filósofo lança o seu olhar sobre todas as coisas, dedicando-se à física que o abarca. No coração do idealismo platônico, o saber não tem o poder aniquilador do conhecimento científico-tecnológico, não é o saber-poder funcionário da civilização técnico-científica. Perifísica e musical, eis uma filosofia alheia, contrária, superior ao poder político que domina os súditos e espolia a cidade. Trata-se de uma mitificação? “Com Platão, se inicia um grande mito ocidental: o de que há antinomia entre saber e poder”, afirma Foucault; “Esse grande mito precisa ser liquidado”, continua; “O poder político não está ausente do saber, ele é tramado com o saber”43. O ataque de Foucault ao conhecimento está situado em um tempo histórico posterior à Revolução Industrial, à bomba atômica e ao início da exploração espacial (o Sputnik foi lançado em 1957), quando as civilizações e suas epistemologias já têm milênios de experiência histórica; enquanto o pensamento de Platão situa-se em um tempo que ainda não permite medir o alcance dos danos catastróficos da ciência e da técnica (ou permite em escala muito menor). Senhor da técnica, o convincente argumento da bomba atômica diz: “Vejam bem. Nosso poder atômico alerta todas as nações para o fato de que nós, que detemos o poder político da maior força bélica existente, nós, com nosso puritanismo e nossa liberdade de mercado, é que vamos indicar a forma 43 FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto Cabral de Melo Machado; Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau; PUC-Rio, 1999, p. 51. 71 71 adequada de funcionamento do mundo. Cabe somente obedecer. A divisão atual do mundo em dois blocos não vai durar mais cinqüenta anos e os nossos opositores, responsáveis pela guerra fria, logo perceberão a inteira impropriedade dessa ilusão infantil chamada de comunismo (ou socialismo) e aderirão à única economia possível: o mercado aberto e triunfante. Enquanto nossos inimigos não adotarem a política correta, temos algumas medidas contra suas ações”; o império que detém a hegemonia do outro bloco, realmente toma resoluções divergentes e a Guerra Fria se prolonga; o chamado Segundo Mundo ruirá, mas o conflito político não cessará. Enquanto no âmbito das relações exteriores a diplomacia atenua a linguagem do poder ou se retira para que os generais a embruteçam, no âmbito interno os interesses se chocam e negociam entre si. Foucault afirma, pois, que não existe saber isento de força política e que com Platão nasce o mito da dissociação entre poder e saber. Mas em Platão o saber é, uma vez mais, ideal. Na filosofia poética e idealista de Platão, o pensador está em contradição com o poder político ordinário, está acima das tramas dos negócios públicos — reduzidos a tráficos privados — e precisa fazer o seu saber justo e virtuoso corrigir os vícios mesquinhos da política interesseira e transformá-la na verdadeira ciência política, ou seja, fazer coincidirem filosofia e política. No diálogo Político, aquele que governa a cidade é necessariamente — platonicamente — sábio; a ciência política ideal de Platão dirige todas as outras ciências e cuida das leis e de todos os assuntos da Polis, em busca da felicidade do Estado e dos cidadãos. Nas páginas de A República (livro VII, p. 232), temos Sócrates opondo os virtuosos e sábios aos mendigos ávidos da cidade dos homens; na imagem de Sócrates, a desejada e irreal virtude está ao lado da real e indesejada mendicidade política: Sim, é isso mesmo, Glauco. Se descobrires uma condição preferível ao poder para os que devem mandar, ser-te-á possível ter um Estado bem governado. Certamente, neste Estado só mandarão os que são verdadeiramente ricos, não de ouro, mas dessa riqueza de que o homem tem necessidade para ser feliz: uma vida virtuosa e sábia. Pelo contrário, se os mendigos e os necessitados de bens pessoais procurarem os negócios públicos convencidos de que é deles que podem extrair suas vantagens, isso não será possível. As pessoas guerreiam para obterem o poder, e esta guerra doméstica e interna perde não só os que a travam como também o restante da cidade. Platão é um idealista. Mas também os diálogos platônicos revelam, muito bem, a realidade injusta, corrupta e tirana da política efetiva. Tanto Platão, como Maquiavel e Hobbes estão preocupados em estudar a realidade da política e oferecer condições inteligentes de manutenção e fortalecimento do Estado. Eles querem 72 72 contribuir para uma organização política que seja favorável ao próprio Estado, que o sustente como instância superior e fundamento da sociedade. No caso de Maquiavel, a discussão é assustadora justamente porque parte da política efetiva, considerando todos os requintes de malícia e crueldade que ela apresenta. Maurizio Viroli, biógrafo de Maquiavel, observa que ele, na França, Vivendo pela primeira vez junto a um grande rei, passou a entender como funcionava uma verdadeira corte. A primeira coisa que observou foi que nas cortes, para obter qualquer coisa, era preciso ter amigos influentes e que tais amigos são conquistados com dinheiro. Todos os representantes dos diversos Estados italianos que se encontram na corte francesa buscam granjear a amizade do rei, escolhendo para si um protetor. Florença deveria fazer o mesmo, escreveu aos senhores no dia 26 de agosto, “porque aqui a razão por si só não basta” (O sorriso de Nicolau, capítulo V, p. 64-65). Em política, “a razão por si só” nunca basta, ou melhor, é necessária uma razão perversa, inclusive com tendências absolutamente “anti-racionais”, imorais e animalescas. Quando Maquiavel assevera que “a razão por si só não basta”, refere-se a uma certa sensatez, a uma certa conveniência de princípios, a algum respeito a convenções tidas como razoáveis — que, claro, a política pode desconsiderar. A idéia consagrada de razão tem uma relação direta com a tradição judaico-cristã que busca uma justificativa supraterrena para a existência e vê no bicho homem a criatura superior, imagem e semelhança de Deus, senhor da terra e de todos os animais que nela vivem. Mas foi a razão do homem que apostou na inteligência e no progresso, agentes de destruição que levaram à bomba atômica e a todos os genocídios, devidamente planejados e justificados. É a razão que nos distingue e eleva. Uma capacidade de avaliar e discernir, um admirável tino para comparar e relacionar coisas diversas e daí tirar conclusões que têm como conseqüência o soberbo edifício do conhecimento. Trata-se de um instrumento muito poderoso de dominação das coisas e do mundo. Pelo que consta, nenhuma outra espécie animal construiu mísseis de alta precisão e bombas atômicas para lançar em alvos civis. Pelo que consta, nenhum outro animal tem civilidade. As atividades do animal racional, vistas historicamente, quanto a seus efeitos mais destrutivos, que ameaçam detonar o planeta inteiro, não parecem muito de acordo com a sensatez arrogada; pelo contrário, dão uma idéia de insanidade aterradora. Os cálculos da política incluem ameaça, devastação e extermínio, tudo muito bem estudado por uma razão que realmente é um prodígio. A razão política mostra-se por si nas mortandades racionalmente calculadas e realizadas. Não assusta Maquiavel o fato de alguns príncipes 73 73 chegarem ao poder pelo crime e pela maldade, como é o caso de Agátocles da Sicília e de Oliverotto da Fermo. Considerando as razões do Estado e o poder do príncipe, as crueldades podem ser bem ou mal empregadas, segundo Maquiavel: bem empregadas são aquelas feitas de uma só vez, no momento necessário, e que depois devem se transformar em vantagens para os súditos; mal empregadas são aquelas que se prolongam e persistem, deixando assim a situação muito instável (capítulo VIII de O príncipe). De acordo com Maquiavel, a maldade é imprescindível para a política e a bondade pode acarretar a queda de uma república ou principado. Como mostra Viroli, vem daí a mágoa e mesmo a dureza de Maquiavel contra Piero Soderini, depois que a República de Florença cai sob a família Médici: Nem o passar dos anos atenuou a severidade de seu julgamento. Soderini não soubera tomar as medidas extraordinárias que a gravidade da situação exigia. Fora impedido pelo seu espírito bondoso e pela sua profunda honestidade. Como homem, era merecedor de respeito e admiração, mas como político devia ser condenado sem remissão, porque suas decisões levaram à derrocada da república (O sorriso de Nicolau, capítulo XIV, p. 161). A bondade, em termos políticos, deve ser descartada. Não cabe bondade na política, pois pode ser motivo de ruína. A malícia e a força são os seus elementos, naturalmente contendo os matizes de mentira e engodo, de injustiça e crueldade, até o último grau. No entanto, em sua teoria política, a virtù é indispensável. Maquiavel não apóia o político corrupto (mas não descarta, por exemplo, o suborno, como vimos), embora também não condene a corrupção e se detenha nela objetivamente, sem surpresa ou consideração moral. O uso da astúcia e da força também deve ser operado em favor dos súditos, não apenas em favor das elites, e deve buscar incansavelmente o fortalecimento do Estado. Nesse sentido, Maquiavel pode ser lido como utópico, porque a política se esgota nas tramas da bajulação e do oportunismo, nunca em favor do Estado e dos cidadãos. Os cidadãos são indivíduos a serem adestrados, controlados, dominados e explorados, dentro do campo de relações de força. O Estado não é mais que um efeito das relações de poder, como afirma Foucault: Sabemos que fascínio exerce hoje o amor pelo Estado ou o horror do Estado; como se está fixado ao nascimento do Estado, em sua história, seus avanços, seu poder e seus abusos, etc. Esta supervalorização do problema do Estado tem uma forma imediata, efetiva e trágica: o lirismo do monstro frio frente aos indivíduos; a outra forma é a análise que consiste em reduzir o Estado a um determinado número de funções, como por exemplo ao desenvolvimento das forças produtivas, à reprodução das relações de produção, concepção do Estado que o torna absolutamente essencial como alvo de ataque e como posição privilegiada a ser ocupada. Mas o Estado — hoje provavelmente não mais do que no 74 74 decurso de sua história — não teve esta unidade, esta individualidade, esta funcionalidade rigorosa e direi até esta importância. Afinal de contas, o Estado não é mais do que uma realidade compósita e uma abstração mistificada, cuja importância é muito menor do que se acredita44. Há, portanto, quem não se iluda com o Estado, nem como pretenso veículo institucional formado pelo interesse em um bem maior a ser alcançado, o bem comum, nem como monstro opressivo a ser tomado e reformado em favor da sociedade. Quanto a Maquiavel, Maurizio Viroli tem algumas propostas de sentidos para o seu sorriso, tão enigmático quanto o de Gioconda: Maquiavel observa a demanda política tendo um sorriso no rosto, “porque a comédia humana com seu emaranhado de paixões e de humores, o divertia desde sempre” (O sorriso de Nicolau, capítulo XV, p. 170-171); “É esse o sorriso de Maquiavel”, continua, “nem de escárnio, nem de zombaria, mas, sobretudo, uma máscara que esconde o pranto, uma defesa que protege dos olhares, sem consolo e resignado diante da mesquinhez e da maldade do mundo” (capítulo XV, p. 171); “Maquiavel ri dos homens, de seu alvoroço incessante, impelidos pelas mais fúteis paixões, incapazes de compreender que se tornavam figuras, numa palavra, ridículas”, prossegue Viroli, “Não se sente, porém, nem apartado nem superior a eles, mas parte integrante da comédia humana” (capítulo XVII, p. 201). É ainda em O sorriso de Nicolau que lemos: “Restava apenas o espetáculo da maldade e da estupidez dos homens, papas, imperadores e reis, acima de todos” (capítulo XX, p. 268). Como conselheiro político destituído e depois como funcionário insatisfeito, Maquiavel não aprova o cenário político que o cerca. Julga-se o mais clarividente dos pensadores políticos e olha de cima para o palco de desolação no qual atua como personagem secundário, “um homem de baixo e ínfimo estado”, como diz na fórmula de sua dedicatória a Lorenzo de Médicis. Nem mesmo um conselheiro político maquiavélico — como é o caso de Maquiavel — está contente com a política em curso, tão medíocre é essa política. Nem o realismo de Maquiavel se equipara à realidade da política. É neste sentido que Maquiavel pode ser visto como utópico. A própria política de Maquiavel é idealista diante da política real. Contudo, é provável que o lúcido Maquiavel, caso ocupasse o papel de príncipe nessa comédia deplorável, não encontrasse em sua constituição a virtude que exigia, e que fosse mastigado, engolido e digerido pelo leviatã da maldade e da estupidez dos homens. 44 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 14. ed. Organização, introdução e revisão técnica: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1999, p. 292 (capítulo XVII, “A governamentalidade”). 75 75 O sentido da defesa do absolutismo, do despotismo esclarecido, do regime líricoditatorial, no pensamento político, talvez seja o desejo de centralização — em uma personalidade política forte, carismática, decidida e capaz, que tenha a virtude exigida por Maquiavel, assim como a sabedoria e o senso de justiça defendidos por Sócrates — do poder máximo e inquestionável, do poder de decisão, em última instância, de vida e de morte sobre aqueles que agem de forma inconveniente em relação aos objetivos sociais. Mas existem “objetivos sociais”? O sentido do absolutismo talvez seja o desejo da potência absoluta, contrária à corrupção que o poder dissolvido numa democracia frouxa e liberal pode permitir. No Brasil, ainda hoje, há quem defenda a ditadura e também a pena de morte. Muitas vezes são pessoas reacionárias, mas muitas vezes suas opiniões são movidas por uma grande (e ingênua) vontade de ordem, de segurança e de estabilidade. Quando Hobbes defende o poder soberano, ele alega que “embora seja possível imaginar muitas más conseqüências de um poder tão ilimitado, apesar disso as conseqüências da falta dele, isto é, a guerra perpétua de todos os homens com seus vizinhos, são muito piores”45. No capítulo XXVIII do Leviatã (“Das penas e das recompensas”), Hobbes idealiza um soberano capaz e destemido, o qual não deve dobrar-se às ameaças daqueles que têm poder de causar danos ao Estado, pois, nesse caso, estaria o poder soberano, por medo, submetendo-se a extorsões e ao mesmo tempo estimulando a continuação do constrangimento — e o soberano de Hobbes nunca deve ser afetado pelo medo. No capítulo XXX (“Do cargo do soberano representante”), Hobbes reitera a idéia: um súdito ambicioso e ousado deve ser reprimido e não comprado com dinheiro ou recompensado: o soberano não pode ceder por medo. Portanto, o soberano que Hobbes apóia não é um covarde pronto a pagar para acalmar ameaças, nem um oportunista que esteja ao dispor das forças dos poderosos, nem um tirano que acione exército ou polícia para matar sistematicamente membros indefesos da população. E se o soberano não deve pagar, para comprar com dinheiro a complacência de quem pode ser prejudicial, quanto mais receber dinheiro para favorecer uma ou outra medida! Hobbes aposta tudo em um soberano digno, forte, cujas virtudes sejam dedicadas ao Estado e ao bem público. O grande problema é haver alguém humano, um líder, digno do poder soberano, que seja imune às tentações dos bajuladores ou dos compradores de influência e às pressões dos poderosos e dos usurpadores. Não existe um líder 45 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de um Estado Eclesiástico e civil. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 127 (capítulo XX). 76 76 assim no teatro político humano, porque a política não tem o papel maternal a ela associado idealmente. Quando Caio Prado Junior assinala, a propósito de dom Pedro II, que A política de D. Pedro não foi, não poderia ter sido outra coisa que o reflexo de forças que atuavam no seio da sociedade; e podemos até dizer, se tivéssemos de determinar o grau de contribuição individual do imperador para a evolução do país, ela interveio em proporções insignificantes, praticamente nulas46 — não está ele, Caio Prado Junior, imprimindo, juntamente com suas palavras, os seus anseios pela dignidade da política? Mas uma observação que tenha abandonado o tom idealista, uma observação que mantenha o devido distanciamento da cena em foco, já não pode acreditar na dignidade da política. Há milênios a política se revela tal como é. Dom Pedro II acaba os seus dias em Paris, como um velhinho simples que freqüenta uma biblioteca pública — um fim muito mais digno do que o que teria como imperador do Brasil, supondo que a monarquia se prolongasse pelo menos até sua morte. No teatro político brasileiro, temos uma história dolorosamente cômica. No campo das artes cênicas, Saulo Laranjeiras cria um personagem, um deputado corrupto, que pode ilustrar perfeitamente a política brasileira. À primeira vista pode parecer que o quadro criado por Saulo Laranjeiras represente a caricatura do político nacional; mas uma observação mais atenta comprova facilmente que o político brasileiro é que é a caricatura, insossa, ou melhor, azeda e amarga, do personagem de Saulo Laranjeiras — que, afinal, proporciona diversão e catarse a um povo de tendência humorística, que não evita rir da própria desgraça: “há no mundo muito mais comicidade do que tragédia; rimos com muito mais freqüência do que ficamos abalados”, observa Nietzsche, em Humano, demasiado humano (seção 169). As encenações chinfrins das campanhas eleitorais e os pronunciamentos públicos dos atores políticos demonstram bem o que há de caricaturesco na política, além das sessões regulares das câmaras e dos protocolos executivos, é claro. A literatura, aliás, oferece os seus modelos de político: o Galvez (Imperador do Acre) de Márcio Souza, o Pai Ubu de Alfred Jarry, o governador de província (acompanhado de seu séqüito tão diligente com a iminência da chegada do Inspetor Geral) de Nicolai Gogol. E quanto a revoluções, nos dias de hoje, quem espera solução de qualquer movimento revolucionário? Em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, Boris Gurian fala até com uma 46 PRADO JUNIOR, Caio. Evolução política do Brasil: colônia e império. 21. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001, p. 100. 77 77 certa reverência da Revolução Russa de 1917 — “uma das maiores revoluções que a humanidade realizou” —, se não lemos isto como ironia. Mas hoje vemos a Revolução Francesa e a Revolução Russa, por exemplo, sem nenhuma credulidade. Temos uma boa noção do grau de manipulação da massa popular, para além da compreensão de seus entusiastas, que houve em ambos os levantes, engano que mobilizou multidões. Com certo desdém, Hobsbawm nota, em A era das revoluções, que muitos valores aristocráticos e burgueses se prolongam após as duas sublevações: “De fato, a Revolução preservou de muitas maneiras as características aristocráticas da cultura francesa de forma excepcionalmente pura”, até, inclusive, por um curto período, a monarquia (constitucional), “pela mesma razão que a Revolução Russa preservou, com excepcional fidelidade, o balé clássico e a típica mentalidade burguesa do século XIX em relação à ‘boa literatura’”47. E já temos distanciamento suficiente do burgo medieval para entender que as “boas intenções” burguesas são táticas de uma facção política que ocorrem muito dentro da guerra aberta, embora às vezes dissimulada, por conforto, poder, prestígio e riqueza. Na consideração histórica dos grandes espaços de tempo, em uma forma de abordagem que considera séculos e somas de séculos, para Fernand Braudel, “A Revolução Francesa não passa, aí, de um momento, sem dúvida essencial, da longa história do destino revolucionário liberal e violento do Ocidente”48. Toda Revolução é uma “Revolução dos bichos”. Não há exceção. O poder que se ergue revolucionariamente, derrubando os privilégios do stablishment, em algum momento fundamenta outro stablishment. Isto é historicamente verificado. “Não sou eu quem repete essa história / É a história que adora uma repetição / Uma repetição”, assim poderia haver uma canção infantil. E há49. E então? A história se reencena? A história se reedita? A história re-re-re-retorna à exaustão? Frases que já se tornaram populares, como “E a história se repete!”, “Esse filme eu já vi!” e “Lá vem de novo a mesma novela!” indicam bem a sensação de déjà vu diante de semelhanças de fatos, na história, que chegam a contentar ou a aborrecer o arguto observador que os compara, causando-lhe, por um lado, um sorriso de satisfação no rosto ao poder estabelecer 47 HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Tradução: Maria Tereza Lopes Teixeira; Marcos Penchel. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 204. 48 BRAUDEL, Fernand. Gramática das civilizações. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 54. 49 Trata-se de “Rebichada”, do disco Os saltimbancos trapalhões (BUARQUE, Chico; BACALOV, L. Enriquez; BARDOTTI, Sergio. Os saltimbancos trapalhões. [S.l.]: Polygram, 1993, 1 CD, faixa 6), lançado originalmente em 1981. Na canção, uma voz de animal reclama do fardo que pesa sobre si: o trabalho mais grosseiro, mais baixo, mais humilhante; é a monotonia do encargo econômico do mais fraco ao longo da história (“Essa história é mais velha que a história / Dos tempos de glória do velho barão”). 78 78 paralelos e avaliar situações ou, por outro lado, um gesto de irritação contra os personagens cegos da comédia muitas vezes previsível em suas cenas comuns. Embora a história, a rigor, nunca se repita, pois os incidentes de cada tempo estão envolvidos por circunstâncias específicas e ocasionais, determinados procedimentos políticos e econômicos são armas tradicionais, acionadas continuamente, vigorosas como aumentativos crescentes: dominação, exploração, coação, repressão, opressão; projetos e empreendimentos de intervenções diretas ou indiretas e de imposições arbitrárias são sempre re-acionados, assim como a hegemonia dirigida em forma de imperialismo e de colonização (inclusive a “suave” colonização cultural); também retornam, em novas roupagens, a concessão sistemática de pão e circo para o vulgo, o enfrentamento das revoltas populares e, acima da utopia individual de qualquer um, a persistência robusta de uma das deusas-mães maiores da economia: a competição. A comparação de tempos, acontecimentos e fenômenos históricos diversos, neste sentido, é muito fecunda para uma consideração crítica de determinadas práticas consideradas “naturais” ou “admiráveis”, às vezes tidas como novidades no momento atual; também a verificação de semelhanças e diferenças de sentimentos, mentalidades e posturas de pessoas de épocas diversas pode engendrar boas discussões; o diálogo de Georges Duby, por exemplo, com os jornalistas Michel Faure e François Clauss, que gerou o livro Ano 1000, ano 2000, desenvolve várias comparações de medos dos atores históricos da Idade Média e do fim do século XX: medo da miséria, medo do outro, medo das epidemias, medo da violência, medo do além. Seja como for, na sua História da guerra do Peloponeso (I, 22), Tucídides garante: “quem quer que deseje ter uma idéia clara tanto dos eventos ocorridos quanto daqueles que algum dia voltarão a ocorrer em circunstâncias idênticas ou semelhantes em conseqüência de seu conteúdo humano, julgará a minha história útil”. Os empreendimentos humanos cintilam no escuro do palco descomunal que precipita os incidentes históricos. Não é razoável que o anacronismo e a ucronia possam ser úteis para se pensar a história e as possibilidades históricas? Seguindo as linhas regulares e aleatórias da questão, pelas brenhas quaisquer que elas errem, não vale pensar que o que está estabelecido em termos políticos, econômicos e sociais, na configuração geográfica do planeta, não tem garantia nenhuma de segurança e não passa, mesmo, de mero acidente? Assim, o que se aproxima e se distancia, comparativamente, nas revoluções? Sublevação, batalhas, derrubada do poder instituído, instituição de outro poder oficial... Independentemente das esperanças políticas que George Orwell tenha abraçado em vida, ou como resposta a tais 79 79 experiências e expectativas, seu livro, Animal Farm, no original, aponta para o fracasso dos interesses coletivos diante das espertezas do grupo dominante, legalmente representado pelos porcos, aliás — o que, longe de ser uma ofensa aos homens, é uma ofensa aos suínos, pois os equipara a lideranças políticas oportunistas, ladinas e fraudulentas, caro Orwell. Na lama do caos das relações de poder, no caos da lama sideral humanizada, estamos longe do mito e próximos da sujeira e da confusão. Hobbes vê o poder soberano como alternativa diante da guerra de todos contra todos, supondo que a soberania vença a guerra e imponha a paz. Mas Foucault, no curso Em defesa da sociedade avalia que a política já é em si a própria guerra. Ademais, a escrita do próprio Hobbes não descarta a constatação de que, sob as leis do poder soberano, ainda há uma guerra a ser combatida em nome da paz e da harmonia do grupo social, pois, no capítulo XVIII do Leviatã, verificamos a presença e a ameaça de guerra em pleno Estado, já que os “que chegam a ousar pegar em armas para defender ou impor uma opinião, esses se encontram ainda em condição de guerra”. Da mesma maneira, a disputa por reputação e por valorações mais elevadas, pode levar a querelas, facções e, finalmente, à guerra, o que faz Hobbes defender que “existam leis de honra e que seja atribuído um valor aos homens que bem serviram ou que são capazes de bem servir ao Estado”; e mais: “que seja posta força nas mãos de alguns, a fim de dar execução a essas leis”. Sob o jugo do Estado, não faltam aqueles que estejam descontentes, seja representando doutrinas contrárias ao poder instituído e, portanto, perigosas, seja em relação ao valor que recebem no âmbito das leis. Sem levar em conta a considerável força dos negócios e dos poderes econômicos mais eminentes que, aliás, com Locke, derrotaram o pensamento político de Hobbes, na Inglaterra do século XVII. A política pertence à guerra mais do que a guerra pertence à política e é a guerra que escreve a história. Em A verdade e as formas jurídicas, conjunto de conferências apresentadas no Brasil em 1973, Foucault desenvolve uma série de considerações acerca de vários temas, de certa forma díspares, mas que acabam por ser complementares, uma vez que constituem eixos de pesquisa que conduzirão a uma discussão uma vez mais política: domínios de saber, práticas sociais, discurso, subjetividade, história, práticas jurídicas e judiciárias, verdade, poder. Para Foucault, o conhecimento não advém de um sujeito transcendental dado a priori, não se constitui como um dado “essencial” deste “sujeito de conhecimento”, mas resulta de uma invenção, que dá a ele o poder de constituir-se como conhecimento enquanto tal. 80 80 Foucault apóia-se em Nietzsche (principalmente em Genealogia da moral, A gaia ciência e Sobre verdade e mentira no sentido extra-moral) para relacionar diretamente conhecimento e poder e mostrar que tanto o sujeito de conhecimento, como o próprio conhecimento e como a própria verdade têm uma história e que as práticas sociais engendram diferentes domínios de saber e formas novas e variáveis de sujeitos de conhecimento e de verdades. Historicamente falando, os saberes se impõem, lutam para se manter estabelecidos, são questionados, resistem, esforçam-se e caem; de tal embate tem-se como resultado não uma evolução, um progresso, uma linha de desenvolvimento continuísta e tranqüila, mas aquilo que Foucault (Microfísica do poder, capítulo I, “Verdade e poder”) chama de descontinuidade: observando certos saberes empíricos (usa a medicina, como exemplo), Foucault nota que não há simplesmente uma maturação na passagem de uma forma a outra; o que se vê, na realidade, é uma derrubada de poder: um regime de saber que estava (até mesmo) instituído é violentamente rechaçado e instala-se um novo regime de discurso de saber. Conflito, portanto, luta política pelo estabelecimento da verdade científica. As relações entre poder e saber são tão estreitas que Foucault sugere a unidade da categoria poder-saber. A prática do “inquérito” (investigação minuciosa que constitui a verdade acerca de algo que se passou) tem os seus efeitos de irradiação sobre domínios como a geografia e a astronomia e mesmo sobre saberes como a medicina, a botânica e a zoologia. As próprias ciências humanas nascem do desenvolvimento do poder-saber. Segundo Foucault, é o “exame” (um tipo de saber que se organiza a partir da vigilância ininterrupta e da exigência do cumprimento da norma, que se ordena em relação ao que é normal ou não, correto ou não, que se deve ou não fazer) que dá lugar às ciências humanas, como a psiquiatria, a psicologia e a sociologia, por exemplo. Os domínios de saber engendram, portanto, um saber-poder que submete, através de um conhecimento tanto mais minucioso e abrangente quanto possível, os lugares, as coisas, os seres e os indivíduos. Nas conferências de A verdade e as formas jurídicas, Foucault afirma que entre o conhecimento e as coisas que o conhecimento tem a conhecer não pode haver nenhuma relação de continuidade natural. Só pode haver uma relação de violência, de dominação, de poder e de força, de violação. O conhecimento só pode ser uma violação das coisas a conhecer e não percepção, reconhecimento, identificação delas ou com elas (A verdade e as formas jurídicas, primeira conferência, p. 18). 81 81 Quanto mais vigoroso é o conhecimento, mais domínios ele vence; até que não reste nada que não esteja absolutamente devassado, dissecado, radiografado, conhecido e subjugado por seu poder, tanto no plano das micro-esferas infinitesimais quanto no âmbito das cosmo-dimensões, tudo, absolutamente tudo, submetido à sua compreensão, à sua explicação, à sua lógica e ao seu poder — eis o precioso sonho da vontade de saber. De acordo com Foucault, para se entender a correlação entre o poder e o saber, a extensão de um no outro, é necessário considerar a história dos domínios de saber em relação com as práticas sociais. Assim, é importante ressaltar o inquérito e o exame como duas formas de práticas sociais que produzem saberes e verdades. O inquérito — levantamento minudente acerca de algo que aconteceu e das circunstâncias que envolvem o acontecido — é situado, inicialmente, por Foucault, como prática judiciária, no direito medieval. Na Alta Idade Média, a Igreja praticava o inquérito (e, para Foucault, é através da ordem religiosa que ele chegará, posteriormente, ao direito) por meio da visitatio, em que o bispo percorria sua diocese, investigando se havia ocorrido falta ou crime (inquisitio), quem teria praticado, sob que condições; a confissão do culpado interrompia a inquisitio. Além da função espiritual, a inquisitio também adquire a função administrativa, uma vez que os responsáveis eclesiásticos pelos bens e proveitos da Igreja têm a obrigação de conduzir bem a reunião, a acumulação, a distribuição etc. dessas riquezas. Daí se estende a presença do inquérito para a prática política e administrativa, no momento em que nascem o Estado e o soberano. Tendo se desenvolvido inicialmente no circuito religioso e sendo assimilado pelo poder políticoadministrativo, o inquérito liga-se, de imediato, à prática penal, mas é também utilizado na ordem científica e no domínio filosófico. Entretanto, analisando a pesquisa que se faz, na tragédia Édipo rei, de Sófocles, em torno da morte de Laio, assassinado por alguém a ser identificado e punido, para o bem da cidade (e, sabe-se, Édipo será apontado como o assassino), Foucault situa também entre os gregos a prática do inquérito. Aliás, Foucault, em A verdade e as formas jurídicas, recua ainda mais no tempo, para considerar as práticas jurídicas e judiciárias (litígios, contestações, disputas e seus respectivos encaminhamentos nas práticas sociais) em suas manifestações mais arcaicas, tal como se pode verificar em Homero. Foucault, na realidade, analisa a justiça na civilização grega, ou melhor, desde aí, passando pelo Direito Romano, pelo Direito Germânico, pelo direito feudal, para 82 82 observar de que maneira todas essas formas jurídicas são manifestações evidentes de poder político e de violência. Em Vigiar e punir, a transição do suplício para a prisão, em fins do século XVIII e início do século XIX, é vista em termos não de “abrandamento” ou “humanização” da pena, mas sim em termos de mudança de estratégia na forma de utilizar a punição como regulador social. Quanto ao exame — caracterizado por procedimentos de vigilância, de controles políticos e sociais —, Foucault situa-o no século XIX, quando já não é a reatualização de algo que aconteceu e que se quer reconstituir através de testemunhos de pessoas que viram o ocorrido ou que dele sabem algo — caso do inquérito — o expediente judiciário adotado. No século XIX, com o exame, desenvolve-se uma nova forma de controle, que recorre à vigilância initerrupta, cujo resultado é a constituição de um saber sobre o indivíduo, saber este que permite o nascimento de ciências como a psicanálise, a psicopatologia e a criminologia. É sobre o exame que repousa o panoptismo e seus mecanismos disciplinares: O panoptismo é um dos traços característicos da nossa sociedade. É uma forma de poder que se exerce sobre os indivíduos em forma de vigilância individual e contínua, em forma de controle de punição e recompensa e em forma de correção, isto é, de formação e transformação dos indivíduos em função de certas normas. Este tríplice aspecto do panoptismo — vigilância, controle e correção — parece ser uma dimensão fundamental e característica das relações de poder que existem em nossa sociedade (A verdade e as formas jurídicas, quinta conferência, p. 103). De maneira que Foucault situa no século XIX a formação de um saber que investiga o grau de normalidade ou de anormalidade do indivíduo, que verifica até que ponto ele se adapta ou não às regras, o perigo que ele representa. É este saber, que é vinculado à utilização sistemática da vigilância e do controle, que fundamenta a sociedade disciplinar. A prisão moderna nasce com as reformas dos séculos XVIII e XIX (que marcam a transição do suplício para a prisão). O direito e a justiça geram, a partir de então, formas de verdade pautadas no exame e que constituem um saber sobre o indivíduo que o torna objeto de um poder-saber diretamente interessado na sua obediência e na sua sujeição às condições de vida que lhe são impostas: Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados corretamente os objetos jurídicos definidos pelo Código. Porém julgam-se também as paixões, os instintos, as anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de meio ambiente ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, mas, por meio delas, as agressividades, as violações e, ao mesmo tempo, as perversões, os assassinatos que são, também, impulsos e desejos. Dir-se-ia que não são eles 83 83 que são julgados; se são invocados, é para explicar os fatos a serem julgados e determinar até que ponto a vontade do réu estava envolvida no crime. Resposta insuficiente, pois são as sombras que se escondem por trás dos elementos da causa que são, na realidade, julgadas e punidas. Julgadas mediante recurso às “circunstâncias atenuantes”, que introduzem no veredicto não apenas elementos “circunstanciais” do ato, mas coisa bem diversa, juridicamente não codificável: o conhecimento do criminoso, a apreciação que dele se faz, o que se pode saber sobre as relações entre ele, seu passado e o crime, e o que se pode esperar dele no futuro. Julgadas também por todas essas noções veiculadas entre medicina e jurisprudência desde o século XIX (os “monstros” da época de Georget, as “anomalias psíquicas” da circular Chaumié, os “pervertidos” e os “inadaptados” dos laudos periciais contemporâneos) e que, pretendendo explicar um ato, não passam de maneiras de qualificar um indivíduo. Punidas pelo castigo que se atribui a função de tornar o criminoso “não só desejoso, mas também capaz de viver respeitando a lei e de suprir as suas próprias necessidades”; são punidas pela economia interna de uma pena que, embora sancione o crime, pode modificar-se (abreviando-se ou, se for o caso, prolongando-se) conforme se transformar o comportamento do condenado; são punidas, ainda, pela aplicação dessas “medidas de segurança” que acompanham a pena (proibição de permanência, liberdade vigiada, tutela penal, tratamento médico obrigatório) e não se destinam a sancionar a infração, mas a controlar o indivíduo, a neutralizar a sua periculosidade, a modificar suas disposições criminosas, a cessar somente após obtenção de tais modificações50. Segundo Foucault, a penalidade não tem somente a função de punir o delito. Esta função é secundária diante de outras mais imediatas, também ligadas a propósitos disciplinares. Direito e justiça funcionam, portanto, como formas de adestramento social. Através da coerção das leis e do direito de punir, não apenas se punem criminosos, mas também, e acima de tudo, se constroem sujeitos. Ainda hoje, apesar de se falar com uma certa gagueira da falência do regime carcerário, são estas orientações políticas que regem os sistemas de punição e as práticas penais. Justiça e lei são instrumentos de precaução contra atos criminalizados. Sem falar nos ilegalismos impunes ou francamente estabelecidos; sem falar nos crimes ligados a autoridades e instituições (que, de acordo com sua recorrência, não constituem exceções, mas sim regras). As preocupações de Foucault recobrem um longo período histórico e a extensão do tempo implica que os procedimentos de sujeição não são de uma idade tenra. O que parece estar em andamento é a demonstração da assertiva de Nietzsche de que falta sentido histórico àqueles que acreditam na “bondade”, na “compaixão”, no mundo “verdadeiro” (ideal) e sonham com uma sociedade igualitária e sem exploração. A seção 259 de Além do bem e do mal constitui uma importante passagem do pensamento político de Nietzsche, pois discute a violência (social e política) em relação com a vontade de poder e a vontade de vida, o que nos lança na guerra dos impulsos fortes e vívidos, das intenções desarmônicas, das hostilidades tênues ou brutas, das lutas 50 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20.ed. Tradução: Raquel Ramalhete. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 19-20. 84 84 conscientes ou ingênuas de todos contra todos. Estamos no território das violências selvagens e inocentes, no palco global da barbárie civilizada. Para Nietzsche, a história é, por si, violenta — assim como a vida e a natureza. Foucault se propõe a discernir, ao longo da história, as diferentes formas de operação política que enquadram as pessoas na ordem social imposta. Analisa, através de seus métodos genealógico e arqueológico, como complexas e imbricadas relações de poder produzem, ao longo de toda a história, práticas políticas de controle, de fabricação de verdades e de saberes, de produção de subjetividades e de procedimentos de sujeição dos indivíduos. Em “Nietzsche, a genealogia e a história” (Microfísica do poder, p. 15-37), Foucault situa a questão do “sentido histórico” nietzscheano em termos de oposição à metafísica, à idéia de essência e à noção de origem. Contra a concepção de origem metafísica das coisas, de origem como lugar da identidade primeira e da verdade, como locus do estado de perfeição anterior à queda, Foucault afirma que “o começo histórico é baixo”. Evitar, portanto, a solenidade que esconde as intrigas, as pompas que velam as trapaças, a grandiosidade que mascara o ludíbrio. O começo histórico é vil. As coisas não têm uma origem metafísica e as verdades são inventadas. Em uma entrevista ao Magazine Llittéraire, “Sobre a prisão” (Microfísica do poder, p. 129-143), quando Brochier diz que Foucault se propõe a “denunciar as lacunas dos estudos históricos”, Foucault comenta que a história, a filosofia e a história da literatura sempre foram afeitas “a uma história das sumidades” e que só recentemente admitem “um material ‘não nobre’”. Para algo ser considerado histórico, precisava, necessariamente, ser magnificente, daí a importância das solenidades, das cerimônias de engrandecimento das coisas. É assim que os golpes, as invasões, as pilhagens e as manobras políticas obtêm o seu valor histórico: quando são acrescidos de um sentido de eminência. Assim, em A verdade e as formas jurídicas, Foucault adverte que o historiador não deve evitar a mesquinharia, pois é do mesquinho e do baixo que provém toda a grandiosidade das coisas. É vil, portanto, a história. Há muita tramóia, muita fraude, muita velhacaria, muito engodo sob a camada ilustre das medidas políticas oficiais — históricas — que dirigem as sociedades. São golpes baixos que estão por trás das magnânimas administrações. O conhecimento técnico, o saber-fazer, o progresso tecnológico, todas as atividades profissionais estão submetidos a um funcionamento administrativo que visa, sobretudo, a dominação, a exploração e um procedimento estratégico de coação, de sujeição, de adestramento. De tal maneira que, historicamente e considerando a ampla extensão de tempo de milênios que as civilizações englobam, uma prática 85 85 de violência política, cotidiana, geral e legal vai, cada vez mais, controlando, restringindo, robotizando os indivíduos, até que suas “funções” se automatizem e eles já não precisem da força que os reprime, pois que já são eles próprios que exigem, em sociedade, essas medidas. Aqui está, muito livremente adaptada, a história efetiva dos valores, na perspectiva de Nietzsche; aqui está, também como para-paráfrase, a microfísica do poder conforme a analisa Foucault. O poder precisa de um longo período de crueldade para imprimir seus valores e sua disciplina, mas o poder não só reprime. A “ortopedia social” impõe um regime de conduta tão eficiente, que o indivíduo resulta em um “efeito do poder”; isto é, o poder produz subjetividades. O poder fabrica os sujeitos. As sociedades são conjuntos de forças em tensão e em choque. A política é uma apropriação oficial da violência inerente a qualquer sociedade; é a aquisição legal (por intermédio da força) do direito de gerir soberanamente as batalhas silentes ou estrondosas; a política impõe a “ordem” à multiplicidade caótica de todas as contendas, de todos os ódios, de todos os combates. Mas por mais cara que seja à política e aos políticos a “ordem” imposta, também aqui a paz serena da exploração inquestionável não foi, ainda, alcançada. Aquém das grandes guerras, dos combates “históricos”, estão as pequenas, as mesquinhas pelejas dos bastidores, do rés-do-chão, do bas-fonds e do submundo. 86 86 Capítulo 3: Os vestígios históricos As marcas deixadas por seres humanos que existiram antes de nós estão todas cá, visíveis ou não, nos papiros e nas vísceras do mundo. Nos lixos, nas ruínas, nas escavações, nos lugares precisos ou vagos, nos livros e na vida, deixam-se perceber vestígios de um tempo milenar e até, se prolongarmos mais o olhar pelo passado afora, de um tempo que soma milhões de anos, no qual transcorreram vivências, alegrias, dificuldades, desalentos, poderes, truculências e guerras. E para além do tempo do Australopiteco está o tempo vasto do universo, pretérito e futuro. O jovem consumidor de hoje pode sentir-se feliz e seguro, contente com os seus aparelhos eletrônicos e com a comunicação ultra-rápida, satisfeito com as façanhas inacreditáveis do avanço tecnológico que, no entanto, não o assustam, porque ele acha, contemporâneo de si, que tudo aquilo que o cerca é usual e até natural. Ele pode negar-se, mesmo sendo um estudante de história, a considerar a Antiguidade e a Idade Média, por serem tempos a seu ver ultrapassados — gostaria apenas de levar em conta a sua época? Qual a extensão de sua época? Os exatos dias de sua vida? Hobsbawm detecta o tipo de universitário para quem “até a guerra do Vietnã é préhistória”51. Contudo, por mergulhado que esteja um cidadão no imediato de seu cotidiano, por indiferente que permaneça não só à história como também às eras que o engolem, sua existência material tem um contexto. O que pensa Fernand Braudel é que “a História, para ser efetivamente compreensível, tem de ser amplamente abrangente ao longo de todo o tempo dos homens” e que “apesar de, seguramente, nada se repetir, tudo tem a ver com tudo”52. Embora não seja, em suma, compreensível, e nem explique tudo de maneira razoável, a história revela muito do mundo humano e questiona justificativas mendazes, políticas e de outras ordens, que são impostas como verdades — além de outros gestos e trejeitos. A historiografia pode se subordinar à ciência e à mentalidade tecnicista, querer cobrir-se de razão e precisão, adotar o instrumentalismo, adorar a objetividade como um ídolo, arrogar-se uma exatidão que é impossível de ser alcançada. Tomar o passado e o acontecimento histórico 51 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. Tradução: Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 13. Pouco antes, o historiador observa que a pergunta de “um estudante americano inteligente” — “se o fato de falar em ‘Segunda Guerra Mundial’ significa que houve uma ‘Primeira Guerra Mundial’” — indica que não é seguro o professor do curso de história pressupor nem mesmo as informações mais elementares sobre o século XX. 52 BRAUDEL, Fernand. Memórias do Mediterrâneo: Pré-História e Antiguidade. Edição estabelecida por Roselyne de Ayala e Paule Braudel. Tradução: Teresa Antunes Cardoso et al. Lisboa: Terramar; Rio de Janeiro: Multinova, 2001, p. 13. 87 87 como “objetos” é uma postura parcial e destruidora: não é uma relação entre “sujeito” cognoscente e “objeto” a ser conhecido que está em jogo, em nenhum dos casos. O conhecimento científico pode vangloriar-se quanto queira de sua “genialidade”, mas os horrores dos seus efeitos e a ameaça de assolação geral decorrente de seu poder são hoje perfeitamente visíveis. Para que submeter a história ao poder redutor da ciência? Se o método historiográfico não escapa ao escopo científico, pelo menos pode tentar fugir de sua determinação. “Uma interpretação do mundo ‘científica’”, para Nietzsche, “poderia ser uma das mais estúpidas, isto é, das mais pobres de sentido de todas as interpretações do mundo”53. Ademais, desde a capa de uma das edições que reúnem seus fragmentos póstumos, Nietzsche alerta: “O objetivo da ciência é aniquilar o mundo”54. Martin Heidegger também vê na ciência uma atividade que disseca a vida; uma forma de conhecimento que reduz todas as coisas a simples objetos e as submete, pelo esforço de sua eficiência, aos domínios da teoria e da prática. No seu livro póstumo Apologia da história, que a turbulência da Segunda Guerra Mundial não permitiu que fosse acabado, pois o nazismo extinguiu a vida do autor quando ele apenas tomava suas notas, Marc Bloch escreve que a história é a “Ciência dos homens”; e acrescenta: “dos homens, no tempo”. Mas, antes, avalia: “Diz-se algumas vezes: ‘A história é a ciência do passado’. É [no meu modo de ver] falar errado”, porque “a própria idéia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência, é absurda”. E, ainda antes, pondera: “Resguardemo-nos de retirar de nossa ciência sua parte de poesia”55. Combatendo a orientação positivista das pesquisas históricas, que o antecedeu e dentro da qual se formou, Bloch preserva o caráter racional e científico da história, afinal ela é uma das “ciências humanas”. No entanto a instabilidade, o imprevisível, o erro, a multiplicidade e o mal-entendido são apontados e respeitados em Apologia da história tanto quanto brotam na própria realização histórica. A Apologia da história tem características de quebra-cabeça (pelo exercício de montagem que exige após a morte do autor; aliás, as possibilidades de montagem são plurais) e é um exemplo de teoria inacabada, aberta, provisória e irredutível a uma certeza monolítica. 53 NIETZSCHE, Friedrich. A gaia ciência. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 277 (seção 373). 54 NIETZSCHE, Friedrich. Sabedoria para depois de amanhã. Seleção dos fragmentos póstumos por Heinz Friedrich. Tradução: Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 5. Como foi dito, a frase de Nietzsche está impressa na capa da edição brasileira. 55 BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício de historiador. Edição anotada por Étienne Bloch. Prefácio: Jacques Le Goff. Apresentação à edição brasileira: Lilia Moritz Schwarcz. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002, respectivamente p. 55, 52 e 44. Os colchetes indicam acréscimo do próprio Bloch em relação a redações anteriores. 88 88 Estamos atacando a ciência, mas não é o caso de propor a mais sublime estética verbal. Não nos iludamos a ponto de nos querermos puramente anticientíficos, a ponto de pretendermos apartar nossa linguagem da objetividade e de proclamá-la religiosamente a casa do Ser. Qual a medida de nossa relação com a ciência? Também em Heidegger, esse pavão misterioso de pavulagem vigorosa que pretende ter superado o primado da filosofia e manifestar-se plenamente no próprio advento do pensamento poético, há muito de racional, gramático, retórico e científico. A poesia não é alheia à vontade de poder, nem o pensamento, e o beato que reivindica a expressão do Ser não só participa do mitopoético, como também mistifica. A argumentação em favor do pensamento que concerne ao Ser, segura portadora da verdade, usa os recursos lógicos, retóricos e científicos da interpretação técnica que ataca. E, para quem considera o mito como uma espécie de paraíso perdido, uma instância poética intocada pela razão, Theodor Adorno e Max Horkheimer respondem que o mito já é uma forma de esclarecimento, que submete as coisas, constrange-as como objetos subjugados à inteligência do sujeito e racionalmente as domina. Sobre este ponto difícil, pode haver réplica e tréplica no ringue do pensamento, as facções podem encolerizar-se na defesa de seus postulados, pode haver uma guerra, até; as linguagens divergem, como combatentes, em um campo no qual a erística não é somente uma discussão de segunda categoria — e se a própria erística for a “casa do Ser”? Um pensador que julgue estar em consonância com o Ser, em sua linguagem poética, pretende, em primeiro lugar, ter superado todas as outras linguagens e ter alcançado o suprasumo da convivência com a verdade. Vontade de poder e vontade de prestígio: não é à toa que a poesia tem o seu sucesso comercial, também; a elaboração cuidadosa e musical implica primazia sobre as outras linguagens. Questão de hierarquia, mais uma vez. Bom êxito no arranjo verbal, exploração precisa de propriedades lingüísticas, uma comovente sensibilidade, profissionalmente falando, e eis o poeta, querido, respeitado e consagrado. A filosofia de Heidegger é a mais metafísica de todas as metafísicas. Quando julga conduzir-se à essência e à verdade, ele está sendo, mais uma vez, transcendental. E se a verdade for corriqueira e banal? Para Nietzsche, o número de verdades é tão plural quanto o número de ilusões ou mentiras que somos capazes de produzir. A questão não é superar a metafísica? Sim, a verdade existe e é decidida no campo de batalha. Mas voltemos ao frêmito da história. Contingências múltiplas e efeitos imprevistos — e imperceptíveis — de curto ou longo alcance integram a substância da história. Quanto à estabilidade seqüencial que a história oficial, 89 89 tradicional ou escolar tenta sugerir (praticamente a justificativa da configuração dos períodos e da ordem — política, social e econômica — predominante), embora as ações políticas sejam muitas vezes detalhadamente planejadas e tenham objetivos definidos, não são seguras e nada garante a realização plena de suas intenções; por outro lado, as justificativas das medidas políticas e econômicas podem fazer parte (e geralmente fazem) de uma retórica repleta de presunção e ilusionismo. As realizações dramáticas das ações históricas se dão, portanto, sob uma grande carga de forças circunstanciais, imprevistas e até meramente acidentais, muitas e muitas vezes. Ou, mais ainda: tudo é acidental? A “compreensão” histórica vem sempre a posteriori, já como resultado de um processo de ordenamento, de organização e de sistematização, porém a história está sempre ali, acontecendo, sem nenhuma explicação. As explicações são retrospectivas. As casualidades, o desconhecido e o precário já se transformaram em algo mais ou menos definido quando a compreensão histórica pode pronunciar-se como explicação. O longo trajeto do conhecimento e o saber acumulado das ciências educam para um “entendimento” do mundo que ajuda a manter a ilusão da explicação. De modo que o inexplicável está no corpo da história, assim como a história oral imprecisa (versões contraditórias e duvidosas) e o fantástico estão não só em Heródoto: quanto de fantástico há na própria realidade? A linguagem da história, portanto, é híbrida, não pode querer ser uma explicação científica pura (isto é insuficiente), e o historiador deve tomar decisões quanto à sua escritura. “A arte é mais poderosa do que o conhecimento, pois é ela que quer a vida, e ele alcança apenas, como última meta, — o aniquilamento”, formula Nietzsche56. A escrita da história, como percebe Marc Bloch, necessita da linguagem artística. Quando pensa nas “dificuldades da viagem” à préhistória, Braudel reflete: “O único verdadeiro recurso é a arqueologia, ciência à parte que ainda mais se complica quando se trata de arqueologia pré-histórica, acrescentando o adjetivo uma ciência a outra, e incertezas a outras incertezas”57. Hesitação, surpresa, falta assumida de informações em algumas situações, comoção e encantamento dão ao texto de Braudel um tom poético que faz a leitura acompanhar plasticamente a sensibilidade de seu olhar: 56 NIETZSCHE, Friedrich. Cinco prefácios para cinco livros não escritos. 3. ed. Tradução e prefácio: Pedro Sussekind. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005, p. 30. A frase está no primeiro prefácio, “Sobre o pathos da verdade”. 57 BRAUDEL, Fernand. Memórias do Mediterrâneo: Pré-História e Antiguidade. Edição estabelecida por Roselyne de Ayala e Paule Braudel. Tradução: Teresa Antunes Cardoso et al. Lisboa: Terramar; Rio de Janeiro: Multinova, 2001, p. 34. Ao mesmo livro (p. 17) pertence a citação imediatamente posterior, no corpo do texto. 90 90 Sobre o imenso passado do Mediterrâneo, o mais belo testemunho é o do próprio mar. Isto tem de ser dito e repetido. É preciso vê-lo uma e tantas vezes. É certo que, por si só, ele não explica tudo acerca de um passado complicado, construído pelos homens com mais ou menos lógica, capricho ou insensatez. Mas o mar restitui pacientemente as experiências do passado, devolve-lhes as primícias da vida, coloca-as sob um céu, numa paisagem que podemos ver com os nossos próprios olhos, análogos aos de outrora. Um instante de atenção ou de ilusão, e tudo parece reviver. Ainda em Memórias do Mediterrâneo (capítulo sexto, p. 222), o Braudel dedicado e delicado lamenta a horrível aniquilação de Cartago: “Terrível fim! Do fundo do coração — e os historiadores, mesmo imparciais, têm um coração — quem não sofreu com o Delenda est Cartago do velho Catão, e com a impiedosa destruição ordenada por Cipião Emiliano?”; e conclui: “Uma voz muito original foi então condenada ao silêncio”. Já o Maquiavel que tem a história como mestra, em outro contexto, ainda quanto à guerra e à decisão de arruinar lugares, reclama do governo de Florença a falta de rigor com Arezzo: “Antigamente, os romanos julgaram que aos povos rebelados se deve ou beneficiar ou extinguir e que qualquer outro meio seja perigosíssimo. A mim não parece que vós aos aretinos tenhais feito qualquer dessas coisas”58. A opinião de Maquiavel é que o segundo procedimento romano (a extinção) fosse adotado por Florença em relação aos povos rebelados. Cartago aparece em Agosto (capítulo 9, p. 144), na fala de um senador corrupto e afetado: “Os americanos são o povo mais vulgar que existe no mundo. Eles não têm história, cultura, nada, só dinheiro. Já a Tunísia... Você sem dúvida já ouviu falar em Cartago, um império fundado pelos fenícios há milhares de anos...”. A poesia do estupor da história pode não seduzir, no entanto; ou atrair oportunistas. Reduzida a uma função de bibelô, a história pode ser adotada como fonte de elementos para decoração de estilos intelectuais, que querem ser temperados com instrução, afetação e donaire. Nas narrativas de Rubem Fonseca, é recorrente, entre personagens, um tipo de postura de quem lança mão do passado histórico, da arte e do conhecimento da mesma forma como as socialites se atêm ao vestuário e à maquiagem para fazer brilhar sua pose nos cerimoniais e na coluna social: “você sai todas as tardes, para fazer ginástica, ou para ir ao cabeleireiro, ou para ir ao curso de História da Filosofia, ou para ir ao curso de História da Arte” (E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto, capítulo 2, p. 28). No conto “O inimigo”, de Feliz ano novo, 58 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe; Escritos políticos. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 123. A fala de Maquiavel está nos Escritos políticos (“Do modo de tratar os povos do vale do Chiana rebelados”); no mesmo ponto, a história como mestra: “Ouvi dizer que a história é a mestra das nossas ações” (p. 122) e “Portanto, se é verdade que a história ficaria a mestra das nossas ações, não é mal para quem devia punir e julgar as cidades do vale do Chiana tomar exemplo e imitar aqueles que foram donos do mundo” (p. 123). 91 91 lemos a versão masculina da busca de sofisticação intelectual: “Félix me contou que tinha uma vida cheia: os professores fulano e beltrano lhe davam aulas particulares de economia, sociologia, história da arte e da filosofia”; e o cultured man se justifica: “Um homem da minha posição tem que se refinar continuamente, aguçar a inteligência, acompanhar os tempos”. Há uma sagacidade na busca de refinamento, principalmente no segundo caso, já que a economia é uma ciência de medido poder, que pode ensinar estratégias importantes para a vida que se realiza num mundo que é, essencialmente, o mundo dos negócios; e também a sociologia pode aguçar uma inteligência pragmática dentro da liberdade de mercado. No romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (primeira parte, capítulo 8, p. 73), é uma representante da estirpe dos “novos-ricos”, a esposa de classe de um pastor protestante abastado, que se dedica à sofisticação do espírito: “‘Estou fazendo um curso de história da arte’, ela disse, ‘mas não inclui o cinema, infelizmente. O cinema pode ser considerado uma arte, não pode?’”. Vista meramente como conhecimento científico ou como decoração, eis a história subtraída e convertida em inteligência disciplinar ou em futilidade. Mas o olhar pode se perder em outras faces e em outras entranhas históricas: a história que se desnuda para nutrir leituras, de vestígios de dramas universais — prístinos, próximos. Sumidouro basicamente composto de restos, de rastros, de indícios (mal a mais novíssima mercadoria foi lançada no mercado e já é um resíduo), o tecido histórico que então se abre e que traga aquele que o lê não é somente um corpoobjeto. É um conjunto de imagens ambivalente e multidimensional, no qual se entrelaçam o concreto, a deturpação, a certeza, o abstrato, a fantasia e a ilusão, entre outros espectros. Dimensão de potências comuns e de projeções extraordinárias e oníricas, caminho abissal de toda sorte de representação, nela se espalham evidências e pistas falsas, dela são retiradas verdades; de dentro dela são apresentadas constatações e convicções, mas também pretensões e enganos. Este âmbito físico, simbólico e refratário esclarece e confunde o olhar que procura uma história unívoca — que não há. E toda a história não é presente, uma vez que nunca deixa de transmitir os seus abalos sísmicos? A Guerra do Peloponeso ainda reitera os seus desastres (juntamente com a influência da civilização grega); os romanos continuam (em meio a suas lições gerais) sofrendo o desespero de sua decadência; todo o avanço técnico e científico da Idade Moderna segue “avante”; nada detém o desenvolvimento de hoje (o que pode impedir sua marcha senão terríveis cataclismos?). O acontecimento histórico, dentro da cosmogonia da história, é sempre presente, pertença ao passado que pertencer. A Grécia antiga está em plena manifestação, basta que a 92 92 leiamos. Esta história, plural e cambiante, pois, está sempre acontecendo. Os descalabros antigos, assim como os de ontem e os de hoje, ocorrem neste exato momento. Basta que nos voltemos para eles e tudo está ali, na magnífica apresentação de seu próprio drama. E desde que as estrelas recebam nomes e a primeira cosmologia seja concebida, assim como a primeira astronomia, já a perscrutação lança sua devassa pelos confins do universo; as viagens espaciais e as pesquisas astrofísicas confirmam, depois, a invasão. Não é sempre um texto ameno o que se expõe quando a história oferece à leitura a amplidão de seu tecido cósmico. Ao contrário, para os mais atentos, o brilho do desastre implica quase sempre uma lucidez crítica que se limita com a apreensão e com a desconfiança. Está na ficção de Rubem Fonseca a densa história dessas luzes e dessas trevas. Na fala, já referida, de um personagem de O caso Morel (capítulo 141), ele reclama (de maneira leviana, sabemos): “sou uma vítima das forças da repressão, como Protágoras, que fugiu da Atenas de Péricles para não ser preso, mas mesmo assim teve seus livros queimados; como Sócrates que foi morto porque queria liberdade para discutir suas idéias”. A Atenas de Péricles é a Atenas democrática. Protágoras, Péricles e Sócrates: são três personagens trágicos que Rubem Fonseca dispõe. Protágoras morre no exílio; Péricles, vítima da peste; e Sócrates, condenado à pena capital. Lemos na História da Guerra do Peloponeso de Tucídides o que agora mesmo está acontecendo na Grécia antiga. Logo após a luta de todos os gregos unidos contra os enormes contingentes persas auxiliados por estrangeiros (contudo há gregos que defendem a causa persa, contra a Hélade), a dissensão entre os helenos provoca a iminência da guerra entre duas ligas, uma formada em torno de Atenas e a outra em torno de Esparta. Ainda sendo possível evitar o confronto, na assembléia de Atenas, Péricles convence os atenienses a se decidirem pelo enfrentamento. A guerra começa. De acordo com as orientações de Péricles, os campos são abandonados e os habitantes se concentram na cidade. Mas basta que vejam suas propriedades sendo saqueadas e destruídas pelos inimigos para que se agastem com Péricles que, no entanto, mantém o seu plano; depois, os primeiros mortos chegam para serem sepultados; diante do desalento geral, Péricles profere a oração fúnebre em honra das vítimas, na qual defende a coragem, o império e a glória, conforta os parentes, aconselha a população e conclui: “Agora, depois de cada um haver chorado devidamente os seus mortos, ide embora”, a guerra continua. Vem a peste, em seguida, e com ela aumenta a indignação contra Péricles, que se dirige aos 93 93 atenienses e os persuade de que é necessário persistir na guerra, ser forte e “suportar até as maiores calamidades”; mas a irritação contra o comandante só se abranda um pouco quando ele sofre a imposição de uma multa. Péricles morre depois, atingido pela peste. O personagem de Rubem Fonseca alude a Protágoras e Sócrates como vítimas da violência de Estado. Sua menção, no entanto, é meramente retórica, como já foi dito e repetido. A Atenas democrática é a Polis que recebe os estrangeiros talentosos e até os adota, em certos casos. Nos diálogos Sofista e Político, um estrangeiro tem participação fundamental no texto que resulta dos discursos dos interlocutores (ele substitui Sócrates — e satisfaz os circunstantes). Os mesmos personagens participam das palestras que se desenrolam em Teeteto, Sofista e Político; tendo ouvido a discussão que constitui o Sofista, Sócrates, grato, fala, no início do Político: “Quanto te agradeço, Teodoro, por me haveres apresentado Teeteto e o Estrangeiro!”. Protágoras de Abdera, pois, sofista estabelecido em Atenas, é banido e morre no exílio (no Protágoras de Platão, como personagem, Protágoras aparece como alguém que precisa fazer muitas viagens, oferecendo os seus serviços de importante e renomado profissional do conhecimento, tanto que sua presença em Atenas é aproveitada com entusiasmo e certa suntuosidade, na casa de Cálias, um rico cidadão, por um eminente elenco que inclui outros famosos sofistas e gente de grande projeção na cidade59). A tríade Péricles, Protágoras e Sócrates forma um conjunto que remete ao Estado, à guerra, às leis, à liberdade, à censura, ao exílio e à pena de morte, ou seja, a um amplo contexto institucional. Cabe pensar sobre a violência cometida contra Protágoras e Sócrates, pois a censura é normalmente condenada na democracia. Seus livros foram queimados, como também na Alemanha de Hitler foram incinerados livros considerados perigosos. A questão a que se chega é: “Qual o limite da liberdade no Estado?”. Outras perguntas se impõem: “Em uma democracia deve ser permitido expressar tudo?”, “Deve-se impor limites às manifestações verbais?”, “A punição máxima imposta pela lei deve ser a pena de morte?”. Na Antiguidade o conhecimento mais corrosivo ainda não foi domado como “propriedade intelectual” ou como “manifestação cultural” de determinada comunidade política (nem no Brasil militarista, que censura e mata aqueles que manifestam o proibido). 59 Como adendo à edição de As leis de Platão da editora Edipro, é oferecido um excerto de Histoire de la philosophie européene, de Alfred Weber, pequeno texto que ali ganha o nome de “Protágoras”. 94 94 Se um cidadão, por exemplo, é acusado de impiedade para com os deuses, ou de ateísmo, isto implica que sua periculosidade foi detectada: a criatura ousou de alguma forma atacar os deuses e agindo assim ofendeu um princípio ordenador da sociedade, pois a religião é um mecanismo de controle a serviço do poder oficial. Por mais que na sua consciência íntima o rei ria dos deuses, ele precisa fingir devoção (mesmo na civilização laica: a sociedade mais “avançada” ainda não prescinde totalmente da religião, até no início do século XXI, quando muitos segmentos da inteligência consideram a fé em Deus um preconceito, uma crendice, algo anacrônico e ultrapassado). Na Atenas clássica, uma cidade religiosa, a filosofia, a sofística e a ciência se desenvolvem tanto que o ateísmo de alguns é sabidamente referido (e podemos perceber entre os gregos já uma tendência ao “Estado laico”). Foi por ser acusado de impiedade para com os deuses e de corrupção da juventude que Sócrates foi condenado à morte. Foi por ofender a religião que Protágoras foi banido. Mas, próximos na infelicidade, Sócrates e Protágoras se distanciam e se opõem em seus pensamentos. Protágoras assume-se como sofista e defende que o homem seja a medida de todas as coisas. No Teeteto, o Sócrates de Platão não só discorda da afirmação de Protágoras, como se empenha em derrotá-la, por detectar a gravidade das conseqüências de seu pensamento. Assim, de um lado estaria a sofística, berço do relativismo de todas as coisas, e de outro a filosofia, âmbito das discussões eticamente comprometidas. A maior ameaça da sentença de Protágoras está no fato de que, segundo sua conclusão, nada em si é verdadeiro ou tem tal ou tal valor, é o homem que, de acordo com as circunstâncias e os interesses em jogo, determina a verdade e o valor de tudo quanto há. Sócrates ataca a sentença de Protágoras de que as coisas não são em si mesmas, mas vêm-a-ser de acordo com aquilo com que estão em relação, e defende a verdade, a virtude e o belo como disposições em si e não em relação com uma atribuição externa. Contra a assertiva de que o homem é a medida de todas as coisas, Sócrates proclama que a verdade não depende da opinião de cada um. Se Protágoras — continua Sócrates — admite que há pessoas mais sábias que outras e que o sofista, por ser sábio, está habilitado a ensinar a virtude e a formar novos sábios, logo, existe uma escala na sabedoria das pessoas, há pessoas que sabem e pessoas que são ignorantes; por conseguinte existem opiniões falsas. “Portanto, não estaria ele com isso admitindo que sua própria opinião é falsa, na medida em que reconhece que a opinião dos que julgam estar ele errado é verdadeira?” (Teeteto, 171 b). Sócrates, assim, deixa em aporia a sentença de Protágoras. Porém a questão inquietante permanece. O relativismo de Protágoras, 95 95 em última instância, leva ao seguinte ponto: por mais absurda que seja a “verdade” defendida por uma opinião (ou uma lei, ou um decreto, ou uma decisão política) individual, ela pode ser imposta — ou pelo convencimento, ou pela violência; e, por outro lado, o que pode dar estatuto de verdade à verdade ideal de Sócrates para aqueles que não a admitem? Assim para qualquer verdade. Existe uma política ou uma justiça que estejam acima dos interesses imediatos e das lutas pelo poder, pelo status, pela riqueza? Existe uma política justa? Existe a Justiça? Existe a Verdade? Questões de Platão que ainda hoje não foram suficientemente respondidas, uma vez que Heidegger, Acusador-Mor da metafísica, volta a defender a essência, o ser, a verdade: “Suposto que, no porvir, o homem possa pensar a Verdade do Ser, então ele pensará a partir da ec-sistência. Pois é ec-sistindo que ele está no destino do Ser”60. Pretensão de querer alcançar ou ter alcançado o sentido mais plausível, o único, o primeiro, o último, o verdadeiro, a essência, o ser: explicar o mistério já não é matá-lo? Assim como tem os seus motivos trágicos, é cômico, também, o corpo rabelaisiano e disciplinado da História: Marc Ferro, na sua História das colonizações, dá um exemplo. A colonização australiana serviu, inicialmente, para a Inglaterra se livrar de seus criminosos, os quais, deportados para a Oceania, eram chamados de “convictos”. Transportados para ali em viagens precárias e degradantes, forçados a servir de mão-de-obra, esses criminosos, insatisfeitos com sua condição, aproveitavam a extensão do país para fugir, logo que tinham uma chance. “Toda a Inglaterra gargalhava com a história de Robert Peel”, conta Ferro, “que conseguira uma concessão de 300 mil acres na Austrália Ocidental, levara consigo trezentas pessoas e”, miseravelmente, “seis meses depois de chegar, estava reduzido a buscar sua própria água, a fazer sua cama, pois todo mundo tinha desaparecido”61. Não devemos esquecer que houve um grande massacre de aborígines na Austrália, assim como humilhação e extermínio de nativos em todo o espaço de colonização européia. A propósito do empreendimento dos espanhóis na América, Bartolomé de Las Casas, esclarece: “entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes e lhes abriam o ventre e as faziam em pedaços”. E ainda: “Aqueles que foram de Espanha para esses países [...] usaram de duas maneiras gerais e principais para extirpar da face da terra aquelas míseras nações. Uma foi a 60 HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. Introdução, tradução e notas: Emmanuel Carneiro Leão. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995, p. 59. 61 FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências, séculos XIII a XX. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, capítulo 4, p. 180-181. 96 96 guerra injusta, cruel, tirânica e sangrenta”. A força da ocidentalização. E a outra, caro frei? “Outra foi matar todos aqueles que podiam ainda respirar ou suspirar e pensar em recobrar a liberdade ou subtrair-se aos tormentos que suportam, como fazem todos os Senhores naturais e os homens valorosos e fortes”62. Oh, quanta paz espiritual e quanta civilidade os europeus levaram aos bárbaros das terras longínquas! Depois são os ianques que oferecem aos povos democracia e liberdade, com o beneplácito socorro de seu puritanismo. Antes da inauguração da “Idade Moderna”, os povos “indígenas” conviviam com as vicissitudes próprias de suas políticas “primitivas”; lendo o frei Bartolomé de Las Casas (e também Pero Vaz de Caminha), percebemos a boa recepção dada aos europeus: os “índios” não percebem que é a invasões bárbaras que dão (afetuosa) acolhida. Las Casas testemunha a crueldade da colonização, mas, fria amoralidade da história: Bartolomé de Las Casas — um colono aventureiro que se sensibiliza com a dor dos “índios”, abdica de sua superioridade européia e de seus bens, converte-se à Igreja e, como “apóstolo dos índios” e “defensor e protetor universal de todos os povos indígenas”, advoga em favor da frágil gente das Américas — é, ele próprio, um agente da destruição que denuncia. Las Casas está entre os religiosos que têm o poder de condenar a religião nativa e impor ao Novo Mundo um deus alienígena. Por mais combativo que seja na defesa da causa indígena, sua função política é abençoar a conquista e suavizar ou neutralizar as reações hostis mediante a conversão e a implantação de uma nova fé, submissa e obediente. Os homens não são compreensíveis, nem sua história universal, nem suas histórias perdidas, nem suas histórias plurais ao alcance dos olhos. Entretanto as narrações disponíveis, verbais, pictóricas, fósseis ou em forma de qualquer obscura grafia, estão todas vivas em seus próprios sentidos. “Quando penso na pequena duração da minha vida”, pondera Pascal, em um de seus pensamentos inquietos, “absorvida na eternidade anterior e na eternidade posterior, no pequeno espaço que ocupo, e mesmo que vejo, fundido na imensidade dos espaços que ignoro e que me ignoram, aterro-me e assombro-me”63. Dos escombros dramáticos da história e da cronologia cósmica, ouvimos vozes e percebemos sinais. Também na ficção de Rubem Fonseca estão disseminados indícios de uma pulsante história, novíssima ou arcaica. É sintomático que o narrador-personagem de Vastas emoções e 62 LAS CASAS, Bartolomé de. Brevíssima relação da destruição das Índias: o paraíso destruído. Tradução: Heraldo Barbuy. Apresentação e notas: Eduardo Bueno. Porto Alegre: L&PM, 1984, respectivamente p. 32 e 29. 63 PASCAL, Blaise. Pensamentos. Introdução e notas de Ch.-M. dès Granges. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 95 (pensamento 205, na edição de Brunschvicg). 97 97 pensamentos imperfeitos (parte 3, capítulo 5, p. 229) minta precisamente dessa maneira, quando fala de sua profissão, em um hotel de Diamantina, Minas Gerais: “Sim. Sou professor de português. E de história. Estou fazendo uma pesquisa histórica aqui em Diamantina”. Os livros de Rubem Fonseca freqüentemente remetem o leitor a acontecimentos históricos importantes e variados períodos do passado, recentes ou longínquos. Como exemplos, repetidos ou não aqui neste trabalho, podem ser vistos: o tempo de Platão, em A grande arte (1983); o século XVII do dramaturgo Jean-Baptiste Poquelin, autor de O Tartufo, em O doente Molière (2000); o século XVIII de Luís XVI e da Revolução Francesa, que aparece em um sonho do protagonista do conto “Onze de maio”, narrativa que faz parte de O Cobrador (1979); sessões parlamentares sobre código penal e pena de morte que ocorrem na Câmara dos Deputados, no Brasil monárquico do século XIX, no conto “A recusa dos carniceiros”, de Romance negro e outras histórias (1992); o nazismo do século XX, em A grande arte e em Mandrake (2005); a França ocupada pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, em “Henri”, de Os prisioneiros (1963); a guerra fria entre Estados Unidos e União Soviética, que deixou o mundo todo sob tensão e receio durante décadas, em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (1988). Assimilando em suas páginas variados e distantes tempos históricos, a ficção de Rubem Fonseca sinaliza que a violência está presente ao longo de toda a história humana e que esta é inegavelmente sangrenta. Uma leitura do conto “O livro de panegíricos” (Romance negro e outras histórias) pode nos situar quanto à questão. Em “O livro de panegíricos”, José, um personagem forte que protagoniza várias aventuras difíceis espalhadas nas histórias de Rubem Fonseca64, depois de ler um anúncio no jornal, apresenta-se como enfermeiro, em uma casa rica, onde mora o velho advogado Baglioni, doente que já tentou e ainda pretende matar-se. Além do velho Baglioni, estão na casa seu filho e uma mulher, que estão de partida para uma viagem — e têm pressa. José ficará sozinho com o seu paciente. José, que é o narrador da história, na realidade, está envolvido em uma situação complicada, que ele omite e que permanece oculta durante todo o conto; admitido, ele usa a casa como abrigo e sua permanência ali como tempo de espera, pois aguarda que algo se defina dentro dos embaraços incertos em que se encontra. No início recebido com certa medida de 64 Um roteiro de leitura dos passos tortuosos de José pode seguir os contos “A matéria do sonho” (Lúcia McCartney), “Fevereiro ou março” (Os prisioneiros), “O desempenho” (Lúcia McCartney), “A força humana” (A coleira do cão), “O caso de F.A.” (Lúcia McCartney), “A carne e os ossos” (O buraco na parede), “O livro de panegíricos” (Romance negro e outras histórias) e “O anjo da guarda” (Histórias de amor). Some-se ainda “José — uma história em cinco capítulos”, de O romance morreu, para uma aproximação entre autor e personagem. 98 98 desconfiança, desinteresse ou frieza por Baglioni, José, aos poucos, vai se tornando um confidente do velho, apesar da austeridade do enfermeiro. Baglioni conta a sua vida a um ouvinte atento, que prefere a voz do velho aos livros, ali presentes em grande quantidade. Provavelmente a dureza de sua vida levou José a abandonar os livros: “Meu quarto é confortável, com um pequeno banheiro, televisão e uma estante de livros. Se fosse antigamente eu examinaria livro por livro para ver se algum me interessaria”; “Grandes merdas. Há muito tempo deixei de dar importância para o que se lê nos livros”. De acordo com o horário de trabalho de José, ele cuida de seu paciente durante três dias e tem uma folga no quarto dia, quando é substituído por uma profissional, Lourdes, chamada de Lou (ele é um impostor). Na última noite de trabalho do enfermeiro, José e Lou urdem, com seus corpos, um diálogo de carnes: “Pega minha mão. Vamos para o quarto dela. Sinto o perfume. Ela despe o uniforme. Eu fico nu antes dela, tenho menos roupa para tirar”; “Na cama ela diz coisas incompreensíveis, misturadas com gritos e suspiros”. Porém, apesar das horas felizes, a diversão erótica do casal dura pouco, já que José está de partida, precisa fugir. A história é uma força semântica da maior importância em “O livro de panegíricos”, já que o doutor Baglioni, nos últimos dias de vida, dedica-se a ela de maneira especial: “‘Pega aquele Macauley, de capa avermelhada’, ele diz. ‘Agora eu só gosto de ler os velhos historiadores. Burckhardt, Gibbon, Mommsen. Leio sem óculos, sabe?’”. José toma o livro e lê um trecho, em inglês, para o velho. Baglioni se surpreende com seu enfermeiro: “Você lê inglês?”. Logo em seguida, José pede para sair, diz que volta rapidamente; está preocupado com o desenredo da situação que o faz esconder-se. Baglioni brinca com ele (“Isso não está nas instruções”) e permite que vá. Quando José retorna, encontra o velho “caído no chão, em meio a vários livros”. Baglioni se explica: “Tentei apanhar o Burckhardt na estante e caí. Este livro aqui”. Ele quer que José leia, mas o livro está escrito em alemão e José não lê em alemão. Mas Baglioni lê e alegremente abre o livro. A narração de José expõe a leitura: Traduz enquanto lê, sem hesitações. É a história de um general e dos habitantes de uma cidade que o general libertou dos inimigos. Todos os dias eles se reuniam para ver de que maneira podiam premiar o general, mas nunca encontravam uma recompensa digna do grande favor que ele lhes fizera. Finalmente um deles teve uma idéia. Matar o general e então adorá-lo como santo padroeiro da cidade. Foi o que fizeram. 99 99 Embora não seja revelado o título no conto, o livro de Jacob Burckhardt que o velho Baglioni lê em alemão é Die Kultur der Renaissance in Italien, A cultura do Renascimento na Itália, em português. Leiamos a passagem no livro de Burckhardt: Uma determinada cidade — provavelmente Siena — tivera, certa vez, a seu serviço um comandante que libertara seus habitantes da pressão inimiga; estes confabulavam diariamente de que maneira poderiam recompensar seu libertador pelo feito, julgando, afinal, não haver a seu alcance recompensa grande o suficiente, nem mesmo transformá-lo no senhor da cidade; por fim, levantou-se alguém e sugeriu: “Vamos matá-lo e, então, adorá-lo como o padroeiro da cidade”. Dispensaram, pois, a seu comandante mais ou menos o mesmo tratamento que o Senado romano dispensou a Rômulo65. Tal como, na Idade Média, as Cruzadas faziam parte de uma “guerra santa” e a matança era religiosamente apoiada e aplaudida, temos, na lenda a que Burckhardt faz alusão, uma santificação pelo sangue derramado, ainda que a “canonização” seja popular e não deferida pela Igreja. O comandante em questão é um condottiere. Os condottieri são terríveis guerreiros mercenários, que podem conquistar principados por usurpação, mas podem também receber territórios como pagamento por seus serviços bélicos. Tendo, porém, um ou mais territórios, os condottieri podem desejar expandir os seus domínios, o que os impele a novas conquistas. Alguns condottieri fascinam Maquiavel, particularmente César Bórgia, para ele um modelo de príncipe e talvez o melhor recurso político para a unificação italiana. Um outro condottiere digno de nota é Francesco Sforza, comandante tão respeitado que, informa Burckhardt a seguir, “Casos houve de inimigos deporem as armas ante o seu olhar e, de peito aberto, saudarem-no respeitosamente, porque todos o tinham como ‘pai dos guerreiros’”. O velho Baglioni, em outro momento, conversando com seu enfermeiro, comenta: É fácil mandar matar uma pessoa quando você tem poder e vontade. Mais ainda se você é alguém que tem em sua genealogia cardeais, condottieri, artistas e mafiosos, como eu. Já ouviu falar nos Baglioni, de Perúgia? Século XV, Itália. São meus antepassados. Estão no Burckhardt. De fato, os Baglioni constituem uma família rica, poderosa e muito influente em Perúgia, uma família constantemente envolvida em confrontos ferozes de conseqüências trágicas. Na primeira parte do livro, no capítulo intitulado “As tiranias menores”, Burckhardt comenta os 65 BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio. Tradução: Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 34. 100100 medonhos enfrentamentos entre os Baglioni e os Oddi. “Por fim os Oddi são obrigados a deixar Perugia, e a cidade transforma-se, então, em uma fortaleza sitiada sob o domínio absoluto dos Baglioni, aos quais até mesmo a catedral tem de servir como caserna”. Conluios e ofensivas contra Perúgia seguidos de respostas enérgicas provocam cento e trinta mortes e enforcamentos dos invasores, a que se seguem missas e procissões para purgar a praça da maldição. A guerra entre os Baglioni e os banidos causa uma grande devastação; a violência impede que os campos sejam cultivados e os camponeses tornam-se bandidos; no chão jazem corpos sangrando e os lobos deliciam-se com os cadáveres e com a carne quente dos que ainda agonizam. Em uma nova investida dos banidos, Simonetto Baglioni, jovem de dezoito anos, enfrenta, com poucos companheiros, centenas de inimigos; muito ferido, cai, mas vendo chegar em seu auxílio Astorre Baglioni, sente-se revigorado e disposto e logo retoma o combate, movido por sua vocação para a batalha. A morte e a fuga dos Oddi, torna possível, tempos depois, a concessão da reconciliação e do retorno. Porém os ódios e as rivalidades internas também geram combates atrozes dentro da própria família Baglioni. De uma conspiração liderada por Grifone, Carlo Barciglia (cunhado de um dos banidos no passado) e Varano, resulta a morte de Guido, Astorre, Simonetto e Gismondo. Vendo “o corpo de Astorre ao lado do de Simonetto, os espectadores [...] comparam-no ao de um antigo romano, tão digna e grandiosa era a vista” e “em Simonetto, viram ainda a audácia obstinada, como se mesmo a morte não o tivesse domado”. Mas os que escapam capturam Grifone, que não será poupado. No lugar que abriga os resultados trágicos e a desolação, todos vêem chegarem Atalanta e Zanobia, mãe e esposa de Grifone. Abrem espaço para elas e as observam indo em busca do ferido. Grifone despede-se de sua mulher, é abençoado por sua mãe e morre logo em seguida. “Respeitosas, as pessoas seguiam com os olhos as duas mulheres a atravessar a praça com seus vestidos ensangüentados”. Agora Gianpaolo Baglioni é o novo soberano da cidade italiana. As considerações de Burckhardt a propósito da família Baglioni situam-na em uma peleja que faz de Perúgia um campo de batalha. “O livro de panegíricos” remete-nos, pois, à Itália renascentista. Já A grande arte, embora muito de passagem, menciona o tempo bíblico dos semitas. Logo nas páginas iniciais, ganha destaque a habilidade de um criminoso com o manejo da faca, usada para “escrever a letra P no rosto de algumas mulheres”. É esta inscrição cruel que remete aos semitas. Mandrake é o autor intratextual de A grande arte. Ele pesquisa, faz anotações, investiga e escreve, em primeira pessoa, o romance que protagoniza. No capítulo 16 da primeira parte, em uma passagem 101101 metatextual, pensa na disposição dos dados nos quais se detém: “Estou colocando os acontecimentos em ordem cronológica, mas às vezes esqueço um determinado episódio que algum dos personagens me contou, ou então um do qual eu mesmo participei”. Simetricamente, no capítulo 16 da segunda parte, deixa escapar (entre parênteses) alguns elementos de suas pretensões literárias: “Como muitos advogados, também eu pretendia escrever textos para um público não togado; como advogado, eu vivia rigorosamente das palavras, proferindo-as ou escrevendo-as. Assim, nada mais natural que eu também estivesse escrevendo um romance”. No começo do livro, o autor Mandrake informa o leitor: “Os acontecimentos foram sabidos e compreendidos mediante minha observação pessoal, direta, ou então segundo o testemunho de algum dos envolvidos”. E ainda: “Às vezes interpretei episódios e comportamentos — não fosse um advogado acostumado, profissionalmente, ao exercício da hermenêutica”. Como autor intratextual, Mandrake organiza o texto de A grande arte e compõe as linhas de abertura que antecedem o primeiro capítulo do livro, onde se lê que o assassino achega-se a sua vítima morta e risca o seu rosto com a faca: “Cuidadosamente traçou no rosto dela a letra P, que no alfabeto dos antigos semitas significa ‘boca’”. Ora, por mais que um leitor indisposto queira compreender que os “antigos semitas” são postos em A grande arte como mera decoração, vale a pena alimentar uma leitura mais ampla. Rubem Fonseca remete ao contexto bíblico o problema humano. Os semitas são, de acordo com a Bíblia, os descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Na arca de salvação, como podemos ler no “Gênesis”, foram redimidos do dilúvio, enviado pelo Deus de Adão para aniquilar a humanidade corrupta, um casal de cada animal conduzido até a nave e os próprios seres humanos escolhidos, a família de Noé, no caso, Noé e sua esposa e mais seus três filhos, Sem, Cam e Jafé, acompanhados de suas respectivas mulheres. Arrependido de ter criado o homem, o Deus dos hebreus faz perecer a vida na terra, mas seu arrependimento não é o bastante para ser definitivo: algo persistirá da obra do magoado Deus. E o que persiste mantém todos os problemas. Em Papéis avulsos, de Machado de Assis, há um conto chamado “Na arca”, cujo subtítulo é “Três capítulos inéditos do Gênesis”. O conto é escrito de forma a imitar a escrita bíblica. Os capítulos são A, B e C e estão divididos em versículos, o que permite ao leitor, notemos, também reproduzir o modo de localização usual das passagens da Escritura: “Então Noé disse a seus filhos Jafé, Sem e Cam: — ‘Vamos sair da arca, segundo a vontade do Senhor, nós e nossas mulheres, e todos os animais. A arca tem de parar no 102102 cabeço de uma montanha; desceremos a ela [...]’” (Gênesis, A, 1), lembrando, claro, que A é o primeiro “capítulo inédito” machadiano, seguido de B e C. Nos “versículos” de Machado de Assis, Sem e Jafé lutam, movidos por inconveniências de uma partilha prévia da terra pósdiluviana. As hostilidades futuras, previstas por Jafé, que vê sua propriedade subtraída por Sem, são enérgicas: “Tu não tens sentimentos morais? não sabes o que é justiça? não vês que me esbulhas descaradamente? e não percebes que eu saberei defender o que é meu, ainda com risco de vida?” (B, 6), o que se antecipa para logo: “se é preciso correr sangue, o sangue há de correr já e já” (B, 7). E então, num átimo, o pugilato se realiza, cruento como as raivas: “Na luta, caíram e rolaram, esmurrando-se um ao outro; o sangue saía dos narizes, dos beiços, das faces” (B, 21). Quando Noé intervém, ameaçando duramente os filhos, ele proíbe: “Ora, pois, vos digo que, antes de descer a arca, não quero nenhum ajuste a respeito do lugar em que levantareis as tendas” (C, 23) e interroga: “Eles ainda não possuem a terra e já estão brigando por causa dos limites. O que será quando vierem a Turquia e a Rússia?” (C, 26). Ninguém entende a pergunta de Noé, porque não existem, nesse tempo, a Rússia e a Turquia. E o conto se encerra — “A arca, porém, continuava a boiar sobre as águas do abismo” (C, 28). Com seu texto crítico, Machado de Assis situa, no convívio interior da arca da salvação, além da natureza agressiva do homem, os elementos de uma geografia ambiciosa, uma geopolítica de expansão em todo o tempo histórico. A leitura da polêmica entre Bentinho e Manduca, em Dom Casmurro, acerca da Guerra da Criméia (eis novamente a Turquia e a Rússia), pode comprovar facilmente que Machado de Assis considera (e satiriza) as “relações exteriores” dos Estados; a presença recorrente de Napoleão Bonaparte (com seu admirado ímpeto expansionista) e o apotegma de Quincas Borba “Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor as batatas” (com a dimensão mundial de seu alcance) são outros indicativos. Observemos o movimento dos sentidos do conto de Machado de Assis. Ele expande um conflito familiar para o âmbito internacional e alarga tensões de um tempo arcaico, mítico, religioso (porém civilizado: já não é dominada a técnica de construção de um navio?) para todo o tempo político. A preocupação com a política externa das nações também é algo que se verifica em Rubem Fonseca. Sua ficção solicita uma perspectiva histórica, de longo alcance, aliás. Referindose aos semitas, Rubem Fonseca obriga o leitor a considerar um amplo espaço de tempo, um largo espaço histórico e até uma dimensão bíblica. O que não falta na Bíblia, aliás, é violência, começando pelo primeiro assassinato — Caim mata seu irmão Abel —, até os horrores do 103103 Apocalipse, sem falar na expulsão do Paraíso, ato de um Deus político, e na ira ameaçadora desse próprio Deus; e, ainda, principalmente, a misteriosa violência da criação. Quanto ao transcurso do drama humano na vastidão do tempo, todos estes itens de uma imensa cronologia são premissas para pensarmos que o que está sendo indicado é que todo o tempo histórico é violento, todo o tempo dos homens, em todas as dimensões. Estamos no âmbito da história, levamos em conta o tempo bíblico e o tempo mítico, e também não devemos desconsiderar a pré-história. Lendo Fernand Braudel, vemos que ele se une a Alfred Weber para apontar “a necessidade de partirmos francamente da Pré-História, vista no seu todo, para sabermos ao certo o que é e donde vem o homem”66 — embora não possamos sabê-lo. Voltando sua atenção ao momento em que as civilizações “começam a viver”, no terceiro capítulo de Memórias do Mediterrâneo, Braudel indica o ímpeto avassalador que é necessário lançar sobre a natureza e as pessoas para empreender a terrífica organização política: “A domesticação do Nilo, do Tigre e do Eufrates é responsável pelo Egito e pela Mesopotâmia, esses monstros econômicos, culturais e já políticos mesmo antes do III milênio”; para dar vida ao monstrengo é indispensável uma “força global sem igual”, e finalmente a “sujeição evidente dos indivíduos”. Não é brandamente que se ergue uma civilização. Não é mansamente que se impõe um Estado. Ainda que muitas vezes indique o diletantismo ou a presunção de certos personagens, mesmo que em alguns casos as referências sejam rápidas e ocasionais, a Grécia e os gregos antigos estão, por exemplo, em O Cobrador, A grande arte, Bufo & Spallanzani, Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, O buraco na parede, Pequenas criaturas, Diário de um fescenino e Mandrake. Num momento de reflexão sobre a própria morte, quando lembra como faleceram diversos escritores, o protagonista de Diário de um fescenino inclui em sua lista os óbitos de Anacreonte e de Ésquilo. Lendárias, ambas as mortes estão registradas nas notas da data 22 de outubro, no diário do fescenino. Anacreonte: “Anacreonte, o poeta grego da Antigüidade, que escrevia versos líricos celebrando o vinho e o amor, morreu engasgado com um bago de uva”. E Ésquilo: 66 BRAUDEL, Fernand. Memórias do Mediterrâneo: Pré-História e Antiguidade. Edição estabelecida por Roselyne de Ayala e Paule Braudel. Tradução: Teresa Antunes Cardoso et al. Lisboa: Terramar; Rio de Janeiro: Multinova, 2001, p. 34. 104104 De todas as mortes de literatos, a mais peculiar foi, sem dúvida, a de Ésquilo, um dos três grandes nomes da tragédia grega, junto com Sófocles e Eurípides. Ele estava sentado no campo, meditando, quando uma águia que levava uma tartaruga em suas presas para partir o casco do quelônio deixou-o cair sobre a enorme cabeça inteiramente calva do genial dramaturgo, supondo que fosse uma rocha [...]. Não se sabe se o casco da tartaruga foi rompido. Ésquilo morreu na hora. As duas mortes, de Anacreonte e de Ésquilo, são engraçadas, mas a de Ésquilo parece muito mais. Claro que o acidente fatal sofrido por Ésquilo é também trágico (tanto, que ele morre — irresistível pleonasmo), contudo seu grau de comicidade é muito maior. Ou não? Anacreonte tossindo, fazendo caretas e tendo espasmos pode ter deixado muito ridentes os convivas, especialmente se o exaltado vinho já tivesse dosado de modo dionisíaco os humores. No campo do proscênio, todavia, talvez Aristófanes, que é comediógrafo, e não Ésquilo, que é trágico, é que merecesse morte tão cômica, já que provocava o riso público com o seu teatro. Ésquilo e Eurípides, como rivais, estão em As rãs; “A comédia de Aristófanes, As rãs, levada à cena em 405, um ano após a morte do poeta, foi a ‘terrível’ homenagem póstuma que o inexcedível cômico prestou ao grande trágico”67, observa Junito de Souza Brandão, em uma de suas introduções ao livro que reúne os dois escritores, Eurípides e Aristófanes. Chacotas de Aristófanes à parte, o fim de Eurípides teria sido tão espetacular quanto os de Anacreonte e Ésquilo: cães o teriam estraçalhado. De toda maneira, os gregos não temem o riso: não o excluem de sua cultura. Não só em As nuvens Sócrates provoca gargalhadas em seus contemporâneos, na vida diária também. Conforme consta na Defesa de Sócrates (ou Apologia de Sócrates, segundo a tradução), ele considera a alusão ofensiva que Aristófanes faz à sua personalidade e a encara com tranqüilidade, embora aponte as injustiças da peça ou a facilidade com que um conhecimento arrogado é posto nas pretensões do personagem dramatúrgico (e do personagem real), o que pode ser desmentido por todos os seus interlocutores, de acordo com o que sustenta diante dos atenienses. Ora, até em sua defesa ou no momento de sua execução Sócrates pode ser divertido, sem mencionar os inúmeros casos alegres e espirituosos de sua biografia. E as traquinagens de Heráclito, o Obscuro? Não preferia ele brincar com as crianças a se envolver na administração do Estado? É uma recreação saber que, doente, Heráclito somente se dirigia aos médicos por meio de enigmas: eles que decifrassem o que sentia e aquilo que abalava sua saúde. Também a morte 67 BRANDÃO, Junito de Souza. Eurípides. In: EURÍPIDES, O ciclope; ARISTÓFANES, As rãs; As vespas. Tradução e introduções: Junito de Souza Brandão. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, [s.d.], p. 18. Na “Ligeira introdução”, Junito de Souza Brandão tenta conciliar os dois poetas gregos: “já que Aristófanes xingou tanto a Eurípides nesta vida, é bem possível que, reunindo-os, se esteja contribuindo para a paz de ambos na outra” (p. 10). 105105 de Heráclito tem uma versão fabulosa na tradição. Consta que faleceu sob excrementos. Na realidade nada disto tem a menor graça, ou tem? O lendário e o mítico da Grécia, na arte, na vida, na morte. Não, os gregos não temem a anedota, pelo contrário, até a cultivam. Contanto que a comédia — aristofânica, plena — triunfe, seja clássica e se torne referência para toda a posteridade, exposição pública dos mitos, empenhos e ridículos humanos. Não só a comédia, contudo. Compõe Raul, apesar da impaciência do amigo Mandrake, uma aula de história da criminologia, quando retorna à Grécia de Sófocles e Platão. “‘Antes de Cristo’, disse Raul, ‘vamos dizer, na época do Sófocles —’”. Um dos criminosos envolvidos no ataque que sofreu, no qual sua amante, Ada, foi seviciada, está preso na delegacia e Mandrake quer vingança: “‘Que história é essa?’, cortei. ‘Sófocles? Aquele bandido está preso ali e você vem me falar de Sófocles?’”. Mas a aula de Raul avança: “‘Na época de Sófocles’, continuou Raul, imperturbável, ‘de Platão, se você prefere, não havia propriamente uma escola de Criminologia. O criminoso era torturado, marcado, mutilado ou morto’” (A grande arte, primeira parte, capítulo 9, p. 96). São mencionados ainda: Arquíloco (o poeta), Ajax (o guerreiro) e a mulher de Sócrates, Xantipa, cujo nome atribui um apelido a uma provável megera. Há, entre os personagens, alguns antropônimos, como Licurgo, Hermes e Thales. E, claro, “Lima Prado era dado a citações de autores gregos” (segunda parte, capítulo 11, p. 249), e por isso o narrador diz: “Arquelau tinha um irmão chamado Arquêmico. O pai era professor de grego, no tempo em que se ensinava grego. Eu ainda encontraria outras referências helênicas no desenrolar dos acontecimentos” (A grande arte, primeira parte, capítulo 11, p. 117). “Pierrô da caverna”, de O Cobrador, é um conto que expõe, em suas linhas, além de alcoolismo, propensão venérea, separação amorosa, rancor (o rancor “daqueles que deixaram de se amar”), os pecados sociais pedofilia e aborto. O narrador, um escritor, não resiste à tentação física do corpo de Sofia, uma menina de doze anos e, após seduzi-la, converte-se em amante dela e a engravida. O feto é eliminado. “Nada mudou, nada vai mudar”. A vida continua. Tudo é transformação. Dentro do atropelado fluxo verbal do protagonista (suas palavras são registradas em um gravador, o conto todo tem somente um parágrafo), ele fala, em um momento, de rinha e briga, um dos prováveis assuntos de seu próximo livro, apesar da dificuldade de iniciá-lo ou concebê-lo, e vêm à sua mente imagens da Grécia do século V a.C. — mergulhada nas plenas Guerras Médicas — e da famosa disposição bélica dos helenos: 106106 Em Atenas havia uma lei que mandava que todos os anos se celebrasse uma luta de galos no teatro, às expensas do Tesouro, em memória do discurso feito por Temístocles sobre o valor dos seus concidadãos, antes da batalha de Salamina. Atenienses! estais dispostos a imitar, em defesa da Liberdade e da Pátria, o encarniçamento desses animais que se matam apenas pelo prazer de vencer? O discurso de Temístocles, na História de Heródoto (VIII, 83), aparece como uma “arenga” em que o comandante estimula o ânimo guerreiro de sua tropa, faz comparações entre ações grandiosas e covardes, entre os desafios da natureza e a condição humana e cobra entusiasmo de seus guerreiros, dizendo que devem, em todos os seus procedimentos, perseguir a glória. Heródoto também informa que Temístocles é subornado (VIII, 4) e suborna, deixando inclusive entre os que recebem seu dinheiro a impressão de que guerreia por interesse financeiro (VIII, 5). Já Tucídides é um pouco mais favorável ao comandante ateniense, embora informe que sua fuga da justiça ática contenha planos terríveis contra seus concidadãos. Na História da guerra do Peloponeso, Temístocles convence os atenienses a formar uma frota (I, 14), o que também Heródoto assinala (História, VII, 143-144); salva os gregos da derrota, quando opta pela batalha no estreito de Salamina (História da guerra do Peloponeso, I, 74); demonstra inteligência e sagacidade, discernimento veloz e clarividente, foge para a Pérsia por perceber o perigo que corre diante do julgamento de seus patrícios, promete ao rei estrangeiro auxiliá-lo a dominar todas as cidades gregas, depois de ser condenado em Atenas, e morre entre os persas (I, 135-138). Breves lampejos da memória focam o breu do passado de Mandrake, no capítulo 5 da primeira parte de A grande arte, quando ele retoma passagens da infância, da adolescência e da fase de faculdade de direito. Mandrake recorda imprecações condenatórias com sotaque polonês de um professor, o padre Lepinski, contra a lascívia, a sensualidade e o sexo e a favor da abstinência, da castidade e do ascetismo como remédio para o mal do desejo. São Paulo, Clemente de Alexandria e Santo Agostinho fundamentam as reverberações do sacerdote contra a luxúria: “A concupiscência havia destruído Sodoma, Gomorra, Egito, Grécia, Roma e os Estados Unidos”. Notemos a seqüência temporal sugerida: novamente a cronometria bíblica (Sodoma e Gomorra), seguida da Antiguidade (Egito, Grécia, Roma) e um grande salto para o tempo histórico da supremacia dos Estados Unidos, a atualidade da data de publicação do romance de Rubem Fonseca, o século XX. Uma previsão peremptória, posta como fato consumado: a decadência e a queda do império dos Estados Unidos. 107107 Voltando da querida derrocada dos Estados Unidos para a Antiguidade, em Bufo & Sapallanzani, Cícero é citado por Ceresso, um velho cientista que trabalha na Sociedade Brasileira de Proteção ao Anfíbio; e Rubem Fonseca, por assim dizer, personifica Roma em uma personagem bonita e elegante, uma bailarina que é casada (seu marido, Vaslav, também é bailarino), mas nem por isso deixa de atrair — e muito — o espírito erótico de Gustavo Flávio. Na terceira parte do livro, “O refúgio do pico do Gavião”, a mulher Roma remete diretamente à Roma histórica: Roma estava no salão, tomando café, sem Vaslav. Usava outra roupa, um farfalhante traje de linho, cheio de babados e pregas, que a envolvia como se ela fosse uma mulher do outro mundo. Elucubrei: a lei Opiana havia sido promulgada contra ela, Catão pensara numa mulher como ela quando criticara a extravagância feminina no senado romano. Ela certamente teria um traje de púrpura, colorido com tinturas de Tiro, em sua mala de couro mimoso. A Idade Média perpassa rapidamente pelas linhas do conto “Copromancia”, de Secreções, excreções e desatinos: “Anita, depois de sorrir superiormente, afirmou que eu, como um monge da Idade Média, confundia misticismo com ascetismo”. Rubem Fonseca incorpora a Revolução Francesa em suas narrativas diretamente no conto “Onze de maio” (do livro O Cobrador), no qual um professor de história aposentado, recolhido a um asilo, desconfia dos propósitos da instituição que o “abriga” e revolta-se contra sua opressão disfarçada de bom tratamento. Ajudado por dois companheiros, ele invade a sala do diretor e o toma como refém; os três revoltados planejam fazer exigências para que ocorram mudanças no “lar”, mas suas ações como que vão se diluindo e o conto termina justamente nessa atmosfera de dissolução. É em forma de sonho que o final do século XVIII francês irrompe no conto: Esta noite sonhei que era Malesherbes. Encaminhava-me tranqüilamente para a guilhotina, depois de ter tido o cuidado de dar corda no relógio. Queriam me matar porque insistia em chamar Luís XVI de Majestade. Mas eu assim o chamava não porque o respeitasse ou gostasse dele, mas porque sendo velho acreditava ser meu direito ir contra os detentores do poder, que estavam com a faca e o queijo na mão. Melhor dizendo, a guilhotina e o canhão na mão. No sonho. No sonho do personagem, o condenado, Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), avalia os líderes e entende que controlar a máquina política equivale a deter as armas. Nenhuma confiança, portanto, na nova administração; nenhum respeito, também, pela coroa deposta, já que é o despeito que leva, aqui, Malesherbes a conservar, na sua 108108 linguagem, o título do rei. Na matéria onírica de “Onze de maio”, três partes estão em demanda: o rei, o condenado e o novo poder instituído. O poder revolucionário, aliás, exerce sua autoridade sobre os demais, punindo-os com a morte. Na perspectiva do Malesherbes do sonho, nem o poder deposto nem o novo poder merecem confiança. Em “Mandrake e a Bíblia da Mogúncia”, de Mandrake (2005), o narrador (o próprio Mandrake) observa que Weksler, seu sócio no escritório de advocacia, é um sujeito triste, assim como são tristes todos os seus amigos judeus. No mesmo momento, Mandrake especula sobre os motivos do desalento de seu companheiro de trabalho e lembra que os pais de Weksler morreram em Buchenwald, que, como sabemos, foi um campo de concentração nazista, localizado na colina de Ettersberg, na Turíngia, próximo a Weimar, na Alemanha. Depois do final da Segunda Guerra Mundial Buchenwald passou a ser uma prisão política soviética: de campo de concentração nazista a campo de concentração stalinista. A Alemanha Oriental transforma, finalmente, Buchenwald em um memorial dedicado às vítimas do holocausto. Jorge Semprun, que esteve preso em Buchenwald sob o número de matrícula 44.904 e se lembra obsessivamente do cheiro de carne humana queimada e da chaminé que lançava no ar prisioneiros transformados em fumaça, pode nos situar quanto à localização do campo de concentração. Depois da libertação aliada, ele vai a Weimar, acompanhado do tenente Rosenfeld, alemão de origem judia, imigrante estabelecido nos Estados Unidos que adotou a nova nacionalidade, alistou-se no exército e foi combater a pátria nazista: As ruas da cidadezinha estavam praticamente desertas quando chegamos. Impressionou-me a sua proximidade: alguns quilômetros apenas separavam Buchenwald das primeiras casas de Weimar. É verdade que o campo de concentração fora construído na encosta oposta do Ettersberg. A cidade ficava invisível para nós que estávamos voltados para uma planície verdejante por onde se espalhavam uns povoados tranqüilos. Mas estava bem pertinho, quase deserta sob o sol de abril quando ali entramos. O tenente Rosenfeld fez curvas lentas com o jipe pelas ruas e praças. A do mercado, no centro da cidade, sofrera bombardeios aliados: todo o lado norte apresentava vestígios disso. Em seguida, Rosenfeld parou o veículo no Frauenplan, defronte da residência urbana de Goethe68. No presente histórico do campo de concentração de Buchenwald, seguindo pela avenida das Águias, da estação até a entrada, chegando ao portão, nele podemos ler a inscrição JEDEM DAS SEINE, “a cada um o que lhe cabe”. São históricos os modos de calcular o que cabe a cada 68 SEMPRUN, Jorge. A escrita ou a vida. Tradução: Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 106. 109109 um, o valor político do homem. Valor político, social, econômico, estatístico... Feito o cálculo, da maneira mais clara ou mais indistinta possível, o felá egípcio é sacrificado na construção de uma pirâmide, os trabalhadores são moídos pelas máquinas e técnicas da Revolução Industrial, os contingentes de soldados e civis eliminados no inferno do front da Primeira Guerra Mundial são ou não computados, os civis e militares mortos na Segunda Guerra Mundial não chegam a ter um número razoável, os opositores do regime nazista aprendem na escola dos campos como devem se comportar, as populações de Hiroshima e Nagasaki ganham calorosos presentes dos Estados Unidos, quem está no Word Trade Center recebe recados explosivos, os afegãos respondem pelo Afeganistão, os iraquianos respondem pelo Iraque... Na vida política, há os que mandam, os que obedecem, os que dominam, os que reagem e os que se dedicam à arte da guerra. Há aqueles que matam e que vencem batalhas, há aqueles que morrem e aqueles que são derrotados. Conquista, primazia e humilhação na história. É difícil medir o número de baixas. A propósito da guerra entre gregos e persas, Heródoto apresenta números, embora saibamos que não sejam seguros. Na batalha de Platéia, estando os persas e seus aliados cercados pelos gregos, resistem ainda graças à muralha que os protege; mas os gregos a rompem e atacam os inimigos. Narra Heródoto, na sua História (X, 69): “No Estado de estupor em que fica uma multidão de indivíduos aterrorizados ao ver-se cercada num pequeno espaço, deixaram-se matar quase sem nenhuma resistência, sendo que, dos trezentos mil que eram, não escaparam senão três mil”; há descontos a serem feitos: “se excetuarmos os quarenta mil que acompanharam Artabazes na fuga”; mas também mais parcelas, que não chegam, porém, a duas centenas: “Os espartanos não perderam, ao todo, mais do que noventa e um soldados, os tegeatas dezesseis e os atenienses cinqüenta e dois”. A cada um o que lhe cabe. O fato é que não é o seu bem que deve ser assegurado. O bem do homem não é o fim da política; para alcançar os seus fins, a política (que, todavia, é humana) lança mão dos homens como meios — ou os elimina como obstáculos. No mesmo capítulo (“O tenente Rosenfeld”) do livro A escrita ou a vida, Semprun descreve o preenchimento espacial e temporal do dia na prisão — os corpos dóceis sob estrita disciplina, distribuídos, controlados, organizados, suas forças compostas e direcionadas para o funcionamento do campo e para a submissão política dos inimigos do regime (em perspectiva foucaultiana) — e o essencial do campo de concentração, “conseguir superar a vivência do horror para tentar atingir a raiz do Mal radical”, “a experiência do mal radical...”, sentida de alguma forma pelos prisioneiros, nas suas cabeças e em seus corações: 110110 Poderíamos contar um dia qualquer, começando pelo despertar às quatro e meia da madrugada, até a hora do toque de recolher: o trabalho estafante, a fome perpétua, a permanente falta de sono, as humilhações dos Kapo, as faxinas de latrinas, a schlague dos ss, o trabalho em cadeia nas fábricas de armamento, a fumaça do crematório, as execuções públicas, as chamadas intermináveis sob a neve dos invernos, a exaustão, a morte dos companheiros, sem que por isso tocássemos no essencial dessa experiência, sua obscura verdade fulgurante: a treva que nos coube na partilha. Que coube ao homem na partilha, desde que o mundo é mundo. Ou melhor, desde que a história é história. Tal como na guerra entre gregos e persas registrada por Heródoto, os números de Buchenwald também não são seguros. No capítulo 5 de A escrita ou a vida, porém, Semprun mostra a consideração política dedicada à vida humana no campo de concentração: “Havia, no meio do pátio, um amontoado de cadáveres que alcançava bem uns três metros de altura. Um amontoado de esqueletos amarelados, tortos, com olhares de horror”. Ainda restam “os cadáveres semicalcinados que ficaram nos fornos”. Semprun conta experiências suas de ter acompanhado, consternado, mas também endurecido, a morte, de muito perto (bem à frente ou bem ao lado), inclusive de amigos seus (Maurice Halbwachs, confortado de maneira solidária e depois inevitavelmente abandonado à solidão de seu falecimento, antes da libertação; Diego Morales, cujos olhos abertos para o fim da pulsação da vida Semprun fecha, depois da libertação). Antes da libertação, acompanha as formações para se assistir a enforcamentos. E, depois da libertação de Buchenwald, inúmeros mortos são sepultados em valas comuns. Eis alguns elementos que certamente se estreitam na tristeza silenciosa do personagem de “Mandrake e a Bíblia da Mogúncia”, um judeu cujos pais morreram em Buchenwald. No entanto, em A grande arte (segunda parte, capítulo 6), Thales Lima Prado (que ressalta muito bem não ser um nazista) faz a defesa aberta de Adolf Hitler. Para ele, apesar da campanha de difamação e calúnia movida contra o líder nazista, “Hitler poderia ter sido o maior homem do século XX”. Este é o capítulo no qual Thales Lima Prado conversa com “um respeitado senador da República”, o mesmo senador a quem Lima Prado dedica “a pouca consideração” que tem por aqueles que suborna. São importantes os sinais que o senador oferece em seu discurso descontraído, mas paradoxalmente quase parlamentar, de sua habilidade oratória (de resto chinfrim como todo enunciado político convencional). Voltemos, entretanto, à fala de Thales Lima Prado: 111111 Lima Prado encarou o homem à sua frente e continuou: “Você sabe como os judeus manipulam, com seus sócios de circunstância, as informações, controlam os veículos de divulgação, dominam as artes, o ensino, além, é claro, da finança internacional. E teria sido o Holocausto, a Solução Final, tão monstruosamente insólito, considerando as atrocidades que os judeus cometeram, depois, na Palestina? O bombardeio de Beirute foi pior que o de Hiroshima, em matéria de terror continuado. E o massacre de Chatila e Sabra? Eichman também não matou ninguém com as próprias mãos, apenas virou o rosto como Sharon. Hiroshima durou um minuto, Beirute durou semanas e semanas, a população civil sendo morta por bombas de fósforo e fragmentação, nas ruas, nas garagens, nas escolas, nos hospitais, debaixo da cama, no cemitério”. As observações de Lima Prado continuam. Ele ainda alonga as considerações sobre os judeus e depois volta ao nazismo e a Hitler: “Apesar dessa manipulação gigantesca”, continuou Lima Prado, “que mobiliza uma quantidade fabulosa de dinheiro em todo o mundo, a verdade começa a surgir”. A indústria cinematográfica, uma área controlada pelos judeus americanos, já produzia filmes em que Hitler aparecia não mais como um assassino louco; livros eram escritos com maior isenção, mostrando como Hitler contribuiu para fortalecer a cultura germânica; a cruz suástica, aos poucos, se tornava um símbolo para a juventude em todo o mundo, e Hitler, o grande líder militar que enfrentou o poder bélico do Oriente e do Ocidente, o fantástico orador capaz de siderar as multidões com a sinceridade de sua poderosa eloqüência, o escritor que analisou como ninguém as frustrações e aspirações de uma grande nação cruelmente humilhada e levada a retaliar para livrar-se da opressão selvagem das chamadas nações democráticas, começava a ser entendido e amado pelos jovens de todo o mundo. Opiniões drásticas e ferozes, tranqüilamente violentas, pasmas e comovidas ou serenamente compreensivas. Ou compreensivas e agoniadas. São muitos modos de olhar e de interpretar. Se os massacres — históricos — não tivessem ocorrido, a possibilidade de virem a acontecer seria, talvez, desumana; mas ocorreram e se repetiram na história, o que os torna não somente humanos como regulares ao longo dos séculos. A exposição de Lima Prado envolve, basicamente, além do milenar problema da nação judaica, todo o século XX: a Primeira Guerra Mundial, o entre-guerras, a Segunda Guerra Mundial, o pós-1945, até a década de 1980, quando o romance A grande arte foi publicado (1983). E os problemas dos investimentos financeiros judeus e da violência de Israel se prolongam até hoje. Porém, em A grande arte, a questão é a seguinte: a maneira “politicamente correta”, ou “humanitária”, ou até “cristã”, de tratar o holocausto é posta de lado e vem à cena uma defesa assumida do massacre, do nazismo e de Hitler, em oposição à causa judaica. Não só a visão dos judeus como vítimas é abandonada, mas também é adotada a apologia da política suástica. Considerando o contexto real, não podemos esquecer a existência, ainda nos dias de hoje, do neonazismo e o caso social dos skinheads, por menos consistentes que sejam em termos de idéias — mas quem precisa de idéias filosóficas para 112112 agredir, matar, jogar bombas, no calor da prática crua? Não é totalmente ausente das sociedades humanas a defesa do nazismo. E quais são as implicações dessa perspectiva? A resposta mais óbvia é que as medidas políticas, sejam quais forem, tenham as conseqüências catastróficas que tiverem, são tomadas e defendidas, numa determinada ordem (ou desordem) de circunstâncias. O desdobramento da resposta é que as posturas políticas assumidas, ou seja, as divergências, os rancores, os ódios, implicam confrontos violentos e que cada agente envolvido reivindica para si próprio a razão. E a convicção política mais apaixonada não se exime da matança e da destruição. Quando Semprun, acompanhado do tenente Rosenfeld, visita a casa de Goethe, eles dois são inicialmente guiados por um velho nazista que não esconde seu aborrecimento de abrir aquela residência-museu a representantes do poder militar que destituiu o seu partido (o oficial das forças aliadas) e da facção até então posta sob sua égide (o ex-prisioneiro de Buchenwald). O tenente Rosenfeld poderia prescindir dos serviços daquele admirador do nazismo, mas ele está ali, resmungando, reclamando, expressando seu mau humor. Até que o velho nazista resolve mencionar uma visita do próprio Führer a Weimar, elogiando, de modo desafiador, seu líder querido. Fica clara a opinião do ancião de que Goethe é propriedade intelectual da Alemanha nazista. O velho zelador lamenta a queda do regime de Hitler. E é posto de lado, finalmente, pelo tenente vencedor. Marc Ferro, logo na “Abertura” de sua História das colonizações, cita Aimé Cesaire para situar o que não é perdoável em Hitler (na perspectiva da ingênua e localizada piedade religiosa): “O que o cristianismo burguês não perdoa a Hitler não é o crime em si, o crime contra o homem, não é a humilhação do homem em si”, diz Cesaire, “é o crime contra o homem branco [...] é ter aplicado à Europa procedimentos colonialistas que, até então, só se destinavam aos árabes, aos cules da Índia e aos negros da África”. São imprecisas as palavras de Aimé Cesaire. Entre guerras e pestes, o europeu já contemplou os corpos de seus conterrâneos, judeus ou não, espalhados pelo chão, feridos ou mortos, sucumbidos pela doença ou pela violência das batalhas. Se a experiência nazista equivale a “procedimentos colonialistas” internos, por outro lado as guerras européias também atingem o homem branco. Antilhano da Martinica, Cesaire vê, com olhos de um colonizado, os efeitos da ocidentalização da América e do mundo. Os europeus (como denuncia, indignado, o frei Bartolomé de Las Casas, um espanhol) conquistam lugares longínquos, exterminam povos e culturas, implantam seu imperativo de desenvolvimento econômico, esquecem (ou não) os termos da violência de seu foro — e se escandalizam com o holocausto! 113113 Dentro do livro As muitas faces da história, no qual Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke reúne nove historiadores, para que falem de seu ofício, Natalie Zemon Davis, de sua parte, comenta o seu trabalho de pesquisadora e escritora, sua postura no mundo, como mulher, cidadã e historiadora. Ela observa que já teve que se defrontar com problemas difíceis, como o fato de que historiadores colaboraram com o nazismo (Davis pertence a uma família de origem judia). Já que existem opiniões e procedimentos aterradores, ela, então, vai tentar entender, historicamente, a posição, seja qual for, de uma pessoa, na vida política e social, “mesmo que essa pessoa seja um Hitler”. Relacionando-a com reações contrárias a determinadas abordagens históricas mais polêmicas, Davis apresenta “a questão do Holocausto ou do racismo” e assegura que “há ainda muitos estudiosos que estão unicamente interessados na vitimização dos judeus e só procuram perseguição em toda parte”. Não se trata, portanto de uma violência gratuita, unilateral, injusta e cruel contra inocentes. Trata-se de violência política, contextual, humana. Assustadora e dolorosa, a questão do holocausto é mais complexa e se inscreve dentro de uma lógica (uma racionalidade) política e econômica que é histórica. E, como sustenta Nietzsche, a história não é moral. Nem justa. E nem a vida. Dentro da lógica (ou da ilogicidade eventual) dos massacres planejados, dentro das posições assumidas dos confrontos definitivos, as partes estão em seus postos, cada uma delas alegando suas razões, cada uma delas com os seus motivos prementes. Assim, nenhuma postura política, por mais cruel que seja, é absurda, dentro do contexto da história. Se o poder soberano pode pressupor a suspensão do direito, a anomia e a violência desmedida (ou a violência medida na grandeza da larga escala) e se o nazismo adota como regra o estado de exceção — atenção! — o estado de exceção pode ser muito mais presente, como mostram os apontamentos de Giorgio Agamben. Quem quiser pode se iludir com as mentiras do humanismo retórico, mas a moral e as respostas ali circunscritas são insuficientes para a consideração da conjuntura. São muito desagradáveis e ferinos determinados fatos do fundo do poço humano. Mas as feridas são visíveis. E ardem. Nas fossas e nos fossos do humano, “Há abjeção, crueldade, grandeza”, segundo as palavras de Semprun; e “Tudo é humano, nada do que é qualificado de desumano, na nossa linguagem moral superficial, banalizadora, ultrapassa o homem...” (A escrita ou a vida, capítulo 6, p. 162). A violência se lança sobre a vida e sobre as coisas. A variação das respostas e das decisões políticas de acordo com as partes com as quais estão em relação os dados, não deve, contudo, para Natalie Davis, levar ao abandono absoluto dos valores e da responsabilidade. Ela 114114 não busca, no passado, respostas, prescrições ou lições para o presente; para ela, se existem lições no passado, “são muito pouco claras e nos levam a uma visão mais ampla da variedade das experiências humanas; visão que pode ser confundida com uma visão cínica da história, da qual de modo algum compartilho”. Esta atitude “cínica”, relativista, amoral e niilista diante da história e da vida é exemplificada, talvez, no romance Diário do farol, de João Ubaldo Ribeiro, no qual o narrador garante que faz uma narração corajosa, honesta e verdadeira. O homem. E a história. A história escrita tem as suas nuances, as suas divergências, as suas reprovações mútuas. Os historiadores aprovam ou desaprovam o nazismo, aprovam ou desaprovam o stalinismo, aprovam-se ou desaprovam-se entre si. As escritas e as leituras da história são muitas vezes repreendidas. Mas os vestígios estão aí; e as leituras dos vestígios; e as leituras das leituras. E que diabo é o homem? A besta domesticada ou a espécie criada (inventada, imaginada pela moral), como o vislumbra Nietzsche em Crepúsculo dos ídolos (“Os ‘melhoradores’ da humanidade”)? Nietzsche aponta a multiplicidade de tipos de homens, desdenha da pretensão moral de dizer que “o homem deveria ser de outro modo” e destrata a ingenuidade de querer uniformizar o homem; “A realidade mostra-nos uma riqueza fascinante de tipos, a exuberância própria de um pródigo jogo e mudança de formas” (Crepúsculo dos ídolos, “A moral como contra-natureza”, seção 6). “Mas que coisa é homem?”, interroga Drummond (A vida passada a limpo, “Especulações em torno da palavra homem”)69. Em sociedade, nos jogos econômicos, políticos e bélicos, uma besta, sofisticada, mediana ou simplória, que faz a história? A perspectiva aqui adotada, que incide, mais detidamente — considerando a longa duração histórica (sugerida pelo método de Braudel) — sobre o rastro vermelho e negro (colorido, apesar de tudo) dos abatidos nas guerras e dos destroços resultantes, tem os seus riscos de generalização fácil, mas tem também os seus traços de sentidos a serem mais discutidos. Até porque a questão em pauta é de ordem geral e universal. Às batalhas claramente definidas como expedientes políticos, devem ser acrescentados os conflitos maiores ou menores de ordem social e até os familiares e mesmo os pessoais. Em tal rastro histórico, as mentalidades, os sentimentos, os entendimentos dos envolvidos nos recontros variam e não podemos deixar de considerar os impulsos conscientes (ou inconscientes), individuais, culturais e históricos para a guerra. Entre os gregos é patente a vontade de glória e a propensão para o heroísmo, o que faz da guerra uma 69 Mais interrogações estão semeadas em “Espectros do homem” (FERREIRA FILHO, Benjamin Rodrigues. Espectros do homem. Destarte, Vitória, v. 1, n. 1, p. 31-48, 1. sem. 2002), uma leitura do poema de Drummond. 115115 oportunidade para a comprovação do valor próprio e até uma necessidade que o grego tem para mostrar-se como homem completo. Assim, a guerra é uma realidade da vida grega, que pressupõe, inclusive, a consideração educacional (principalmente em Esparta) de seus elementos constitutivos e de suas exigências efetivas. Mas tanto em Heródoto como em Tucídides a perda humana é lastimável, não só a derrota moral e global, o que indica que o guerreiro é também um ente querido (um filho de sua mãe, um marido de sua esposa, um irmão de sua irmã, um amigo de seu amigo) que o argumento do heroísmo não vai recuperar. Tucídides (História da guerra do peloponeso, VI, 30) pinta a despedida dos atenienses no porto; praticamente toda a cidade se dirige ao Pireu; populares, parentes e conhecidos vão até o litoral se despedir dos guerreiros que partem para a expedição da Sicília (não sabem quão desastrosa será); estão todos cheios de confiança na glória e no fortalecimento do império, mas sabem que seus defensores podem nunca mais voltar; os mais emotivos choram, “mas nutrem grandes esperanças”, como entoa a poesia de Drummond (“Mãos dadas”, de Sentimento do mundo). O fracasso será desolador. Quanto à guerra entre gregos e persas, Heródoto (História, VIII, 1-119) apresenta a tomada de Atenas pela Pérsia, seguida da derrota bárbara na batalha de Salamina; por ocasião da conquista de Atenas, Xerxes envia imediatamente um correio para informar a cidade de Susa do sucesso; a chegada da notícia põe o povo em júbilo; festas e festins, prêmios e prazeres comemoram a boa nova; mas um segundo correio traz a tétrica novidade da batalha naval perdida e a consternação é imediata; então rasgam suas vestes, gritam e se desesperam os bárbaros na Susa há pouco tão eufórica. Ésquilo expõe a derrota persa deplorada pelos estrangeiros em Os persas (o Baco de Aristófanes, em As rãs, reclama, irônico e reticente, de que Ésquilo tenha preferido representar os vencidos a exaltar os vencedores). Assim, pois: o guerreiro destemido não hesita em sacrificar-se heroicamente; socialmente, politicamente, sua morte pode se justificar; a matança e a crueldade podem não implicar nenhuma culpa; valores “humanos” hoje predominantes estão, em muitos casos, absolutamente ausentes no passado; enfim, o ser humano que cai em tempos diferentes não tem, afinal, nenhum valor a não ser o que lhe é ocasionalmente atribuído e não é nem mesmo algo estável ou definível — mas isto tudo não implica que não possamos ver a sucessão dos projetos e expedientes sociais e políticos em conflito como desastres e considerar as baixas como perdas vitais daqueles que fazem a história. O crematório do campo de concentração de Buchenwald, onde morreram os pais do personagem de Mandrake, pára de lançar, em forma de fumaça, seus prisioneiros no ar, depois 116116 que os Aliados o libertam. Cai a Alemanha de Hitler. É o fim da Segunda Guerra Mundial, da qual também o Brasil participa, como registra Boris Schnaiderman, em seu romance Guerra em surdina. É durante o Estado Novo de Getúlio Vargas que a Força Expedicionária Brasileira (FEB) é enviada para combater na Itália. Em Guerra em surdina, enquanto os recém-convocados brasileiros aguardam uma definição, aquartelados de improviso no Ministério da Guerra, e percebem o tratamento especial dedicado aos gringos, bem diferente do grosso trato que recebem, o narrador faz um esforço para tornar aceitável a situação — “tentei convencer os companheiros de que os americanos eram nossos amigos e aliados, de que íamos lutar juntos pela democracia, pela liberdade de todos os povos. Mas minhas palavras pareciam ridículas ali”70. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a dicotomia básica que configura politicamente o globo — de um lado, o eixo liderado pelos Estados Unidos, de outro lado, o chamado bloco socialista, sob o comando da União Soviética — também prefigura uma guerra em surdina (nem tão em surdina, nem tão fria assim, já que cresce o poder de destruição dos arsenais). As pesquisas científicas se desenvolvem a ponto de uma guerra nuclear ameaçar simplesmente destruir a Terra (“Por mais distante o errante navegante / Quem jamais te esqueceria?”71) e extinguir a vida (“A morte virá depois / como um sacramento”72). Aquilo que poderia ser a alucinação de uma mente insana não faz parte da escuridão fantástica e fantasmagórica: é a realidade nua. O romance Bufo & Spallanzani, publicado em 1985 (antes, portanto, da queda do muro de Berlim), assim como a “comédia” Dr. Strangelove (Dr. Fantástico, em português) de Stanley Kubrick (filme de 1964), traz a imagem de um desfecho trágico para a Guerra Fria: Pedi a Minolta que me trouxesse livros sobre como seria (ou será?) o fim do mundo causado por uma guerra nuclear. Gostava de imaginar a catástrofe, os queimados que seriam dizimados imediatamente, os feridos que agonizariam, sem assistência médica, os expostos à radiação que pereceriam aos poucos, e os que morreriam de fome e de sede e de frio e de loucura, antes mesmo que a radiação fizesse efeito. Li o que escreveram os russos Bayev, Bochkov, Moiseev, Sagdeyev, Alekxandrov e os americanos Holdren, Sagan, Ehrlich, Roberts, Molone. O fim horrível do mundo estava próximo, mas nem os cientistas, nem os poetas, nem os santos faziam coisa alguma para evitar que acontecesse. A espécie tinha os seus dias contados (Bufo & Spallanzani, parte V, capítulo 1, p. 260-261). 70 SCHINAIDERMAN, Boris. Guerra em surdina. 4. ed., revista pelo autor. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 15. VELOSO, Caetano. Terra. In: _____. Muito (dentro da estrela azulada). [S. l.]: Polygram, 1988, f. 1. LP gravado em 1978. 72 ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião: 10 livros de poesia. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976, p. 30 (poema “Aurora”, de Brejo das almas). 71 117117 Agastado com a pressão que sofre para parir de vez o seu livro, o escritor Gustavo Flávio, em outra passagem (Bufo & Spallanzani, parte III, p. 209), considera grandes feitos e grandes monumentos históricos da raça humana — as pirâmides do Egito, a torre Eiffel de Paris e o Word Trade Center de Nova York: Meu editor queria um livro grosso, o livreiro queria um livro grosso, o leitor queria um livro grosso (um bom pretexto para comprar e não ler), as coisas grandes impressionam, a torre Eiffel é um horror mas é grande, as pirâmides não passam de um monte de pedra que a estupidez faraônica conseguiu empilhar, mas são grandes; se alguém conseguisse construir uma estrutura de merda, de preferência humana, da altura do Word Trade Center, esse edifício fecal seria considerado o maior monumento artístico de todos os tempos, ou então um grande ícone religioso. Talvez fosse mesmo visto como o próprio Deus. São dois momentos diversamente escatológicos de Bufo & Spallanzani. As duas explosões de fúria do personagem expandem e generalizam a “estupidez faraônica”. É curioso observar que o Word Trade Center, mencionado em comparação com uma hipotética “estrutura de merda” (e, portanto, no contexto de Bufo & Spallanzani, tendo menos importância do que “esse edifício fecal”), não existe mais, ao contrário das pirâmides do Egito e da torre Eiffel de Paris. Sua derrubada, posterior ao ano de publicação do livro, constitui um importante acontecimento histórico, o 11 de setembro de 2001, o qual apresenta desdobramentos políticos que chegam até hoje. Rubem Fonseca, portanto, refere-se a um símbolo do poder hegemônico, que será, depois, simbólica e concretamente atingido, juntamente com o Pentágono, dentro do cenário político mundial, quando se inauguram as cenas de importância histórica do novo milênio, logo em seu início. Presente em A grande arte e Bufo & Spallanzani, o século XX está também nas linhas de Agosto. O fim histórico do último governo de Getúlio Vargas, as circunstâncias políticas que enfrenta como homem público e a crise que o leva ao suicídio estão em volta da trama que devora o comissário Alberto Mattos no romance Agosto. Uma das figuras principais do contexto político brasileiro, Vargas é um dos mais importantes chefes de Estado da história do Brasil e ainda hoje pode ser notada a sua popularidade. Tendo ascendido à presidência no contexto da Revolução de 1930, quando Washington Luís é deposto, o presidente Vargas não dá sinais de querer sair do governo e de 1930 a 1954 sua sombra soberana requer insistentemente o seu cetro, até o suicídio final. Depois da Revolução de 1930, Vargas é eleito indiretamente em 1934; com o golpe de 1937, aborta as eleições de 1938 e 118118 funda o Estado Novo. Em seu livro Getúlio Vargas, Boris Fausto mostra que, no momento em que Vargas enfrenta uma oposição crescente e cada vez mais ousada, precisa lançar mão de um verdadeiro malabarismo jurídico para se manter no cargo: “Acumulando também as funções de ministro da Justiça, Marcondes Filho entregava-se a construções jurídicas precárias para justificar a permanência de Getúlio no poder”73; logo a seguir Boris Fausto cita falas de Vargas que, dadas as necessidades especiais da Segunda Guerra Mundial, justificam a extensão de seu governo e apontam também para uma futura abertura democrática, porém parece haver nas palavras de Vargas uma auto-referência subliminar ligada ao nacionalismo, às cartadas trabalhistas e ao populismo, ou seja, a abertura não prescindiria dele próprio: “das classes trabalhadoras organizadas tiraremos, de preferência, os elementos necessários à representação nacional”. Com a aproximação do pleito eleitoral, o queremismo (“Queremos Getúlio”, “Constituinte com Getúlio”), todos os seus desdobramentos e mais outros maus sinais do getulismo são novas ameaças à oposição; Vargas é deposto em 1945; José Linhares o substitui e, a seguir, o general Eurico Gaspar Dutra vence as eleições. Não é o fim da era Vargas, no entanto: já nas eleições de 1945 é eleito deputado e senador (o que, diversamente de hoje, a legislação não proibia), assume e encerra com acentuada indiferença o posto no Senado e retorna como presidente em 1951, “nos braços do povo”, após eleição direta. No desenredo do romance policial Agosto, aos elementos de comédie larmoyante que o compõem juntam-se as vicissitudes da crise de 1954 e os perigos e tormentos históricos globais. O atentado da rua Tonelero, em Copacabana — que tinha por objetivo a morte de Carlos Lacerda (o Corvo), do qual a vítima certa escapa, sendo apenas ferida no pé, mas que acaba causando a morte do major da Aeronáutica Rubens Florentino Vaz (segurança de Lacerda) —, representa o ápice da situação de incerteza e mal-estar que constringe e aflige o palácio do Catete. Também sela como insustentável a continuidade do governo Vargas. Porém Vargas não tem nenhuma participação no crime, isto fica comprovado e mesmo seus inimigos reconhecem. Parte de Gregório Fortunato, o Anjo Negro, chefe da guarda pessoal de Vargas, a ordem de eliminação do Corvo, gralha barulhenta cujo estardalhaço verbal espicaça a honra do presidente, turva a situação e polui ainda mais a atmosfera política. Na sua análise da tragédia, José Sette Camara74, secretário do chefe do Gabinete Civil Lourival Fontes, pergunta: “Como poderia Gregório, que 73 74 FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 144. CAMARA, José Sette. Agosto 1954. São Paulo: Siciliano, 1994, p. 69. 119119 todos consideravam de fidelidade canina ao presidente, prestar-lhe o maior de todos os desserviços?”; e condena “A desgraçada idéia do crime contra Lacerda, nascida ou plantada na cabeça simiesca de Gregório”. Preso Gregório Fortunato, comprovado o envolvimento da guarda pessoal de Vargas, a pressão pela renúncia imediata se avoluma e a angústia abala Vargas. No capítulo 16 de Agosto, prosseguindo nas investigações do assassinato do industrial Paulo Machado Gomes de Aguiar, ocorrido no dia primeiro de agosto de 1954, o comissário Alberto Mattos, que suspeita de Gregório Fortunato, chega ao aeroporto Santos Dumont, onde está montada a base de investigação do atentado da rua Tonelero. Tendo Mattos solicitado interrogar Gregório Fortunato, o que significa, de certa forma, uma temeridade de um civil que se intromete no âmbito das investigações da Aeronáutica, o major Fraga manda rapidamente o capitão Ranildo levantar dados sobre o policial. A resposta do capitão Ranildo ao major Fraga traz as cores fortes da paisagem política da época: “Já tenho a ficha desse sujeito. Quando aluno da faculdade de direito, foi preso duas vezes. Primeiro em 1944, no tempo da ditadura. Depois foi preso em 1945, após a deposição de Getúlio, durante a campanha do queremismo, quando os comunas passaram a sustentar o exditador, aquela coisa nojenta do Prestes apoiar o homem que fora o seu torturador e o carrasco da sua mulher. Parece que o nosso comissário segue as palavras de ordem do Partido Comunista”. Um quadro sombrio vem à tona, aqui. O poder e o sorriso do ditador estão agora em relação direta com as trevas que antecedem 1939 e abarcam a Segunda Guerra Mundial, quando a violência nazi-fascista fabrica meticulosamente os seus mortos. Os amantes comunistas Luís Carlos Prestes e Olga Benário são capturados em 1936. Na sensata e sensível avaliação de Boris Fausto (Getúlio Vargas, p. 77, 150-151 e 162), “A entrega de Olga à Gestapo foi um dos atos mais ignóbeis praticados por Getúlio, ainda antes do Estado Novo”. Olga está grávida e sua filhinha Anita nasce na prisão. Olga morre no campo de extermínio de Berburg, em 1942. Em julho de 1945, Prestes está em um comício que defende a “Constituinte com Getúlio”; no livro de Boris Fausto, Prestes justifica, posteriormente, a atitude inusitada que incomoda tanto as pessoas: “quando lhe foi perguntado como explicava a aliança com Getúlio, em última análise um dos carrascos de sua mulher, Prestes afirmou que as questões pessoais, por mais graves que fossem, não podiam se sobrepor às necessidades políticas”. Em 1947, Vargas e Prestes estão juntos, em favor da candidatura de Cirilo Jr., do PSD getulista — apoiado pelo PCB ilegal —, à prefeitura de São Paulo; Boris Fausto reforça historicamente o mal-estar que causa no personagem de 120120 Agosto a aproximação PCB-PSD, isto é, Prestes-Vargas: “dessa estranha união resultou um fato que provocou arrepios em muita gente, quando Prestes e Getúlio subiram juntos num palanque de campanha”. A ditadura de Vargas guarda as suas convergências com a política drástica do século XX. Nascido em 1882, ainda durante a monarquia, a vida de Vargas acompanha o início da república no Brasil (1889), a Revolta da Armada (1892), a Revolução Federalista do Rio Grande (18931895), Canudos (1897-1899), a Revolta da Chibata (1910), a Primeira Guerra Mundial (19141918), os confrontos entre a Aliança Libertadora e o Partido Republicano Rio-grandense (PRR) no Sul (1923), as contestações e apuros que ele próprio enfrenta como ator político (de 1930, e mesmo antes, ao final da carreira), a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e finalmente os nove anos do após-guerra, até o seu suicídio político. Às vésperas da Copa do Mundo de 1938, Vargas faz um discurso para os jogadores da seleção brasileira no qual elogia abertamente o fascismo. Não é segredo sua íntima tendência de aproximação ao totalitarismo, que apresenta gradações da simpatia pronunciada à instauração da polícia política e outras medidas mais. Por sinal, a afinidade com a conduta totalitária não se esgota no caráter pessoal de Vargas. Francisco Iglésias75, como tantos outros, assevera que “No Brasil foi intensa a influência fascista, como se vê nos integralistas”; mas o integralismo é apenas a face mais assumida da orientação totalitária radical: “Mesmo políticos tidos por inovadores e representantes das formas tradicionais não ficam imunes a certa sedução da direita, observável até nos tenentes, supostamente de esquerda”; cresce ainda a extensão do encanto fascista: “O fato é também observável nos publicistas, em período de muito debate de idéias e edição de livros de natureza historiográfica, jurídica, sociológica”; e, concluindo, “Em país sem sólida tradição intelectual, com o embaralhamento de idéias de pouca clareza ou mesmo equivocadas, o pensamento costuma ser fluido e até contraditório”: já que o liberalismo está em baixa, é natural que os atores político-econômicos mais interessados se valham da força ultra-conservadora para implantar e manter com mais competência os mecanismos da ordem que os favorece. Em um país de delineamento político pragmático e oportunista, a osmose característica não dispensaria a assimilação nazi-fascista. Boris Fausto (Getúlio Vargas, capítulo 2, p. 69), por sua vez, aponta uma tendência em escala mundial ao autoritarismo, tendência esta que, de fato, já vem de antes: “O fenômeno da 75 IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil: 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 237. 121121 implantação de regimes autoritários começara a ocorrer na Europa, após a Primeira Guerra Mundial, com a ascensão do fascismo na Itália, em 1922”; e cresce: “A crise aberta em 1929 iria potencializar essa tendência”. A explicação da política pós-1919 pode ser comparada com a política em geral, em qualquer época: “Os problemas da sociedade e do sistema político pareciam residir no individualismo; na política partidária, que fragmentava o organismo de uma nação; nos parlamentos ineficientes e representativos de interesses mesquinhos”. Hobsbawm (Era dos extremos, capítulo 5, p. 146) confirma o grande alcance do pró-fascismo, já que “as linhas que separavam as forças pró e antifascistas cortavam cada sociedade”; em dois grandes heróis da Segunda Guerra Mundial, ele nota afinidades não muito distantes das inclinações de Vargas: “Conservadores fortemente imperialistas e anticomunistas como Winston Churchill, e homens de formação reacionária católica como De Gaulle, preferiram combater a Alemanha não por alguma animosidade especial contra o fascismo” e sim “por causa de une certaine idée de la France ou ‘uma certa idéia da Inglaterra”. Dada a situação excepcional, o Executivo, nos mais diversos países, procura englobar o Legislativo e até o Judiciário e sacrifica a democracia. E fora da esfera da urgência reina a típica política interesseira; de qualquer modo, há sempre, pairando sobre os desejos políticos do período, uma dúvida bipolar entre um governo carismático forte e uma democracia frouxa, que facilita a corrupção. É um tempo de medidas drásticas. Em Estado de exceção (2003), Agamben76 faz o rastreamento dos registros jurídicos e doutrinários que caracterizam o estado de exceção ou procuram, pelo menos, delimitá-lo, entre a política efetiva e o direito público. Ele estuda a instauração política do estado de exceção desde a Revolução Francesa até os dias de hoje: “Já vimos como o estado de sítio teve sua origem na França, durante a Revolução”; “A Primeira Guerra Mundial coincide, na maior parte dos países beligerantes, com um estado de exceção permanente”; “Como era previsível, a ampliação dos poderes do Executivo na esfera do Legislativo prosseguiu depois do fim das hostilidades”; “é significativo que a emergência militar então desse lugar à emergência econômica por meio de uma assimilação implícita entre guerra e economia”. Agamben mostra claramente o prolongamento histórico desse estreitamento entre economia e guerra, do qual resulta o fortalecimento dos poderes do Executivo. Nos Estados Unidos, “A eclosão da Segunda Guerra Mundial estendeu esses poderes com a declaração, no dia 8 de setembro de 1939, de uma emergência nacional ‘limitada’ que se tornou ilimitada em 27 de maio de 1941”. Depois de 1945, 76 AGAMBEN, Giorgio. Estado de sítio. 2. ed. Tradução: Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 24-38. 122122 as promessas e esperanças de um novo tempo, livre de guerras, são frustradas, em escala mundial, com a simples continuação de conflitos anteriores. A turbulência é um pretexto convincente e os líderes reivindicam sempre mais autonomia. “É na perspectiva dessa reivindicação dos poderes soberanos do presidente em uma situação de emergência que se deve considerar a decisão do presidente Bush de referir-se constantemente a si mesmo”, já no século XXI, “após o 11 de setembro de 2001, como o Commander in chief of the army”. “Democracia” e “paz mundial” são garantidos por meio do uso de armas. A noção econômica de democracia do Ocidente deve se alastrar pelos confins das culturas estranhas e bizarras dos lugares distintos. A máquina política de guerra tem permissões especiais. “Bush está procurando produzir uma situação em que a emergência se torne a regra e em que a própria distinção entre paz e guerra (e entre guerra externa e guerra civil mundial) se torne impossível”. Os anos do século XX contêm fibras políticas especiais, as quais permitem a instauração do estado de exceção, que se prolonga, pois, com certa prudência, no século XXI: “Sob a pressão do paradigma do estado de exceção, é toda a vida político-constitucional das sociedades ocidentais que, progressivamente, começa a assumir uma nova forma que, talvez, só hoje tenha atingido seu pleno desenvolvimento”. Não há grande alarme, entre a população mundial, quanto à gravidade da situação que a envolve. No entanto é a diluição da festejada e exaltada democracia na política ocidental que Agamben distingue no horizonte: “Exatamente no momento em que gostaria de dar lições de democracia a culturas e a tradições diferentes, a cultura política do Ocidente não se dá conta de haver perdido por inteiro os princípios que a fundam”. Afundam na farsa os princípios que escamoteiam as hostilidades entre as nações. Historicamente, o estado de exceção está mais presente do que pareceria a um olhar desavisado. As boas intenções da política econômica ocidental guardam suas intersecções, secretas ou flagrantes, com o amaldiçoado nazi-fascismo, do qual se aproximam, de algum modo, as grandes potências, as nações candidatas ao desenvolvimento e aqueles miseráveis países economicamente incompetentes. Os problemas do século XX, sob enfoque em A grande arte, Bufo & Spallanzani e Agosto, são também iluminados em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. A Revolução Russa de 1917, a guerra russo-polonesa, a política soviética, a Guerra Fria e o muro de Berlim fazem parte da aventura de subnarração policial vivida pelo cineasta de Vastas emoções e 123123 pensamentos imperfeitos, este romance da véspera da queda do muro que separa a Alemanha Ocidental da Alemanha Oriental. Vamos reler Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. Um cineasta brasileiro consagrado, diretor de A guerra santa (filme baseado em Os sertões, de Euclides da Cunha) e O baile dos mendigos (curta-metragem que “correu o mundo, elogiadíssimo”), é contratado por produtores alemães para conduzir um trabalho cinematográfico a partir da vida e da obra de Isaac Babel (1894-1941), escritor soviético de origem judaica nascido em Odessa, na Ucrânia, que participou da guerra russo-polonesa e morreu sob os expurgos do stalinismo, provavelmente fuzilado. O protagonista do romance recebe um livro de Babel, em inglês, Collected stories. Um dos produtores, Dietrich, que veio ao Brasil, para encontrar-se com ele no Copacabana Palace, convida-o a ir à Alemanha, já para tratar do filme; tem pressa, é pragmático: “Gostaríamos que você fosse logo. Para discussões preliminares. Todas as despesas por nossa conta, é claro” (Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, parte I, capítulo 1, p. 13); reserva-lhe alguns dias de prazo para resolver pendências e preparar-se para a viagem e se despede. Depois do contato com o produtor, o cineasta fica mais interessado no trabalho, já que há dois anos desenvolve apenas atividades ligadas a publicidade. Entrega-se à leitura e logo começa a rabiscar um roteiro. Está entusiasmado com Babel. Tomado pela paixão, lê e relê o escritor ucraniano, busca informações sobre ele, principalmente com Boris Gurian, um velho sábio judeu, que infelizmente está doente e logo vai parar em um hospital. Antes de viajar para a Europa, antes mesmo de se encontrar com Dietrich, o cineasta se envolve em uma embrulhada estranha, um caso de polícia, afinal. Uma mulher, Angélica, que depois o leitor saberá tratar-se de Angélica Maldonado, ou Angélica Gorda, uma carnavalesca que participa de desfiles de fantasias de luxo, pede socorro através do interfone e sobe até seu apartamento. Como está sendo perseguida, ele permite que Angélica durma lá. Angélica vai embora cedo e lhe deixa um bilhete, no qual pede que guarde um pacote abandonado por ela sobre a mesa. Ele não olha na mesma hora o que há ali. São gemas, que estão sob a mira de uma quadrilha de contrabandistas. Quando o protagonista viaja para a Alemanha, já está mais do que enredado nas teias de uma complicada trama, que terá desdobramentos macabros, como um filme noir. 124124 Na Alemanha, recebe a instigante notícia de que um diplomata russo, Ivan, tem a posse de um manuscrito inédito de Babel. Plessner, o outro produtor, faz-lhe um pedido: que busque o texto, na Alemanha Oriental, em troca de cem mil dólares, que deverá levar ilegalmente para o lado leste do muro e entregar ao portador do tesouro literário. Plessner, segundo suas justificativas, planeja reabilitar e publicar Babel, de quem é um leitor entusiasta. O cineasta tem uma suspeita: “Plessner não queria fazer um filme comigo, nunca quisera. Desde o princípio buscara apenas alguém para contrabandear os dólares para o outro lado e trazer o manuscrito”; e rumina um plano: “Eu, que já era um ladrão de pedras preciosas, dispunha-me a cometer mais um roubo em proveito próprio. Plessner nunca poria as mãos naquele manuscrito” (Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, parte II, capítulo 4, p. 146). Não é a trama policial que, aqui, importa. Rubem Fonseca lança mão de recursos da subliteratura, da linguagem cotidiana do rés-do-chão, e da fala sofisticada considerada cult cheia de expedientes intelectuais para, no conjunto do romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos e, mais amplamente, na sua obra como um todo, incorporar a pulsação da arte, da vida, do mundo e da história. O muro de Berlim constitui um signo muito importante no romance, até porque Vastas emoções e pensamentos imperfeitos foi publicado em 1988, um ano antes da queda do “monumento”. Quando o cineasta se apresenta para uma audiência no escritório de Plessner, de dentro do edifício o produtor convida o seu interlocutor para olhar a cidade pela janela. Eis o muro, físico: “Como um alto trilho sinuoso de concreto, uma grande extensão do muro podia ser vista do arranha-céu de Plessner”. No comentário de Plessner, podemos observar uma comparação com a muralha da China e uma avaliação negativa do século XX, já que o muro, que logo irá ruir, aparece, no romance, como metonímia da contemporaneidade: “Não existe monumento mais significativo dos nossos tempos”, diz o personagem, “O velho espírito do imperador Tsin reduzido a uma dimensão mesquinha. No princípio era de arame farpado. O homem moderno continua nas trevas” (parte II, capítulo 2, p. 124). Depois, o brasileiro ainda chegará mais perto, no nível do solo: “Dobrei umas duas esquinas até que encontrei um muro grande, não muito alto, escuro, cujo fim não via, quer olhasse para a esquerda ou para a direita. Era o muro”; a edificação parece receber um julgamento que coincide com o de Plessner: “O muro moderno do imperador Tsin, que vira da janela do escritório de Plessner. Dei-lhe as costas e caminhei no sentido oposto” (parte II, capítulo 3, p. 134). O cineasta cumpre a incumbência de 125125 resgatar o manuscrito: vai a Berlim oriental (consegue levar ilicitamente o dinheiro), encontra-se com Ivan, faz a troca dos cem mil dólares pelo texto supostamente de Babel, retorna a Berlim ocidental e executa o seu plano de roubo. Foge da Alemanha para Paris e da França, onde encontra Liliana, sua amante, volta ao Brasil. O muro (digamos) socialista tem uma relação bem estreita com o autor de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, já que o Rubem Fonseca de O romance morreu o atravessa de fato, contrabandeando livros de escritores brasileiros para um professor da universidade Humboldt, na crônica “Reminiscências de Berlim”, na qual, de sobra, testemunha a derrubada da parede, estando entre os alemães do leste festejados pelos compatriotas do oeste: “Eu ria e acenava, de boca calada, desempenhando divertido o meu papel de alemão oriental. Afinal eu tinha o direito de fazer isso, era um berlinense, e a minha Berlim sempre englobara os dois lados”. O que tem de real na existência do muro de Berlim — parentes e vizinhos separados, o mapa modificado, a cidade recortada — pode ser cotejado com o absurdo fantástico de Sombras de reis barbudos, de José J. Veiga. O capítulo “Muros, muros, muros”, especialmente, dimensiona a implantação de labirintos, seções e barreiras murais no espaço habitacional. Sombras de reis barbudos, livro infanto-juvenil publicado em 1972, poderia ser lido, quem sabe (José J. Veiga foi traduzido para o inglês), por Samantha Smith, a menininha do Maine que visita Moscou em 1983. De que maneira, mais de vinte anos depois, Estado de exceção (de Agamben) e algo sobre Guantánamo fariam a pequena pacifista avaliar sua viagem de embaixadora-mirim e a ordem mundial? A diplomacia realmente tem momentos líricos e a Guerra Fria, exibindo uma criança norte-americana em Moscou, expressa o seu momento mais cândido, quando ainda existem o Segundo Mundo, a União Soviética, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental — e o muro de Berlim ainda está de pé. É o muro de Berlim que separa o mais novo pesquisador e admirador de Isaac Babel de um provável livro inédito do escritor, mas o obstáculo é transposto. A vida de Babel leva o cineasta a uma viagem que inclui um mergulho na história russa e soviética. Porque sua mente está muito centrada no filme e na leitura particular que faz do contista de Odessa, o brasileiro não está interessado em maiores aprofundamentos no contexto político soviético, mas não pode fugir da densidade desses dados históricos. Através das Collected stories, introduz-se nas brenhas existenciais, literárias, militares e políticas da vida de Babel: No fim do livro que me fora emprestado por Dietrich havia uma pequena notícia biográfica, dizendo que Isaak Babel havia nascido em Odessa em 1894, e crescera no ambiente de uma 126126 família judaica de classe média. Durante a Revolução e a guerra civil, lutou na cavalaria; mais tarde, abriu uma gráfica em Odessa. Voltou à literatura em 1923, publicando alguns contos em revistas. Publicou a Cavalaria Vermelha e Contos de Odessa. Foi preso nos expurgos do final dos anos 1930 e morreu num campo de concentração, em 1939 ou 1940, de tifo ou fuzilado (Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, parte I, capítulo 4, p. 34). Tanto em A Cavalaria Vermelha quanto nos Contos de Odessa (os dois livros estão reunidos na edição brasileira da Ediouro), Babel considera a vida militar, o ambiente humano e o contexto histórico em que está inserido. O fator autobiográfico prova que a literatura para Babel é uma forma de pensar as condições gerais que nos envolvem. A infância em Odessa, as viagens, o trabalho, as jornadas militares e os acontecimentos políticos estão em seus contos como fatalidades e como problemas. Quando revolve os destroços da desmantelada União Soviética, no capítulo 6 (“Os manuscritos não ardem”) de Os escombros e o mito, Boris Schnaiderman comunica o aparecimento de trabalhos confiscados pelo Regime e refere-se ao Babel de Rubem Fonseca: Após os acurados trabalhos de pesquisa que Chentalínski realizou nos arquivos do KGB, ele dá algumas informações sobre materiais provavelmente perdidos, inclusive o famoso romance que Babel teria concluído antes de ser preso e que deu margem a tantas especulações, sendo até o núcleo central do romance Vastas emoções e pensamentos imperfeitos de Rubem Fonseca. Mais adiante (capítulo 9, “Uma literatura ‘ressuscitada’”), Schnaiderman comenta as relações entre a narrativa de Babel, sua projeção (interna e externa), o congelamento oficial que sofre e os reveses da vida do escritor. Babel, assim como vários outros artistas, cientistas, políticos, militares e cidadãos comuns, vive um tempo de terror, imerso em revoluções, guerra civil, fome, guerras de conquista e turbulência interna. O regime que assume o poder após a Revolução de 1917 e que toma as rédeas do império russo tem que enfrentar oposições e as enfrenta com determinação. Mas não demora que qualquer consideração crítica passe a ser considerada dissidência e traição e que o regime dite as regras políticas de composição das artes e de pronunciamento individual. Durante o período stalinista, o terror lança-se sobre os “inimigos do povo”: censura, prisão, campos de trabalho, internamento em manicômios e condenação à morte são procedimentos básicos. Toda manifestação que não obedeça a uma linha moral e cívica pré-estabelecida é previamente silenciada e é neste contexto que vários escritores são sufocados. O protagonista de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos lida a todo momento com as peças do quebra-cabeça histórico, ou seja, o sumidouro em que estão inseridas a vida e a obra de 127127 Isaac Babel. Quando ele conversa com Boris Gurian (o velho judeu, seu amigo), com Veronika Hempel (sua colaboradora), com Plessner (um dos produtores) ou com Ivan (o diplomata russo), ouve vários comentários importantes para a elaboração de seu filme, notícias e observações que cobrem desde a época czarista (já que Babel nasceu em 1894) até o presente do tempo do romance (final da década de 1980), durante a glasnost. Os anos deste período são duros. Depois das revoluções e da guerra civil, quando o poder bolchevique se instala, primeiramente Lenin lidera e depois de sua morte assume Stalin. Os dias, a seguir, são tomados pelo terror dos expurgos de Stalin. Daniel Aarão Reis Filho, tenta esquivarse de uma atitude de julgamento que se anteponha raivosamente ao mito construído ou dê muito crédito à imagem de incompetente desastrado para focar o chefe de Estado da União Soviética: “Nem um semideus infalível, nem um demônio de erros, mas um ditador brutal, meticuloso, com uma grande capacidade de trabalho e nenhum respeito pela vida”77. Vamos nos deter um pouco mais sobre a questão soviética e reforçar alguns pontos. Em Berlim, Plessner comenta, com o cineasta, a apreciação que a cultura recebe do Estado: “Stalin, o revolucionário no poder, via os escritores e os artistas em geral com grande suspeita, como pessoas desleais, indecisas, idiotas e inúteis”; as motivações e as exigências do poder revolucionário instituído: “As revoluções, para se consolidarem e perpetuarem — todo poder quer se perpetuar, esta é uma verdade-clichê — exigem coerência, coisas que os artistas não têm para dar”; e, concluindo, o alcance da repressão: “Portanto, não creio que Stalin precisasse ser muito estimulado para prender e matar um reles escritor e destruir sua obra perniciosa” (Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, parte II, capítulo 4, p. 139). Boris Pasternack, no seu Ensaio de autobiografia, delineia as palavras semeadas e os danos sofridos pelos escritores e artistas durante a ditadura soviética. A morte, senil, de Leon Tolstoi (1828-1910) está ali. E muitas outras mortes, não necessariamente causadas pela velhice. Atravessam os seus parágrafos — emaranhados nas urgências do limiar que divide, aproxima e interliga o entusiasmo criador e a avalanche política — Leonid Pasternak (pintor e ilustrador, pai de Boris Pasternak), Rosalia Haufmann (pianista, mãe de Boris Pasternak), Velimir Klebnikov, Serguei Essenin, Vladimir Maiakovski, Maximo Gorki, Pavel Iachvili, Alexandre Fadeiev e Marina Tsvetaeva, entre outros. 77 REIS FILHO, Daniel Aarão. As revoluções russas e o socialismo soviético. São Paulo: Editora da Unesp, 2003, p. 110. 128128 No caso de Tsvetaeva, Pasternak descobre, tardiamente, segundo ele, a “força lírica” de sua colega de geração; mas, recuperando um pouco o tempo perdido, entrega-se imediatamente a sua poesia, corresponde-se com ela por meio de cartas, tornando-se seu amigo, e finalmente a visita em Paris, onde ela vive muito pobremente com a família. Pasternak78 descreve o próprio estado de espírito quando visita a amiga na França: “No verão de 1935, na ocasião em que eu vivia como verdadeira alma penada e as insônias que me perseguiam havia quase um ano me arrastavam à beira da doença mental, voltei a Paris, a fim de assistir ao congresso antifascista”. Ele vê muito afetuosamente os componentes daquele lar exilado: “Ali, travei conhecimento com o filho, a filha e o marido de Tsvetaeva e afeiçoei-me fraternalmente a essa mulher firme, cheia de finura e encanto”. A vida no estrangeiro não é boa para aquela família desgarrada e a atração da volta não é irrelevante: “Os membros da família de Tsvetaeva insistiam para que ela voltasse à Rússia”. A decisão da escritora e as conseqüências da volta para todo o grupo, Pasternak menciona, mas logo silencia e só resta o nó na garganta: Tsvetaeva me perguntou insistentemente o que eu pensava a respeito. Eu não tinha uma idéia fixa sobre o assunto. Não sabia o que lhe aconselhar e temia bastante, por ela e por sua notável família, que a vida na Rússia estivesse difícil e agitada. A tragédia comum da família ultrapassou infinitamente os meus temores. Mais informações sobre “a tragédia vivida pelo núcleo familiar” de Tsvetaeva — e sobre os horrores de outros cidadãos que respiraram a turbulência soviética — podem ser encontradas em Os escombros e os mitos, de Boris Schnaiderman (ver capítulo 11, “Entre a ficção e a história”). Dentre os escombros históricos que Boris Schnaiderman observa, detenhamos os nossos olhares em Marina Tsvetaeva: na grande miséria que se segue à Revolução, ela consegue um suprimento de batatas deterioradas, que carrega, dentro do branco da neve, no trenó de sua filha; leva consigo a menina (a mesma Ariadna Efron) aos encontros com os amigos de literatura; Schnaiderman registra a lembrança de Constantin Balmont: “Nos dias de fome, se Marina tinha seis batatas, vinha a minha casa para me entregar três”. Também a Antologia da poesia soviética, organizada e traduzida por Manuel de Seabra, traz poemas e informações sobre a densidade histórica do terrível século XX russo e “pan-russo”. Mas fiquemos com o silêncio e o nó na 78 PASTERNAK, Boris. Ensaio de autobiografia. Tradução: Helena Parente Cunha. Rio de Janeiro: Opera Mundi, 1971, p. 180. 129129 garganta de Boris Pasternak. Os stalinistas, por seu turno, guardam, talvez, a sensação do dever cumprido ou mesmo a degustação superior do poder da linha dura. Em 1930, por ocasião do suicídio de Maiakovski, Roman Jakobson escreve, ainda sob o impacto da tragédia, “A geração que esbanjou seus poetas”, publicado em Berlim, em 1931. Neste ensaio, Jakobson interpreta o suicídio de Maiakovski como sinal de derrota de uma geração de poetas que foi perseguida e violentada, sob a “sufocação da história”, por um regime político de terror. Ao entusiasmo, ao apoio e à adesão da vanguarda estética seguem-se tempos sombrios que avaliam negativamente a arte crítica, atingem os artistas e assolam aqueles que são considerados “inimigos do povo”; o resultado são as fugas, as deportações, as prisões, os internamentos em asilos, a morte por suicídio ou condenação. O suicídio anunciado de Maiakovski — que adverte, previamente, sem perder o humor: “Por favor, nada de fofocas, o defunto detesta isso” — encontra-se no interior de um conjunto numeroso de outras mortes políticas. Boris Schnaiderman (Os escombros e os mitos) assinala repetidamente o engajamento estético e intelectual em prol da utopia revolucionária, a desconfiança das autoridades contra a mentalidade dos artistas (e também de professores, teóricos, pensadores, cientistas etc.), a predeterminação de uma forma poética a ser seguida, obedecida, repetida (a expressão convencionada pelo Estado, “o realismo socialista” de “utilidade pública”), a postura resistente de obras e de autores e a resposta enérgica do governo. O poder estatal ergue suas armas, então, contra os corpos “rebeldes”, que caem sob as forças oficiais. Os sofrimentos dos atingidos podem ser observados no turbilhão da história. A culpa dos condenados se estende aos parentes. Os filhos menores, por exemplo, têm os seus pavilhões, são transferidos para lugares distantes, sob a guarda de cães, ou lançados na miséria da multidão. O fuzil é um argumento quente. Dentro do corpo febril do “breve século XX”, Hobsbawm avalia (Era dos extremos, capítulo 13, p. 371): “Stalin, que presidiu a resultante era de ferro da URSS, era um autocrata de ferocidade, crueldade e falta de escrúpulos excepcionais, alguns poderiam dizer únicas”; e mais: “Poucos homens manipularam o terror em escala mais universal. Não há dúvida de que sob um outro líder do Partido Bolchevique os sofrimentos do povo da URSS teriam sido minimizados, e o número de vítimas, menor”. No entanto, como efeito da mitificação do chefe maior, numa dedicação hobbesiana, soldados morriam na guerra pronunciando o nome de Stalin; prisioneiros voltavam da Sibéria e iam direto pedir para serem reinscritos nas linhas do partido; os recém130130 saídos das torturas justificavam as urgências da pátria e manifestavam apoio ao homem de ferro. Andrei Konchalovsky dá uma mostra do alcance da stalinização no filme Círculo do poder. Nos “causos” de Mikhail Zochtchenko, são encarados com humor (irônico e contundente) os reveses do cotidiano russo, a falta de dinheiro, a pobreza, o furto, a irritação com a carência, as brigas; estão na fala do povo os clichês de uma linguagem que reproduz alusões ideológicas e técnicas do sistema socialista. Condenado publicamente e censurado em 1946, o engraçado Zochtchenko (que havia criado uma psicologia de socorro para a sua tristeza na década de 1930) fica abatido, rejeita a alimentação e morre deprimido em 1958. Numa União Soviética sísmica, apesar de tudo, os cidadãos têm esperança e querem colaborar com o seu país. Mas depois dos anos do homem de aço vem a desestalinização. E, politicamente, significa algo a exumação dos restos mortais de Stalin do mausoléu onde, ao lado do cadáver de Lênin, praticamente estavam como relíquia de santo cruzado da “versão secular de religião de Estado universal e compulsória”79. Os anos brutais enfrentados pelos soviéticos estão, pois, incorporados, para que sejam pensados, em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, todos os abalos sofridos pela população desde o período czarista até o desmoronamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E prossegue a tragicomédia da história. A “instabilidade da ventura humana” (História, I, 5) no tempo, que Heródoto está decidido a narrar. Dos destroços, dos resíduos, dos lances que parecem tão estáveis, o que podemos pensar? A calmaria que impede o pânico pode sofrer uma reviravolta: “as revoluções trouxeram para as cidades numerosas e terríveis calamidades, como tem acontecido e continuará a acontecer enquanto a natureza humana for a mesma” (Tucídides, História da guerra do Peloponeso, III, 82). A grande arte oferece uma visão de conjunto do elenco universal em atuação no dramático turbilhão histórico. Vamos retomar as páginas do capítulo 8, da parte I, momento em que o espaço do romance se estende do Rio de Janeiro a Minas Gerais. A categoria espaço sinaliza, aliás, a aferição e a afeição do olhar geográfico de Rubem Fonseca (Mandrake ainda viajará do Rio de Janeiro até a Bolívia; o autor está sempre atento às especificidades físicas das terras; o lugar recebe a atenção do afeto nos livros do escritor maldito). Estão em pauta: a brutalidade objetiva urbana, a possibilidade de fuga da cidade grande para o interior (o velho 79 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. Tradução: Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 379. 131131 fugere urbem árcade), os sinistros que reiteradamente acometem o homem ao longo da história, a violência em sua dimensão humana, assumida também como explosão de crueldade. Depois de terem sofrido o ataque dos bandidos que procuravam uma fita e supunham estar com o advogado, Ada e Mandrake têm dificuldade de superar o trauma do infortúnio. Ada, que foi seviciada no assalto, decide abandonar o Rio de Janeiro. Ela se muda para Pouso Alto, no sul de Minas Gerais, onde moram os seus pais. Mandrake resolve segui-la. Antes de viajar, à noite, ouve gritos femininos que assombram a madrugada; fica tão incomodado que vai tentar ver de que se trata e possivelmente ajudar a vítima. O porteiro do prédio de onde vêm os gritos, todavia, responde com desinteresse à preocupação de Mandrake (acha que é uma desavença de casal — e “Em briga de marido e mulher”...); Mandrake nota que afinal ninguém se dispôs a ajudar a pessoa desesperada. A caminho de Minas Gerais, a cabeça experimentada de Mandrake cogita: “Durante toda a viagem fui pensando na crueldade da vida urbana, tentando me convencer de que as cidades do interior eram mais humanas”. Chegando a Pouso Alto, ele quase consegue aceitar suas linhas de autoconvencimento: “ainda pensando na noite anterior, concluí que ali, certamente, não haveria a indiferença egoísta das pessoas do Rio”. No entanto o advogado criminalista não tarda a cair em si; e vislumbra o panóptico social que não descansa sua atenção e autovigilância (a Arcádia não é a solução): “Mas, por outro lado, as pessoas deviam se vigiar umas às outras, oprimindo-se reciprocamente, como se a consideração pelo seu semelhante gerasse, em contrapartida, a violação da intimidade e, afinal, da liberdade de todos”. Preso em um quarto de hotel de Pouso Alto, Mandrake, sem pouso, assiste a um telejornal que lhe lança em face “os temas de sempre”, ou seja: “conflitos internacionais, corrupção, tensões sociais, exploração espacial, poluição, descobertas científicas, crimes, custo de vida, catástrofes, esportes, assuntos mundanos variados”. Tudo se soma, males sobre males. E tudo é justamente o que, historicamente, dá-se. Um pouco fugindo do tédio da cidade pequena, Ada e Mandrake vão a São Lourenço, um município vizinho, onde, em um parque, testemunham uma cena predatória: um ganso captura uma rã e tenta devorá-la, mas tem muita dificuldade, pois ela é grande e outros gansos se arremessam para tomá-la daquele que a apanhou. Como advogado criminal, Mandrake lida freqüentemente com a transgressão da lei e a transfiguração violenta do corpo humano; ele foi esfaqueado; sua mulher, humilhada em sua intimidade; a vibração conflituosa do meio urbano o tem afetado; suscetível, por tudo isto, Mandrake se perturba com a cena e não consegue evitar 132132 comentários turvos sobre embates e abalos em geral: “‘A natureza também é violenta’, eu disse capciosamente, ‘a violência está em toda parte’”. A resposta de Ada tenta reduzir o alcance do mal traçado por Mandrake: “Ada respondeu que a violência, para ocorrer, precisava de um agente consciente e o ganso não sabia o que fazia. A violência, continuou Ada, era uma característica humana”. No domínio humano, portanto, Ada, sensível, reprova uma certa legitimação que justifica e até torna heróica e abrangente a violência. Contudo algo vibra na cabeça atormentada de Mandrake; ele, quase sem perceber, incontroladamente, afasta-se de Ada, inicialmente apenas tentando ser divertido, mas logo torna o diálogo áspero e divergente: “Com o coração pesado eu brinquei dizendo que aquilo parecia psicologia barata; ela não devia ter uma visão tão simplista de fenômeno tão complexo”; “Parisienses, homens e mulheres, neste final do século XX”, provoca-a, “para gozar sem restrições suas viagens de férias de verão, abandonam seus cães e gatos de estimação amarrados em árvores, no bosque de Bolonha, para que morram de fome”; “Habitantes de cidades pequenas na França (e eu usava a França como exemplo por ser considerada por Ada o ‘berço da civilização’) compravam condenados à morte de outras cidades para poder também apreciar comodamente o espetáculo de esquartejamento”. Rapina natural, crueldade gratuita, desejo de agressão, violência instituída — o que trepida, na realidade, na cabeça de Mandrake, é a vontade de vingança: “Inesperadamente eu disse que não ia ficar sentado numa poltrona tentando esquecer, lendo os jornais e pagando os impostos em dia. Eu não queria esquecer, era bom lembrar e odiar”. Individualmente, o ódio pode estimular disputas e investidas. Socialmente, a paz imposta pelo processo civilizador pode estar por um fio. A turbamulta pode parecer tranqüila nos seus momentos sociais menos instáveis, quando a pacificação provisória e a ordem estabelecida instalam uma praça relativamente serena, favorável à configuração desejada pelos grupos de poder melhor posicionados. Mas o perigo está sempre ali. A catapulta está superada, mas os mísseis de longo alcance a substituem. A “evolução” das sociedades acalma e alegra com suas mercadorias produzidas em larga escala. O consumo pode alcançar o status final de “sentido da vida”, mas ele não garante a frouxidão indolente das sociedades tolas. Por ocasião dos ataques de 11 de setembro, o presidente em pessoa teve que estimular a população a voltar a consumir normalmente, já que o choque a tinha transtornado tanto que a movimentação biomercadológica quase cessou. 133133 A história, com seus buracos e arestas, sua ilusão de calma e seus espasmos, é o pandemônio no qual habita a superior razão humana, que a escreve como ciência e a engorda com descalabros e destroços. Para Adorno e Horkheimer, a civilização, já em suas primícias, empreende a violenta dominação da natureza objetivada e do homem reificado e necessariamente deve ser ameaçadora para se manter — a civilização técnica autodestrutiva; segundo eles, a história “não é o bem, mas justamente o horror”80. Hobsbawm repercute, em Era dos extremos (capítulo 19, p. 561), “o que muitos sempre suspeitaram, que a história — entre muitas outras coisas, e mais importantes — é o registro dos crimes e loucuras da humanidade”. Trágico, lamenta o coro de Eurípides em Medéia: “Ah! Medeia, como vais errar sem esperanças no oceano das misérias a que te atiraram os deuses!”81. Cômico, em Os cavaleiros de Aristófanes, o escravo que representa o general Demóstenes atira na cara do outro, Paflagônio, personificação de Creonte, uma interrogação-bofetada: “Agora levantas tuas queixas, quando tu fazes da cidade uma catástrofe?”82. O verdadeiro fulgor das sumidades rebrilha em Aristófanes, Rabelais, Bakhtin e outros que souberam ver a máscara sob a máscara sob a máscara do arlequim político. Mikhail Bakhtin83 olha para o palco e para o público como um dramaturgo clarividente: “Os representantes do velho poder e da velha verdade cumprem o seu papel, com o rosto sério e em tons graves, enquanto que os espectadores há muito tempo estão rindo”; e o comediógrafo Bakhtin distingue mais nitidamente o espetáculo teatral: “Eles continuam com o tom grave, majestoso, temível dos soberanos ou dos arautos da ‘verdade eterna’, sem observar que o tempo a tornou perfeitamente ridícula e transformou a antiga verdade, o antigo poder, em boneco carnavalesco”. É uma máscara fundamental esta face ridícula. E outro elemento é a festa. Fuzarca e carnaval. Outro elemento ainda é a carnificina. A história tem as suas sumidades e os seus personagens ínfimos. As lutas econômicas, as comédias políticas, os dramas sociais e as tragédias bélicas faíscam na escuridão dos sucessos e das calamidades. 80 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Tradução: Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 209. 81 EURÍPIDES. Medeia; As bacantes. Tradução: Miroel Silveira; Junia Silveira Gonçalves; Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1976, p. 20. 82 ARISTÓFANES. Las once comedias. Tradução e introdução: Angel Ma. Garibay K. México: Editorial Porrua, 1967, p. 40. Já que não fica erudita, em grego, a citação de Aristófanes, que conste no português do contexto. 83 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 3. ed. Tradução: Yara Frateschi. São Paulo: Hucitec; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996, p. 185. Pouco antes, Bakhtin expõe algumas tripas deste poder e desta verdade: “as idéias, o direito, a fé, as virtudes dominantes” (p. 184). 134134 Capítulo 4: A guerra disseminada “Passarei a vida entoando uma flor, pois não sei cantar / nem a guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados, / e olho para os pés dos homens, e cismo” — como uma estátua entre estátuas, estes versos estariam entre as epígrafes deste capítulo, já que remetem ao cerne e à carne da matéria pensada. Trata-se da voz cabisbaixa de Carlos Drummond de Andrade, que soa, melancólica, no poema “Contemplação no banco”, do livro Claro enigma, de 1951. Mas as epígrafes foram tragadas pelo sorvedouro da comédia negra e agora moram no abismo do corpo bakhtiniano do texto. As estátuas desceram de seus pedestais e agora transitam na praça pública. Se são heróis ou líderes, políticos ou intelectuais, cientistas ou artistas, estão agora no meio do povo, no exercício dramático de si, no olho do carnaval. Quanto a esta tese, ela não pode evitar a guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados, pois que exatamente se debruça sobre os horrores do mundo, como também faz a poesia de Drummond. A epígrafe do poeta foi absorvida pelo corpo faminto do texto, convidou outros versos e quadros de sua poesia para a marcha carnavalesca e então se transformou em um pequeno caleidoscópio drummondiano, fônico e visual. As flores de Drummond estão entre a náusea, a revolta, o ódio e o comércio que cintilam nas sociedades. A rosa do povo traz das trevas o segredo da rosa e outros anúncios. No ambiente de “A flor e a náusea”, o poeta segue coberto de signos, transeunte preso num círculo de cores, descontente, pressentindo o vômito (“Preso à minha classe e algumas roupas, / vou de branco pela rua cinzenta. / Melancolias, mercadorias espreitam-me. / Devo seguir até o enjôo? Posso, sem armas, revoltar-me?”); insatisfação, asco e raiva despontam no pensamento (“O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. / O tempo pobre, o poeta pobre / fundem-se no mesmo impasse”, “Vomitar esse tédio sobre a cidade”, “Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. / Ao menino de 1918 chamavam anarquista. Porém meu ódio é o melhor de mim”); uma flor brota no meio da rua turva, entretanto (“Uma flor nasceu na rua! / Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. / Uma flor ainda desbotada / ilude a polícia, rompe o asfalto. / Façam completo silêncio, paralisem os negócios, / garanto que uma flor nasceu”, “É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio”). Ao proclamar o “Anúncio da rosa”, jamais oferecê-la a qualquer um, no comércio barato de qualquer mercado (“Imenso trabalho nos custa a flor. / Por menos de oito contos vendê-la? Nunca”); a rosa é polissêmica (“Uma só pétala resume auroras e pontilhismos, / sugere estâncias, 135135 diz que te amam, beijai a rosa, / ela é sete flores, qual mais flagrante, todas exóticas, / todas históricas, todas catárticas, todas patéticas”). As flores que Drummond semeia — “A rosa do povo despetala-se, / ou ainda conserva o pudor da alva?”. A imagem da bomba atômica está documentada em fotografia e vídeo — e a arquitetura da explosão lembra uma flor (“Mas oh não se esqueçam / Da rosa da rosa / Da rosa de Hiroshima / A rosa hereditária / A rosa radioativa / Estúpida e inválida / A rosa com cirrose / A anti-rosa atômica”84). Os livros de Drummond estão nas bibliotecas, nas livrarias, nas prateleiras, nas mãos e nas cabeças dos leitores, na ficção de Rubem Fonseca. Uma cleptomaníaca furta um volume no conto “Nora Rubi” (Ela e outras mulheres): “Um livro de poesia de Carlos Drummond de Andrade, que abduzi da maior livraria da cidade. Aquele livro tinha para mim uma enorme utilidade, pois amo poesia”. O comissário Vilela do conto “A coleira do cão” (A coleira do cão) está sempre lendo Claro enigma e um repórter marrom, frustrado e furioso pela sonegação de informações sobre crimes, estampa no jornal: “O delegado Vilela gosta de ler. Devia estar lendo versos na hora que ocorreram aquelas revoltantes e vergonhosas chacinas”, especula, nas páginas do periódico. “Quando chegamos para entrevistá-lo”, continua, “somente encontramos, sobre a sua mesa, um livro que a subserviência do detetive Washington Luiz Gomes não conseguiu esconder de nós”. Que livro, senhor jornalista? — “Chamava-se Claro enigma”. O personagem de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (parte III, capítulo 2, p. 197), raptado não por serafins e sim por bandidos, preso no veículo em fuga, raciocina: “Dentro de pouco tempo eu seria um homem morto, como Bábel”; e pensa na morte de Babel, na morte de um cão que teve, na própria morte. Do cão restou a lembrança e uma coleira. De Babel restaram palavras... “E de mim? O que restaria de mim? Onde estaria o meu assombro ao ver a boceta vermelha de Liliana? Minha felicidade ao ler um poema de Drummond?”. As flores e a guerra em sabores, odores e cores na superfície do planeta: “À sombra doce das moças em flor, / gosto de deitar para descansar” (Brejo das almas, “Sombra das moças em flor”); “Grande homem, pequeno soldado, / vontade de matar nos olhos mansos” (Brejo das almas, “Grande homem, pequeno soldado”). No chão, no mar e no ar: desde a Antiguidade são travadas batalhas navais, já na Primeira Guerra Mundial há bombardeios aéreos e durante a Guerra Fria surge a expressão “guerra nas estrelas”. 84 CONRAD, Gerson; MORAES, Vinicius de. A rosa de Hiroshima. In: SECOS & MOLHADOS. Secos & Molhados. [S.l.]: Warner Music Brasil, 1999, 1 CD, f. 9. O CD, primeiro da série “Dois momentos”, reúne os discos do grupo lançados em 1973 e 1974. 136136 No quarto capítulo da primeira parte de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, Liliana dirige-se a seu amante, o cineasta internacionalmente reconhecido pelo filme A guerra santa, baseado em Os sertões de Euclides da Cunha, e o aconselha, usando precisamente estas palavras: “Faz um filme sobre a guerra que está acontecendo aqui, no teu país, agora. Esta nossa guerra hobbesiana de todos contra todos...”. O que ela quer dizer? Na realidade, Liliana ainda é mais incisiva, pois questiona a decisão de seu interlocutor de, a partir da vida e da obra de Isaac Babel, filmar Cavalaria Vermelha: Você vai fazer na Alemanha um filme sobre uma guerrinha que aconteceu na Europa há mais de sessenta anos? Babel era um escritorzinho fraco, afrancesado. Faz um filme sobre a guerra que está acontecendo aqui, no teu país, agora. Esta nossa guerra hobbesiana de todos contra todos... Por que Liliana, com um certo desdém, chama a guerra da Rússia contra a Polônia (19191921) de “guerrinha”? Por que, para ela, uma guerra que ocorreu “há mais de sessenta anos” (somente) é, talvez, anacrônica? Para ela, o mais importante é o presente brasileiro, no qual há, também, uma guerra, sabemos, resultante da violência que mata, muito, diariamente, em todo o território nacional. Talvez Liliana exija do artista um compromisso maior com a sociedade brasileira. Ele já filmou Euclides da Cunha, no entanto. E seu curta-metragem O baile dos mendigos foi locado no próprio reino da escória social, no meio do mundo dos esfarrapados reais. A provocação de Liliana deixa de lado o sofrimento dos poloneses, a amargura da Polônia que, dentro da turbulência da história, já até sumiu do mapa, literalmente, anexada por outras nações. Quando a Polônia, três vezes retalhada e dividida por invasores no século XVIII, varrida do mapa da Europa como terra soberana e novamente um Estado independente no fim da Primeira Guerra Mundial, luta para reconstituir suas antigas fronteiras, a Rússia, acreditando na expansão internacional da “revolução proletária”, ainda no calor do levante de 1917 e da guerra civil, invade o território polonês. É a guerra russo-polonesa (1919-1921), “O avanço soviético, que deixou um maravilhoso monumento literário na Cavalaria vermelha de Isaac Babel”85. No livro de Babel, um soldado vermelho instala-se na igreja de Novograd em ruínas; olha para a Polônia: “Eis a Polônia, eis a orgulhosa miséria da Res Publica!”; olha para si mesmo, um homem na história: “E eu, intruso violento, estendido num colchão ordinário, na igreja 85 HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. Tradução: Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 76. 137137 abandonada por seu vigário, coloquei sob a cabeça os fólios com hosanas impressas em honra do Excelentíssimo e Ilustríssimo chefe de Estado, Joseph Pilsudski”; e novamente pensa na Polônia atingida — “Ai de ti, Polônia, Res Publica”86. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Polônia volta a ser abalada de maneira terrível: “os alemães rápida e impiedosamente destruíam a Polônia e dividiam seus restos com Stalin, que se retirara para uma condenada neutralidade”87. A guerra brasileira à qual Liliana se refere é conformada pela violência social, urbana e rural, que se espalha pela Terra Brasilis. O termo “guerra” não é exclusivo de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, nem deste trabalho, Comédia negra e outros assombros. Não é inaugurado lá, nem aqui: com freqüência é mencionado tanto pela imprensa como pela fala popular. Os regimes severos de semi-escravidão ou mesmo de escravidão ainda existentes em cantões brasileiros, as lutas no campo e os conflitos urbanos constituem um panorama violento a que Liliana, a mídia, a massa e esta tese maldita chamam de guerra. Com relação ao trabalho infantil, escravo e semi-escravo, uma vez ou outra aparecem, nos veículos de comunicação social, por exemplo, imagens de crianças que trabalham em carvoarias. E Manuel Bandeira os admira no poema “Meninos carvoeiros”, de O ritmo dissoluto: “Pequenina, ingênua miséria! / Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincásseis”. Brincam no seio de uma guerra por melhores condições de vida. Uma guerra que de forma nítida tomba os seus mortos dia a dia em todo o Brasil; está nas brigas de torcida, nos confrontos de gangues, nas agressões por problemas de trânsito, nas políticas do tráfico de drogas, nas turbulências domésticas, na competição do mercado. Na ficção de Rubem Fonseca, de modo geral, as narrativas implicam uma mirada trágica sobre as faces e as forças dos descalabros sociais. “Fevereiro ou março”, “A coleira do cão”, “Manhã de sol”, “Feliz ano novo”, “O Cobrador”, “A arte de andar nas ruas do Rio de Janeiro”, “O anão”, “O amor de Jesus no coração”, “Livre arbítrio”, “A entrega”, “Ganhar o jogo”, “Mandrake e a bengala Swaine” e “Francisca” são contos que evidenciam inúmeras facetas da violência muitas vezes chamada, no Brasil, de guerra civil ou guerra social. O adivinho insólito de “Copromancia” (Secreções, excreções e desatinos) pode antever, entre outras coisas, um tipo de confronto político resultante de diferenças culturais entre grupos rivais: “Pude ler, nas minhas fezes, o presságio da morte de um governante; a previsão do desabamento de um prédio de apartamentos com inúmeras vítimas; o augúrio de uma guerra 86 BABEL, Isaac. A Cavalaria Vermelha. Tradução: Berenice Xavier. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.], p. 12. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. Tradução: Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 156. 87 138138 étnica”. Lançado em 2001, o livro de contos Secreções, excreções e desatinos tem sua publicação muito próxima precisamente das guerras étnicas entre sérvios, bósnios, macedônios etc. e da desintegração da Iugoslávia. Dois mil e um é também o ano do Onze de Setembro, ataque no qual fica explícita a resistência ao empreendimento de uniformização político-econômico-cultural do mundo, principalmente conduzido pelo poder de fogo norte-americano. Em termos espirituais, se o cristianismo ainda pretende implantar sua hegemonia religiosa, por outro lado a Jihad não deixou de existir. Na democracia internacional, as políticas de anti-imigração tomam formas que lembram o fascismo e uma guerra étnica geral parece retinir no globo, quando intrusos indesejados querem se aventurar nos territórios dos países mais ricos, em busca de uma sorte melhor, enquanto a globalização pretende cristalizar padrões gerais muito baixos de cultura e de modo de vida, sempre em termos de massificação. Em 2004, Terry George dirige um filme (Hotel Rwanda) sobre uma guerra étnica que ocorre num passado próximo, em 1994, espalhando cadáveres em Ruanda, na África. Em 2001, em um detalhe do conto satírico “Copromancia”, de Secreções excreções e desatinos, o narrador de Rubem Fonseca chama a atenção para uma guerra étnica futura. No tempo histórico do êxito do século XVII francês e do monarca Luís XIV, no contexto das relações entre teatro, política e guerra, Molière pretende prestar homenagem ao rei, por ocasião da representação de Le malade imaginaire (O doente imaginário): “Molière, supondo que a estréia seria feita para o rei, chegara a escrever um prólogo que ele mesmo leria”, informa o narrador de O doente Molière (capítulo 1), “dizendo que depois das gloriosas vitórias militares e políticas do nosso Augusto Monarca, todos aqueles cuja atividade era escrever deviam dedicar-se a celebrar-lhe a fama ou a diverti-lo”. Porém, como indica pouco antes o narrador, “devido às intrigas de Lulli, a première não se realizara em Versailles” e o comediógrafo oficial não pôde louvar o Rei-Sol. Paulo Rónai, em O teatro de Molière, confirma a disputa entre Molière e seu colaborador, o músico Lulli: “a situação de quase hegemonia de que Molière gozava na Corte vinha de ser abalada. Uma briga entre o teatrólogo e o compositor Lulli fora resolvida a favor deste, e O doente imaginário teve sua estréia no Palais Royal e não diante do rei” 88, no palácio de Versailles. Molière enfrenta muitos reveses, desde suas dificuldades financeiras com a companhia L’Illustre Théâtre (que acarretam, inclusive, sua prisão) até sua morte, como réprobo a quem os 88 RÓNAI, Paulo. O teatro de Molière. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, p. 53. 139139 padres querem por força negar o enterro cristão. O autor de Le malade imaginaire, “o doente Molière” de Rubem Fonseca, na verdade, no final, um malade funeraire, supera seus primeiros infortúnios, recebe a proteção do rei, afia sua crítica social, encara as “tempestades de indignação” (a expressão é de Paulo Rónai) daqueles que se vêem satirizados em suas peças, atravessa a consagração e a inveja e morre como um maldito. Antes, contudo, goza os privilégios de comediógrafo oficial a serviço de Sua Majestade, pronto a exaltar as glórias francesas do “século de Molière” — e também a ridicularizar os salões, os médicos, os oportunistas, os impostores, e todo o fausto da comédia social. Ainda no primeiro capítulo de O doente Molière, o qual trata da morte e da inumação complicada do dramaturgo, o marquês anônimo, narrador e autor intratextual do romance, exibe para o leitor sua firmeza de guerreiro: “Eu cumprira com os deveres de minha linhagem durante as guerras. Lutara pelo rei na minha juventude, nas batalhas de Rocroi, de Nordlingen, de Zurmarshausen, em que fui ferido”. No capítulo 4, o narrador compara Luís XIV e Monsieur: “Nunca vi dois irmãos tão diferentes quanto Monsieur e Luís XIV. Mas ambos se assemelhavam na coragem e no arrojo demonstrados em combate”; acrescenta uma observação grotesca: “não obstante Monsieur lutasse na frente de batalha com o rosto empoado, os lábios pintados e todo enfeitado de jóias, como uma cortesã”; e conclui de forma burlesca, perfeita combinação de Rubem Fonseca e Molière: “Ele corria mais riscos do que qualquer um, pois recusava-se a usar o capacete para não desmanchar a peruca”. Referindo-se a La Reynie, encarregado da administração policial, lembra que “o ajudara nos maus momentos que passara durante a Fronda, quando tivera que fugir de sua casa saqueada para salvar a própria vida” (capítulo 11). No momento em que explica por que motivo correu (inutilmente) em busca de um padre que abençoasse a morte de Molière e não de um médico que tentasse socorrê-lo (capítulo 2), o narrador recorda, um pouco para se justificar diante de si mesmo e do leitor, já que se sente culpado, que sempre apoiou e defendeu Molière. A certa altura, comenta a prisão a que Molière foi submetido, por dívida, no tempo da companhia L’Illustre Theâtre, e conclui: “Só não fui tirálo da prisão do Châtelet porque em 1645 eu estava na Alemanha, na guerra”. Trata-se da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). A Fronda, a Guerra dos Trinta Anos e toda a violência do século XVII de Molière estão condensados aqui. Vários efeitos da Guerra dos Trinta Anos se prolongam do século XVII até nossos dias, como a substituição da motivação religiosa (que, na época, ainda apresentava um caráter 140140 medieval, proveniente da Contra-Reforma) pelo interesse nacional e pela razão de Estado. Após os Tratados de Westfália, há uma reorientação das relações internacionais. Com o enfraquecimento da Espanha pode ocorrer a Restauração portuguesa, portanto a Guerra dos Trinta Anos também afeta Portugal e o Brasil. O Brasil, por sinal, sofre invasões no período — lembremos a presença dos holandeses no Nordeste e o quadro de Victor Meirelles, A Batalha dos Guararapes. Os Tratados de Westfália, no fim da Guerra dos Trinta Anos, mantêm a Alemanha dividida, o que favorece os interesses da França. Finalmente, as irradiações tardias da Guerra dos Trinta Anos, que chegam até os dias de hoje, mostram claramente como as guerras firmam ou violam o precário direito internacional e configuram politicamente o globo terrestre, como demonstra Henrique Carneiro89, no livro História das guerras: “Sem dúvida, o mais importante resultado do final da guerra foi o surgimento de um sistema internacional de Estados. Estabelecese um pressuposto de reciprocidades, um direito internacional”; e ainda: A Guerra dos Trinta Anos, travada sobretudo na Alemanha, envolveu toda a Europa e mudou a regra do jogo político internacional. A entrada da França na guerra, em aliança com a Suécia e a Holanda, estabeleceu a base da hegemonia continental francesa e do predomínio naval e comercial da Holanda. A fragmentação da Alemanha e sua unificação nacional tardia, só obtida sob Bismarck na segunda metade do século XIX, está na raiz dos grandes conflitos europeus do século XX. Sob a liderança da Prússia e no momento culminante da sua trajetória de unificação, a Alemanha derrota a França, em 1871, e recupera a Alsácia perdida desde o Tratado de Westfália. Esse evento, por sua vez, é uma das fontes decisivas da ruína do equilíbrio europeu e do desencadeamento das duas guerras mundiais no século XX. A guerra, pois, está posta em O doente Molière, assim como em outros livros de Rubem Fonseca. Se Rubem Fonseca não se propôs a escrever um romance de temática militar, nem por isso deixa de ter um interesse peculiar pela guerra. Outros livros seus mencionam as atividades militares e bélicas: O Cobrador, O selvagem da ópera, A grande arte, Os prisioneiros e Agosto. Com relação à idéia de extensão geral da guerra, ou seja, a guerra de todos contra todos, está presente em cada narrativa violenta do autor e podemos pensá-la, por exemplo, a partir de Feliz ano novo, Pequenas criaturas, Ela e outras mulheres e Secreções, excreções e desatinos. O Cobrador, O selvagem da ópera e A grande arte referem-se à Guerra do Paraguai. O leitor pode observar, nestes três livros, tanto o sangue derramado nos campos de batalha sulamericanos, como uma avaliação crítica das operações militares do Brasil Imperial — a poderosa 89 CARNEIRO, Henrique. Guerra dos Trinta Anos. In: MAGNOLI, Demétrio (org.). História das guerras. São Paulo: Contexto, 2006, p. 184 e 187. 141141 e única monarquia da América — em face do país inimigo, e ainda a frivolidade dos “salões” brasileiros onde a guerra é comentada. O conto “A caminho de Assunção”, de O Cobrador, tem como assunto um episódio importante desta guerra ocorrida de 1864 a 1870 e movida pela Tríplice Aliança (Brasil, Argentina e Uruguai) contra o Paraguai do ditador Francisco Solano López, como conseqüência dos encaminhamentos da política internacional sul-americana na bacia Platina, agitada por muitos conflitos, desde a independência de Argentina e Uruguai. A Argentina enfrenta uma guerra civil; o Uruguai sofre com os confrontos entre o partido Blanco e o partido Colorado; brasileiros do Sul têm seus interesses atingidos; o Paraguai entende que deve interferir. Como nota Antônio de Sousa Junior, “o processo político e militar que redundará na guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai (1864-1870) começou com o aparecimento e estruturação das nações ibero-americanas, que emergiram dos movimentos de emancipação em luta contra as Metrópoles ibéricas”90 e tiveram que encarar as lutas pelo poder dos grupos rivais que desejavam se estabelecer melhor nos novos países e moldá-los politicamente a seu favor. Assim, as lutas pelo poder na Argentina e no Uruguai têm suas interconexões, enquanto Brasil e Paraguai não são indiferentes às agitações na região Platina. O presidente argentino Bartolomé Mitre apóia o colorado Venancio Flores contra o governo blanco do Uruguai, por sua vez aprovado pelo ditador paraguaio Francisco Solano López, que aposta também na oposição do caudilho Justo José Urquiza contra Mitre. A suspeita, já que o Paraguai vem se preparando militarmente e dá mostras de querer impor sua hegemonia no continente, é que os planos guaranis são mais ambiciosos e têm como objetivo conquistas territoriais que levem a uma saída para o mar; “o Brasil não podia aceitar em absoluto essa pretensão de López, pois se ele dominasse o estuário do rio da Prata poderia estrangular completamente as comunicações entre Mato Grosso e os portos brasileiros do Atlântico”91. O Brasil, que já teve o Uruguai como parte de seu território, como a Província Cisplatina, teme ter suas terras subtraídas; o Império está ao lado de Venancio Flores e intervém na campanha contra os blancos (após a qual Flores tomará posse do governo). Inicia-se a Guerra do Paraguai, com o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda, em trânsito em águas paraguaias, seguido do desenvolvimento de três linhas de ataque empreendidas 90 SOUSA JUNIOR, Antônio de. Guerra do Paraguai. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 299 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). 91 PAULA, Euripedes Simões de. A marinha. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 266 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). 142142 por Solano López: contra o Mato Grosso, no oeste brasileiro, contra Corrientes, na Argentina, e contra o Rio Grande do Sul, no Brasil, em direção ao Uruguai. No dia primeiro de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai assinam o Tratado da Tríplice Aliança contra Solano López. Comparando Babel e Goya, no quinto capítulo da primeira parte de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, o cineasta anota: “A Cavalaria Vermelha, de Babel, e Os desastres da guerra, de Goya, registraram com a mesma crueza os horrores da guerra, seus efeitos brutais”. O conto “A caminho de Assunção”, de O Cobrador, segue a mesma tendência das palavras de Babel e dos desenhos de Goya. “A caminho de Assunção” inicia-se com a imagem de soldados esfarrapados, desgastados pela campanha militar e, ainda assim, em marcha, para novos combates: “Meu dólmã azul-ferrete de alamares brancos estava puído nos punhos e na gola. Minhas botas não tinham saltos, e estavam furadas nas solas. O punho de minha espada partirase”. Nesta narrativa de caráter histórico, não há lamentação nem abatimento. O protagonista não se abala com as cenas horrendas, nem deplora as vidas que vê caírem a seus pés; ao contrário, parece haver um entusiasmo desabalado que não tem tempo nem capacidade de sentir pesar. O conto todo, constituído de apenas três páginas, é um flash fragmentário de uma aventura maior e mais dolorosa que tem como objetivo a tomada de Assunção, capital do Paraguai de Solano López e a derrubada do tirano: “Os soldados tinham os pés descalços e os uniformes remendados pelas mãos das chinas que seguiam voluntariamente nosso exército ou eram arrebatadas nos povoados que atravessávamos a caminho de Assunção”. O que o conto tem de propriamente histórico fica sinalizado pelo tempo, pelo espaço, pelos topônimos e pela tomada geral dos acontecimentos que se precipitam: Estávamos em dezembro. Havíamos acabado de atravessar o Chaco e metade do nosso regimento fora dizimado pelo cólera, o beribéri e o tifo. Em meio à marcha rápida para o sul, bivacamos perto das coxilhas de Vileta. O acampamento fervilhava de homens e material de guerra. Íamos atacar Avaí. Nós, leitores, já podemos entender que a cena-conto faz parte da batalha de Avaí, que ocorre em 11 de dezembro de 1868, em plena Guerra do Paraguai. A fuzilaria começa: “Ao cruzar um desfiladeiro sombrio ouvimos o troar das bocas de fogo inimigas”. Perder um companheiro não é coisa rara na dinâmica das armas: “O alferes Rezende, que crescera comigo em Santo Antônio do Paraibuna, caiu com o pé preso no estribo, a cabeça uma polpa sangrenta, e foi arrastado pelo seu cavalo em disparada até desaparecer num capinzal alto”. Descarga mortal 143143 sob o céu que protege e sob a natureza que abraça, na vivacidade do caos: “De entre a macega, os mosquetões inimigos atiravam sem parar. O céu começou a escurecer e logo uma chuva grossa desabou sobre o campo de batalha”. Ouvimos os sons que vêm da margem do Avaí: “O ruído das patas dos cavalos em galope acelerado e dos nossos gritos era tão forte quanto o estrondo dos canhões”. Sabemos que os paraguaios trazem consigo muitos combatentes ainda adolescentes e até mesmo crianças, mas a guerra não poupa mulheres, nem velhos, nem niños, pois a luta em brasa não os distingue: “Um artilheiro inimigo, um menino, agarrou meu estribo e me atacou com um facão. Decepei-lhe a mão direita, num golpe seco e hábil”. As imagens típicas das campanhas, com morte e desolação, não podem faltar neste conto de guerra: “Nas ribanceiras e montes, nas macegas e capoeiras estavam caídos corpos mortos de muitos milhares de homens e animais”, registra o narrador. “Saía do chão um cheiro de terra molhada e sangue e pólvora misturado com a fragrância doce da bosta dos cavalos”, completa. Após a batalha, entre destroços, mortos e feridos, chega o General-Comandante: No meio da neblina, ao lado norte do campo, surgiu o General-Comandante cavalgando um tordilho, acompanhado de um ajudante-de-ordens. Vestia o poncho azul com forro vermelho, segurava as rédeas na mão esquerda e com a direita mantinha um lenço negro contra o rosto. Um tiro arrebentara seu maxilar e alguns dentes da frente. Havia manchas de sangue no seu poncho. O General-Comandante dirige-se com dificuldade à tropa, pois o ferimento no maxilar atrapalha a articulação das palavras. Depois de um militar, o sargento Andrade, que já havia sido “dado como morto”, levantar-se, saudar com uma continência o superior e desabar novamente no chão, provocando o riso de alguns, “Osório parou de falar. Respondeu a continência olhando o corpo imóvel de Andrade, seu rosto meio escondido pelo lenço negro. Fez um gesto para o ajudante-de-ordens, esporeou o cavalo e partiu num trote curto em direção ao acampamento”. É o final do conto, mas não da guerra. Este General-Comandante é o general Manuel Luís Osório que, como confirma Francisco Doratioto no capítulo dedicado à Guerra do Paraguai, de História das guerras, “fora seriamente ferido na batalha de Avaí — uma bala arrancara parte do seu maxilar inferior”92. “A caminho de Assunção” é uma narrativa eufórica que ilustra as três ações recíprocas da teoria da guerra de Clausewitz: a violência ilimitada, o objetivo irrestrito de desarmar e derrotar o 92 DORATIOTO, Francisco. Guerra do Paraguai. In: MAGNOLI, Demétrio (org.). História das guerras. São Paulo: Contexto, 2006, p. 279. 144144 inimigo e, finalmente, o máximo desenvolvimento de forças, tanto nos meios disponíveis quanto na firmeza da vontade de combate. A violência ilimitada, para Clausewitz, deve de imediato repelir do campo de batalha a bondade das almas filantrópicas, pois o guerreiro que não recua diante da efusão de sangue tem vantagem sobre o piedoso. “Num assunto tão perigoso como é a guerra, os erros devido à bondade da alma são precisamente a pior das coisas”93. Para atingir o objetivo de derrotar o inimigo, não desistir nunca, usar a violência em todos os graus possíveis e recorrer a todos os meios disponíveis, com toda a vontade: este vigoroso espírito guerreiro pode ser detectado na voz e na ação do narrador, que mergulha vivamente no perigo da batalha do Avaí em “A caminho de Assunção”. No segundo capítulo de O selvagem da ópera, na parte intitulada, propriamente, “Guerra do Paraguai”, o narrador-roteirista redige: Carlos não toma conhecimento da Guerra do Paraguai, a não ser naquilo em que pode influir negativamente para tornar sua vida “inquisilada”. Dois dos seus melhores amigos, André Rebouças e o visconde de Taunay, servirão no Exército durante a guerra. Baseados em suas experiências, Taunay escreverá A retirada da Laguna e Rebouças fará elucidativos registros em seu diário. A Guerra do Paraguai, que constitui um dos maiores choques de política internacional da história do Brasil, não poderia ser excluída de O selvagem da ópera, já que este romance toma como assunto o contexto histórico da vida de Carlos Gomes (1836-1896), totalmente contida no século XIX. E já que a história é tão presente, logo a seguir há uma consideração metalingüística e autocrítica que pondera: “Este filme já está entulhado de fatos e de história”... Contudo, por tratar-se exatamente de um romance histórico, O selvagem da ópera não pode escapar dessa tendência contextual: Este filme já está entulhado de fatos e de história, mas irão acontecer muitos episódios cinematográficos nessa guerra: a longa e intermitente luta por Corumbá, a retirada da Laguna, as batalhas de Tuiuti, a batalha de Avaí, a ocupação de Assunção, a morte do ditador paraguaio Solano López e — algo notável — a decretação da abolição da escravatura no Paraguai pelo governo provisório instalado em Assunção, a pedido do conde d’Eu, comandante-em-chefe das forças brasileiras, dezenove anos antes da Lei Áurea, assinada no Brasil pela sua real consorte, a regente princesa Isabel. 93 CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. 2. ed. Tradução: Maria Teresa Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 8. As três ações recíprocas são desenvolvidas nas páginas 8 a 11. 145145 No capítulo 4, no subtítulo “O manifesto republicano”, temos notícias da presença de André Rebouças na arena de batalha: A guerra foi para o tenente-engenheiro André Rebouças uma infeliz experiência. À sua volta via coisas que o deixavam frustrado: falta de um planejamento correto para as ações militares; soldados morrendo de bexiga (a doença de sua própria infância; ao nascer o consideravam um moribundo); os Voluntários de Pernambuco, aos quais esteve adido, recebendo de alimentação “quatro bolachas para matar a fome”, enquanto o bravo Osório — assim o define Rebouças, sem ironia, o general era de fato corajoso — “e os seus convivas”, entre eles o próprio Rebouças, “comiam churrasco, ensopado de carne picada, arroz, farinha, goiabada com queijo e vinho bordeaux”; hospitais de campanha em sua maioria funcionando em palhoças e atendidos por médicos ignorantes e incompetentes; e finalmente, encerrando este resumo incompleto de malogros, a politicalha provinciana influenciando decisões que deviam ser apenas militares. Rebouças era um bom soldado, ainda que estivesse convicto de que “a guerra e o exército são os mais terríveis inimigos da felicidade dos povos”. Dentro do quadro geral de simpatia e homenagem que o narrador dedica a André Rebouças, é possível detectar o compromisso e o idealismo do engenheiro. Ele sabe que a guerra é um flagelo que abate a alegria das pessoas atingidas; mas, uma vez desencadeadas as desgraças, é preciso técnica e responsabilidade na condução da campanha político-militar. As diferenças sociais entre os militares empenhados, que incomodam Rebouças, parecem fazer parte do próprio princípio fundado na hierarquia e na disciplina, que está longe de ser igualitário. Mas determinadas providências, que até se afiguram como banais e que são indispensáveis para uma boa condução profissional da guerra, deixam de ser tomadas e a negligência tem efeitos nefastos na busca da realização dos objetivos. Temos, aqui, o teatro de guerra, com seus problemas operacionais e logísticos, sem faltar o descompasso e os desacertos do poder político e das intrigas da chamada “politicagem” (ou “politicalha”, como proferem André Rebouças e Rubem Fonseca) que interferem de maneira negativa e infeliz nas operações militares. O Exército brasileiro enfrenta inúmeros contratempos no século XIX, contrariedades próprias de sua formação inicial, já que o Brasil deve reorganizar suas Armas após 1822, quando se desvincula do reino português. As dificuldades de constituir as Forças Armadas apresentam inúmeras facetas, começando pela própria desconfiança contra os militares, como aponta Jeanne Berrance de Castro: “A Independência brasileira foi liderada por civis contra tropas profissionais. Logo, nada mais natural que o poder e o prestígio permanecessem na área civil”; daí também uma contraposição inicial da Guarda Nacional recém-criada em relação ao Exército: “A Guarda Nacional — instituição civil organizada militarmente — criada como força antiexército, tornou146146 se com o tempo e por suas próprias limitações, um veículo de reabilitação das forças regulares”94. Desde 1822, pois, o problema das Forças Armadas apresenta-se como um embaraço a ser resolvido. Em seu estudo sobre o Exército imperial, John Schulz95 situa desde as dificuldades dos primeiros passos em direção ao estabelecimento da segurança nacional até os pronunciamentos e protestos dos militares por uma organização plausível. De início, “A retirada das tropas portuguesas deixou Dom Pedro sem exército; problemas econômicos e as imediatas dificuldades da guerra tornavam difícil a criação de forças armadas”; a desconfiança é também assinalada: “Os liberais que chegaram ao poder opunham-se ao exército, por motivos tanto de ordem ideológica como econômica”; e ainda: “Temendo que o exército pudesse ser utilizado pelo governo central para suprimir as liberdades provinciais, a Regência quase imediatamente criou uma Guarda Nacional, sob a chefia do ministro da Justiça”. Schulz detecta a insatisfação dos militares antes, durante e depois da guerra do Paraguai. Cita um protesto da publicação O Militar, de 25 de abril de 1855, contra o governo político: “Com vossas tramas e violências eleitorais, com vossa corrupção, desmoralizando o povo tendes rebaixado e adulterado a representação nacional”. No período crucial das operações militares, “Os oficiais contrastavam seus sacrifícios e os de seus homens com a corrupção dos políticos e tiravam daí as amargas conclusões que deveriam guiá-los em suas atividades políticas no após-guerra”, segundo Schulz. E depois da expedição “Muitos veteranos da guerra não encontravam emprego, apesar das promessas do governo imperial de dar-lhes preferência nas competições pelos cargos do serviço civil”; os excombatentes sofriam e “Não era muito melhor a sorte dos que ficavam no exército, pois freqüentemente sequer dispunham de uma mesa para comer ou de uma barraca onde pudessem dormir”; a insatisfação, depois da guerra, chegará ao perigo da reação política: “Baixo salário, promoções atrasadas, falta de segurança e pobres condições de vida, tudo isto combinava para predispor o exército à ação política”. Esta ação política chegará à proclamação da república. Toda essa complicação histórica relativa às forças armadas brasileiras não escapa a André Rebouças (1838-1898) e, como monarquista, ele poderá acompanhar os seus desdobramentos desastrosos no pós-guerra. Já no século XX, Mandrake, um personagem de ficção, advogado 94 CASTRO, Jeanne Berrance de. A Guarda Nacional. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 292 e 293 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). 95 SCHULZ, John. O Exército e o Império. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 242, 243-244, 247, 250, 253 e 254 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). 147147 criminalista empenhado em uma perseguição pessoal, buscando a todo custo vingar-se de uma agressão que recebeu juntamente com sua amante, está em Corumbá, Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com a Bolívia, e mira uma estátua de um célebre participante da Guerra do Paraguai: “Apesar de cedo o sol já estava forte, mas a temperatura era agradável. Atravessei a praça parando em frente à estátua do general Antônio M. Coelho, um herói local da Guerra do Paraguai”; e, para retomar as imagens florais de Drummond, um detalhe: “Os altos flamboyants da praça brilhavam cobertos de flores vermelhas” (A grande arte, primeira parte, capítulo 11, p. 113). Mais adiante, quando Mandrake pesquisa os antecedentes familiares de Thales Lima Prado, lendo sobre José Joaquim de Barros Lima, um advogado que tem pretensão de ser poeta e sonha pertencer à Academia Brasileira de Letras, verifica que o bacharel, voltando de Coimbra, onde cursou direito, “Ao chegar ao Rio de Janeiro, em plena campanha do Paraguai, passou a freqüentar saraus, onde a guerra era apenas um tema para arroubos literários patrióticos” (A grande arte, segunda parte, capítulo 1, p. 166). Enquanto André Rebouças verifica in loco os danos dos embates e a situação crítica das operações militares, os “salões” sociais brasileiros do tempo imperial podem continuar estalando suas alegrias e sua verborragia, uma vez que estão bem distantes, protegidos do fogo do front. É, aliás, um objetivo político manter a guerra longe dos espaços civis produtivos; contudo nem sempre isto é possível. Tal como Isaac Babel, que serviu na Cavalaria Vermelha, Thales Lima Prado, personagem de A grande arte, também já foi um militar. E, igualmente, atuou na cavalaria. Entre parênteses, no segundo capítulo da segunda parte de A grande arte, lemos essas notas venenosas: “Se seu avô não tivesse esbanjado a fortuna da família, ele não teria passado a juventude em academias militares, não teria ido parar naquele reduto da classe média baixa, o Exército brasileiro”. A frase se completa assim: “e já teria assumido sua ‘verdadeira vocação de pensador, de homem de letras’”. No mesmo capítulo, mais à frente, temos mais notícias de seu passado na caserna: Estranhamente, sentia saudades de seu tempo de militar nas várias unidades de cavalaria onde servira. Saudade da excitação de cavalgar um bom cavalo. Entrar num picadeiro para saltar, sentir o coração bater apressado, saber que seu rosto estava pálido, sentir, apesar do calor do esforço, o corpo coberto de um suor frio. A inquietação ante o desafio e o risco, a comunhão amorosa obscura, inexplicável entre os dois animais, homem e besta, o instinto prevalecendo sobre a razão. O odor agridoce da massa muscular do cavalo coberta de suor fumegante branco espumoso no cross-country. O suor dele, Thales, sempre frio, ele, 148148 homem, mantendo o equilíbrio térmico não importava o esforço que fizesse. Por isso, ele, homem, era um animal resistente. Um dia, depois de longa cavalgada, o homem e o animal levaram suas respectivas resistências ao último limite e Thales assistiu à morte do cavalo, sentiu com as mãos o corpo do quadrúpede ardendo de exaustão, enquanto o rosto dele, Thales, estava frio. O conto “Um dia na vida”, de Lúcia McCartney, reforça o ambiente de esquadrão de cavalaria. Há várias referências históricas: “Nós somos trezentos. Mas fiquem sabendo que Frederico Barba-Roxa organizou uma justa com setenta mil cavaleiros”; “o califa Omar estraçalhou os persas, os egípcios, os sírios, porque tinha uma boa cavalaria”; “Basílio II, o imperador bizantino, usando cavalos na batalha de Cimbalongu massacrou tantos búlgaros que passou a ser conhecido como o Bulgaróctono”; “Cortez tomou conta do México e destruiu o império asteca com apenas meia dúzia de cavalos”; “E tem também o Átila. Ele é o melhor exemplo de utilização do cavalo como instrumento de domínio, dos outros e de si próprio”. Alguém diz que “Só entendem o exército os soldados, os cabos, os sargentos, os tenentes e os capitães. Os majores começam a virar burocratas. Coronéis e generais fazem coisas que um padre, um vendedor de geladeiras, um amanuense, um médico podem fazer”. E uma voz fecha o conto: Eu agora estou no exército. Caxias era um grande sujeito. O tenente disse que fumar faz mal, e tocar punheta também. ‘Olha’, disse ele na tarde do dia em que me atirei de cara no chão, ‘um cavaleiro não pode passar sem mulher, mas é preciso tomar cuidado, noventa por cento das mulheres que existem no mundo estão engalicadas’. Estou metido num colete de gesso, quebrei duas costelas. Cavalaria é arma de macho. O prisioneiro de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos (parte III, capítulo 5), escapa da chacina que executa todos os outros que estavam ali, no seu cativeiro, num recanto de Minas Gerais; para sua fuga, após descobrir selas em um galpão, procura um cavalo; encontra-o, prepara-o e cavalga o inteligente e dócil animal, que o leva até a cidade próxima. Alegria e afeto marcam o seu encontro com o eqüino: “Fiz uma carícia em sua testa. Estava tão feliz de encontrar um cavalo, um animal de índole tão boa [...], que dei um beijo em suas bochechas, sentindo os ossões largos das suas mandíbulas”. A Cavalaria Vermelha de Babel é novamente mencionada: “Várias vezes cochilei em cima do cavalo em movimento. Lembrei-me de um conto de Bábel em que um cossaco, depois de uma batalha sangrenta, dorme em cima do cavalo”. No livro de Babel, no conto “Afonka Bida”, é registrada a morte do cavalo do cossaco Afonka, nas lutas de Lesznióv: 149149 Finalmente calou-se e encostou o rosto ao ferimento do cavalo. Revirando os olhos profundos, arroxeados e brilhantes, para o rosto de seu dono, o cavalo ouvia os gemidos ofegantes de Afonka. Agitava de leve a cabeça no chão, num torpor, ao passo que dois regatos de sangue, que eram como arreios de rubis, caíam-lhe sobre o peito onde se notava os músculos brancos. Afonka permanecia imóvel. Então, Maslak, abrindo caminho com suas pernas gorduchas, aproximou-se do cavalo e deu-lhe um tiro no ouvido. Cavalos montados, cavalos no meio do fogo, cavalos fraturados, cavalos usados como alimento, cavalos caídos. Em que livro está a cena de numerosos cavalos feridos, moribundos, gemendo todos, no desamparo trágico em que se encontram? Assim como morre na guerra o cavalo de Afonka, em A Cavalaria Vermelha, de Babel, perecem tantos outros em “A caminho de Assunção”. Nós, humanos, não só fazemos a guerra entre as nossas castas de racionais superiores, também usamos os animais como aparelhos, como guerreiros irracionais constrangidos, como máquinas vivas de guerra a serviço da mortandade e à disposição da morte. A amizade pelo cavalo, tão presente nas unidades de cavalaria, assim como no contexto geral do uso da besta, revela sua essência dominadora, sádica e cruel, visível no uso inocente de utensílios como freios e esporas e no sacrifício final em favor dos objetivos bélicos. Os cavalos podem até não saber nada sobre extermínio, em sua inteligência ruminante, que se manifesta de muitas maneiras e pode ser percebida no seu olhar; mas não podem escapar de funcionar como instrumentos de carnificina e de ter sua própria carne imolada na peleja absoluta. Não só Thales Lima Prado, em A grande arte, já teve uma vida ligada ao quartel: “Quando era sargento do Exército brasileiro, Hermes de Almeida fora processado na Justiça Militar, por ter assassinado seu superior imediato” (primeira parte, capítulo 6). No romance Agosto, Chicão “fora convocado para o serviço militar, sendo incorporado ao 9º. Batalhão de Engenharia, uma das primeiras unidades da FEB a seguir para a Itália, em julho de 1944, e uma das últimas a regressar, em 3 de outubro de 1945” (capítulo 11, p. 167). A guerra foi um bom negócio para Chicão. A alimentação, fornecida pelo 4º. Corpo de Exército americano, foi a melhor de sua vida até ali; em troca de cigarro e chocolate, “conseguira dar boas bimbadas”, já que, entre as ruínas e na penúria da devastação, a prostituição se alastrou na Itália, até como forma de sobrevivência, daí que Boris Schnaiderman, em Guerra em surdina, diga de Nápoles que “Era, antes de tudo, uma cidade feia e triste, transformada em algo intermediário entre um 150150 acampamento e um bordel para soldados”96. O guerreiro Chicão, na Itália, entre destroços, sentiase em casa — “as pessoas morriam subitamente na guerra, mas também não morriam assim em São João do Meriti, onde morava?”. “A desmobilização e a volta ao Brasil fora a pior coisa que acontecera em sua vida”. Depois da guerra, Chicão considera um rebaixamento o exercício de sua antiga profissão de servente de obra. Consegue um emprego como instrutor de boxe e, posteriormente, não hesita em tornar-se matador profissional. Muitos ex-combatentes brasileiros tiveram dificuldade de voltar à vida social. Boris Fausto97 repara que “para o governo Vargas a FEB se converteu num estorvo, na medida em que sua imagem associava-se à luta pela democracia. Dutra e Góis trataram de desmobilizar rapidamente os expedicionários”; os pracinhas ficaram proibidos de dar entrevistas, de exibir seus uniformes e suas medalhas, praticamente de aparecer; como complemento do heroísmo histórico, “muitos enfrentaram dificuldades de emprego e sofreram as conseqüências traumáticas da guerra, entre elas distúrbios mentais e alcoolismo”. Nenhuma história oficial deixaria de explorar a magnanimidade de uma participação em uma guerra salvadora e vitoriosa; mas quando há implicação de responsabilidade com um corpo militar que já cumpriu sua missão e rendeu o que podia, o sentido dessa corporação passa a ser negativo e ela também tem o seu grau de perigo e mesmo de impertinência. A função da Força Expedicionária Brasileira foi pontual e faz parte do passado: por mais que haja resquícios de heroísmo cívico, essa interpretação política imediata ao retorno dos “pracinhas” não pode ser descartada. Em Agosto (capítulo 14, p. 224-225), o desempenho histórico dos militares fica bastante realçado, tanto no apoio como na oposição a Vargas. Há um momento em que representantes das três forças armadas se encontram: “um comitê integrado pelo coronel Alberico, do Exército, coronel Arruda, da Aeronáutica, e o capitão de mar-e-guerra Osório, se reunia naquela manhã para fazer uma avaliação do trabalho que denominavam ‘a missão’”; a assembléia tem o intuito de traçar um objetivo: “visitar unidades militares para evidenciar à tropa a falência do governo e promover e instigar o repúdio a Vargas”. O sistema militar brasileiro e sua relação histórica com a política, portanto, é assunto da narrativa de Rubem Fonseca e seu enfoque abrange desde o século XIX, passando pela era Vargas, sem esquecer o período militar iniciado em 1964, como aparece sutilmente em O caso Morel. 96 97 SCHINAIDERMAN, Boris. Guerra em surdina. 4. ed., revista pelo autor. São Paulo: Cosac & Naify, 2004, p. 68. FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 106-107. 151151 Se Chicão, personagem de Agosto, experimenta diretamente a luta armada e aprova a atividade beligerante, Henri, personagem de Os prisioneiros, um assassino francês, contemporâneo da ocupação alemã, não destoa: é a favor da guerra. E a invasão da França está à vista na escritura de A grande arte (parte II, capítulo 1, p. 174). Concentrado em sua sondagem sobre a genealogia de Thales Lima Prado, a vida passada de seus parentes, Mandrake detecta: “No dia 14 de junho de 1940 aconteceu a segunda tragédia na família” (a primeira foi a morte escandalosa de Maria do Socorro, irmã de Laurinda). No segundo infortúnio, “Priscilio, após passar a noite jogando pôquer, chegou em casa de madrugada, deitou-se na cama ao lado de Laurinda, que dormia, e deu um tiro na cabeça”. De passagem, a data do suicídio de José Priscilio Prado é estendida para um contexto maior: “Naquele dia eles faziam trinta e um anos de casados. Também naquele dia Paris rendia-se ao Exército alemão”. No conto “Henri”, de Os prisioneiros, a França ocupada aparece de forma um pouco menos lateral, já que compõe o cenário no qual se move o assassino francês. Sendo calvo e barbudo sem deixar de ser vaidoso, Henri compensa as possíveis conseqüências negativas de sua aparência, já que não tem exatamente o encanto de um galã (a avaliação “estética” está no próprio conto); nas relações que estabelece tendo em vista os seus crimes, exercita-se em um jogo de simulação e etiqueta que inclui boa educação, gosto sofisticado, serenidade, sensibilidade, compreensão e solicitude, tudo parte de uma artimanha para enredar as suas vítimas. Henri é dono de uma fábrica em Lille, sob o controle dos alemães; mas, quando conversa com madame Pascal, sua próxima vítima, defende a guerra, o que, dentro de seu jogo, é um erro, pois assusta a meiga senhora. “Num momento de distração”, pondera que, com o fim da guerra, que ele pensa estar realmente acabando, seus negócios ficarão prejudicados. Madame Pascal lamenta os horrores da guerra, “tantos jovens sendo mortos, tanta propriedade sendo destruída”. Para Henri, desde que o mundo é mundo existe a guerra, “a mais humana das características da humanidade”, o fator de diferenciação entre homens e bichos, que é proveitoso “para os negócios, para novas descobertas científicas” e demanda “progresso para todos, nações e homens”. “Menos para os que morreram”, sublinha madame Pascal. “Ah, mas alguém tem que morrer, alguém morre sempre”, sentencia Henri. Ele se sente aliviado quando ela apresenta um tom meio triunfante ao lembrar que a fábrica dele em Lille será devolvida com a saída dos alemães, o que sem dúvida é um benefício. Henri já cogitava mudar todo o procedimento pré-definido se 152152 madame Pascal revelasse inquietação ou desconfiança diante das afirmações temerárias e imprudentes de seu fino interlocutor. Mas seu desígnio mental é mantido — e tem absoluto êxito. Chicão, de Agosto, e Henri, de O Cobrador, não são avessos à guerra e até encaram com desembaraço e sem lástima as desgraças que ela provoca. Ambos, na vida civil, são praticamente insensíveis ao assassínio. E a violência no âmbito social atrai muito o escritor Rubem Fonseca, pai das duas criaturas. Algumas narrativas suas são marcantes justamente pelo tom agressivo e pelas fortes imagens de violência. É o caso de “O Cobrador” e “Feliz ano novo”, talvez os mais truculentos contos de sua obra, e que configuram o que podemos chamar de guerra urbana, sem perder de vista que o campo não é uma maravilha de tranqüilidade, como querem os líricos do fugere urbem. Feliz ano novo causa tanta polêmica, por ocasião de sua publicação, em 1975, que acaba sendo proibido no ano seguinte, o que não diminui a celeuma. Deonísio da Silva98, que se atém ao “caso Rubem Fonseca” em Nos bastidores da censura, apresenta o despacho do ministro contra o autor: Nos termos do parágrafo 8º. do artigo 153 da Constituição Federal e artigo 3º. do DecretoLei nº. 1.077, de 26 de janeiro de 1970, proíbo a publicação e circulação, em todo o território nacional, do livro intitulado Feliz ano novo, de autoria de Rubem Fonseca, publicado pela Editora Artenova S.A., Rio de Janeiro, bem como determino a apreensão de todos os seus exemplares expostos à venda, por exteriorizarem matéria contrária à moral e aos bons costumes. Comunique-se ao DPF. A censura imposta a um personagem de O caso Morel (1973) recai também sobre o ficcionista, alguns anos depois. Rubem Fonseca pode experimentar na própria pele a raiva de sofrer a intervenção do poder estabelecido nos anos sombrios do regime militar, tempo de arrogância e perversidade oficial. Mas o autor de Feliz ano novo (1975) não fica passivo à medida e também não se intimida; sua resposta é acionar a justiça e também escrever O Cobrador, lançado em 1979. Hoje há uma tendência a não supervalorizar a violência militarista e não vitimizar os que a sofreram, muitos dos vivos, aliás, com um trânsito razoável no poder. Alguns heróis políticos da resistência do tempo militarista tendem a acionar a aventura subversiva de outrora como uma forma de autopromoção e talvez isso seja um dos motivos da postura austera e anti-sentimental com relação aos dias de militarismo, o que parece razoável. 98 SILVA, Deonísio da. Nos bastidores da censura: sexualidade, literatura e repressão pós-64. São Paulo: Estação Liberdade, 1989, p. 29. 153153 Mas que fique registrado o “caso Rubem Fonseca” no redemunho das horas. Aliás, o caso é mais complicado. Consta, no currículo de nosso autor, a colaboração com o regime militar brasileiro, um dado biográfico relevante e incômodo que, inclusive, influi na recepção de alguns leitores (o professor que se dedica a pesquisas sobre a obra de Rubem Fonseca detecta constantemente, no âmbito universitário, resistência e até desprezo pela narrativa fonsequiana, às vezes assumidamente movida pela aproximação do autor de Agosto com os militares, no início da política ditatorial)99. Primeiro conto do livro homônimo, “Feliz ano novo” ainda hoje deixa estarrecidos os leitores desavisados, assim como “O Cobrador”. Vera Lúcia Follain de Figueiredo100 aponta como causa da reação negativa contra “Feliz ano novo” a imposição da perspectiva de alteridade, ou seja, uma mirada alheia, contrária à ordem estabelecida, obriga o leitor a contemplar o horror: “o que torna um conto como ‘Feliz ano novo’ impactante não é o tema que ele aborda, mas o recorte que opera, a partir do ângulo de visão de quem ‘fotografa’ a cena narrada”. A narração do conto não conduz à avaliação seguida da condenação ética do crime, mas ao próprio crime, por assim dizer estilizado, fruído como uma vitória ou um gozo, livre de culpa e de punição: “o que agride o leitor de ‘Feliz ano novo’ é, então, ter de olhar a realidade pelo enquadramento que o Outro lhe imprimiu, ao mesmo tempo em que se sente completamente impotente”, prossegue a autora, “porque nela, na cena, nada pode recusar ou transformar, como não pode transformar a realidade a que ela se reporta”. A perspectiva de “Feliz ano novo”, pois, é a de quem comete o crime, como ofício ou como diversão, sem culpa, sem frenamento moral, com calma e “com muito prazer”. As motivações para o estado de espírito tranqüilo na prática da infração vêm da oposição entre ricos e pobres, da carência dos miseráveis, da revolta contra a desigualdade social e do ódio em face dos bem-sucedidos. Mas não existe uma postura revolucionária que queira mudar o mundo ou uma vontade de transformação social; o gatilho que dispara o delito é o desejo de consumo. Os bandidos estão famintos, em um apartamento fétido, fumando maconha e tomando cachaça, diante de uma única possibilidade de matar a fome: comer os despachos de macumba, sendo que um deles, Pereba, não admite essa degradação, não por melindre, mas por temer conseqüências 99 Sobre o outro caso Rubem Fonseca, o reverso da perseguição, ou seja, a colaboração, ver: DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1981. 100 FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain. Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a ficção contemporânea. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 32. 154154 sobrenaturais; todo um tédio indigente e as armas ali perto, prometendo um assalto venturoso. “Feliz ano novo” começa com a provocação das imagens do consumo serelepe de fim de ano, jogadas na cara da massa: “Vi na televisão que as lojas bacanas estavam vendendo adoidado roupas ricas para as madames vestirem no réveillon. Vi também que as casas de artigos finos para comer e beber tinham vendido todo o estoque”. Os infelizes querem uma fatia dessa felicidade materialista: “Eu queria ser rico, sair da merda em que estava metido! Tanta gente rica e eu fudido”. Quando especulam sobre a sexualidade das mulheres da alta sociedade, que seriam todas devassas, Pereba lamenta que a disponibilidade delas não chegue até eles e o seu colega responde: “Pereba, você não tem dentes, é vesgo, preto e pobre, você acha que as madames vão dar pra você? Ô Pereba, o máximo que você pode fazer é tocar uma punheta”. O sexo aparece como uma descarga animalesca e egoísta e não demora a adquirir o sentido da agressão vingativa: o estupro, que humilha as madames e desafia os senhores imobilizados e impotentes. É como se a violência sexual respondesse à violência social a que são submetidos os desvalidos dentro da ordem econômica vigente. O outro lado da moeda é o desprezo; Pereba pergunta: “Não vais comer uma bacana destas?”; e a resposta é: “Não estou a fim. Tenho nojo dessas mulheres. Tô cagando pra elas. Só como mulher que eu gosto”. Duas facetas da resposta do corpo pobre e inferior do “plebeu”, visto de cima como algo asqueroso: uma é o estupro como descarga, ofensa e vingança; a outra é a enojada indiferença pelo corpo bem vestido, bem cuidado, bem saudável e inacessível, pela posição social elevada que ocupa (a inversão da repulsa que os ricos limpos sentem pelos pobres sujos). A violência social fica caracterizada como guerra a partir do uso de armamento pesado, do conflito entre polícia e bandidos e da detonação da matança. As armas são contempladas e manipuladas com alegria; os assaltantes lembram parceiros agredidos, torturados ou mortos; o aborto do baile grã-fino implica a festa particular de desafogo e crueldade. O homicídio é praticado a partir de uma certa estética do assassinato, freqüentemente apontada pela crítica101: 101 Três exemplos, que estão à mão: 1) “A metáfora está posta. Bom bandido/bom amante/bom narrador. Matar, amar e escrever. Qualquer dos três ofícios será realizado com refinamentos estupendos. Em Feliz ano novo já se pode notar esse cuidado com a arte de matar” (SILVA, Deonísio da. Nos bastidores da censura: sexualidade, literatura e repressão pós-64. São Paulo: Estação Liberdade, 1989, p. 114); 2) a propósito de A grande arte e seu correspondente cinematográfico, o filme de Walter Salles Junior: “As cenas de A grande arte nos mostram a preocupação estética de autor e diretor em conceber o crime enquanto verdadeira obra de arte” (MESSA, Fábio de Carvalho. A sétima grande arte de matar. In: SOUZA, Marcelo Paiva de; CARVALHO, Raimundo; SALGUEIRO, Wilberth (org.). Sob o signo de Babel: literatura e poéticas da tradução. Vitória: PPGL/MEL; Flor&cultura, 2006, p. 159); e 3) “Daí a comparação da atitude do assassino com a do escritor: os dois têm uma arte, comportam-se como artistas perfeccionistas que se 155155 “Zequinha atirou. O cara voou, os pés saíram do chão, foi bonito, como se ele tivesse dado um salto para trás. Bateu com estrondo na porta e ficou ali grudado. Foi pouco tempo, mas o corpo do cara ficou preso pelo chumbo grosso na madeira”. Há um método na loucura dos facínoras, uma matemática que se permite alguns desvios do plano, todavia é eficiente e se revela infalível no final. Uma horda entra na mansão em festa e promove uma festança nefasta. O senhor alinhado que tenta persuadir o grupo a diminuir a agressão do roubo recebe uma avaliação e um tiro. Na avaliação, notamos conflito, rancor e ódio: “Filha da puta. As bebidas, as comidas, as jóias, o dinheiro, tudo aquilo para eles era migalha. Tinham muito mais no banco. Para eles, nós não passávamos de três moscas no açucareiro”. O contraste do bem estar dos ricos com a miséria e a degradação social é ainda ressaltado: “Em cima de uma mesa tinha comida que dava para alimentar o presídio inteiro”. Não está posta uma consciência eloqüente quanto à oposição de situações sociais tão diferentes; não é desenvolvida uma aproximação entre justiça oficial e injustiça social; há a mobilidade armada dentro do espaço hostil de uma sociedade desigual. A violência criminalizada se assume como crime. Se há ordem e instituições, nem a ordem nem as instituições merecem respeito, uma vez que toda a organização política e econômica se pauta na fraude e na rapina. A farra da violência que explode. Depois de Os prisioneiros vem à tona O Cobrador. Em muitos aspectos O Cobrador representa uma resposta à censura, começando pelo derridente poema de Khlébnikov usado como epígrafe. Assim como o conto “Feliz ano novo” faz a abertura de Feliz ano novo, “O Cobrador” principia O Cobrador: um gesto de repetição — que se confirma no conteúdo da estória. Não deixa de ser uma provocação a Armando Falcão a sentença, sobre Ana: “A moça era filha de um desses putos que enriquecem em Sergipe ou Piauí, roubando os paus-de-arara, e depois vêm para o Rio, e os filhos de cabeça chata já não têm mais sotaque”. Há ofensa e discriminação aqui, se o senso de humor é posto de lado; mas estamos falando justamente de relações contrastantes, distintivas e ríspidas: quaisquer valores servem para distanciar as pessoas, sejam de ordem geográfica, social, política, econômica, religiosa, cultural, emocional ou qualquer outra. A orgulham do seu estilo particular e da sua habilidade” (IPIRANGA, Sarah Diva da Silva. O mal da língua: os contos de Rubem Fonseca. In: Em tese. Belo Horizonte, ano 2, vol. 2, dezembro, 1998, p. 61). 156156 poética do homicídio, ramo da estética da violência fonsequiana, se reafirma. Uma espécie de marxismo perverso arreganha os dentes. Como já vimos, o cobrador assume: “Odeio dentistas, comerciantes, advogados, industriais, funcionários, médicos, executivos, essa canalha inteira”. O grupo de profissionais não se resume aos bem-nascidos, nem às carreiras de sucesso, pois inclui comerciantes (que não necessariamente têm formação e capital elevado; ele assassina um “muambeiro”, representante do comércio ilícito) e não exclui funcionários (que podem ser subalternos e reles); mas o cobrador, ao longo do conto, procura esclarecer quais são os opostos axiais que se apresentam na sociedade e sua avaliação procura definir e separar muito bem os aliados e os inimigos. É uma inteligência pragmática que opera a valoração de “justo” ou “injusto” que o cobrador aplica aos sujeitos. O conjunto é simplificado, esquematizado em uma bipolaridade primária, em um de seus poemas: Os ricos gostam de dormir tarde / apenas porque sabem que a corja / tem que dormir cedo para trabalhar de manhã / Essa é mais uma chance que eles / têm de ser diferentes: / parasitar, / desprezar os que suam para ganhar a comida, / dormir até tarde, / tarde / um dia / ainda bem, / demais. Aumenta a força de seu ódio resumir sua dicotomia básica em parasitas e sacrificados; os parasitas, no poema, não são aplicados ao trabalho capitalista, são, até certo ponto, festivos e preguiçosos, enquanto os pobres labutam pela sobrevivência. A inteligência do personagem, que é sentenciosa e violenta, a todo momento está em atividade, procurando delimitar as duas classes de indivíduos que mira, a classe daqueles que ataca e a classe daqueles que não ataca ou defende. O cobrador reforça: “Na mesa ao lado um grupo de jovens bebendo e falando alto, jovens executivos subindo na sexta-feira e bebendo antes de encontrar a madame toda enfeitada para jogar biriba ou falar da vida alheia enquanto traçam queijos e vinhos. Odeio executivos”; agora seu raciocínio é bem claro. Ele ainda reitera, referindo-se a uma vítima iminente, outro executivo: Ele tem o ar petulante e ao mesmo tempo ordinário do ambicioso ascendente egresso do interior, deslumbrado de coluna social, comprista, eleitor da Arena, católico, cursilhista, patriota, mordomista e bocalivrista, os filhos estudando na PUC, a mulher transando decoração de interiores e sócia de butique. Outra provocação a Armando Falcão, a sua equipe de censores e ao Estado ditatorial brasileiro? A revolta do cobrador aproxima-se muito do tom revolucionário de Marx e Engels no Manifesto 157157 comunista102, quando, por exemplo, eles declaram que “O executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa” e que a burguesia “Fez do médico, do jurista, do sacerdote, do poeta, do sábio seus servidores assalariados”, como já foi referido. Não é gratuito que, na leitura que empreendemos, haja uma equivalência entre o executivo empresarial e o poder executivo do Estado; por outro lado, o agenciamento formal de todos os funcionários como agentes do poder econômico vigente remete a Foucault: o adestramento ubíquo produz os sujeitos. O uso de profissões e posições sociais como agentes do poder estabelecido é também apontado por Ferro, a propósito do processo colonialista, tão proficiente quanto oficial: “Na era do imperialismo, quando se percebe que aumentam as desigualdades entre as raças, novos personagens emblemáticos ocupam o lugar do corsário ou acompanham o missionário e o fazendeiro: os médicos, os professores”103. Quais são os termos da fatura do cobrador? Que itens ela traz em suas exigências? Respostas: “Digo, dentro da minha cabeça, e às vezes para fora, está todo mundo me devendo! Estão me devendo comida, buceta, cobertor, sapato, casa, automóvel, relógio, dentes, estão me devendo”; “Tão me devendo colégio, namorada, aparelho de som, respeito, sanduíche de mortadela no botequim da Vieira Fazenda, sorvete, bola de futebol”; “Estão me devendo xarope, meia, cinema, filé mignon e buceta”. A ordem estabelecida é vista claramente como uma configuração que favorece o roubo ladino oficial e criminaliza o roubo baixo do pobre ignorante. Vem o senhor alinhado, que sofrerá a cobrança: “Espero ele surgir, fantasiado de roupa cinza, colete, pasta preta, sapatos engraxados, cabelos rinsados”; chega o cobrador, menos interessado em conversa do que em uma liquidação: “Esses putos sempre fecham o carro a chave, eles sabem que o mundo está cheio de ladrões, eles também são, apenas ninguém os pega; enquanto ele abre o carro eu encosto o revólver na sua barriga”. O Cobrador entende que a sociedade está organizada hierarquicamente e na escala geral ele, cobrador, vale pouca coisa ou nada — ou menos que nada. Se há grupos instalados em posições cômodas, ele é um revolucionário insano e metódico, está em guerra e vai ao ataque. Ana, a moça branca e rica que o cobrador conhece, inspira o aumento do grau de violência das ofensivas do cobrador. Parece inverossímil que uma jovem de boa condição social se envolva 102 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. Tradução: Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo Editorial, 1998, p. 42. 103 FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências, séculos XIII a XX. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 133. 158158 com um bandido da ralé, mas, se pensarmos tanto no filme O invasor, de Beto Brant, como em notícias pontuais da mídia, atestamos que tal absurdo não é impossível de ocorrer nas malhas das complexas relações — e contradições — humanas. Além do mais, estamos no transterritório do simbólico; não é bem a verossimilhança que importa, mas o que é dado a pensar a partir do texto entretecido; e a realidade às vezes (ou sempre?) é inverossímil. Ana, a mocinha rica, depressiva e demolidora, adere à assolação sistemática do cobrador: “Ana Palindrômica saiu de casa e está morando comigo. Meu ódio agora é diferente”; o método dele vai mudar a partir da união: “Ana me ensinou a usar explosivos e acho que já estou preparado para essa mudança de escala. Matar um por um é coisa mística e disso eu me libertei”; a etapa ainda terá um exercício, mas já está superada: “No Baile de Natal mataremos convencionalmente os que pudermos. Será o meu último gesto romântico inconseqüente”. A matança não será mais lenta, quase individual; será mais rápida e eficiente, será grupal. A cobrança se estenderá. Ela não é humilhante na orientação financeira da sociedade, quando pressiona os devedores? Ela será triunfante na justiça do cobrador. O poeta cobrador aproxima-se do Maiakovski guerreiro que parte para a luta: “Investindo / com toda / esta carcaça, / dou conta de dois, / sem sobressalto, / e até de três, / se me fazem pirraça”104. Numa fusão da fala calculista do cobrador com um poema seu, do cobrador-poeta, temos a seguinte fórmula: “Estou querendo muito matar um figurão desses que mostram na televisão a sua cara paternal de velhaco bem-sucedido, uma pessoa de sangue engrossado por caviares e champãs Come caviar / teu dia vai chegar”. Os versos correspondentes de Maiakovski, o poeta revolucionário que, depois, decepcionado, suicida-se, ameaçam: “Come ananás, mastiga perdiz. / Teu dia está prestes, burguês”. O entusiasmo do poeta-cobrador pode ser também associado a Carlos Drummond de Andrade. Após uma decapitação, o cobrador poeta comemora: “Ergui alto o alfange e recitei: Salve o Cobrador! Dei um grito alto que não era nenhuma palavra, era um uivo comprido e forte, para que todos os bichos tremessem e saíssem da frente. Onde eu passo o asfalto derrete”, o que soa como um eco: “As leis não bastam. Os lírios não nascem / da lei. Meu nome é tumulto e escreve-se / na pedra”105. 104 MAIAKOVSKI. Poemas. 6. ed. Tradução e organização: Boris Schnaiderman; Augusto de Campos; Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2002, p. 98. O s versos citados a seguir estão na página 82. 105 ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião: 10 livros de poesia. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976, p. 82 (A rosa do povo, poema “Nosso tempo”). 159159 O cobrador, que se proclama heroicamente Cobrador, considera-se justiceiro e justo e pretende expandir a sua ética brutalmente revolucionária: “Ana me ajudou a ver. Sei que se todo fodido fizesse como eu o mundo seria melhor e mais justo”. O senso de justiça do cobrador, o seu projeto de luta e o seu plano de difusão da fé moral no resgate dos desvalidos sociais podem ser ainda mais aproximados do Manifesto comunista de Marx e Engels. A palavra “manifesto” aparece em contexto semelhante ao de 1848, ou seja, o da difusão clara de um credo assustador (no seu panfleto, Marx e Engels assumem que está na hora de substituir o espectro do comunismo pelo próprio comunismo, explícito): “Leio para Ana o que escrevi, nosso manifesto de Natal, para os jornais”. A utopia — uma utopia assombrosa, sem dúvida — lança-se como uma erupção totalizante, que tem como objetivo uma “libertação” violenta global: “E o meu exemplo deve ser seguido por outros, muitos outros, só assim mudaremos o mundo. É a síntese do nosso manifesto”. O internacionalismo “comunista” está cabalmente posto nos propósitos visionários do cobrador e de sua parceira: “O mundo inteiro saberá quem é você, quem somos nós, diz Ana”. A conclamação final do Manifesto comunista — “Proletários de todos os países, uni-vos!” — ressoa no manifesto do Cobrador. Em uma época de caça aos comunistas (assumida como primazia na sigla CCC), embora já desgastada e chegando ao fim, pois está se aproximando a anistia, assim como a transição para a democracia, “O Cobrador” emerge como uma espécie de distúrbio social, grito de liberdade cruciante e mortal. É perfeitamente viável relacionar o conto ao Manifesto comunista, o que, é evidente, não significa filiar Rubem Fonseca ao marxismo. Vera Figueiredo106, no entanto, em Os crimes do texto, lançado em 2003 (mas que reúne e amplia ensaios publicados desde 1984), refere-se aos dias atuais da seguinte maneira: “tempos em que Marx foi substituído por Nietzsche, como filósofo de referência — isto é, aquele com o qual se dialoga prioritariamente, quer se concorde ou não com o seu pensamento”; adiante, observa que “não há como não relacionar a visão de mundo que se depreende da ficção de Rubem Fonseca com o pensamento de Nietzsche”. Realmente, nas linhas de Rubem Fonseca, a intersecção com Nietzsche é permanente. O filósofo alemão é mencionado diretamente em pelo menos seis livros do ficcionista, se é que a memória de um leitor tão desorganizado pode nos ajudar aqui: 1) “havia uma guerra, em que os 106 FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a ficção contemporânea. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003, p. 16 e 22. 160160 velhos, os doentes, eram mortos e queimados num forno e a chaminé do forno era igual à do Lar Onze de Maio. Um pesadelo nietzschiano” (O Cobrador, “Onze de Maio”, p. 130); 2) “Porque sabe que a morte existe, o homem criou a arte, um pensamento nietzschiano” (A grande arte, parte II, capítulo 2, p. 176); 3) “‘De tudo o que se escreve, aprecio somente o que alguém escreve com o seu próprio sangue’, disse Nietzsche, para quem sangue e espírito eram a mesma coisa” (Bufo & Spallanzani, parte V, capítulo 1, p. 260); 4) “Escritores e leitores, por saberem que não são eternos, evadem-se, nietzschianamente, da morte” (Romance negro e outras histórias, “Romance negro”, p. 187); 5) na Europa, o imperador dom Pedro II “Tem um encontro ocasional (e provavelmente apócrifo) com Nietzsche, no qual conversam durante duas horas sobre Wagner, Dioniso, Apolo” (O selvagem da ópera, capítulo 9, p. 196); 6) “Ela respondeu que Nietzsche disse que a mesma palavra amor significa duas coisas diferentes para o homem e para a mulher” (Ela e outras mulheres, “Ela”, p. 37). Outro tento, que de fato escapou à memória caótica do leitor referido: 7) E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto (capítulo 5, p. 62): “Talvez seja essa a maior de todas as motivações para alguém tornar-se um escritor, para o artista criar: o conhecimento que o ser humano tem da sua própria finitude, a certeza de que vai morrer (Vide Nietzsche)”. E a leitura que Fabíola Trefzger propõe para “O Cobrador” faz justamente a aproximação entre Rubem Fonseca e Nietzsche. A idéia de justiça como prolongamento da relação entre credor e devedor, desenvolvida em Genealogia da moral fundamenta o ensaio “Na mira do justiceiro: a fatura do cobrador”: “O que o move é uma profunda consciência da indissociável relação credor/devedor a partir da qual o personagem encara como legítimas suas ações criminosas”107. Mas, quanto à relação entre Rubem Fonseca e Nietzsche, é necessário esclarecer alguns pontos. No caso de “O Cobrador”, e talvez de todas as narrativas de Rubem Fonseca, não é a face aristocrática da filosofia de Nietzsche que está em pauta, uma vez que o cobrador não faz parte da nobreza, no sentido estrito da palavra; é a face relativista, a tendência à suspeita, o multiperspectivismo, a atividade iconoclasta do martelo destruidor, o desdém contra os valores e o imoralismo — é isto que ferve nos encontros e nos confrontos de sua ficção. “Feliz ano novo” e “O Cobrador” configuram o estado de guerra social. Inscrevem a verdade de que a sociedade, regida por uma política mentirosa, não se baseia na solidariedade e 107 TREFZGER, Fabíola Simão Padilha. Na mira do justiceiro: a fatura do cobrador”. In: SALGUEIRO, Wilberth Claython Ferreira (org.). Vale a escrita?: poéticas, cenas e tramas da literatura. Vitória: Programa de Pós-Graduação em Letras; Centro de Ciências Humanas e Naturais; UFES, 2001, p. 203. 161161 na harmonia, senão no dano, na exploração, na dominação, no conflito. Os humanistas líricos podem, à sua vontade, desejar um mundo cor-de-rosa e pintá-lo, em suas fantasias, com essa cor. Mas os embates estão à mostra e as baixas vão aumentando. A organização política das sociedades é muito justa, judiciosa, competente e bem intencionada — na emissão de seus próprios discursos. Mas na realidade de suas ações é um verdadeiro leviatã (a acuidade do pensamento de Hobbes!). A desconfiança diante das instituições aparece no conto “Onze de maio”, também de O Cobrador. Presos dentro de um asilo, os velhos são neutralizados — socialmente, politicamente, emocionalmente — e têm como dever reconhecer a importância da instituição que lhes guarda, já que não passam de um fardo para o Estado. Insatisfeitos, alguns tentam fazer uma revolução, mas desistem, no fim de seu programa, abatidos pelo cansaço ou pela indiferença. Não é à toa que o asilo, no qual indivíduos economicamente inválidos, ou seja, velhos, são isolados (como se fossem bandidos ou doentes), é associado a um campo de concentração, como ocorre no “pesadelo nietzschiano” do interno que narra a estória. A chaminé do Lar Onze de Maio pode ser perfeitamente associada à chaminé que tanto incomoda Semprun em A escrita ou a vida, a chaminé de Buchenwald. O narrador de “Onze de Maio” cisma: “Do lugar onde estou vejo a chaminé do forno de lixo, jogando fumaça para o ar. A fumaça é negra. Que lixo será que eles queimam? Restos de comida, papéis sujos? A fumaça fica branca”; mais à frente, ele chega a uma conclusão: “Já sei por que ninguém dura mais de seis meses aqui. Se o interno não morrer das humilhações e privações, do desespero e da solidão, eles o envenenam e matam. A chaminé! Aquele cheiro é de carne queimada”. No livro de Semprun108, a fumaça do crematório é uma obsessão: “Bastava-me inclinar um pouco a cabeça, sem sair do meu local de trabalho no fichário central, olhar por uma das janelas dando para a floresta. O crematório estava lá, maciço, rodeado por um tapume alto, coroado de fumaça”; e, logo depois, uma imagem metafórica da morte, entre os prisioneiros: “‘Ir embora pela chaminé, partir em fumaça’ eram locuções habituais no jargão de Buchenwald. No jargão de todos os campos, não faltam testemunhos”. A violência urbana, uma das obsessões de Rubem Fonseca, que está presente, por sinal, em todos os seus livros, tem ainda, em O Cobrador, duas incidências bastante oportunas para discutirmos as relações sociais como guerra: “Livro de ocorrências” e “O jogo do morto”. No 108 SEMPRUN, Jorge. A escrita ou a vida. Tradução: Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p. 20 e 21. 162162 primeiro conto, entre os registros de trabalho de uma delegacia, temos uma briga de casal; agredida, a mulher de Ubiratan, um halterofilista musculoso e cheio de vaidade, fica macerada e precipitadamente disposta a denunciá-lo, mas logo se arrepende de procurar a polícia. O policial resolve tentar convencer o marido a não espancar mais a mulher. “Livro de ocorrências” sinaliza para a freqüência do problema da violência doméstica: “Naquela delegacia de subúrbio era comum briga de marido e mulher”; tanto que quando o policial resolve agir de acordo com a lei, não permitindo que a mulher se retire, e dá sinais que vai prosseguir com o caso, o investigador Miro reage: “Miro suspirou. Deixa a mulher ir embora, disse entre dentes”. O senso de justiça do policial, que teima em intervir, acreditando, inclusive, em seu poder de persuasão (“Uma vez, em Madureira, eu havia convencido um sujeito a não bater mais na mulher”, diz o narrador, acrescentando duas outras intervenções bem-sucedidas), contrasta com a repetição de casos e com o descaso do investigador, acostumado a ver as brigas repisadas. O outro conto, “O jogo do morto”, figura e transfigura uma roda de colegas que jogam e apostam dinheiro; eles inventam uma forma curiosa de disputa: cálculos relativos às operações de extermínio do Esquadrão da Morte. Cansado de perder, um deles se arrisca a prever que um comerciante e uma filha seriam eliminados. Contrata um matador para realizar a sua previsão; o crime acontece; mas o mandante do crime também é executado. A violência é difusa na ficção de Rubem Fonseca. Em Os prisioneiros, nos contos “Passeio noturno (parte I)” e “Passeio noturno (parte II)” um senhor rico, para relaxar a tensão de um dia de trabalho ou para fugir do tédio que enfrenta no próprio lar, adota uma tétrica forma de relaxamento: atropelar e matar pessoas — os pedestres que estiverem em sua frente, podem ser atingidos por um carro de luxo dirigido como um libérrimo tanque de guerra. Em Pequenas criaturas, uma sambista ataca a navalhadas a rival que toma seu posto na escola de samba (“Rainha da bateria”). Um matador profissional atravessa os contos “Belinha”, “Olívia”, “Teresa” e “Xânia”, de Ela e outras mulheres; tentando se livrar do ofício, é perseguido pelo mandante que lhe emprega e acaba tendo que matar mais gente (“e ainda por cima sem ganhar um tostão”...), inclusive seu chefe, o Despachante. Ele mata por dever de ofício, por questão de segurança; e também por um sentimento de justiça, como em “Belinha” e “Teresa”, o que o aproxima do Cobrador. O advogado criminalista Paulo Mendes, mais conhecido pelo codinome Mandrake, enfrenta situações muito tensas em seu trabalho, não só ligadas à polícia, ao fórum e ao tribunal. 163163 No exercício de sua função, ele pode ter que brigar, pode ser alvejado, pode querer matar. Nós, leitores, podemos montar um pequeno dossiê desse personagem recorrente de Rubem Fonseca, cuja “ficha”, é assim apresentada por um cliente, como um revide: “Também tenho sua ficha, ele me imitou. Cínico, inescrupuloso, competente. Especialista em casos de extorsão e estelionato” (O Cobrador, “Mandrake”, p. 81). Contratado por um político, Mandrake empreende o resgate violento de uma prostituta supostamente retida em um bordel (Lúcia McCartney, “O caso de F. A.”). Mandrake é acionado para socorrer o banqueiro J. J. Santos, enganado e ameaçado por um travesti (Feliz ano novo, “Dia dos namorados”). Mandrake é contratado pelo senador Rodolfo Cavalcante Méier, que está envolvido em um assassinato (O Cobrador, “Mandrake”). Enredado, como profissional, no sumiço de uma fita cassete, Mandrake acaba sendo atacado, juntamente com sua amante Ada; ele é esfaqueado, ela é seviciada pelos assaltantes; Mandrake quer vingança, planeja usar a faca, ferir os inimigos com o mesmo tipo de arma, segundo o preceito “olho por olho, dente por dente” (A grande arte). Mandrake é advogado do escritor Gustavo Flávio (o mesmo de Bufo & Spallanzani), suspeito de estar envolvido em sucessivas mortes criminosas (E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto). Investigando roubos de livros raros, Mandrake acaba levando tiros e fica meses em coma (Mandrake, “Mandrake e a bíblia da Mogúncia”). Tendo que usar bengala em função de seqüelas de ferimento a bala, Mandrake defende a condessa Sforza, acompanha outras causas e ele próprio é suspeito de um homicídio (Mandrake, “Mandrake e a bengala Swaine”). Mandrake, portanto, um advogado amoral e bem humorado, que transita por diferentes classes sociais e é um profissional liberal de êxito no mercado, não está imune à violência urbana. Ele briga, é esfaqueado, baleado e escapa, por pouco, da morte. Em “Mandrake e a bengala Swaine”, ao passar por uma moradora de rua, ele ouve, como já está acostumado, “bom dia, coronel, foi ferido na última guerra?, doeu muito?”; sua resposta atesta a consciência da luta diária em uma sociedade marcada por conflitos e confrontos explícitos: “e eu respondi um pouco, mas na verdade tinha doído muito e a minha guerra não tinha acabado” (Mandrake, p. 125). Mandrake tem informações sobre negócios como contrabando, prostituição, tráfico de drogas, corrupção em todos os níveis, investimentos ilícitos e criminosos. Está acostumado a ver o homicídio como efeito de lutas que por sua vez são efeitos das relações de poder. Como advogado criminalista, entende que não está em uma zona protegida; ao contrário, está no campo de batalha. Em A grande arte, o problema da guerra está disseminado, desde sua manifestação 164164 mais explícita, a guerra institucional, até a forma mais latente, matanças intermitentes (faiscantes e contínuas) no tecido social. Quando estuda técnicas de manobrar facas, Mandrake constata o uso de armas brancas no exército. O autor Mandrake escreve que Camilo Fuentes vê como uma obrigação estar preparado para matar. O mesmo Camilo Fuentes, pensa Mandrake, “Sabia que matar era uma coisa torpe. Mas não haviam matado seu pai? A vida não passava de uma luta de vida ou morte entre as pessoas. Entre os animais. Entre os povos. Entre as forças da natureza” (A grande arte, parte I, capítulo 14, p. 133). O livro que Nariz de Ferro diz estar concluindo, Manual dos frustrados, fodidos e oprimidos, é um verdadeiro manual de guerra para o dia-a-dia. Álvaro Monteiro, um dos convidados de uma festa oferecida por Roberto Mitry, de quem se diz que trabalha com venda de armas de guerra, ouve várias vezes seu anfitrião zombeteiro provocá-lo; tendo acabado de dispensar sucessivamente uma combinação de drogas oferecida por Mitry, ouve então: “Você não sabe o que está perdendo. Transcender, ultrapassar. Experimenta, vai combinar com a tua profissão de intermediário da destruição” (A grande arte, parte II, capítulo 4, p. 192). Capturado por Fuentes e Nariz de Ferro, amarrado, interrogado se havia feito o “serviço” que eliminou Roberto Mitry e duas prostitutas, Rafael responde: “Ordens dos homens. Sou um soldado. Como você”. Depois de acompanhar uma morte violenta, Nariz de Ferro diz: “A guerra ainda não acabou” (A grande arte, parte II, capítulo 17, p. 296). Uma justificativa semelhante para os homicídios encomendados é dada pelo matador profissional do conto “Belinha”: “Ela também perguntava o que eu sentia quando apagava um cara e eu respondia que não pensava em nada, igual um soldado na guerra, a diferença é que eu não ganhava uma medalha quando matava o adversário” (Ela e outras mulheres, p. 17). A ironia do criminoso parece escarnecer da sociedade política: na guerra, a matança é premiada, na vida civil, não; se os seres humanos matam e destroem sistematicamente nas guerras, como podem querer condenar qualquer assassínio? A situação-limite não é tão rara, nem exclusiva, nem extrema. A guerra do front está lá e aqui. Também ironicamente a paz é abordada, no caso, a “paz eterna”, porque na vida não há lugar para este luxo: “Paz”, de Pequenas criaturas, parece sinalizar a sentença fúnebre como lugar exclusivo da ausência de guerra, de acordo com o sentido metafórico corrente. Mas “paz eterna” é apenas uma formulação lingüística, inclusive com um uso comercial muito corrente nas empresas funerárias. E, sabemos, ainda aí, na imagem da paz dos que foram chamados por Deus, a idéia de punição eterna (a danação perpétua) compete com a imagem de serenidade. 165165 A guerra disseminada, em Rubem Fonseca, atinge tudo. Ela ocorre no nível das disputas artísticas: “A guerra literária em Paris não tinha limites” (O doente Molière, p. 59). Não está ausente do âmbito do amor: “amor e guerra são a mesma coisa, estratagemas e diplomacia são permitidos tanto em um como no outro” (Secreções, excreções e desatinos, “Mulheres e homens apaixonados”, p. 87); “Nada pode reprimir meus impetuosos desejos. Sinto em mim um amor que engloba toda a terra; e, como Alexandre, gostaria que outro mundo houvesse para aumentar minhas conquistas amorosas” (O doente Molière, p. 82 — são palavras do dom Juan de Molière); e, finalmente, nas palavras do mulherengo e apaixonado Mandrake (como se ele estivesse cantando, cinicamente, um lamento de Lupicínio Rodrigues): “No momento em que a guerra entre Zakkai e Lima Prado chegava no auge, eu também caminhava para atingir a culminância da guerra ainda não declarada entre mim e minhas três amadas” (A grande arte, parte II, capítulo 15, p. 280). Sendo um elemento histórico da maior importância, longe de estar ausente no presente histórico do século XXI, este nosso tempo de agitação e de eloqüência política rasteira, que distribui “justiça”, “paz” e “democracia”, a guerra assombra e repugna. No primeiro capítulo da segunda parte de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, quando o diretor de cinema mostra para Veronika, dentro de um avião, o esboço da cena da morte de Dolguchov, ela lê rapidamente e logo devolve o texto, dizendo que filmes de guerra não lhe agradam. “Veronika acrescentou que não suportava principalmente ver filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a guerra do Vietnam”, informa o narrador, “Não tolerava mais nazistas, partigiani, marines, comandos, camicases, vietcongues, vietnamitas, indochineses e americanos e franceses e demais protagonistas”. Segue-se uma discussão cada vez mais azeda nos ares da Alemanha dividida, até que o narrador firma sua ira — “Minha vontade era mandar aquela mulher para o inferno” — e eles se calam, o silêncio da viagem parecendo marcar um rompimento irreconciliável. Mas, antes, nessa mesma discussão, Veronika ouve a voz de autodefesa de seu interlocutor: “A guerra inspirou muitas obras-primas, em todas as artes”, eu disse, defendendo-me e irritando-me, à medida que falava. Eu também não gostava de filmes de guerra, porém as provocações daquela mulher me tornavam um belicista, contra minha vontade. “Euclides da Cunha, Goya, Stendhal, Beethoven, Tolstoi, Picasso, Shakespeare e Homero foram alguns artistas, entre muitos, que trataram da guerra. Por falar em Goya...” 166166 — interrompido por Veronika, ele não pode concluir sua fala. O diretor começa a falar em Goya, neste instante, porque, antes, havia examinado com interesse um retrato de Babel e julgou já tê-lo visto; depois verificou estar confundindo Babel com Goya, por achá-los muito parecidos, fisicamente, em duas gravuras distintas que teve nas mãos. O retrato de Goya que confunde com o escritor soviético, aliás, o auto-retrato de 1787, realmente lembra a imagem de Babel: basta comparar com a fotografia de Babel disponível em Os escombros e os mitos de Boris Schnaiderman. Esta aproximação entre o escritor de Odessa e o pintor espanhol leva o cineasta a planejar fazer o seu filme Cavalaria Vermelha “usando a mesma luz de Goya, as mesmas cores negras, os marrons, o vermelho escuro das pinturas de guerra” (Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, primeira parte, capítulo 5, p. 44). Como vemos, no entanto, o diretor não pode expor o seu plano: Veronika não permite. A controvérsia entre o cineasta e Veronika — não por acaso em torno do problema da guerra — pode ser gradualmente observada como antipatia, desentendimento, troca de ofensas e, finalmente, guerra. O diretor, que também não tem simpatia por filmes de guerra, torna-se até um belicista, como ele próprio informa, mas não cede no embate verbal. A divergência torna-se guerra porque o entendimento mútuo (em geral) é muito frágil e isso mostra, numa imagem metonímica, como a estabilidade social é débil e insegura. A qualquer instante, a disrupção pode alastrar a “guerra hobbesiana de todos contra todos”. Assumir, contra a vontade, um belicismo político inexistente, como ocorre nesta passagem de Vastas emoções e pensamentos imperfeitos, parece indicar que a própria discussão já é uma guerra, erística, na qual vale tudo e o que importa é vencer. Com sua literatura obscena, brutal, chã e subterrânea, Rubem Fonseca configura a guerra de todos contra todos, à qual Liliana se refere em Vastas emoções e pensamentos imperfeitos e contra a qual, segundo Hobbes, o poder soberano deve estar constantemente alerta, pois ela ameaça minar o Estado ou explodir a qualquer momento em forma de guerra civil. Seguindo as linhas dos livros de Rubem Fonseca, podemos transitar da guerra institucional, oficial, para a guerra social, assumida ou latente, muito visível na sociedade brasileira a partir dos próprios corpos das vítimas. Ou seja, a ficção de Rubem Fonseca aborda a guerra tanto em sua manifestação institucional, externa, que envolve soldados, exércitos e Estados, quanto na sua eclosão interna, no seio da sociedade, como relação de poder entre indivíduos e grupos, que está além e aquém da guerra civil e que é, ao mesmo tempo, a guerra civil. À guerra institucional, 167167 oficial e histórica, é preciso, pois, somar a guerra social, que é inerente a qualquer sociedade e que, afinal, abarca todas as sociedades e, enfim, todos os seres humanos. Que a atividade bélica é uma das principais forças propulsoras da história, ninguém pode ter dúvida, isto é demonstrado no tempo e no espaço e um rápido olhar no presente não tem dificuldade de o atestar; é um senso comum da crítica; e basta lembrar a idéia da guerra como “mãe de todas as coisas” e verificar a sucessão de configurações do mapa político do planeta traçadas exatamente pelos resultados dos confrontos, para perceber o desmedido alcance de sua força. A guerra é prevista, alimentada e incitada institucionalmente. Fazendo parte de uma competição de larga escala, de escala total, exige de cada Estado que se prepare em face dos concorrentes. Não só estimula o avanço tecnológico como anima o desenvolvimento econômico e se constitui, ela própria, como negócio. Pode garantir interesses políticos e econômicos, é usada como garantia de primazia em ordem regional, internacional e mundial. O arsenal militar é uma carta explícita no jogo político global. A “maior democracia” do planeta esconde o seu poder bélico por trás de “inocentes” ramificações de negócios culturais de massa, mas o ostenta sempre que se trata de uma prova decisiva ou até em ocasiões mais sutis. A supremacia atual é fundamentada e garantida pelo poder bélico patente — assim como todas as supremacias históricas. A guerra institucionalmente constituída exige os seus agentes e os seres humanos não estão descartados, para falar com um pouco de ironia da quantidade de perdas humanas previstas e levadas a cabo nos embates bélicos. A matança decorrente das batalhas está totalmente dentro do âmbito da lógica, do planejamento e da razão. Os exércitos são racionalmente montados para matar, matematicamente, indivíduos, os quais são vistos como meros números; e se são considerados como pessoas de valor elevado, tanto melhor: cresce a valia da baixa. A estatística (quando há) não leva em conta a perda pessoal, idiossincrática, e sim a soma, a multiplicação, o aumento exponencial de abatidos, militares ou civis. Considerando a imagem do Terror cristalizada pelos conservadores, a imagem “da ditadura e da histérica e desenfreada sanguinolência”, Hobsbawm observa que, ainda assim, “pelos padrões do século XX, e mesmo pelos padrões das repressões conservadoras contra as revoluções sociais”, as “matanças em massa” do período são “relativamente modestas: 17 mil execuções oficiais em 14 meses”. As modestas matanças do Terror, Hobsbawm expande para o 168168 turbilhão bélico geral de 1792 a 1815, no qual as mortes também não são tão numerosas, no cálculo inteligente da política beligerante, já que “as perdas puramente humanas devidas a estas duas décadas de guerra não parecem ter sido, pelos padrões modernos, assustadoramente altas”. Hobsbawm compara a contabilidade financeira da guerra, na França, com a destruição sistemática de vidas; ele observa, em primeiro lugar, que “Pelos padrões do século XVIII, as guerras revolucionárias e napoleônicas eram excessivamente caras”; e completa: “e de fato seus custos chegavam a impressionar os contemporâneos, talvez mais do que as perdas humanas que provocavam”109. De uma guerra revolucionária e, portanto, subversiva, para uma guerra oficial e, portanto, institucional, a Revolução Francesa transforma-se, também, de rebelião em situação e depois em guerra imperialista. E exige, do mesmo modo, os seus mortos. O número de óbitos é sempre insignificante em vista do sacrifício que é exigido. A hecatombe histórica está posta e não deixa de se reatualizar, historicamente falando. Os frios cálculos aritméticos do extermínio humano na guerra continuam sendo praticados e expostos e Hobsbawm segue as suas pistas (Era dos extremos, p. 52 e 50): como o século XX tem a ambição de superar em técnica, planejamento e resultado o desenvolvimento precedente, a eficácia e os estragos das guerras tendem a crescer; e crescem: “a produção também exigia organização e administração — mesmo sendo o seu objetivo a destruição racionalizada de vidas humanas da maneira mais eficiente, como nos campos de extermínio alemães”; também o alcance da guerra é progressivamente expansivo: “Falando em termos mais gerais, a guerra total era o maior empreendimento até então conhecido do homem, e tinha de ser conscientemente organizado e administrado”; quanto às baixas superlativas da Segunda Guerra Mundial, Hobsbawm assinala que “são literalmente incalculáveis, e mesmo estimativas aproximadas se mostram impossíveis, pois a guerra [...] matou tão prontamente civis quanto pessoas de uniforme”; e acrescenta: “grande parte da pior matança se deu em regiões, ou momentos, em que não havia ninguém a postos para contar, ou se importar”. Organizar-se para matar e destruir mais e melhor e assegurar, em termos políticos, econômicos e administrativos, o êxito dos objetivos: eis o plano, inteligente, racional e humano que se espalha por toda a Terra e se lança para além dela. Os fogos de artifício norte-americanos sobre o Japão são uma celebração dessa festa. E o jogo continua. 109 Todas as citações de Hobsbawm deste parágrafo estão em A era das revoluções. Conferir: HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Tradução: Maria Tereza Lopes Teixeira; Marcos Penchel. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996, p. 86, 110 e 112. 169169 A guerra, enquanto empreendimento administrativo e institucional, necessita de investimento financeiro; e, neste mundo de bondade e filantropia, não fica sem recebê-lo. Em A era das revoluções (capítulo 4, p. 113), Hobsbawm menciona a substituição, no governo inglês, do recurso ao empréstimo pela taxação compulsória: a Grã Bretanha passa a “pagar o esforço bélico com a tributação direta, introduzindo um imposto de renda com este propósito (17991816)”. Na realidade, o cidadão comum nem precisa pagar um imposto específico para estar implicado politicamente na guerra. Se não participa diretamente como soldado, se não paga um tributo direto em prol de campanhas militares, o cidadão está, de toda maneira, atrelado ao procedimento bélico, pois a política pressupõe a guerra. Na formulação de Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios; na inversão de Foucault, a política é a continuação da guerra; ou seja, latente nas relações de poder, a guerra, que é pura manifestação política, é também ubíqua. Novamente em A era das revoluções (capítulo 4, p. 116), Hobsbawm mostra como a política agressiva dos ingleses é que assegura a sua hegemonia (no momento, ainda não substituída pelo comando dos Estados Unidos); para ele, as guerras britânicas contra os franceses promoveram o desenvolvimento econômico, não “por si mesmas ou pelo estímulo da economia” e sim, precisamente, pela vitória, “pela eliminação dos competidores e a captura de novos mercados”; a guerra valeu o investimento: “Ao custo de uma suave desaceleração de uma expansão econômica que não obstante permaneceu gigantesca, a Grã-Bretanha decisivamente eliminou o seu mais próximo competidor em potencial, e transformou-se na oficina do mundo”. No final do século XX, em uma conferência apresentada no Brasil, considerando o pós-guerra, Josep Fontana avalia: “está claro que o ‘desenvolvimentismo’ foi um engano sangrento. A desigualdade é maior agora do que em 1949 e se agravou ainda mais desde que, com o fim da guerra fria, chegamos ao tempo feliz do fim da história”110. O desenvolvimento é uma corrida, uma disputa; não a busca de uma forma de superar a desigualdade num mundo de coisas e forças múltiplas e desiguais. Nas sociedades mais desenvolvidas, a guerra é administrativa, técnica e institucional; está atrelada a forças armadas mantidas pelo governo ou vinculadas ao poder estabelecido. Historicamente, os mecanismos e as particularidades do caráter institucional da guerra variam, mas ele pode ser detectado desde a Antiguidade. É na melhora da guerra como instituição do 110 FONTANA, Josep. História depois do fim da história. Tradução: Antonio Penalves Rocha. Bauru (SP): Edusc, 1998, p. 35. 170170 poder público que Maquiavel insiste, repetindo que é necessário abrir mão de soldados mercenários e investir o máximo possível na formação de um exército próprio, competente e destemido, regular e autônomo. Para Maquiavel111, as forças dos principados são medidas pelas armas; a firmeza dos governos depende da preparação do exército, já que são “capazes de se manter por si os príncipes que podem, em vista de ter abundância de homens ou de dinheiro, formar um exército forte e fazer frente a qualquer assaltante”. A obstinação de Maquiavel, quanto à necessidade do príncipe de se armar e de guerrear, se prolonga pelos seus escritos, e se pronuncia sem cansaço: “as principais bases que os Estados têm, sejam novos, velhos ou mistos, são boas leis e boas armas”; “Deve, pois, um príncipe não ter outro objetivo nem outro pensamento, nem ter qualquer outra coisa como prática a não ser a guerra”; “Um príncipe deve, pois, não deixar nunca de se preocupar com a arte da guerra e praticá-la na paz ainda mais mesmo que na guerra”. E Sun Tzu alerta, desde os idos de antanho: “A guerra tem importância crucial para o Estado. É o reino da vida e da morte. Dela depende a conservação ou a ruína do império. Urge bem regulá-la”112. Já as sociedades menos desenvolvidas, não alcançaram um grau elevado de racionalização do combate, mas nem por isso dispensam as batalhas. Gândavo113, como observador europeu da província Santa Cruz (“a que vulgarmente chamamos Brasil”), atesta que os “índios têm sempre grandes guerras uns contra os outros e assim nunca se acha neles paz”. O historiador português aprecia com cuidado o destemor dos indígenas e verifica: “Quando vão à guerra sempre lhes parece que têm certa a vitória, e que nenhum de sua companhia há de morrer, e assim, em partindo, dizem ‘vamos matar’, sem mais outro discurso nem consideração”. Gândavo estranha que a guerra dos índios, segundo lhe parece, não tenha “esperança de despojos, nem doutro algum interesse que a isso os mova”. Em suas ponderações gerais, anota que somente por intermédio da doutrina cristã é possível fazê-los superar a discórdia. Por ocasião das conquistas coloniais, o empreendimento político-econômico europeu não abre mão das armas para se apresentar aos novos povos, considerados primitivos e inferiores. 111 MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe; Escritos políticos. São Paulo: Nova Cultural, 1991, p. 43, 49 e 59. As afirmações de Maquiavel citadas neste parágrafo são todas de O príncipe, capítulos X, XII e XIV. 112 TZU, Sun. A arte da guerra. Traduzido do chinês para o francês pelo padre Amiot em 1772. Traduzido do francês por Sueli Barros Cassal. Porto Alegre: L&PM, 2002, p. 21. 113 GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Modernização do texto original de 1576 e notas: Sheila Moura Hue; Ronaldo Menegaz. Revisão das notas botânicas e zoológicas: Ângelo Augusto dos Santos. Prefácio: Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004, p. 145146 (capítulo 11 do livro). 171171 Ferro comenta, a propósito do acometimento britânico na Austrália, que “o massacre começou muito cedo, e certos costumes indígenas — bater nas mulheres até sangrar, triturar os crânios dos soldados pegos em emboscadas — davam boa consciência a todos” os europeus civilizados, os quais “achavam ‘que não se tratava de seres humanos, mas de macacos’” (História das colonizações, p. 179) e exerciam sua violência civilizatória. O desígnio colonizador é brutal e pressupõe a matança de povos e o extermínio de culturas, que são sempre (talvez até hoje) vistos como insólitos exemplos do atraso humano e aberrações em comparação com o modelo técnicodesenvolvimentista europeu (e, depois, “ocidental”), tido como o correto, ou seja, como a norma da realização humana sobre a terra (e o espaço: é preciso não esquecer o espaço sideral). A difusão imperialista é concorrencial, todavia, o que provoca o embate de diferentes empresas colonizadoras, como demonstra Michel Beaud: “Arrastados por sua lógica de acumulação e de produção ampliada, os capitalismos nacionais procuraram espaço no mundo para sua expansão, fazendo concorrência entre si e se confrontando cada vez mais asperamente”114. Se a violência permanece nas relações internacionais civilizadas, no interior dos grupos “primitivos” e na conquista colonial, ela não está ausente das relações internas das sociedades desenvolvidas, ocorrendo tanto na coerção, na coação e na repressão como nos mais variados conflitos sociais. A irrupção da violência social provém dos próprios ordenamentos de competição dominação e exploração que envolvem a todos, ou seja, da disposição econômica, política e social dos grupos. Os investimentos no espaço colonial nos permitem ver que mortes de pessoas são consideradas no sentido extramoral pelo poder imperial, no âmbito do trabalho, já que aos colonizadores não importa o óbito dos operários, ou o seu sofrimento com a doença, e sim o fato de que mortos ou enfermos os trabalhadores ficam improdutivos; mas também no interior das sociedades desenvolvidas o trabalhador é apenas funcional, sendo importante como força de trabalho, não como ser humano. Na Indochina, onde a ordem normal das atividades da população é desequilibrada pela intervenção dos franceses, de acordo com Ferro (História das colonizações, capítulo 4, p. 158), “nos canteiros de obras insalubres do Tonquim, de cem operários vindos de uma região de clima saudável, de onde foram expulsos por tais desequilíbrios, 25 eram eliminados ao cabo de seis meses, mortos ou doentes”. Os franceses comentam que “Na Índia [também], de 1901 a 1931, a malária matou diretamente 30 milhões de 114 BEAUD, Michel. História do capitalismo: de 1500 até nossos dias. 4. ed. Tradução: Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Brasiliense, 2004, p. 241. 172172 pessoas”; e, o que é igualmente matemático: “Mas o fato mais grave é talvez que uma morte por malária corresponde a pelo menos 2 mil dias de doença, quer dizer, de indisponibilidade”. A equivalência da potência humana à força de trabalho é não só pressuposta como exigida. Vejamos três momentos em que Michel Beaud (História do capitalismo, p. 171, 269 e 270) registra o grito de guerra dos patrões e de quem os apóia contra os operários e suas exigências. Primeiro, agitação, ordem de comando e massacre: “a classe dirigente está decidida a tudo; ‘Não pode haver tréguas’, diz Thiers; ‘Há que matar todos. Nenhuma trégua. Sede implacáveis (...). É preciso uma matança de três mil facciosos’, ordena Bugeaud”. Segundo, o Times propõe guerra contra os ferroviários: “o patronato é resoluto e se apóia sobre um poderoso partido conservador; frente à greve dos ferroviários de 1919, o Times escreve: ‘Como a guerra contra a Alemanha, esta deve ser uma guerra até o fim’”. Terceiro, guerra (e vitória) diante das máquinas humanas que se rebelam contra as condições insalubres do trabalho a que devem se submeter sem nada reclamar: “o movimento operário se choca com a determinação do patronato (lockout) e do governo que, resolvido a ‘enfrentar uma situação análoga à guerra civil’, envia as forças armadas; ele se divide, sofre com a indecisão dos dirigentes, para finalmente conhecer a derrota”. A guerra social fica evidente — e nem se trata da esfera do crime. Os números da empresa econômica total que se impõe são assustadores: em termos de lucros, eles potencializam o que subtraem, mas a subtração é terrivelmente destruidora e a força do lucro que se potencializa, também. Na ciranda dos interesses, das ambições, dos sentimentos e das vaidades humanas, as divergências e os confrontos não são de pouca monta; no choque de culturas diversas, o aumento das dissensões é garantido; na competição geral e brutal que a todos engole, são certas as discrepâncias mortais. Os mecanismos de controle da disrupção social detêm a violência recorrendo à violência, velada ou assumida. É a guerra de todos contra todos que reluz nas relações humanas. Guerra que pode ser mais ou menos abrandada ou escondida, mas não deixa de pulsar, imanente. A pacificação das sociedades pode até criar uma imagem estável de segurança e equilíbrio e as pessoas até acreditam nos propósitos políticos que as engolem. Mas a guerra é o resultado imediato dos conflitos de interesses e de forças de todas as dimensões, de todas as categorias, de todos os estágios; pode se abrandar em pequenas discórdias ou acordos pacíficos; pode se disfarçar em uma ordem; e pode se assumir em sua mais sangrenta manifestação. 173173 Se as sociedades se erguem num âmbito de conflitos de forças e poderes, de que maneira situar os “objetivos sociais” diante da guerra de todos contra todos? Há uma maneira de superála? Há uma forma de semear a paz entre os homens? Em um dos Cinco prefácios para cinco livros não escritos, “O estado grego”, Nietzsche aborda a guerra de todos contra todos, mostrando que ela foi parcialmente neutralizada pela “mola de ferro que obriga o processo social” (o Estado); mas ela permanece: “concentra-se em terríveis nuvens de guerra dos povos, descarregando-se como que em trovões e relâmpagos” e no âmbito interno a sociedade pode “germinar e verdejar, sob o efeito daquele bellum concentrado e dirigido para dentro, a fim de deixar a flor luminosa do gênio brotar assim que surjam alguns dias mais quentes”115. Luigi Bonanate, em um livro mais recente — A guerra —, publicado, na Itália, em 1998, fixa a paz, na política internacional, como uma imposição de ordem a partir da guerra: “a guerra serve para a realização da paz. Esta última será, de fato, alcançada quando o vencedor tiver modelado a ordem internacional segundo as suas intenções”116. Daí que acreditar na paz seja algo ingênuo, pois ela já é um resultado estratégico, sem dúvida nenhuma provisório, de uma azáfama política infernal. A paz é suspeita, pois vem de um plano. Como percebe Anatole Rapoport117, no prefácio ao livro de Clausewitz, falando a propósito dos anos 1815-1914, “descrito como um século de relativa paz”, a paz é “um período de incubação” da guerra. De maneira que a guerra, olhada com cuidado, não só na exuberância dos estrondos, dos morticínios e das destruições, não parece constituir uma situação extraordinária, isolada, rara. Não só a guerra está na ordem do dia da política, como também, dentro de um processo contínuo, ela trama a política, traça ordens, desenha os quadros sociais e o mapa político do mundo. A guerra é a política no esplendor de sua ação essencial. Daí a imagem da “mãe de todas as coisas”. Maternidade violenta que move a transformação incessante da biosfera em expansão. Para assinalar e reforçar a perigosa concepção dos partos e dos abortos desenvolvidos na história como pelejas em ato, vejamos quatro momentos do curso Em defesa da sociedade, que revelam a ação das armas entre os homens. Entendendo as relações de poder como relações de guerra, Foucault 115 NIETZSCHE, Friedrich. Cinco prefácios para cinco livros não escritos. 3. ed. Tradução e prefácio: Pedro Sussekind. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005, p. 48-49. 116 BONANATE, Luigi. A guerra. Tradução: Maria Tereza Buonafina; Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Estação Liberdade, 2001, p. 166. 117 RAPOPORT, Anatole. Prefácio. In: CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. 2. ed. Tradução: Maria Teresa Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. XXIX. 174174 procura seguir os traços do discurso que entende toda a organização política como guerra e vê como guerra as próprias relações sociais. Em primeiro lugar, na aula de 7 de janeiro de 1976, desdobrando as conseqüências da inversão da máxima de Clausewitz (que afirma ser a guerra a continuação da política), ele anota que as relações de poder, tais como funcionam numa sociedade como a nossa, têm essencialmente como ponto de ancoragem uma certa relação de força estabelecida em dado momento, historicamente precisável, na guerra e pela guerra. E, se é verdade que o poder político pára a guerra, faz reinar ou tenta fazer reinar uma paz na sociedade civil, não é de modo algum para suspender os efeitos da guerra ou para neutralizar o desequilíbrio que se manifestou na batalha final da guerra. O poder político, nessa hipótese, teria como função reinserir perpetuamente essa relação de força, mediante uma espécie de guerra silenciosa, e de reinseri-la nas instituições, nas desigualdades econômicas, na linguagem, até nos corpos de uns e de outros. Seria, pois, o primeiro sentido a dar a esta inversão do aforismo de Clausewitz: a política é a guerra continuada por outros meios; isto é, a política é a sanção e a recondução do desequilíbrio das forças manifestado na guerra. E a inversão dessa proposição significaria outra coisa também, a saber: no interior dessa “paz civil”, as lutas políticas, os enfrentamentos a propósito do poder, com o poder, pelo poder, as modificações das relações de força — acentuações de um lado, reviravoltas etc. —, tudo isso, num sistema político, deveria ser interpretado apenas como as continuações da guerra. E seria para decifrar como episódios, fragmentações, deslocamentos da própria guerra. Sempre se escreveria a história dessa mesma guerra, mesmo quando se escrevesse a história da paz e de suas instituições118. Em segundo lugar, na aula de 21 de janeiro de 1976 (Em defesa da sociedade, p. 59), Foucault procura delinear as proposições histórico-políticas, que não admitem a sociedade, a lei e o Estado como superação do estado de guerra, ou seja, nem como armistício, nem como “sanção definitiva das vitórias”: “A lei não é pacificação, pois, sob a lei, a guerra continua a fazer estragos no interior de todos os mecanismos de poder, mesmo os mais regulares”. E que força move as sociedades? “A guerra é que é o motor das instituições e da ordem: a paz, na menor de suas engrenagens, faz surdamente a guerra. Em outras palavras, cumpre decifrar a guerra sob a paz: a guerra é a cifra mesma da paz”. Em terceiro lugar, na aula de 4 de fevereiro de 1976 (Em defesa da sociedade, p. 131), Foucault, procurando identificar contra qual discurso ou orientação política Hobbes se posiciona quando escreve o Leviatã, tenta precisar justamente a formulação histórico-política que se opõe à 118 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Edição estabelecida, no âmbito da Associação para o Centro Michel Foucault, sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana, por Mauro Bertani e Alessandro Fontana. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 2223. 175175 teoria jurídico-política. Hobbes, para Foucault, é um representante do ponto-de-vista jurídicopolítico e tenta, com o pensamento defendido no Leviatã, conjurar o discurso histórico-político que desenvolve a idéia de que toda lei, seja ela qual for, toda forma de soberania, seja ela qual for, todo tipo de poder, seja ele qual for, devem ser analisados não nos termos do direito natural e da constituição da soberania, mas como o movimento indefinido — e indefinidamente histórico — das relações de dominação de uns sobre os outros — ou seja, nos termos das relações de guerra. Finalmente, em quarto lugar, também na aula de 4 de fevereiro de 1976 (Em defesa da sociedade, p. 132), Foucault descortina, sempre seguindo o raciocínio histórico-político, a guerra, esta guerra social, “como traço permanente das relações sociais, como trama e segredo das instituições e dos sistemas de poder” — que, para ele, é a guerra de todos contra todos contra a qual Hobbes propõe, em caráter de emergência, o seu soberano. De acordo com Foucault, a guerra de todos contra todos que Hobbes identifica e quer sanar com a profilaxia da obediência incondicional dos súditos ao soberano não é simplesmente a guerra de um estágio précivilizacional, de um momento anterior ao Estado e que o Estado anularia. A guerra de todos contra todos de Hobbes permanece no Estado e é necessário estar alerta e operante contra as suas ameaças, os seus efeitos e os seus danos. O pensamento de Hobbes seria, então, um remédio jurídico-político contra o mal histórico-político que se pronuncia desde o século XVI e que mina a tensa Grã-Bretanha do século XVII. Como era de se esperar, o Leviatã utópico de Hobbes nada resolveu. Foi derrotado pelo liberalismo e está desde então nas prateleiras da filosofia política. É um mundo de guerra o lugar dos homens. No campo de batalha dos exércitos efetivos ou no seio da sociedade turbulenta, sua vida está previamente dedicada à peleja geral. Resta acompanhar os desempenhos dos personagens, na tragicomédia tão cerimoniosamente conduzida pela política. Os desempenhos dos personagens são diversos e têm especificidades que tornam os atos menos monótonos e lhes dão algum encanto num universo desencantado. Considerar os conjuntos de guerreiros caídos simplesmente como cifras, milhares ou milhões, dependendo da guerra, é a leitura mais fria; olhar para os seus corpos, repensar os seus papéis, levar em conta os seus medos, os seus sentimentos, as suas tragédias pessoais: isto tudo perfaz uma leitura mais ampla do drama. O leitor ou espectador que igualar tudo, em sua interpretação, a uma repetição tediosa 176176 só terá sofrimento e horror — talvez até indiferença — em sua contemplação e participação. Não sejamos desses atores e leitores cheios apenas de indisposição, amargura, mau humor. Não rejeitemos completamente tais reações, que elas não se deixarão anular; mas concedamos um pouco de alegria e de afeto para o incêndio espetacular que se realiza — e que nos queima. Ninguém pode negar mesmo o drama da existência de tudo quanto há. Tudo quanto é, no combate geral da vida. Não é justo dizer que a guerra não tem sentido. A guerra tem muitos sentidos. Dentro do drama no qual os guerreiros atuam, eles são tragados pelos sentidos que relampejam. Os guerreiros se agarram a alguns, mas, se pensarmos bem, nenhum se justifica por si, nenhum é certo, nenhum é justo, nenhum vale a guerra; mas a guerra vem. A guerra tem, pois, inúmeros sentidos, dos quais podemos enumerar alguns: a defesa da manutenção do Estado, em face da pretensão de domínio de outra hoste; o impulso de conquista imperial; a defesa ou expansão de valores morais, políticos ou religiosos; a disputa pela vida, em caso de perigo interno; o transbordamento de força que se lança na luta, dando vazão ao heroísmo e buscando a glória; a chance de extravasar a ira, a crueldade, a vontade de matar; o resguardo das propriedades e da ordem estabelecida socialmente. No seu prefácio ao livro de Clausewitz, Rapoport lista, também, alguns sentidos: Por exemplo, a guerra foi ainda considerada como um passatempo ou uma aventura, como a única ocupação de um fidalgo, como uma questão de honra (nos tempos da cavalaria), como um rito (entre os astecas), como um escape para os instintos agressivos ou uma manifestação de “desejo de morte”, como um dos processos da Natureza para assegurar a sobrevivência dos mais dotados, como um absurdo (entre os esquimós), como um hábito tenaz, destinado a desaparecer, como a escravidão e o crime119. Não nos esqueçamos de que a guerra é um empreendimento racional, calculado, administrado e orientado para a matança e para a devastação. “E além disso é esse o olhar do homem racional. A guerra deixa assim de derivar-se da ganância ou da bestialidade. Passa a ser o ato racional de um homem racional, que se precavê do ganancioso ou bestial”120: via de mão dupla: o inimigo é que é sempre irracional, insano, animalesco, para um e outro lado. Já Clausewitz nem precisa da bestialização do inimigo, pois a guerra, para ele, é científica, profissional, técnica e solicita as virtudes do talento pessoal. Nenhum sentido negativo foi ou é 119 RAPOPORT, Anatole. Prefácio. In: CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. 2. ed. Tradução: Maria Teresa Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. XVII. 120 RIBEIRO, Renato Janine. Civilização sem guerra. In: NOVAES, Adauto (org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 211. 177177 capaz de deter as guerras mais explícitas, pelo menos as que ocorreram e ocorrem, historicamente. Os sentidos da guerra servem para exigir a força física e a força moral do guerreiro que, de um jeito ou de outro, tem que lutar; mesmo que esses sentidos sejam frágeis e desoladores, não é por isso que os recontros serão paralisados. Clausewitz (Da guerra, p. 108) explica que a hostilidade individual, na guerra, se não existe antes (movida pela causa nacional, por exemplo), brota inevitavelmente, na frente de batalha, do ódio contra as ações do inimigo: a violência inflama a violência. Nós, atores envolvidos pela agitação social, vejamos os desempenhos dos guerreiros (nós), nos momentos mais suaves ou mais medonhos da (nossa) guerra. Na guerra, a ordem está submetida ao terrível objetivo de destruir e matar: quanto maiores os estragos, tanto melhor. Em A Cavalaria Vermelha, o próprio Babel enfrenta a obrigação de executar seres humanos, na guerra; e resiste a este dever. Quando Akinfiev, depois da batalha de Chesniki, descobre que Babel usa uma arma descarregada na campanha e que não a carrega, grita com ele e o agride da maneira mais feroz. Babel tenta reagir, tenta evitar a desonra e retira-se pela estrada, que vai sendo tomada pelas trevas da noite: “prossegui o meu caminho, implorando ao destino que me concedesse a mais simples das eficiências: a capacidade de matar meus semelhantes” (— “Depois da batalha”, em plena guerra, sobre a terra, sob o céu). Também Curzio Malaparte, em sua experiência de guerra registrada em A pele121, tenta abster-se de matar: “Nos quatro anos de guerra jamais disparara contra um homem: nem contra um homem vivo, nem contra um homem morto”, observa. No ataque a Florença, Malaparte descarrega sua arma e, ouvindo do coronel Jack o alerta de que seria morto “como um cão”, responde: “É uma morte belíssima, Jack. Sempre sonhei poder ser, um dia, morto como um cão”. O contexto da guerra é farto de aniquilação e morticínio. Em Terra e cinzas122, de Atiq Rahimi, no Afeganistão invadido pelos russos, um avô, levando seu neto, pretende ir a uma mina dar a notícia a seu filho de que toda a família pereceu em um ataque russo que arrasou a aldeia, apenas os dois sobreviveram, mas talvez também a nora esteja viva (tudo está confuso; ele a viu correndo nua no tumulto da guerra, saindo do banho; como estará?). O personagem Mirza Kadir emite sua compreensão da luta: “a lei da guerra é a lei do sacrifício. Em tempos de sacrifício, ou 121 MALAPARTE, Curzio. A pele. 4. ed. Tradução: Alexandre O’Neill. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985, p. 282 e 284. 122 RAHIMI, Atiq. Terra e cinzas. Tradução: Flávia Nascimento. Notas: Sabrina Nouri. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. As passagens citadas estão nas páginas 40 e 41. 178178 o sangue jorra de tua garganta, ou então ele mancha tuas mãos”. No fundo de seu coração, Dastaguir — o avô que leva o neto e depois o confia a Mirza Kadir, para poder chegar até a mina — não exige de seu filho senão que se vingue dos russos, ou que pelo menos se mortifique e se imole pelos seus mortos. Quando Dastaguir pensa nas qualidades e na retidão de seu filho Murad, ele projeta o seu próprio desejo de superar a impotência e lavar a honra com o sangue do inimigo: “Murad não é do tipo que filosofa ou que fica refletindo sobre a lógica e as leis da guerra. Para ele, o sangue clama por sangue. Ele há de se vingar, nem que para isso tenha que pagar com a própria vida. Essa é a única saída”. O desespero do sobrevivente olha para os cadáveres e para as ruínas. O ódio brota. É a obrigação de guerrear que se impõe. Falando a propósito de guerreiros do exército prussiano, John Keegan diz, em Uma história da guerra: “Existem descrições patéticas de veteranos prussianos, velhos e fracos demais para ir a campo, cambaleando atrás de seus regimentos que partiam em campanha, pois não conheciam outro tipo de vida”123. A vida dedicada à guerra: por estranho que pareça, esses guerreiros amam as armas; e o sacrifício não está somente ali. Os valores de hoje, que tentam manter as massas no âmbito do consumo sorridente e constroem a felicidade mercadológica da bela vida desfrutada na “paz mundial”, fazem que nós, homens de hoje, vejamos com desalento a guerra em plena realização; mas nem a postura pacifista, antibélica e humanitária nos livra dos estrondos das armas. É que o objetivo de “paz mundial” é meramente retórico e nós não prescindimos dos arsenais. Numa batalha que os cavaleiros gótico-romanos de Beja travam contra os árabes, no século XII, nos campos do Alentejo, soma-se aos embates dos ódios inimigos a união dos seus sangues no chão: “Ainda mais uma vez a mesma terra bebeu nobre sangue godo misturado com sangue árabe”, lemos no conto “A morte do Lidador”, de Alexandre Herculano124. A confluência de sangues adversários nas narrativas de Herculano é um motivo recorrente. Em Eurico o presbítero, o grito cristão confunde-se com o brado árabe, os dois exércitos não se distinguem no embate e os sangues escoam do mesmo corpo de guerreiros: “Dir-se-ia que os regatos de sangue, 123 KEEGAN, John. Uma história da guerra. Tradução: Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 32. Em seu livro, John Keegan ataca reiteradamente a idéia de Clausewitz de guerra como continuação da política. O mais estranho é que Keegan fundamente sua crítica numa visão de política tão parca, abraçada como uma providência “praticada para servir a cultura”. Keegan chega a inúmeras conclusões questionáveis, a principal das quais, talvez, elaborada no último parágrafo de seu livro, a ingenuidade totalitária de que a comunidade mundial deve ser protegida por guerreiros pacificadores e mantenedores da paz. 124 HERCULANO, Alexandre. Histórias heróicas. Introdução e seleção: Fernando Correia da Silva. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.], p. 74. 179179 serpenteando por entre as duas hostes enredadas e salpicando as frontes e corpos, eram as veias descarnadas e rotas daquele grande vulto, coleando na derradeira agonia”125. Parece ironia ou castigo da guerra, que ela una, afinal, os oponentes, juntando os sangues e os cadáveres dos lutadores, numa mesma promiscuidade de mortes. Onde está o ódio entre esses homens próximos, abraçados, cujos sangues se procuram, pintando o mesmo desenho no chão desolado? A guerra requer coragem e resolução, mesmo que nenhuma causa a justifique. Aristófanes não cansa de ridicularizar Cleônimo, um guerreiro que cometeu um dos piores atos de covardia entre os gregos: abandonar o escudo e fugir. Em As nuvens, Estrepsíades proclama que elas, as nuvens, diante dele, Cleônimo, transformaram-se em cervos, para ilustrar sua pusilanimidade (Las once comedias, p. 73). Em Os cavaleiros, a ironia de Agorácrito exclama: “Que golpe para o escudo de Cleônimo!” (Las once comedias, p. 59). A guerra exige coragem, demanda resolução, despreza a covardia. Mas quais são os seus resultados? Lutar por um país (um povo, um reino, um Estado, uma ordem mundial...), por uma revolução, por uma causa qualquer; mas nenhuma decisão soluciona nada; toda vitória é um prolongamento das batalhas, todo termo é um novo estado de guerra. Que ideal político merece uma guerra? E que valor, de qualquer esfera? Podem ser muito frágeis as justificativas; pode nem haver nenhuma justificativa: as sementes de Cadmo estão disseminadas. Não há necessidade de muita coisa para provocar a briga entre os descendentes de dragões, que somos nós, cadmeus, representantes da raça de predadores que comanda a comédia geral. 125 HERCULANO, Alexandre. Eurico o presbítero. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1972, p. 101. 180180 Capítulo 5: Todos os assombros Em primeiro lugar, enfrentar os sentidos. Jogar o jogo da leitura ilimitada, o jogo de não deixar nenhuma semântica ausente, por mais precária, complexa ou assombrosa que seja. Nenhum sentido desconsiderado ou escondido. Não temer os sentidos, quanto mais a própria farsa. Olhar o palco de frente. Não virar o rosto, não buscar subterfúgios, não pintar o ambiente somente de cor-de-rosa. Se o palco apresenta as cores e as sombras de Goya, se é el sueño de la razón que produz as cenas de pesadelo, ler o que está dado. Se o leitor-espectador, no desespero de sua causa (ou de todas as causas), ou na serenidade da aceitação do enredo, cria, também ele um artista, um sentido singular de consolação ou pelo menos de anestesia — mesmo seu sentido autônomo não pode desconsiderar o turbilhão. Não é o único sentido e não pode ser o último, espécie de monoteísmo contra o qual qualquer tipo de interpretação divergente seria “pecado”. E as propostas de sentido mais oníricas podem ser monotípicas e autoritárias, mesmo que bemintencionadas. Toda utopia é arbitrária. Um crítico teatral grita da platéia a acusação (reprovação) de que haveria um tom moralista na dicção deste trabalho. O sentido do “reparo moralista” orientaria a mirada do dramaturgo e conduziria a avaliação dos empreendimentos humanos, daí a visão negativa sobre as atividades políticas e seus resultados. É um reparo justo, que merece consideração e muito agradecimento, já que suscita a rápida reflexão que inicia este último capítulo. Se uma linha ética de abordagem não é descartada, já que a vida em sociedade, a dominação, a exploração, as lutas dentro do grupo, o poder de matar e o efetivo homicídio estão no centro da discussão — por outro lado, não é bem-vinda a bondosa atribuição do defeito do “moralismo” ao autor desta comédia. Não convém deixar reinar uma via determinante de interpretação que reduza a complexidade ética ao parecer moralista, mas os diversos graus de inclinação moral acabam por tornar desarmônica e perturbada a moralidade. Se o moralismo é muitas vezes visto como uma mentalidade limitada e conservadora, estreita mesmo, opostamente, de que esfera humana está ausente a moral? Qual a solicitação básica que os filósofos recebem de seu público? Como frisam Adorno e Horkheimer, “Uma moral como sistema, com princípios e conclusões, uma lógica férrea e a possibilidade de uma aplicação segura a todo dilema moral — eis aí o que se pede aos filósofos”. E qual a reação dos filósofos? Segundo Adorno e Horkheimer, “Em geral eles 181181 respondem a essa expectativa” 126. Pensando bem essa questão, não podemos chegar à conclusão de que toda filosofia (e também toda poética) é, no fundo, uma moral? Sim, porque toda filosofia é uma proposição ética de um sentido, por mais provisório que seja ou mais definitivo que queira ser. E não deixemos de lado o mais renitente imoralismo: não tem ele os seus elementos morais? Nietzsche, por exemplo, não escreve, afinal, uma nobre moral? Se há a tacanhez do moralismo neste trabalho, então ele, o moralismo inhenho, deve-se, talvez, ao engajamento político juvenil do pesquisador que, como um idealista, projetou sonhos e esperanças pueris no círculo político e percebeu, depois, seu equívoco, sua ilusão, sua pobre idiotice. Deve lhe ter faltado senso de humor? A raiva porventura percebida pelo leitor provém, quem sabe, de resquícios desta revolta adolescente? Antipatia esta que não é exclusiva da comédia negra em pauta e que tem bons correspondentes nas “rabugens de pessimismo” que existem por aí. Somente se criamos não uma moral e sim inumeráveis morais podemos rir, na vida. Assim, determinamos as normas de conduta imprescindíveis para uma sociedade de mérito e imediatamente as descumprimos. A essência do risível é que as exigências estabelecidas são mais fortes que nós e logo avacalhamos o que fomos capazes de constituir de mais sério. A moral política, por estar, talvez, no mais alto nível da organização social, quando desnuda sua impropriedade, reverte sua posição de prestígio: o rei-momo rege a austeridade do carnaval. Retomemos a “pena da galhofa” de Machado de Assis. Pois uma coisa cabe ao sarcasmo e às gargalhadas do público: no campo de todos os assombros, da guerra disseminada como dentes de dragões, dos movimentos, dos documentos e dos vestígios históricos — contemplar o verdadeiro fulgor das sumidades como bom protagonista, patético e derrisório, da comédia negra. Ademais, um dos exercícios básicos da comédia não é exibir, no palco, além de um “corretivo” moral, o próprio ridículo humano — e assim a própria moral como ridículo? A metamoral desta comédia negra não se exime de se exibir no proscênio, como o Baco de Aristófanes em As rãs, por exemplo. E quanto à moral política? A moralidade de eloqüência tem o seu palco pleno na política. Representada, dá boas indicações sobre o talento (sofrível) dos atores; mas a farsa convence e daí vem a fé na política. Ou a fé na política vem da percepção da falsidade: detectada a mentira, uma oposição se manifesta; outra mentira ou ilusão dramática se ergue como “alternativa” e eis, de novo, o ridículo em cena. A moralidade oratória é tão hipócrita 126 ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Tradução: Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985, p. 221. 182182 que ela mesma não se leva a sério e tem muita consciência de seu jogo cênico; ou então, quando põe em riste a sua “retidão”, é ainda mais engraçada. Mas pode acreditar muito em si mesma e clamar por muita violência, na defesa de seus pressupostos. A violência, por menor e menos importante que seja, sempre diz respeito à política; sempre se realiza no âmbito da política. A violência não pode ser negligenciada pelas autoridades, por mais descartáveis que pareçam a estas as vítimas sociais que caem sob a emersão da hostilidade. A violência é, propriamente, um problema político. Nenhum tipo de violência pode estar fora da alçada do poder político. Entre as partes que a demandam e para qualquer poder instituído que sobre elas vigore, a violência é uma questão política. Toda política, por sua vez, provém de conflitos de forças operantes ou latentes e de interesses por poder, riqueza, privilégios ou status. Em sua apresentação do primeiro volume de Os clássicos da política, Francisco Weffort, assegura que o pensamento político brota dos conflitos que o circundam: “Creio que a maior homenagem que se pode fazer a esses homens de gênio é reconhecer a ligação entre as suas idéias e as lutas históricas das épocas nas quais viveram”. Violência é política. Política é violência. A política, por resultar, historicamente, das negociações e dos conflitos de partes opostas — não necessariamente em luta armada explícita —, corresponde à guerra, se não em suas manifestações mais destruidoras, pelo menos em suas hostilidades disfarçadas ou ocultas. À pacificação interna soma-se a preparação para a luta externa, como observa Norbert Elias em A solidão dos moribundos: “Desde os primeiros dias, sociedades formadas por seres humanos exibem as duas faces de Janus: pacificação para dentro, ameaça para fora”127. A pacificação das sociedades, contudo, nunca é plena e às lutas internas responde a violência considerada legítima; no caso do Brasil (mas não só, claro), não vamos nos esquecer da segurança ilícita e de outros fatores que tornam mais complexa a questão. E, se o crime aflora como divergência, insubordinação ou transgressão, não vamos ficar escondendo as relações e o vínculos que o crime mantém com o poder instituído; e nem que o crime organizado investe na representação política; e nem que os criminosos mais facinorosos alcançam os cargos políticos. Sem contar a malandragem oficial ubíqua. Existe, portanto, a equação política = crime. No seio da sociedade, pacificação, prática jurídica, transgressão, crime e repressão são os constitutivos políticos: a política abriga em seu âmago todas essas tendências, nasce delas e delas é constituída. 127 ELIAS, Norbert. A solidão dos moribundos. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 10. 183183 Como as relações sociais são relações políticas e como as relações políticas são relações de guerra, as relações sociais são também relações de guerra. Toda guerra é política e toda política é política de guerra. Política, história e guerra são sinônimos, nos domínios das civilizações. Analisada de perto (e a aproximação expõe o observador ao odor podre do ambiente), a política possui dois conjuntos de objetivos: os objetivos efetivos e os objetivos retóricos. Os objetivos efetivos são aqueles pelos quais ela deve responder de imediato: quem manda em tais e tais áreas, quem ganha com tais e tais operações, quem fica com a riqueza produzida a partir de tal negócio, em benefício de quem serão tomadas as medidas, a quem cumpre favorecer, sobre quais infelizes recairão as atividades sujas, desagradáveis e vis; as forças que se sobressaem nos choques do campo de operações — e seus representantes diretos — é que conduzem a política e ganham as melhores vantagens; e também há questões internacionais ou externas, dependentes da força e do poder, mas também de certos tratados, meramente oratórios e muito facilmente desconsideráveis. Os objetivos retóricos são simplesmente sofísticos, não têm qualquer valor real, a não ser dentro das farsas ilusionistas, por mais que por vezes estas farsas sejam inconscientes ou convincentes; os objetivos retóricos podem ser compreendidos como mentiras e impudências amorais de efeito conciliador; os políticos reconhecidamente corruptos (no sentido jurídico) e aqueles que de alguma forma se aproximam da honestidade legal podem ter exatamente o mesmo discurso no pleito eleitoral democrático porque ambos se valem dos objetivos retóricos para constituir as suas falas; os objetivos retóricos também podem justificar as operações que negociam cargo, voto ou apoio, ou seja, toda a formação do grupo dominante. A política resulta, pois, de um campo de forças em conflito, âmbito do qual se destacam alguns poderes vencedores que, então, exigem a autoridade de decisão. E decidem em favor de si, de seus negócios e de seus interesses. Os políticos nada mais são do que seus instrumentos. Em toda a história e em todos os lugares é assim que a política se manifesta. Por mais firme que ela pareça, no entanto, as relações de poder sempre a ameaçam. O “príncipe” que não tem a habilidade de conduzir a guerra dos interesses rivais em consonância com o seu próprio poder oficial, necessariamente cai, como, por exemplo, Carlos I, da Inglaterra, no século XVII, que quer ser absoluto em um momento no qual cabe obedecer e não mandar: é executado. Aprende, assim, talvez, que o possível absolutismo de Hobbes é coisa do passado, embora o Leviatã só seja publicado em 1651 e a morte do rei ocorra em 1649. Mas a autoridade unilateral sobrevive ao rei. É preciso a Revolução Gloriosa para derrotá-la, afinal, na Inglaterra. Já Jaime II, anos depois, é 184184 apenas deposto; e dê-se por satisfeito por poder viver no exílio os seus últimos anos, já que o regicídio, normalmente, é a glória da revolução. O regicídio e a sanha de matar, como é visto depois, no Terror da Revolução Francesa, no século XVIII, e no terror stalinista da União Soviética, no século XX. Com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange sobe ao trono muito consciente de sua necessária obediência ao poder dos negócios e do mercado. Eis a circunscrição precisa da liberdade concebida e concedida pelo liberalismo: uma liberdade de mercado. Tem mais liberdade quem é mais forte. Claro que não pode ser desconsiderada a liberdade dos impotentes, dentro do círculo de todos os ofícios. Mas é, naturalmente, a liberdade econômica que vai mandar no mundo. São as relações internacionais agressivas e até destruidoras que farão a Inglaterra se fortalecer, como observam os historiadores. E ela pode mesmo dar-se o luxo de continuar a ser uma monarquia após uma revolução burguesa, e conservar tal maquiagem política — um antigo regime adaptado aos novos tempos, uma monarquia de mercado — até os dias de hoje. Política. Grécia, Roma, bárbaros, Grã Bretanha, Estados Unidos. As invasões bárbaras que destroem a civilização... Engels mostra que os bárbaros são bem-vindos, em determinados contextos, tal o grau de violência e decadência do império: “Essa era a situação a que o Estado romano havia levado o mundo. No interior, um direito baseado na manutenção da ordem; no exterior, baseado na proteção contra os bárbaros”; conformação jurídica clássica, com sua ordem legítima; “— mas a ordem deles era pior que a pior desordem, e os bárbaros contra os quais os cidadãos estavam sendo protegidos eram esperados como salvadores”128. A barbárie e sua precipitação. Resta saber se todas as invasões civilizatórias não são também invasões bárbaras. O filme de Denys Arcand (As invasões bárbaras) e muitos outros instantâneos de pensamento dizem que sim: as civilizações são bárbaras. Os herdeiros da Grã Bretanha, seus usurpadores e parceiros, os Estados Unidos, armados como ninguém — são os atuais timoneiros da ordem mundial. Malaparte se refere à “salvação” dos Estados Unidos (com seus aliados), na Segunda Guerra Mundial, como a chegada da peste: “Talvez estivesse escrito que a liberdade da Europa devia nascer não da libertação, mas da peste”129. O discurso político afirma sempre a busca do bem público, da justiça social e da paz entre os cidadãos. A administração política garantiria uma ordem interna satisfatória e tentaria 128 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15. ed. Tradução: Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000, p. 166. 129 MALAPARTE, Curzio. A pele. 4. ed. Tradução: Alexandre O’Neill. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985, p. 26. “A peste” se manifesta e contagia desde o título do capítulo (primeiro do livro). 185185 equilibrar os conflitos externos. Mas o discurso político, por mais convincente que seja, na realidade lampeja dentro de um campo em que se chocam impulsos sofísticos e erísticos — mais uma das indicações dos gregos: as linguagens enganam, enganam-se e disputam. O discurso político — sofístico, erístico — procura dissimular, eventualmente superar, os choques de interesses que justamente impedem a real busca do bem comum. É preciso, pois, perguntar: que mínima homogeneidade interna indicaria a existência dos objetivos sociais? Os objetivos sociais são uma abstração política, na realidade uma maneira de reduzir, uniformizar e esconder os interesses dissidentes e inconciliáveis. O discurso político, então, necessariamente, mente, quando defende a busca de direitos iguais entre os cidadãos, porque, na realidade, todo empreendimento político é uma imposição de forças que se destacam entre outras forças em luta e que se esforçam pela obtenção estratégica da mais ampla dominação possível. Toda oratória política que defenda a igualdade, no fundo, mente. A política é um meio de instituir os poderes mais fortes, é uma maneira de subjugar e explorar as forças menores. Todos os recursos institucionais que asseguram, pela força, a ordem política e social estabelecida na realidade são aparatos bélicos prontos a empreender massacres. De acordo com o que se pode deduzir do que há de mais avançado na civilização, toda ordem política é, em sua concepção primordial e logo no seu nascimento mundano, uma imposição social que surge como exigência de forças materiais já econômicas, hierárquicas e violentas. E toda política externa é também estratégia de guerra que, se necessário, mobiliza os aparatos armamentistas mais destrutivos. Os cientistas políticos levam muito a sério as atividades oficiais sobre as quais se debruçam e têm demasiada reverência pelas autoridades e seus desempenhos públicos (ou escusos). Nós quase sempre nos eximimos de fazer um exame abrangente de fato das diligências políticas — históricas — que nos conduzem. Com os sentidos e a inteligência tolhidos pelo respeito que estas nos impõem, não percebemos o que têm de trapalhada e de ridículo. O conto de Hans Christian Andersen, “Os novos trajes do imperador”, tem mais aplicação do que normalmente lhe concedemos com a nossa maneira séria de encarar os nossos desempenhos dramáticos. Com a nossa maneira séria de erguer razões, explicações e justificativas e de proibir que se duvide delas. Já Pascal, em alusão a Platão e Aristóteles, decifra: “Se escreveram sobre política foi como para pôr em ordem um hospício; e, se fizeram menção de falar dela como de uma grande coisa, é que sabiam que os loucos a quem falavam julgavam ser reis e imperadores”130. 130 PASCAL, Blaise. Pensamentos. Introdução e notas de Ch.-M. dès Granges. Tradução de Sérgio Milliet. São 186186 Também fazemos da história um texto sério, probo e racional. Explicamos cientificamente, provando, por a + b, que tais configurações resultaram de tais e tais causas (ainda que o princípio de causalidade possa parecer superado). E damos como formato final à nossa torre de Babel histórica um corpo fundado na explicação, na lógica, na inteligência e na racionalidade. Esquecemos de incluir a insânia e a estultícia no nosso método. Pelo que percebemos, nós os que tateamos os vestígios da história — a história escrita é o resultado de um milenar processo de ordenação. Narrativa, documental, ficcional, a história de forma alguma é unívoca. A história explicativa, na qual acreditamos com facilidade, vem de um juízo redutor do caos humano, que o submete à linguagem científica para poder domar sua imprevisibilidade e o pandemônio geral que o mastiga. A indefinição é substituída pela certeza. O tecido que trama o verbo histórico é necessariamente um palimpsesto e o que há de randômico tem que ser ali reduzido ao explicável. Como um corpo monstruoso de inumeráveis faces, resultante não somente dos textos dos historiadores e sim de todos os escritos, escombros e indícios que se multiplicam frente às pessoas, é que o tecido da história pode ser lido, inclusive como literatura — “Da construção verbal história e literatura, substituir o e por como; história como literatura”131. A história desvenda engrenagens, mas não explica tudo, afinal. Existe uma erística dentro do corpo da história e os discursos discrepantes dos historiadores conformam, também, a historiografia como uma ladainha divergente, um conjunto de ladridos rivais. O assombro de ler o pandemônio da história é atenuado no texto historiográfico e sem dúvida os clássicos configuram novos olhares, novos livros e novas tendências, o que, às vezes, erigindo “escolas”, reprime engenhos novos e estranhos. A balbúrdia sempre esteve instalada na condução das operações dos homens. Quem quiser pode se iludir com a ordem, com o sucesso, com o falso arranjo das grandes realizações. Isto que parece perfeitamente regular vibra como o mais absoluto caos e está prestes a entrar em erupção. Contém a erupção na sua própria estabilidade. Talvez as palavras aqui enunciadas pelo corifeu ainda estejam muito presas a uma perspectiva social ou até socialista do comediógrafo. Talvez o tom desta peça ainda apresente um travo de revolta por ter sua moral política frustrada. Teria o cômico, nas mangas, uma filosofia política flagrante, uma comédia mais abrangente, mais madura e mais avançada, que já pode Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 123 (pensamento 331 da edição de Brunschvicg). 131 SANTOS, Roberto Corrêa dos. Modos de saber, modos de adoecer. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1999, p. 129. 187187 prescindir da linguagem divertida, que não tem como intento pasmar (como pasma) e que encena, serena, o circo de horrores pegando fogo? O fato é que nada autoriza a ter esperança de que uma sociedade, a brasileira, por exemplo, tenha o objetivo do cuidado social. Simplesmente porque não existe tal unidade social. Não podemos pensar, a não ser que queiramos nos iludir, que um corpo se nutre e se fortalece: são muitos corpos e eles concorrem e não se complementam. A sociedade é um efeito das relações de poder e é o próprio campo de batalha dos interesses em conflito. E ela também está em pé de guerra com suas primas-concorrentes. Não é a competitividade que move o mercado-mundo humano? É óbvio que uma cidadela fisicamente bem feita, psicologicamente equilibrada e socialmente higiênica é um palco melhor do que o subúrbio horrendo e imundo: não basta urbanizar as favelas. Ou basta? Ou basta um pouco mais do que isso? Mesmo uma cidade materialmente apresentável, contudo, guarda as suas zonas de degradação evidente e os seus focos de frustração e animosidade. Não tem a ordem planetária e inclusive universal que nos apresentam desde as primeiras lições escolares? Vamos pensar no seu oposto, uma configuração (pois nossa inteligência já a processa) em transformação e absolutamente incompreensível. Figuremos os lampejos, a barafunda indistinta, o aleatório em convulsão. Agora, simplifiquemos, matemáticos, o nosso esquema. No meio da desordem irredutível a leis, tracemos duas retas. Um corte vertical (político) sobre a história horizontal (seqüência dos empreendimentos humanos; longa duração de Braudel). Deslocamento da reta sincrônica pela linha diacrônica: é efetivamente a política como dominação, ou seja, como guerra, que predomina no tempo humano, em qualquer ponto. Agora, vamos de volta ao desordenado. É um lance acidental no qual nenhum ser humano tem nome próprio, nem identidade civil, nem identidade nenhuma, nem nenhuma referência segura que o assegure pertencer a uma espécie ou a uma formação política viável. Tampouco qualquer calendário ou tempo histórico pode se sustentar na voragem geral que emite suas toadas imagísticas e sensíveis. Uma referência religiosa não pode uniformizar a contagem do tempo, nem mesmo se sua crença mata todas as outras e se impõe como singularidade religiosa. Um credo que elimine as manifestações religiosas divergentes pode até uniformizar todos os credos numa única ótica ou ética religiosa, mas ele já terá dizimado seus rivais para infligir os seus oráculos, o que atesta procedimentos políticos e bélicos; e se, por outro lado, a ciência conseguir sufocar as crenças, nem por isso qualquer resquício religioso deixará de murmurar as suas preces; já que a ciência não elimina a fé — talvez se mescle com ela, dando vazão a seitas mistas; o fato 188188 é que corações e mentes ainda choramingam querendo qualquer consolo ou mínimo fundamento espiritual num ambiente tão técnico e científico; e a religião tem um papel político. Um tempo cristão para reger todas as nações? O movimento planetário como recurso para domar o tempo? E no entanto o artifício é aceito muito facilmente e conforma toda a periodização humana e humanizante que perdemos de vista ser uma arbitrariedade absurda. E tudo se humaniza e tudo se explica e tudo condiz. O globo é mapeado, os topônimos demarcam os lugares e os espaços são politizados. Mesmo constelações e galáxias recebem certidões de identidade. Todas as ficções que resultam podem ser lidas como verdades. Como o sátiro Rubem Fonseca, como o pierrô que escreve esta metacomédia ou o bobo histriônico do Ran de Akira Kurosawa, um personagem desagradável poderia vomitar, sobre o público, palavras como essas, de Pascal (Pensamentos, p. 94, pensamento 199 da edição de Brunschvicg): “Imagine-se certo número de homens presos e todos condenados à morte, sendo uns degolados diariamente diante dos outros e se contemplando uns aos outros com tristeza e sem esperança, à espera de sua vez. Eis a imagem da condição dos homens”. Para reforçar o ácido da idéia de comédia negra, poderíamos ouvir novamente Pascal: “O último ato é sangrento, por bela que seja a comédia no restante; joga-se afinal terra sobre a cabeça, e para sempre” (Pensamentos, p. 95, pensamento 210 da edição de Brunschvicg). O nascimento da tragédia traz mais essa voz anônima e anômala: “Não sei quem asseverou que todos os indivíduos, enquanto indivíduos, são cômicos”132. As luzes vão se reduzindo aos poucos, até restar apenas uma penumbra, na qual não ficam completamente indefinidos os atores, que vão se retirando com muita dificuldade do palco, deixando para trás os cadáveres de seus companheiros de armas e os destroços resultantes de suas ações memoráveis. Saem todos os que estão vivos; continuam caídos os mortos. Há feridos entre os mortos; estão semivivos, mas não podem se erguer. O palco permanece assim, com suas cores fortes, seus defuntos, seus semimortos e suas ruínas. Enquanto são projetados quadros e cenas, o público pode ouvir a dicção precisa e pausada de certos trechos de livros. São projetados os quadros de gravura, desenho e pintura e alguns trechos escolhidos dos filmes aqui citados — e mais outras fantasmagorias. Daquilo que é pronunciado para a platéia, alguma coisa pode ser destacada: 132 NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia. Tradução: J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 69 (seção 10). 189189 Hoje, rimos e nos admiramos com uma disputa que enfurece dois inimigos e, aos poucos, gerações inteiras, e que, por fim, determina o destino dos povos, enquanto talvez seu motivo foi esquecido há muito tempo: mas tal processo é o símbolo de todos os grandes afetos e paixões no mundo, que, em sua origem, são sempre ridiculamente pequenos133. E eis uma chave da representação genérica da comédia humana: “O mandamento universal de todos os costumes e morais é o seguinte: reflete e teme, domina-te e finge” (Nietzsche, Sabedoria para depois de amanhã, p. 91). Os tons das vozes são sempre suaves e musicais, mas podem variar um pouco, de acordo com os estados psicológicos captados nos escritos. Agora ouvimos fragmentos do episódio do velho do Restelo de Os lusíadas de Camões... partes da “Ode marítima” de Fernando Pessoa (Álvaro de Campos)... e ainda outras palavras. Dentre as outras falas, podemos discernir algumas: “Tenho apenas duas mãos / e o sentimento do mundo”. E também gritos, sussurros, gemidos, grunhidos. Mas podemos encerrar esta parte com uma canção. Escuridão. Silêncio. Luz de lua cheia naquele canto — alguns componentes da trupe Troglolíricos. Som de clarinete: Luiz Romero de Oliveira toca a abertura de um samba-acalanto. Somando-se, aos poucos, ao clarinete, as notas do violão de Edivan Freitas, as batidas dos percussionistas Urubu e Zezinho Carvalho e a flauta de Marcos Luiz Machado semeiam no ar a peça “Nau Clarineta”. Karine Nunes entoa o seu cântico: O mar é maior que tudo O sal é maior que o mar A água é maior que a sede A sede não se pode aplacar A nau é maior que tudo O sol é maior que a nau O céu é maior que o sol O céu só sabe queimar A carne é maior que tudo A fome é maior que a carne A vida é maior que a fome A música embala o luar134. 133 NIETZSCHE, Friedrich. Sabedoria para depois de amanhã. Seleção dos fragmentos póstumos por Heinz Friedrich. Tradução: Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 65. 134 “Nau Clarineta”, canção inédita composta no dia 10 de agosto de 2008, especialmente para Comédia negra e outros assombros. Letra: Tapiaim do Favacho, música: Troglolíricos. 190190 E agora, caros leitores e espectadores, esta comédia lírica e trágica está chegando a seu fim. Vamos ouvir o nosso mestre sem cerimônia Aristófanes dizer publicamente que a comédia é um meio de revelação de verdades (Os acarnenses). Estamos todos aqui, muito vivos e vigorosos, no espasmo caótico de nossa bela tragicomédia. Nossos mortos estão em cemitérios, ou valas comuns, ou queimados, ou perdidos num canto qualquer. Nossa comédia negra e linda. No meio do mundo em chamas, há lugar para certa paz; e amor, solidariedade, emoção e amizade; e afetos de toda sorte. O bem e o mal — duas referências primárias de qualquer interpretação do mundo e da vida —, emaranhados e interpostos entre quaisquer forças biológicas e políticas, rebrilham como duas grandes usinas de justificação de sentidos. O médico cura do mal, o monstro aterroriza com o horror — e o médico-monstro de Stevenson reúne serviço humanitário e violação no mesmo gentleman transtornado: “o homem será firmemente conhecido como um mero estado multifacetado, incongruente e independente de vários alienígenas que nele fixam residência”135 e desde sempre engendram e proliferam os equívocos e qüiproquós da vida. Disparam desenvolvimentos e disparates, insultos e tiros, idéias e diligências, óvulos e espermas. Tudo vibra e soa na toada da existência. O cuidado da criatura mais sensível e inteligente dirige-se à natureza como exploração de recursos, depredação categórica. É neste complexo de hostilidade e instabilidade que se movimentam violências e delicadezas, fragilidades e poderes, aproximações e confrontos — na plenitude insatisfeita, que jamais se sacia, do ser humano. A música pode ninar nossa ocupação. É um grande espetáculo. E somos muito criativos, muito ricos de possibilidades. Bípedes de olhares indulgentes, humildes ou altivos, podemos expressar tanto ternura quanto cólera. Que não ridicularizem os nossos valores. Nas nossas veias corre sangue quente. Temos pólvora, fogo e bala, nós queremos é guerrear. 135 STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução: José Paulo Golob et al. Porto Alegre: L&PM, 2002, p. 96. 191191 Referências a) De Rubem Fonseca FONSECA, Rubem. Agosto. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. _____. Bufo & Spallanzani. 15. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, [s.d.]. _____. O buraco na parede. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. _____. O caso Morel. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. _____. O Cobrador. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _____. A coleira do cão. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. _____. A confraria dos espadas. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. _____. Diário de um fescenino. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. _____. O doente Molière. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. _____. E do meio do mundo prostituto só amores guardei ao meu charuto. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. _____. Ela e outras mulheres. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. _____. Feliz ano novo. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _____. A grande arte. 12. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. _____. Histórias de amor. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. _____. Lúcia McCartney. 6. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1987. _____. Mandrake: a bíblia e a bengala. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. _____. Pequenas criaturas. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. _____. Os prisioneiros. 4. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. _____. O romance morreu. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. _____. Romance negro e outras histórias. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 192192 FONSECA, Rubem. Secreções, excreções e desatinos. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. _____. O selvagem da ópera. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. _____. Vastas emoções e pensamentos imperfeitos. São Paulo: Círculo do Livro, [s.d.]. b) Geral ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Tradução: Guido Antonio de Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. AGAMBEN, Giorgio. Estado de sítio. 2. ed. Tradução: Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2007. ANDERSEN, Hans Christian. Os novos trajes do imperador. 6. ed. Tradução: Tabajara Ruas. Porto Alegre: Kuarup, 1994. ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunião: 10 livros de poesia. 7. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1976. ARISTÓFANES. Las once comedias. Tradução e introdução: Angel Ma. Garibay K. México: Editorial Porrua, 1967. ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas; Dom Casmurro. São Paulo: Nova Cultural, 1995. _____. Papéis avulsos. Estabelecimento do texto e notas: Adriano da Gama Kury. Rio de Janeiro; Belo Horizonte: Garnier, 1989. _____. Quincas Borba. 5. ed. São Paulo: Ática, 1982. BABEL, Isaac. A Cavalaria Vermelha. Tradução: Berenice Xavier. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. 3. ed. Tradução: Yara Frateschi. São Paulo: Hucitec; Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996. BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro; São Paulo: Record, [s.d.]. BEAUD, Michel. História do capitalismo: de 1500 até nossos dias. 4. ed. Tradução: Maria Ermantina Galvão Gomes Pereira. São Paulo: Brasiliense, 2004. BENTHAM, Jeremy. O panóptico; ou, a casa de inspeção. In: SILVA. Tomaz Tadeu da (org.). O panóptico. Belo Horizonte: Autêntica, 2000, p. 11-74. 193193 BLOCH, Marc. Apologia da história ou o ofício de historiador. Edição anotada por Étienne Bloch. Prefácio: Jacques Le Goff. Apresentação à edição brasileira: Lilia Moritz Schwarcz. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2002. BOBBIO, Norberto. Política. In: _____; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 2, p. 954-962. BONANATE, Luigi. A guerra. Tradução: Maria Tereza Buonafina; Afonso Teixeira Filho. São Paulo: Estação Liberdade, 2001. BOSCO, João; BLANC, Aldir. Caça à raposa. São Paulo: BMG Ariola; Rio de Janeiro: RCA, 1994, 1 CD. BRANDÃO, Junito de Souza. Ligeira introdução; Uma explicação; Eurípides; O ciclope; Aristófanes; As rãs; As vespas. In: EURÍPIDES, O ciclope; ARISTÓFANES, As rãs; As vespas. Tradução e introduções: Junito de Souza Brandão. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, [s.d.]. BRANDÃO, Ruth Silviano. A vida escrita. Destarte. Vitória, vol. 1, n. 2, 2. sem. 2002, p. 217224. BRAUDEL, Fernand. Gramática das civilizações. Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1989. _____. Memórias do Mediterrâneo: Pré-História e Antiguidade. Edição estabelecida por Roselyne de Ayala e Paule Braudel. Tradução: Teresa Antunes Cardoso et al. Lisboa: Terramar; Rio de Janeiro: Multinova, 2001. BUARQUE, Chico. Chico Buarque. [S.l.]: Polygram, 1993, 1 CD. BUARQUE, Chico; BACALOV, L. Enriquez; BARDOTTI, Sergio. Os saltimbancos trapalhões. [S.l.]: Polygram, 1993, 1 CD. BURCKHARDT, Jacob. A cultura do Renascimento na Itália: um ensaio. Tradução Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. CAMARA, José Sette. Agosto 1954. São Paulo: Siciliano, 1994. CAMINHA, Pero Vaz de. Carta. In: CASTRO, Silvio. A carta de Pero Vaz de Caminha: o descobrimento do Brasil. Porto Alegre: L&PM, 1985. CAMÕES, Luís Vaz de. Os lusíadas. 7. ed. São Paulo: Cultrix, 1988. CASTRO, Jeanne Berrance de. A Guarda Nacional. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 274298 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). 194194 CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. 2. ed. Tradução: Maria Teresa Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1996. DREIFUSS, René Armand. 1964: a conquista do Estado. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1981. DUBY, Georges. Ano 1000, ano 2000: na pista de nossos medos. Tradução: Eugênio Michel da Silva; Maria Regina Lucena Borges-Osório. São Paulo: Unesp, 1998. ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. Tradução: MF. São Paulo: Martins Fontes, 1993. _____. Obra aberta. Tradução: Giovanni Cutolo. São Paulo: Perspectiva, 1991. ELIAS, Norbert. A solidão dos moribundos. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 15. ed. Tradução: Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000. ÉSQUILO. Las siete tragedias. Tradução e introdução: Angel Ma. Garibay K. 5. ed. México: Editorial Porrua, 1967. EURÍPIDES. Medéia; As bacantes. Tradução: Miroel Silveira; Junia Silveira Gonçalves; Eudoro de Souza. São Paulo: Abril Cultural, 1976. EURÍPIDES, O ciclope; ARISTÓFANES, As rãs; As vespas. Tradução e introduções: Junito de Souza Brandão. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, [s.d.]. FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. FERREIRA FILHO, Benjamin Rodrigues. A confraria dos bibliófilos: leitores e livros na ficção de Rubem Fonseca. Dissertação de Mestrado. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo, 1999. _____. Espectros do homem. In: Destarte, Vitória, v. 1, n. 1, p. 31-48, 1. sem. 2002. FERRO, Marc. História das colonizações: das conquistas às independências, séculos XIII a XX. Tradução: Rosa Freire d’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. Os crimes do texto: Rubem Fonseca e a ficção contemporânea. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. FONTANA, Josep. História depois do fim da história. Tradução: Antonio Penalves Rocha. Bauru (SP): Edusc, 1998. 195195 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade: curso no Collège de France (1975-1976). Edição estabelecida, no âmbito da Associação para o Centro Michel Foucault, sob a direção de François Ewald e Alessandro Fontana, por Mauro Bertani e Alessandro Fontana. Tradução: Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1999. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 14. ed. Organização, introdução e revisão técnica: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1999. _____. A verdade e as formas jurídicas. Tradução: Roberto Cabral de Melo Machado; Eduardo Jardim Morais. Rio de Janeiro: Nau; PUC-Rio, 1999. _____. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 20. ed. Tradução: Lígia M. Pondé Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1999. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Tradução: José Octávio de Aguiar Abreu. Rio de Janeiro: Imago, 1997. GÂNDAVO, Pero de Magalhães de. História da província de Santa Cruz a que vulgarmente chamamos Brasil. Modernização do texto original de 1576 e notas: Sheila Moura Hue; Ronaldo Menegaz. Revisão das notas botânicas e zoológicas: Ângelo Augusto dos Santos. Prefácio: Cleonice Berardinelli. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. GOGOL, Nikolai. O inspetor geral. 2. ed. Tradução: Augusto Boal; Gianfrancesco Guarnieri. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. GOMES, Dias. O bem-amado. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980. HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. Introdução, tradução e notas: Emmanuel Carneiro Leão. 2. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. HERCULANO, Alexandre. Eurico o presbítero. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 1972. _____. Histórias heróicas. Introdução e seleção: Fernando Correia da Silva. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. HERÓDOTO. História. Tradução J. Brito Broca. Estudo crítico de Vítor de Azevedo. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. São Paulo: Abril Cultural, 1979. HOBSBAWM, Eric J. A era das revoluções. Tradução: Maria Tereza Lopes Teixeira; Marcos Penchel. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. _____. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. 2. ed. Tradução: Marcos Santarrita. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 196196 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. HOMERO. Ilíada. 4. ed. Tradução: Carlos Alberto Nunes. Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. HÜBNER, Aurélia. Na companhia das palavras: dormindo com o inimigo ou Rubem Fonseca e a literatura selvagem. In: SALGUEIRO, Wilberth Claython Ferreira (org.). Vale a escrita?: poéticas, cenas e tramas da literatura. Vitória: Programa de Pós-Graduação em Letras; Centro de Ciências Humanas e Naturais; UFES, 2001, p. 92-99. IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória política do Brasil: 1500-1964. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. IPIRANGA, Sarah Diva da Silva. O mal da língua: os contos de Rubem Fonseca. In: Em tese. Belo Horizonte, ano 2, vol. 2, p. 59-67, dezembro, 1998. JAKOBSON, Roman. A geração que esbanjou seus poetas. Tradução e posfácio: Sonia Regina Martins Gonçalves. São Paulo: Cosac Nayfi, 2006. JARRY, Alfred. Ubu rei. Tradução: José Rubens Siqueira. São Paulo: Max Limonad, 1986. KAFKA, Franz. O veredicto; Na colônia penal. Tradução: Modesto Carone. São Paulo: Brasiliense, 1986. KEEGAN, John. Uma história da guerra. Tradução: Pedro Maia Soares. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. LAS CASAS, Bartolomé de. Brevíssima relação da destruição das Índias. 2. ed. Tradução: Heraldo Barbuy. Apresentação e notas: Eduardo Bueno. Porto Alegre: L&PM, 1984. MAGNOLI, Demétrio (org.). História das guerras. São Paulo: Contexto, 2006. MAIAKOVSKI. Poemas. 6. ed. Tradução e organização: Boris Schnaiderman; Augusto de Campos; Haroldo de Campos. São Paulo: Perspectiva, 2002. MALAPARTE, Curzio. A pele. 4. ed. Tradução: Alexandre O’Neill. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe; Escritos políticos. São Paulo: Nova Cultural, 1991. MARTIGNETTI, Giuliano. Nobreza. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 2, p. 827-833. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto comunista. Tradução: Álvaro Pina. Organização e introdução: Osvaldo Coggiola. São Paulo: Boitempo, 1998. 197197 MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. Seleção, introdução e notas: José Miguel Wisnik. 6. ed. São Paulo: Cultrix, 1993. MATTEUCCI, Nicola. Contratualismo. In: _____. BOBBIO, Norberto; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 1, p. 272-283. MELLO, Evaldo Cabral de. Posfácio: Raízes do Brasil e depois. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 189-193. MENDES, Murilo. História do Brasil. Organização, introdução e notas: Luciana Stegagno Picchio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991. MESSA, Fábio de Carvalho. A sétima grande arte de matar. In: SOUZA, Marcelo Paiva de; CARVALHO, Raimundo; SALGUEIRO, Wilberth (org.). Sob o signo de Babel: literatura e poéticas da tradução. Vitória: PPGL/MEL; Flor&cultura, 2006, p. 155-159. MOLIÈRE. O Tartufo; Escola de mulheres; O burguês fidalgo. Tradução: Jacy Monteiro; Millôr Fernandes; Octavio Mendes Cajado. São Paulo: Abril Cultural, 1983. NIETZSCHE, Friedrich. Além do bem e do mal: prelúdio a uma filosofia do futuro. 2. ed. Tradução, notas e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. _____. Assim falou Zaratustra: um livro para todos e para ninguém. Tradução: Mário da Silva. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995. _____. Cinco prefácios para cinco livros não escritos. 3. ed. Tradução e prefácio: Pedro Sussekind. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2005. _____. Crepúsculo dos ídolos ou como se filosofa às marteladas. Tradução e notas: Delfim Santos Filho. Lisboa: Guimarães Editores, 1985. _____. Ecce homo: como alguém se torna o que é. Tradução, notas e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. _____. A gaia ciência. Tradução, notas e posfácio de Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. _____. Genealogia da moral: uma polêmica. Tradução, notas e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. _____. Humano, demasiado humano: um livro para espíritos livres. Tradução, notas e posfácio: Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. _____. O nascimento da tragédia. Tradução: J. Guinsburg. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 198198 NIETZSCHE, Friedrich. Sabedoria para depois de amanhã. Seleção dos fragmentos póstumos por Heinz Friedrich. Tradução: Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2005. _____. Sobre verdade e mentira no sentido extramoral. In: _____. Obras incompletas. 3ª. ed. Tradução e notas de Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril Cultural, 1983, p. 43-52. ORWELL, George. A revolução dos bichos. Tradução: Heitor Ferreira. São Paulo: Abril Cultural, 1982. PALLARES-BURKE, Maria Lúcia Garcia. As muitas faces da história: nove entrevistas. São Paulo: Unesp, 2000. PASCAL, Blaise. Pensamentos. Introdução e notas de Ch.-M. dès Granges. Tradução de Sérgio Milliet. São Paulo: Abril Cultural, 1973. PASTERNAK, Boris. Ensaio de autobiografia. Tradução: Helena Parente Cunha. Rio de Janeiro: Opera Mundi, 1971. PAULA, Euripedes Simões de. A marinha. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 259-273 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). PESSOA, Fernando. Obra poética. 3. ed. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1998. PLATÃO. O banquete; Fédon; Sofista; Político. Seleção de textos: José Américo Motta Pessanha. Tradução e notas: José Cavalcante de Souza; Jorge Paleikat; João Cruz Costa. São Paulo: Nova Cultural, 1991. _____. Eutífron; Apologia de Sócrates; Críton, Fédon. São Paulo: Nova Cultural, 2000. _____. Mênon. Texto estabelecido e anotado por John Burnet. Tradução: Maura Iglesias. Rio de Janeiro: PUC-Rio; São Paulo: Edições Loyola. _____. Mênon; Banquete; Fedro. 20. ed. Tradução: Jorge Paleikat. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. _____. A República. Tradução: Enrico Corvisieri. São Paulo: Nova Cultural, 2000. _____. Teeteto. Tradução, prefácio e notas: Fernando Melro. Lisboa: Editorial Inquérito, [s.d.]. _____. Teeteto; Sofista; Protágoras. Tradução, textos complementares e notas: Edson Bini. Bauru (SP): Edipro, 2007. PRADO JUNIOR, Caio. Evolução política do Brasil: colônia e império. 21. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001. 199199 RABELAIS, François. Gargantua. Tradução: Aristides Lobo. Rio de Janeiro: Ediouro, [s.d.]. RAHIMI, Atiq. Terra e cinzas. Tradução: Flávia Nascimento. Notas: Sabrina Nouri. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. RAPOPORT, Anatole. Prefácio. In: CLAUSEWITZ, Carl von. Da Guerra. 2. ed. Tradução: Maria Teresa Ramos. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. XI-XCVII. REIS FILHO, Daniel Aarão. As revoluções russas e o socialismo soviético. São Paulo: Editora da Unesp, 2003. RIBEIRO, João Ubaldo. Diário do farol. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002. RIBEIRO, Renato Janine. Civilização sem guerra. In: NOVAES, Adauto (org.). Civilização e barbárie. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 207-225. RÓNAI, Paulo. O teatro de Molière. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981. SANTOS, Roberto Corrêa dos. Modos de saber, modos de adoecer. Belo Horizonte, Editora UFMG, 1999. SCHINAIDERMAN, Boris. Os escombros e o mito: a cultura e o fim da União Soviética. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. _____. Guerra em surdina. 4. ed., revista pelo autor. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. SCHULZ, John. O Exército e o Império. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 235-258 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). SEABRA, Manuel de (org.). Antologia da poesia soviética. Tradução, seleção, prefácio e notas: Manuel de Seabra. Lisboa: Editorial Futura, 1973. SECOS & MOLHADOS. Secos & Molhados. [S.l.]: Warner Music Brasil, 1999, 1 CD, f. 9 (Dois momentos, v. 1). SEMPRUN, Jorge. A escrita ou a vida. Tradução: Rosa Freire D’Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. SHAKESPEARE, William. Júlio César. Tradução: Bárbara Heliodora. Rio de Janeiro: Lacerda Editores, 2001. SILVA, Deonísio da. Nos bastidores da censura: sexualidade, literatura e repressão pós-64. São Paulo: Estação Liberdade, 1989. SÓFOCLES. Édipo rei; Édipo em Colono; Antígona. Tradução, introdução e notas: Mário da Gama Kury. 8. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 200200 SOUSA JUNIOR, Antônio de. Guerra do Paraguai. In: ELLIS, Myrian et al. O Brasil monárquico: declínio e queda do império. 5. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1995, p. 299314 (História Geral da Civilização Brasileira, t. 2, v. 4). SOUZA, Márcio. Galvez Imperador do Acre. 13. ed. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1985. STEVENSON, Robert Louis. O médico e o monstro. Tradução: José Paulo Golob et al. Porto Alegre: L&PM, 2002. TREFZGER, Fabíola Simão Padilha. Na mira do justiceiro: a fatura do cobrador. In: SALGUEIRO, Wilberth Claython Ferreira (org.). Vale a escrita?: poéticas, cenas e tramas da literatura. Vitória: Programa de Pós-Graduação em Letras; Centro de Ciências Humanas e Naturais; UFES, 2001, p. 202-209. TUCÍDIDES. História da Guerra do Peloponeso. 4. ed. Tradução: Mário da Gama Kury. Prefácio: Hélio Jaguaribe. Brasília: Editora Universidade de Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2001. TZU, Sun. A arte da guerra. Traduzido do chinês para o francês pelo padre Amiot em 1772. Traduzido do francês por Sueli Barros Cassal. Porto Alegre: L&PM, 2002. VEIGA, José J. Sombras de Reis Barbudos. 11. ed. São Paulo: Difel, 1985. VELOSO, Caetano. Muito (dentro da estrela azulada). [S. l.]: Polygram,1988, 1 CD. VERÍSSIMO, Luis Fernando. Comédias da vida pública. 8. ed. Porto Alegre: L&PM, 1996. VIROLI, Maurizio. O sorriso de Nicolau: história de Maquiavel. Tradução: Valéria Pereira da Silva. São Paulo: Estação Liberdade, 2002. WEBER, Alfred. Protágoras. In: PLATÃO. As leis; Epinomis. Prefácio: Dalmo de Abreu Dallari. Tradução, notas e introdução: Edson Bini. Bauru (SP): Edipro, 1999, p. 540-543. WEFFORT, Francisco C. (org.). Os clássicos da política: Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, “O federalista”. 13. ed. São Paulo: Ática, 2003. ZÓCHTCHENKO, Mikhaíl M. Causos russos. 2. ed. Tradução: Tatiana Belinky. São Paulo: Paulinas, 1988. ZUCCHINI, Giampaolo. Aristocracia. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. 5. ed. Tradução: Carmen C. Varrialle et al. Brasília: Editora Universidade de Brasília; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000, v. 1, p. 57. 201201
Download