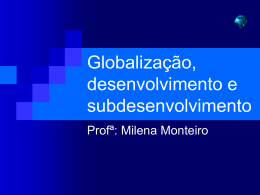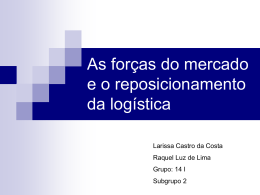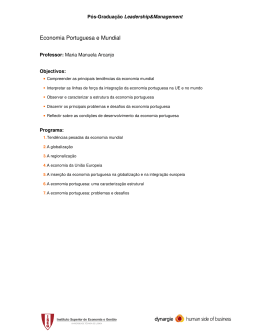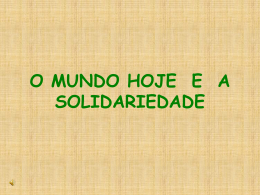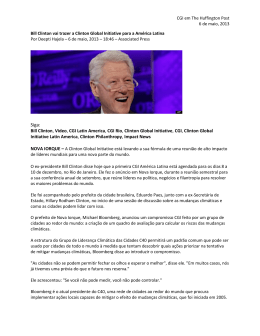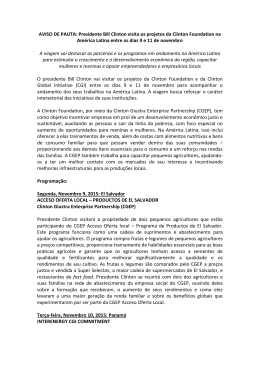Discurso de Agradecimento – 2015 Person of the Year Awards Presidente Fernando Henrique Cardoso Agradeço a escolha de meu nome para ser homenageado pela Brazilian-American Chamber of Commerce. A homenagem não poderia vir em momento mais expressivo: depois de tantos anos que deixei a Presidência e no momento em que o Brasil passa por uma fase difícil, a homenagem é cheia de significados para todos nós. Assisti algumas vezes a esta solenidade para aplaudir os laureados, tenho agora nova oportunidade para abraçar centenas de amigas e amigos que não me deixam sumir na nuvem da história que o infinito do tempo dilui. Há mais: vejo a meu lado alguém cuja obra marcou a ação firme, mas generosa, dos Estados Unidos: Bill Clinton. Líder mundialmente reconhecido, Bill se tornou meu amigo – diria mais, o casal Clinton (e aproveito para saudar e desejar os melhores êxitos para Hillary) deixou uma marca de inteligência, amizade e solidariedade em minha vida e na de Ruth (a quem reitero minhas saudades e agradeço pelo tanto que me ajudou). Fiel aos interesses fundamentais de seu país sempre soube respeitar os outros interesses dos demais , houve raras ocasiões em que não coincidimos, nunca deixamos de respeitar as razões, um do outro. A cordialidade é a linguagem dos homens públicos quando há um interesse maior que os une, como a defesa da Paz, o respeito ao meio ambiente e a defesa dos direitos humanos, valores que restringem os meros egoísmos estatais. A você, Bill Clinton, minhas palavras de admiração. Estão presentes aqui centenas de brasileiros e americanos. Agradeço a todos, homens e mulheres – e também com carinho especial, aos mais jovens, aos meus netos e filhos, à minha mulher Patrícia – que saíram de seus cômodos para trazerem um abraço de apoio . Queiram os fados que eu possa corresponder a tanta generosidade e a tanta confiança para que possa contribuir com minha experiência e fé para que os caminhos que conseguimos percorrer até hoje não se percam e para que tenhamos a guiar-nos uma lanterna na proa e não na popa. Antes de prosseguir, permitam-me um pequeno momento de memória e de saudades dos tempos de mocidade. Vim pela primeira vez a New York e aos Estados Unidos há mais de meio século, há cinquenta e cinco anos. Passara então quase um ano em Paris, fazendo pós-graduação na Sorbonne e na École des Hautes Études en Sciences Humaines. Estava mais fascinado por Marx e por Sartre do que por meus 1 mestres, Alain Touraine, outro, mais distante, Raymond Aron. Cheguei a New York, decidido a não gostar: pisava a terra do imperialismo yankee, gata borralheira de tudo de mau que ocorria aos países vítimas de seu abraço esganador. Na época, como até hoje, eu falava melhor francês do que o tateante inglês cuja pronúncia me era estranha (como ainda agora...) e cuja gramática e ortografia me eram penosas. Havia um lado da sociedade americana que eu odiava especialmente, a segregação racial. Sabia que também no Brasil havia preconceito e discriminação, posto que já houvesse feito pesquisas sobre o tema. Nos Estados Unidos, entretanto, nos anos 1960 ainda havia o “só para brancos” nos ônibus ou nos banheiros e a crise dos mísseis com Cuba era recente. Ou seja, pisava nas terras do “imperialismo” e da desigualdade racial. Apesar disso, estranhamente, fui me dando conta de que me sentia mais à vontade nas ruas, ainda ameaçadoras à noite, do que em muitas cidades europeias. Ruth e eu percorremos a cidade e, pouco a pouco, sem mudar nossos pontos de vista políticos, fomos mudando nossa compreensão humana, nossa visão das pessoas. Afinal os “gringos” tinham mais semelhanças conosco, brasileiros, do que imaginávamos: não havia nos EEUU senso de hierarquia tão marcante como na Europa, o espaço urbano era amplo, era grande a variabilidade do jeito das pessoas num país de imigrantes, o colorido das peles humanas quebrava o tédio monocromático do branco típico do mundo ocidental da época, as pessoas pareciam ser mais autoconfiantes, as marcas da mobilidade social eram perceptíveis ao olhar do sociólogo. Numa palavra, pelo coração, mais do que pela razão, sentíamos que São Paulo estava mais próxima da grande metrópole americana do que pensávamos. Daí por diante passei a observar quantas similitudes existem, apesar das discrepâncias, entre a sociedade brasileira e a americana. X X X Meus convidados norte-americanos: é comum falar-se da “excepcionalidade americana”. Ou seja, de que sendo seu país fruto da migração de ingleses de orientação protestante que vieram para as terras das Américas para construir uma 2 sociedade baseada na igualdade e na liberdade, os senhores se sentem na obrigação moral de estender aos demais países o mesmo senso que marcou suas origens. Por distantes que estas considerações estejam das verdades da vida americana e por mais que ao contingente inglês se tenham juntado tantos outros, irlandeses, negros, italianos, polacos, hispânicos e os que mais sejam isso tornou ainda mais necessário fortalecer regras que assegurem a convivência sem agressões. O êxito do empreendimento levou os Estados Unidos a se pensarem moralmente obrigados a estender seu modo de vida “urbi et orbi.” Entretanto, este impulso idealista se transformou muitas vezes, na percepção dos outros e na evidência dos fatos, em uma atitude de reserva dos demais países contra as ingerências americanas. Vivemos uma quadra da história mundial em que os líderes e o povo americano tratam de corrigir tais percepções e ações. Da época da expansão europeia, passamos à do colonialismo, aos surtos de imperialismo, quando exércitos e estados se punham a serviço não só do que eles consideravam os interesses da pátria, mas do interesse das grandes empresas. Desta etapa passamos para a época da globalização. Nesta nova época, a ordem global requer um estilo de concertação política mundial para a qual se tornou insuficiente o tradicional “equilíbrio de poderes” que marcou desde o século XVII a relação entre os estados. A ordem mundial em construção implica em formas de convivência que não se podem basear apenas na hegemonia de um ou de alguns “grandes”. Depois da Guerra Fria, ao que se imaginava que viesse ser a era do predomínio americano, sucedeu a emergência da China, mais tarde as transformações ocorridas em alguns países da periferia do sistema mundial levaram-nos a buscar suas afirmações internacionais. O designativo “BRICs”, sem ser exaustivo, é uma metáfora do surgimento de novos atores mundiais. Mais recentemente, o mundo árabe e o islâmico despontaram com força no cenário global. E a África deixa pouco a pouco de ser o continente da desesperança. A evolução do quadro político internacional permitira que as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, a despeito de suas diferenças ideológicas, criassem a Organização das Nações Unidas (ONU). Essa realização muito deve ao “idealismo rooseveltiano”, que outra coisa não foi senão a atualização do sentimento da excepcionalidade americana, ávido para criar as bases para a paz mundial. É esta ordem que hoje está em causa, dada a dispersão de poder a que aludi acima. 3 O presidente Clinton foi paladino da necessidade de uma “nova arquitetura mundial”. Uma ordem mundial que, convivendo com a diversidade ideológica e de interesses, ajude a diminuir as assimetrias econômicas e sociais entre os países e que seja consciente dos desafios contemporâneos: a manutenção da Paz, uma forma de crescimento econômico compatível com a sustentabilidade da vida na terra, a luta contínua contra a pobreza, o alívio das doenças e que seja capaz de conter um mal recente, o terrorismo. E, sobretudo, que assegure a convivência harmoniosa entre os povos, aceitando suas diferenças, desde que estas não se choquem com os interesses permanentes da humanidade. Os esforços recentes dos Estados Unidos para obter um tratado com o Irã (ainda controverso) visando a contenção atômica e de reconhecer a integração de Cuba ao sistema hemisférico são sinais de uma releitura da excepcionalidade americana. Ela só tem sentido nos tempos atuais se enfatizar que a convivência entre as nações em tempos de globalização requer um delicadíssimo equilíbrio entre a generalização de valores fundamentais da humanidade (como o direito à vida, à Paz e à sustentabilidade da espécie ) e a responsabilidade frente às consequências de eventuais ingerências, cuja legitimidade há de depender sempre de um organismo supranacional e não apenas do interesse dos estados. É este o desafio americano: o de liderar, sem impor, o de aceitar no mundo a diversidade que já é aceita em casa, o de lutar por alguns valores realmente universais. O de não calar quando os direitos humanos, as regras básicas da convivência estão em causa. E ao mesmo tempo de ter a força para coibir os elementos inerentemente contrários à convivência pacífica universal. X X X E, nós brasileiros? Comecemos pelo mais geral, nossa inserção no mundo. Desde as Guerras Mundiais o Brasil mostrou que tem lado: não se junta com o totalitarismo. Se em alguns momentos hesitamos, no geral nossa diplomacia soube compatibilizar nossos interesses e pruridos de soberania com a marcha do mundo. Não erramos estrategicamente quando vimos na China um player importante, abrimo-nos à África, dialogamos com o Oriente Médio e, sobretudo, reforçamos nossos laços com a América Latina. Tudo isso, não esquecendo os conselhos do fundador da diplomacia 4 republicana: atenção ao vizinho do Norte, aos Estados Unidos, e aos do Sul, e à Bacia do Prata, sem renegar nossas raízes ibéricas e euro-latinas. Infelizmente nem sempre nossa voz se pronunciou forte quando, ao nosso lado, vez por outra, e às vezes com frequência, alguns países se afastaram das práticas democráticas. Tolhidos por má compreensão da distinção entre ingerência externa indevida, movida por interesses econômicos ou de poder, e ação eficaz em defesa dos direitos da humanidade, nossos governos têm aceitado, pelo quase silêncio, violações além de nossas fronteiras, como ainda há pouco, no caso de reiterados arbítrios praticados na Venezuela. De igual modo, esboçamos timidamente nossa repulsa ao terrorismo, movimento irracional que, às vezes sob pretexto religioso, às vezes sem ele, faz o mundo caminhar para a barbárie. Não há sequer como pensar em negociar com quem exibe as cabeças cortadas dos “infiéis”. Se quisermos participar da mesa decisória do mundo, temos de nos comprometer com os valores democráticos e dar-lhes consequência. Em época de globalização, não cabe mais o isolacionismo, tão caro aos americanos de outras épocas, nem a mudez solidária, na ilusão de que assim estamos garantindo o que na linguagem do equilíbrio entre os poderes se chamava de autodeterminação. Autodeterminação sim, mas não para permitir a barbárie, a tortura, a violência contra as mulheres, às discriminações de raça. Queiramos ou não, gostemos ou não, somos ocidentais, embora “extremo-ocidentais”, para tomar de empréstimo um qualificativo. E é este adendo, o de não sermos inteiramente ocidentais, sendo-o, que dá ao Brasil o soft power para a interlocução com os não ocidentais. Internamente, nos últimos trinta anos, reconstruímos a duras penas a democracia. Esta noutros períodos históricos era restrita, limitava-se ao jogo das elites educadas; hoje é de massas e por elas é louvada. Basta recordar as recentes demonstrações nas ruas nas quais os que eventualmente ousaram falar em nome do obscurantismo de outra época foram rechaçados. Nosso povo aprendeu a reivindicar dentro dos ditames da Constituição e percebeu que assim pode obter resultados proveitosos na educação, na saúde, no acesso à terra e no que mais seja. Construímos instituições que, por imperfeitas que ainda sejam, visam a assegurar os direitos de cidadania e o bem estar das pessoas. O Brasil foi capaz de construir não só uma sociedade democrática, mas uma economia dinâmica. Fizemos uma revolução agrícola. Temos uma indústria mais 5 diversificada do que qualquer outro país do Hemisfério, salvo os Estados Unidos, nos apossamos dos meios modernos de comunicação e desenvolvemos o setor de serviços, criamos uma economia mista, com um convívio equilibrado entre o setor privado e o setor estatal. Aprendemos que sem a ação de empreendedores econômicos e sociais e sem a regulação pelo mercado, é difícil manter a economia em compasso com as aspirações das pessoas. Muito nos custou retornar à esperança depois do período autoritário, quando a economia havia sido vergastada pela crise do petróleo, pela dívida externa e, sobretudo, pela inflação. Coube a mim como ministro da Fazenda explicar ao país que os tempos eram outros: que, dada a globalização, não poderíamos dar-nos ao capricho de não manter as contas públicas em ordem, isolarmo-nos dos mercados mundiais com tarifas elevadas e ainda assim continuar a prosperar. A luta contra a inflação era mais do que um objetivo isolado. Era uma tentativa de colocar o Brasil em compasso com o mundo contemporâneo. A confusão entre o interesse público e a assunção pela burocracia estatal de tudo que é iniciativa, esmagando ou desprezando o setor privado e a sociedade civil, são arcaísmos que não se sustentam em nome de qualquer ideologia progressista, mas sim do atraso cultural. A partir de meados dos anos noventa reencetamos os caminhos do crescimento econômico dentro da democracia. Tendência que se acentuou no século atual, até que a crise financeira mundial de 2008/9 colocou novos desafios ao país. Na reação ao descontrole dos mercados internacionais o governo brasileiro lançou um programa anticíclico exitoso. Fosse só isso e em seguida fossem retomadas as condições para um crescimento econômico saudável (cujo mantra passou a ser lei de responsabilidade fiscal, taxa de câmbio flutuante e metas para o controle da inflação, lançados desde 1999), e talvez houvesse sido certo dizer que para nós a crise foi uma “marolinha”. Mas não; o governo interpretou o que era política de conjuntura como um sinal para fazer marcha à ré. Paulatinamente, fomos voltando à expansão sem freios do setor estatal, ao descaso com as contas públicas, aos projetos megalômanos que já haviam caracterizado e inviabilizado o êxito de alguns governos do passado. Parece que muitos acreditaram que haveria uma fórmula mágica para o crescimento econômico: expansão do crédito, principalmente público, e incentivos ao consumo. Os investimentos viriam por gravidade sem que o rigor dos orçamentos - que passou a ser visto como coisa reacionária --, fosse o sinal necessário para instigar o espírito animal dos empreendedores. Isso, sem me referir a práticas que a melhor eufemismo 6 são ditas no Brasil como “não republicanas”, sobre as quais, no exterior, prefiro calar. O castelo de cartas desfez-se ao sopro da realidade! Tão grave quanto este desvio das boas práticas foi a pretensão de sustentar o poder a partir de políticas de hegemonia partidária pregada e posta em ação por grupos que se autodenominam como “de vanguarda”. Uma economia e uma sociedade moderna requerem interconexão, transparência, diálogo e capacidade de negociação. Os interesses são múltiplos e contraditórios. Ou bem são expostos com clareza e, aceitos por consensos progressivos, ou os acordos, mesmo que venham com a força e a marca de governos, se esboroam. O que vale no plano interno vale também no internacional: em época de globalização, por mais astuciosos que sejam os truques para mostrar que está certo o que está errado, eles têm vida curta. Em épocas de globalização é do interesse nacional – que obviamente não desaparece por estarmos interconectados ao mundo – ligarmo-nos às cadeias produtivas globais e criarmos condições internas para que o dínamo da sociedade contemporânea, a criatividade, sobretudo tecnológica, floresça em nossas terras, sem que para isso tenhamos que fecharmo-nos ao mundo, impondo barreiras que a internet dissolve. Muito fizemos depois da Constituição de 1988 para refundar as bases de nosso progresso econômico e cívico. Foi para o que joguei o melhor de minhas forças. Nos últimos anos toda esta construção histórica parecia desfazer-se no ar. Construção, repitamos, feita por gerações e diante da qual não dá para dizer o “nunca neste país, antes de mim fez-se tal e tal coisa”, um país não se constrói senão pondo tijolo sobre tijolo, obra de gerações. Não percamos, contudo a esperança. O roteiro para a retomada da decência e do crescimento econômico que permita partilhar melhor a riqueza é conhecido e não falta nas novas gerações quem queira palmilha-lo, nem tampouco nas anteriores quem se disponha a dele participar. É preciso renovação de verdade. Os jovens e as famílias que acorrem às ruas não se sentem politicamente representados. Diz-se que há uma crise da democracia representativa. Mas o que se deseja, não é menos, senão que mais ampla e mais adequada representação. Será que não dá para buscar os mínimos denominadores 7 que permitam criar um sistema eleitoral e partidário que nos livre de termos mais de trinta partidos e trinta e nove ministérios para saciar a fome de cargos e vantagens? Não daria para criar um amplo sistema de participação popular que atuasse na fase das deliberações das grandes questões? Por que não iniciar um mecanismo de aproximação entre eleitor e representante formando distritos nos quais se elegeriam vereadores? E havendo tanta experiência de limitação de gastos e de recursos para as campanhas eleitorais, teremos de continuar submetidos ao talante dos grandes financiadores ou, o que é pior, à falta de escrúpulos dos que se cevam no dinheiro dos contribuintes? Não estou aqui para dar receitas. Mas também na economia é mais do que tempo para reconhecer que sem produtividade crescente não há transferência de rendas duradoura, nem expansão econômica que se sustente. Todos sabemos que esta “produtividade” não é só da mão de obra, nem das empresas, embora melhor educação e mais competitividade façam bem a ambas. Ela depende também do “custo país” e da extinção da voracidade por mais impostos para sustentar uma máquina pública, balofa em alguns setores e, em muitos outros, ineficiente. É passada a hora para a volta à disciplina no gasto público para usá-lo no que realmente é útil ao país, a infraestrutura, os programas sociais universais, saúde e educação principalmente, bem como os programas de transferência de renda, E todos os programas precisam ser melhor executados e avaliados. Tudo isso é possivel, urgente, necessário. Precisamos restabelecer outra dimensão da vida pública. Minhas longas nove décadas de vida e o tanto que delas dediquei ao país me autorizam a dizer, sem “hubris”: perdi em vários momentos a popularidade; nunca, contudo, a credibilidade. Sem aquela é possível governar, sobreviver; sem credibilidade, nada se faz. Na quadra que atravessamos houve perda de credibilidade, dos governos e das pessoas, o que às vezes contagia o país. Mas o Brasil é suficientemente forte e seu povo bravo. Sejamos simples e verdadeiro. Ganhemos, de novo, autoconfiança para sermos grandes na historia . Nosso povo merece. Muito obrigado. -- 8
Download