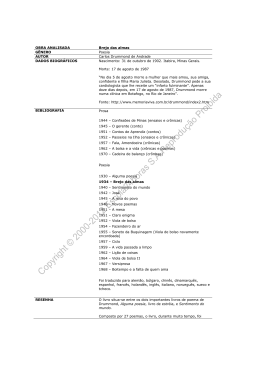da palavra 217 218 da palavra Foto: Elza Lima VI. Ensaios em homenagem a Benedito Nunes da palavra 219 220 da palavra João Guimarães Rosa: um mestre que ensina a dialogar com o povo Willi Bolle1 Maira Fanton Dalalio2 A leitura de Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, ... serviu para despertar nele[s] as mais recônditas potencialidades de sua linguagem. Benedito Nunes Ao lado: Guimarães Rosa, reprodução 1 Professor de Literatura na Universidade de São Paulo (USP). 2 Mestranda de Letras (USP). Relatamos aqui a experiência de um mini-curso de três dias, ministrado sob o título “JGR – um mestre que ensina a dialogar com o povo”, em agosto de 2004 na Pontifícia Universidade Católica de Belo Horizonte, no âmbito do III Seminário Internacional sobre Guimarães Rosa. O curso foi planejado com base nos experimentos do grupo de estudos grandesertão.br, que se constituiu na Universidade de São Paulo em dezembro de 2003, a partir de um estudo do romance Grande Sertão: Veredas, realizado por Willi Bolle no livro grandesertão.br – O romance de formação do Brasil, cujo manuscrito foi terminado em 2003 e que foi publicado em 2004. Trata-se nesse estudo de revelar o retrato do Brasil contido na obra-prima de Guimarães Rosa. A chave da interpretação é a análise da situação narrativa. Estamos diante de um narrador sertanejo que fala o tempo todo, enquanto seu interlocutor, um doutor da cidade, apenas escuta. Por meio desse dispositivo poético, o romancista nos incentiva a pesquisar uma questão cultural e política: como se conversa ou não se conversa na sociedade brasileira. Observa-se uma ausência de diálogo entre os donos da norma culta e os socialmente excluídos. O que rege as relações de fala, que expressam relações de poder, é uma função de linguagem que podemos chamar de diabólica, sendo a figura do diábolos – aquele que se interpõe entre as pessoas e as divide – onipresente em Grande Sertão: Veredas. Quanto à história narrada, esse romance do cânone universal pode ser lido como a versão brasileira da “história mundial da palavra 221 do sofrimento”, para usar a expressão de Walter Benjamin. Ao representar um sistema de poder estreitamente vinculado ao crime e que funciona tanto no sertão quanto nas cidades, Guimarães Rosa traçou de modo exato e visionário um retrato das tendências de criminalização na sociedade brasileira. Através do que chamou de “sistema jagunço”, ele condensou numa expressão sintética a violência, a miséria, a iniquidade social e as forças que bloqueiam a emancipação e o processo democrático. O escritor, no entanto, elaborou também um dispositivo de emancipação que vem se somar ao que Antonio Candido (1995) chama “O direito à literatura”. A utopia artística e política de Guimarães Rosa é a invenção de uma nova linguagem, de acordo com sua convicção de que “O mundo somente pode ser renovado através da renovação da linguagem” (Rosa, in: Lorenz, 1983, p. 88) Essa invenção consistiria essencialmente na fusão da norma culta com a fala das classes periféricas e marginalizadas, das quais o autor extraiu a grande maioria de suas estórias e de seus protagonistas, reconhecendo-os, portanto, como sujeitos da História. Contra a violência, o diálogo. O que orientou o nosso trabalho foi a ideia de um diálogo, inspirado na mistura de linguagens, por parte de Guimarães Rosa, entre a norma culta e a fala popular. O fio condutor do nosso mini-curso foi a leitura dramática de um episódio de Grande Sertão: Veredas, que montamos e discutimos com os participantes. O objetivo principal da apresentação e o intento pedagógico do curso podem ser assim sintetizados: Os participantes-atores experimentam ludicamente o papel de agentes da violência, para se transformarem em agentes de diálogo cultural. Como viabilizar essa metamorfose? Eis o desafio pedagógico e a questão-chave a ser discutida. De acordo com a proposta dialógica e o componente de teatralização do curso, ele foi planejado desde o início para ser ministrado não apenas pelo professor responsável (Willi Bolle), mas também pelos três monitores Maira Fanton Dalalio, Henrique de Toledo Groke e Paulo Roberto Ortiz. Antecedentes: nascimento da proposta, primeira apresentação pública e planejamento do mini-curso A proposta de realizar a leitura dramática de um episódio de Grande Sertão: Veredas foi feita por Willi Bolle na festa de fim-de-ano realizada pelos seus alunos do curso de Introdução à Literatura Alemã I e II, em dezembro de 2003. Ao longo daquele ano, essa turma tinha se destacado pela apresentação de seminários criativos, com elementos performáticos e teatrais. Com base no romance de Guimarães Rosa, Willi Bolle escreveu um texto para ser encenado, coordenado por um trio de “atores-diretores”, no qual ele representou o papel de Riobaldo, e Maira Fanton e Fernando Siedschlag se encarregaram respectivamente dos papéis de Hermógenes e seô Habão. Foi, então, realizada uma leitura dramática com a participação ativa de 16 alunos (entre eles Henrique Groke e Paulo Ortiz) nos papéis de jagunços, performance filmada por Pedro Barros que editou com Fernando Siedschlag um documentário a partir desse material. Tendo recebido o convite de participar do debate sobre o tema “O sertão de Guimarães Rosa: o ‘quem dos lugares’”, no âmbito do IV Encontro de Arte e Cultura, em Morro da Garça, em janeiro de 2004, o grupo viajou para essa cidade, na porta de entrada do sertão mineiro. Num ambiente de oficinas de 222 da palavra arte, leitura de contos, exibição de filmes, debates, danças, caminhadas e subidas à “pirâmide do sertão”, nosso grupo ensaiou e depois apresentou publicamente a leitura do episódio. Incorporamos 15 atuantes-jagunços – além de meia-dúzia de integrantes do “coro dos jagunços”, que faz parte do espetáculo –, convidando habitantes da cidade e da redondeza, sendo a maioria deles “Miguilins”, os contadores de estórias de Cordisburgo. Essa experiência bem-sucedida, num trabalho conjunto de pesquisadores acadêmicos de Guimarães Rosa com jovens do sertão que transmitem oralmente a obra do autor, nos animou a planejar como próximo passo o mini-curso em Belo Horizonte. Quanto ao título do curso, “JGR – um mestre que ensina a dialogar com o povo”, lembramos que o uso dos conceitos de “povo” e “nação” no romance de Guimarães Rosa foi estudado detalhadamente no livro grandesertão.br (nos capítulos “A nação dilacerada” e “Representação do povo e invenção de linguagem”). Em síntese, pode-se dizer que os donos do poder jogam com a incongruência entre “povo” e “nação”, para administrar os conflitos de um Estado burguês dilacerado entre as promessas de igualdade social e a traição desse ideal. Uma vez que o conceito de “povo” está um tanto desgastado pelo seu frequente uso populista e demagógico, acabamos por centrar nosso trabalho teórico e prático mais especificamente no diálogo entre os que dominam a norma culta e os que usam a fala popular. Imaginamos aprender a redimensionar essa questão com o autor de Grande Sertão: Veredas, na medida em que ele reinventa o idioma brasileiro pela fusão de elementos linguísticos e culturais diferentes, visando superar a diglossia e fomentar o diálogo entre as classes sociais – contra o pano de fundo de um Brasil marcado por antagonismos sociais, violência e crime. Metodologicamente falando, os integrantes do grupo grandesertão.br, juntamente com cinco ou seis Miguilins, transmitiriam a experiência anterior do Morro da Garça aos participantes do mini-curso, procurando aprofundar e aperfeiçoar a proposta pedagógica. Além do trabalho cênico, nossos recursos foram os da hermenêutica literária, histórica e sociológica – sendo a hermenêutica, segundo Friedrich Schleiermacher, “a arte de compreender textos e pessoas”. O curso foi estruturado em três módulos inter-relacionados. 1º dia: Mergulho no romance através da leitura dramática Com 45 inscritos, na maioria estudantes e professores/professoras de Letras, de vários estados do Brasil, o curso foi realizado num auditório com cerca de 200 lugares. Após explicar brevemente o objetivo geral, iniciamos o trabalho de leitura dramática. O mais difícil para começar uma experiência desse tipo é vencer a timidez e a resistência natural das pessoas para entrar no palco. O que ajudou a estimular os participantes foi que esse exercício dirigia-se propositadamente a atores leigos, ou seja, qualquer interessado poderia participar. Propomos um modelo didático, a ser experimentado, adaptado e aperfeiçoado pelos colegas professores em seus lugares de trabalho. A fim de relatar a experiência do modo mais concreto, reproduzimos aqui uma das fichas entregues a cada participante no momento em que entrava no palco. A título de exemplo, vai aqui a ficha do primeiro jagunço, contendo a instrução básica e o texto de sua fala: da palavra 223 Agora você é um jagunço. Quando for chamado: brinque, encontre um jeito de falar o seu texto. Experimente dos mais diversos modos, seja criativo. Sintonize-se com os demais e lembre-se: você é parte de um bando. Jõe Bexiguento: Nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. Vivo, jagunceio... Quem se encarregou de coordenar os 16 atores novatos, os “recémjagunços”, foi o trio diretor, os atores de Hermógenes, Riobaldo e seô Habão. Paralelamente, ocorreu uma iniciativa estimulante. Algumas mulheres, na maioria professoras, assumiram o papel do coro de jagunços. Colocando-se no fundo mais elevado do auditório, atrás do público e confrontando-se de longe com os jagunços do palco, elas construíram uma espécie de “ponte de ambientação” entre os ferozes bandidos do sertão e suas virtuais vítimas: os habitantes das cidades, representados pelo público. Dessa maneira, metade da classe estava em cena, experimentando a linguagem dos jagunços de Grande Sertão: Veredas, não só intelectualmente, mas na voz e no corpo. Para dar uma ideia da atmosfera mental do nosso recorte do romance, reproduzimos aqui a fala integral do coro dos jagunços. Esse texto é uma adaptação cênica de uma visão do narrador-protagonista Riobaldo, que teme que os miseráveis do sertão possam invadir as cidades. Inicialmente, há uma breve indicação de como deve agir cada integrante do coro. E de repente ELES podiam ser montão, montoeira, Aos milhares mís e centos milhentos, ELES se desentocando e formando do brenhal, ELES enchendo os caminhos todos e tomando conta das cidades. Como é que ELES iam saber ter poder de serem bons, Com regra e conformidade, mesmo que quisessem ser? Nem vão achar capacidade disso. Vão querer usufruir depressa de todas as coisas boas, Vão UIVAR e DESATINAR. Ah, e vão beber, seguro que vão beber As cachaças inteirinhas da Januária. E vão pegar as mulheres, e puxar para as ruas, Com pouco nem vai haver mais ruas, Nem roupinhas de meninos, nem casas. Os moradores vão mandar tocar depressa os sinos das igrejas, Urgência implorando de Deus o socorro, E vai adiantar? Onde é que eles vão achar grotas e fundões 224 da palavra Para se esconderem – Deus nos diga? Depois da realização da leitura dramática, o restante do tempo da aula foi dedicado à reflexão sobre essa experiência. Uma observação unânime foi que esse mergulho no universo do romance tirou “o medo do texto difícil”. Todo professor que se propõe tratar Grande Sertão: Veredas em aula, não pode deixar de levar em conta que a fama de texto difícil já impediu muita gente de lê-lo, inclusive em cursos de Letras. Quanto ao breve texto da nossa encenação, é preciso esclarecer que se trata de um episódio que efetivamente existe no romance, mas que sofreu algumas modificações. No encontro do bando de jagunços do protagonista-narrador Riobaldo com o latifundiário seô Habão, substituímos o chefe Zé Bebelo pela figura diabólica do Hermógenes, que sintetiza o tema da violência e atua na nossa encenação ora como capataz de seô Habão, ora como autônomo chefe de quadrilha. O papel do Hermógenes consiste em chefiar o bando de jagunços e em levá-los para seô Habão, deixando claro que eles não são nada mais que uma mão-de-obra ao inteiro dispor do patrão. Para realçar essa condição, cada um deles é simbolicamente marcado, quando de sua entrada em cena, pelo ferro do “dono de gado e gente”. Na testa de cada um, Hermógenes cola um adesivo emblemático, com um signo esotérico representando a constelação de Capricórnio, que designa um lugar na zona tórrida, para não dizer “o inferno feio deste mundo”. Independentemente de seô Habão, Hermógenes tem seus planos próprios, como revela em suas falas, típicas de um empresário do crime: Eu vou levar vocês para atacar grandes cidades, em serviço para chefes políticos... Vamos sair pelo mundo, tomando dinheiro dos que têm, e objetos e vantagens de toda valia... E só vamos sossegar quando cada um já estiver farto, e já tiver recebido umas duas ou três mulheres, moças sacudidas, p’ra o renovame de sua cama ou rede! ... Hermógenes é, portanto, o personagem diabólico que apela para os instintos criminosos em cada um dos jagunços. E não só dos jagunços, uma vez que todos os atuantes, que apenas “brincaram” de ser bandidos, confessaram ter sentido um perverso prazer de fazer o papel de gente violenta. De fato, o que mais chamou a nossa atenção nessa experiência do primeiro dia de curso foi constatar que representamos o papel violento e cruel com gosto. O reconhecimento do fascínio e da força comunicativa do Mal – além de nos pôr em guarda contra as idealizações do ser humano – é meio caminho andado para responder a nossa pergunta-desafio: Como passar do papel de um agente da violência para um agente do diálogo social? 2º dia: O “entre-lugar” cultural A presença dos Miguilins no nosso curso contribuiu para refinar a nossa compreensão do campo social e cultural intermediário entre a cultura dos da palavra 225 “letrados” e dos “não-letrados”, prevenindo-nos de certas idealizações e abstrações. O depoimento de uma estudante de Letras, que recebeu sua formação entre os Miguilins, nos deu um eloquente testemunho de como “as margens entre as duas culturas não são fixas”. O que contribuiu desde cedo para essa oscilação – a busca de identidade entre sua atual condição de letrada e a cultura tradionalmente oral do ambiente sertanejo – é que a própria formação dos contadores de estórias implica numa iniciação literária. Por isso, eles são muito mais representantes de um “entre-lugar” cultural. A busca de fantasmas culturais supostamente puros seria, aliás, um contra-senso numa cultura mista como a brasileira. A dedicação dos Miguilins às atividades artísticas, com base nas estórias de Guimarães Rosa, nos fez redescobrir a nossa tarefa básica: desenvolver um trabalho de diálogo cultural no medium da obra do escritor. Resolvemos aprofundar a experiência que tínhamos iniciado na véspera no sentido de trabalhar como nosso “entre-lugar” a relação intermedial entre literatura e teatro. Um estímulo importante foi a notícia de que uma equipe da TV Globo faria à noite uma reportagem sobre o Seminário e, nessa ocasião, filmaria também a nossa leitura dramática, prevista para ser apresentada em público, naquela noite, por ocasião do lançamento do livro grandesertão.br. Com vista a essa apresentação, o professor e os monitores passaram a tarde inteira no auditório, arrumando com a ajuda dos técnicos os móveis, a iluminação e o cenário e, sobretudo, realizando uma preparação intensa de coreografia, expressão corporal, exercícios de voz e interpretação que depois foi transmitido para os participantes. Quando estes chegaram, a notícia da filmagem funcionou como um poderoso catalisador. Se a aula do primeiro dia transitou de letras para a atividade teatral, a do segundo dia foi sobretudo uma aula de teatro. Maira Fanton começou fazendo um aquecimento corporal com os participantes-atores e Willi Bolle se encarregou do aquecimento vocal. Ambos ajudaram os outros a se familiarizarem com o espaço, inclusive, a perder o medo desse auditório vasto e de acústica sofrível e a se apoderar dele com o corpo e a voz. Nessa tarefa contribuíram decisivamente as participantes do coro. No coro foram, aliás, introduzidas inovações: o texto foi interpretado com três variações: Da primeira vez: “E de repente ELES podiam ser montão, montoeira”; da segunda vez: E de repente EU podia ser montão, montoeira”; da terceira vez: E de repente NÓS podíamos ser montão, montoeira”; [numa dinâmica crescente, sendo que da terceira vez, os jagunços no palco berravam “VAMOS UIVAR E DESATINAR”, e havia também alguns falantes do coro espalhados pela plateia. Esse coro foi um dos mais criativos e intensos que tivemos em nossas apresentações. Um elemento relevante para os participantes se sentirem à vontade em cena foi também o figurino, que os atores de Hermógenes, seô Habão e Riobaldo já traziam pronto. Mas como resolver, em cima da hora, o figurino dos “rasos jagunços”? Pedimos aos participantes, na maioria moças e mulheres, que retirassem joias e enfeites e que aproveitassem como seu maior figurino os pés descalços. 226 da palavra Quando a equipe de televisão chegou, a leitura dramática aconteceu com muita força e vontade – e brutalidade. Foi impressionante ver figuras tão delicadas expelindo crueldade. Ali poderia ser o espaço catalisador da maldade humana. Sem querer supervalorizar a nossa apresentação, pode se dizer que foi uma leitura dramática que ficou na memória dos participantes. 3º dia: Para terminar: uma aula de hermenêutica A terceira e última aula foi concebida como suporte teórico e metodológico das atividades teatrais das duas anteriores e como reflexão sobre a experiência de mergulho cênico no romance de Guimarães Rosa. O texto do nosso roteiro foi objeto de uma aula expositiva, numa abordagem hermenêutica. A nossa adaptação cênica é uma constelação de falas de jagunços que condiz com a presença do bando na fazenda de seô Habão, mas que foi reunida numa montagem livre de nomes e falas, a partir de fragmentos espalhados pelo romance inteiro, indo ao encontro do seu princípio de composição, a narração em forma de rede. A pergunta se é lícito ou não mexer no texto de Guimarães Rosa para adaptá-lo para um trabalho cênico pode ser respondida com outra pergunta: foi lícito ou não o escritor mexer nas histórias e nas falas dos sertanejos que ele recolheu para compor suas obras? Um ponto fundamental para nossa análise das falas individuais foi entendêlas diante do pano de fundo da fala coletiva do coro. A maioria desses jagunços vem “do brenhal”, ou seja, vive em condições semelhantes às dos moradores dos povoados do Sucruiú e do Pubo, os miseráveis catrumanos, mão-de-obra do latifundiário seô Habão. No nosso grupo de jagunços apresentam-se dois deles, o Catrumano e o menino Guirigó: Catrumano: Ossenhor utúrje, a gente estamos resguardando essas estradas: o povo do Sucruiú, que estão com a doença, que pega todos, peste de bexiga preta... Menino Guirigó: Tirei não, nada não... Tenho nada... Tenho nada... As pessoas que vivem nesse meio de miséria e de doença ou se resignam ou procuram sair dali de qualquer jeito. Um caminho frequente é a opção pelo crime, considerado nesse contexto uma profissão respeitável como qualquer outra: João Concliz: Quando se jornadeia de jagunço não se nota tanto: o estatuto de misérias e enfermidades. Guerra diverte – o demo acha... As necessidades e aspirações básicas dos jagunços são assim sintetizadas: Rodrigues Peludo: Jagunço é isso: comer, beber, apreciar mulher, brigar e fim final... Esse desejo expresso pelo jagunço Rodrigues Peludo não é restrito à esfera do sertão, pois os habitantes das cidades desejam algo muito semelhante. Veja- da palavra 227 se esta passagem-chave da peça de Bertolt Brecht, Ascensão e queda da cidade Mahagonny (1929): “comer, amar, lutar, beber” – embora se trate aqui de uma cidade da zona de garimpo, um lugar de transição. O desejo geral dos homens sertanejos é assim verbalizado pelo coro dos jagunços: “Vamos querer usufruir depressa de todas as coisas boas.” Haveria algum mal nisso? Não é para isso que somos adestrados diariamente pela sociedade de consumo, não é esse o comportamento que os donos do poder esperam da massa dos consumidores? Onde começa, então, a passagem da civilização para a violência? No “uivar e desatinar”? Um passo importante do conhecimento do ser humano foi dado no momento em que Nietzsche aboliu a distinção secular e preconceituosa entre o “selvagem” das brenhas e o “homem urbano”, descobrindo que o comportamento de “selvageria” pode repentinamente surgir em qualquer um dos dois. Guimarães Rosa chegou ao mesmo diagnóstico ao declarar que “sertão: é dentro da gente”. Portanto, as falas do Valtêi, que “gosta de matar”, ou do Sidurino, que “carece de um tiroteio”, ou do Firmiano, que quer “esfolar e castrar um soldado”, ou do Riobaldo, que deseja “matar, matar assassinado”, não são restritas, de forma alguma, ao ambiente de bandidos sertanejos. Quanto ao fazendeiro seô Habão, capitão da Guarda Nacional, vivendo “com a ideia na lavoura”, vejamos como ele faz o balanço de seus negócios, depois da doença que inutilizou e em parte ceifou a sua mão-de-obra: Seô Habão: A bexiga do Sucruiú já terminou. Morreram só 18 pessoas... Ele precisa de gente “para capinar e roçar, e colher”, se não, a economia pára. Nesse momento, ele se dá conta de que, na sua frente, está exatamente esse número de pessoas de que precisa, perfeitamente aptas a realizar o trabalho. Então, ele declara, com a maior naturalidade: Vou botar vocês para o corte da cana e fazeção de rapadura. A rapadura vou vender para vocês. Depois vocês pagam com trabalhos redobrados... Pouco ganharíamos em termos de conhecimento das estruturas nas quais estamos imersos, se analisássemos essa fala de seô Habão apenas pelo prisma da denúncia. A atitude de considerar o outro uma mercadoria, peça para ser usada, está tão assimilada pela nossa sociedade, que qualquer um de nós poderia assumir o papel de seô Habão para defender o seu empreendimento. E o que dizer de Riobaldo, que se revolta diante da perspectiva de ser escravizado? Seria ele um herói a ser imitado? Os rasos jagunços, com os quais ele não quer ser confundido, por ser filho de coronel, o consideram um traidor. Afinal, ele se revolta para fazer o quê? Abolir o sistema ou reproduzi-lo, nos mesmos moldes que seô Habão, ou talvez pior? São perguntas assim que nos coloca o texto de Guimarães Rosa, perguntas que queremos discutir através da nossa leitura dramática, tanto com os participantes como com o público. Chegamos a formular como “super-objetivo” da nossa peça de aprendizagem o desafio de descobrir como poderíamos nos transformar de agentes da violência em agentes do diálogo social. De maneira 228 da palavra diferente das pedagogias idealistas que subestimam o fascínio e a força que o Mal exerce sobre as pessoas, resolvemos encarar de forma lúdica o Mal, exatamente para conhecê-lo – afinal, nosso romancista trabalha com o pressuposto da “ruindade nativa do homem”. Como um dos antídotos contra o Mal, dispomos da atividade lúdica. O protagonista-narrador de Grande Sertão: Veredas nos ensina que o discurso da violência é algo construído e que podemos, portanto, também desconstruí-lo. Do meio para o fim da aula, os participantes se dividiram em três grupos para discutir como nós, estudantes e professores de letras, poderíamos prosseguir no caminho proposto por Guimarães Rosa em sua obra: realizar o trabalho dialético de extrair, a partir de uma constelação de crime e violência, a perspectiva de um diálogo social. Nessa discussão, o professores e os monitores fizeram questão de apenas ouvir o que diziam os participantes, assim como o letrado da cidade que ouve a fala de Riobaldo. Este breve resumo só pode reproduzir muito imperfeitamente a riqueza, os detalhes e a vivacidade das exposições dos três grupos, que chamamos aqui de A, B e C. O grupo B se centrou na questão da dramatização, que diminui a distância entre as esferas sociais e nos põe em guarda para não usar de modo autoritário as obras canônicas e “temidas”, como Grande Sertão: Veredas. O grupo C ressaltou a importância da humildade como forma de aprendizagem. Já o grupo A, desconfiando de tamanha “humildade”, detectou ali também mais um mascaramento da violência. Montagens em São Paulo e em Belém e perspectivas futuras O mini-curso ministrado em Belo Horizonte consolidou o nosso trabalho e nos incentivou para atividades futuras. Em setembro de 2004, por ocasião do lançamento do livro grandesertão.br na capital paulista, realizamos uma nova leitura dramática pública, desta vez no Instituto Goethe de São Paulo. Os atores eram, sobretudo, alunos da USP, mas houve também pessoas de fora. Nessa ocasião, além de agilizar o ritmo da entrada em cena, aperfeiçoamos também a coreografia, que foi assim esquematizada: J. Cazuzo Zé Bebelo.... HERMÓGENES Alaripe Juvenato João Bugre HABÃO J. Concliz Sidurino R. Peludo Catrumano Adalgizo JGR Guirigó Simião Valtêi RIOBALDO Bexiguento Firmiano Cabe sinalizar ainda que, no final de setembro de 2004, houve uma leitura dramática do nosso texto em Belém, na VIII Feira Panamazônica do Livro, realizada por alunos da Escola de Teatro da UFPA, sob a direção dos professores Lúcia Uchoa e Walter Bandeira. A realização cênica foi de uma beleza selvagem. Depois dessas experiências, o grupo trabalhou com oficinas e realizações de leitura dramática sob o título “Atores da violência – atores do diálogo”, em diversos lugares do Brasil e da Europa. Modificações e transformações ocorreram da palavra 229 durante o percurso. Buscamos aperfeiçoar, teórica e esteticamente, a nossa proposta principal: elaborar um modelo de oficina e leitura dramática que possa ser colocado à disposição de grupos interessados. Atualmente buscamos repensar e refinar os nossos principais conceitos operacionais, através de estudos de tópicos como romance de formação, teatro de aprendizagem, método Paulo Freire, conceito de violência, análise do discurso, retórica, popularização do saber, juntamente com a criação de um documentário em vídeo com os registros das experiências e a aprendizagem do grupo.3 Referências bibliográficas BOLLE, Willi. grandesertão.br – o romance de formação do Brasil. São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2004. CANDIDO, Antonio. “O direito à literatura”. In: Vários escritos. 3a ed. revista e ampliada. São Paulo: Duas Cidades, 1995. LORENZ, Günter W. “Diálogo com Guimarães Rosa”. Trad. De Rosemará Costhek Abílio. In: Coutinho, Eduardo (org.). Guimarães Rosa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 62-97. ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 5a ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1965 (1a ed.: 1956). SCHLEIERMACHER, Friedrich Daniel Ernst. Hermeneutik. Org. por Heinz Kimmerle. 2a ed. Heidelberg: Carl Winter, 1974. Atores da violência – atores do diálogo Adaptação cênica de um episódio do romance Grande Sertão: Veredas de João Guimarães Rosa (grupo grandesertão.br. Texto e direção: Willi Bolle) [Um bando de jagunços, comandado pela figura diabólica do Hermógenes, e tendo em seu meio o protagonista-narrador Riobaldo, chega à fazenda do latifundiário Seô Habão.] Jõe Bexiguento: Nasci aqui. Meu pai me deu minha sina. Vivo, jagunceio… Simião: Este é Seô Habão... É dono de gado e gente. Juvenato: Não gosto de Seô Habão... Ele é bruto comercial... Senhor Habão – 1: Vou precisar de vocês para capinar e roçar, e colher... Agradecemos a participação de Henrique de Toledo Groke, Paulo Roberto Ortiz, Fernando Siedschlag e Pedro Barros, estudantes de Letras da Universidade de São Paulo e integrantes do grupo grandesertão.br. 3 Valtêi: Eu gosto de matar... O que babejo vendo, é sangrarem galinha ou esfaquearem porco... Sidurino: A gente carecia agora era de um vero tiroteio para exercício de não se minguar. A alguma vila sertaneja dessas, e se pandegar, depois, vadiando... 230 da palavra CORO dos JAGUNÇOS – 1 E de repente ELES podiam ser montão, montoeira, Aos milhares mís e centos milhentos, eles se desentocando e formando do brenhal, eles enchendo os caminhos todos e tomando conta das cidades. Como é que eles iam saber ter poder de serem bons, Com regra e conformidade, mesmo que quisessem ser? Nem vão achar capacidade disso. Vão querer usufruir depressa de todas as coisas boas, Vão UIVAR e DESATINAR. Alaripe: Eu tenho receio que me achem de coração mole; tenho pena de toda criatura de Jesus… Hermógenes – 1: Eu vou levar vocês para atacar grandes cidades, a serviço para chefes políticos... João Bugre: O Hermógenes é positivo pactário. Ele tira seu prazer do medo dos outros, do sofrimento dos outros... Rodrigues Peludo: Jagunço é isso: comer, beber, apreciar mulher, brigar e fim final... Firmiano, apelidado Piolho-de-Cobra: Me dá saudade de pegar um soldado, e tal, pra uma boa esfola, com faca cega... mas, primeiro, castrar... Riobaldo – 1: Matar aquele homem, matar assassinado... E agarrar aquela moça nos meus braços, uma quanta-coisa primorosa que se esperneia, e vocês, meus companheiros, todos de pé, fechando praia de mar... Matar aquele homem? ... E agarrar aquela moça? ... e vocês, meus companheiros? ... CORO dos JAGUNÇOS – 2 E de repente EU podia ser montão, montoeira, Aos milhares mís e centos milhentos, eu me desentocando e formando do brenhal, eu enchendo os caminhos todos e tomando conta das cidades. Vou querer usufruir depressa de todas as coisas boas, Vou UIVAR e DESATINAR. Joé Cazuzo: Eu vi a Virgem! Eu vi a Virgem Nossa no resplendor do céu, com seus filhos de Anjos! da palavra 231 Catrumano: Ossenhor utúrje, a gente estamos resguardando essas estradas: o povo do Sucruiú, que estão com a doença, que pega todos, peste de bexiga preta... João Concliz: Quando se jornadeia de jagunço não se nota tanto: o estatuto de misérias e enfermidades. Guerra diverte – o demo acha... Menino Guirigó: Tirei não, nada não... Tenho nada... Tenho nada... Zé Bebelo: O que imponho é se educar e socorrer as infâncias desse sertão... Guimarães Rosa: País de pessoas, de carne e sangue, de mil-e-tantas misérias... Hermógenes – 2: Vamos sair pelo mundo, tomando dinheiro dos que têm, e objetos e vantagens de toda valia... E só vamos sossegar quando cada um já estiver farto, e já tiver recebido umas duas ou três mulheres, moças sacudidas, p’ra o renovame de sua cama ou rede! ... CORO dos JAGUNÇOS – 3 E de repente NÓS podíamos ser montão, montoeira, nós enchendo os caminhos todos e tomando conta das cidades. Vamos querer usufruir depressa de todas as coisas boas, Vamos UIVAR e DESATINAR. [bis] Ah, e vamos beber, seguro que vamos beber As cachaças inteirinhas da Januária. E vamos pegar as mulheres, e puxar para as ruas, Com pouco nem vai haver mais ruas, Nem roupinhas de meninos, nem casas. Os moradores vão mandar tocar depressa os sinos das igrejas, Urgência implorando de Deus o socorro, E vai adiantar? Onde é que eles vão achar grotas e fundões Para se esconderem – Deus nos diga. Senhor Habão – 2: A bexiga do Sucruiú já terminou. Morreram só 18 pessoas... Vou botar vocês para o corte da cana e fazeção de rapadura. A rapadura vou vender para vocês. Depois vocês pagam com trabalhos redobrados... 232 da palavra Riobaldo – 2: Eu eu aqui, no entremeio deles... Afinal, o que é que eu sou? Um raso jagunço atirador, cachorrando por esse sertão... Adalgizo: Seô Habão está cobiçando a gente para escravos! ... Riobaldo – 3: Duvidar, Seô Habão, o senhor conhece meu pai, fazendeiro Senhor Coronel Selorico Mendes, do São Gregório?! Abaixo: Willie Bolle e Benedito Nunes Foto: acervo Maria Sylvia Nunes Senhor Habão – 3: Dou notícia... Dou notícia... Riobaldo – 4: [apontando para os jagunços, que olham para ele como para um traidor] O silêncio deles me entende. da palavra 233 234 da palavra O Encoberto que vem no Desejo Alcir Pécora* O Filho do homem é Cristo; o quase Filho do homem é o quase Cristo, ou Vice-Cristo. (A.V., Sermão de ação de graças pelo nascimento do príncipe D.João) Padre Vieira imaginou representar o desejo por meio de uma figura geométrica. Percebeu que só o círculo conviria: A eternidade e o desejo são duas coisas tão parecidas, que ambas se retratam com a mesma figura. Os egípcios, nos seus hieroglíficos, e antes deles os caldeus, para representar a eternidade pintaram um O, porque a figura circular não tem princípio nem fim, e isto é ser eterno.1 Professor da UNICAMP. Autor de vários livros e organizador, entre outros de “Sermões - Padre Antonio Viera” 2 vol. Hedra. 2001. 1 Todas as citações de Vieira são feitas na edição dos Sermões feita pela Edameris (l95759). O trecho citado aparece à página 103 do volume VI, correspondente ao início da quinta parte do Sermão de Nossa Senhora do O, dado como tendo sido pregado em 1640, na Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Salvador. 2 Idem, ibidem. 3 Idem, p. 111-2. * Depois, pensou em adicionar som à imagem: O desejo ainda teve melhor pintor, que é a natureza. Todos os que desejam, se o afeto rompeu silêncio, e do coração passou à boca, o que pronunciam é Ó.2 Por fim, para aperfeiçoar a figura, imprimiu-lhe movimento: Se acaso ou de indústria lançasses uma pedra ao mar sereno e quieto, ao primeiro toque da água vistes alguma perturbação nela; mas tanto que essa perturbação se sossegou, e a pedra ficou dentro no mar, no mesmo ponto se formou nele um círculo perfeito, e logo outro círculo maior, e, após este, outro e outros, todos com a mesma proporção sucessiva, e todos mais es-tendidos sempre, e de mais dilatada esfera.3 da palavra 235 Aí está a figura exata, mas qual pode ser o exato percurso que lhe dá substância? É o que me proponho a investigar neste texto, que reescrevo com base em antigos estudos cuja inspiração, em parte, devo a Benedito Nunes, um de meus mais queridos e inesquecíveis professores. Acrescento que, no caso específico de minhas leituras de Vieira, de quem Benedito é leitor e estudioso, tive a honra de, mais de uma vez, ser convidado por ele para apresentá-las em Belém. Curiosamente, por algum golpe de azar, os eventos vieirianos que programou comigo nunca chegaram a ser efetivados. Fica, pois, este estudo dedicado a ele, como a quem de direito participou de sua invenção. I. O desejo de ser Um sermão datado por Vieira como sendo de 1643, o Sermão de Todos os Santos, caracteriza como próprio da natureza do homem, isto é, como móvel permanente de suas ações4, o “desejar ser”. A fórmula atende a uma perspectiva cristã, de matriz tomista, na qual um Ser singular, perfeito e infinito é causa exclusiva de todos os demais seres –, que apenas o são, em dife-rentes níveis, sempre limitados, por tê-lo como causa, vale dizer, por ter uma participação criada no Ser original5. Toda criatura teria seu ser dependente da expansão6 do Ser que o criou, devendo ser considerado como imperfeita imitação7 sua, tal como o pode ser o efeito de sua verdadeira causa. O “desejo de ser” teria de ser interpretado, assim, como um desejo natural de participar mais intensamente dessa causa – não obviamente no sentido platônico do termo participação, como “fazer parte”, “identificar-se”, mas na sua significação, delineada pela tradição cristã, de “aproximar-se analogamente”, como “imagem e semelhança” da Causa Primeira.8 Entretanto, nesse sermão, quando Vieira expõe a questão do desejo de ser, não está simplesmente pensando em reafirmar um paradigma tomista. Da ma-neira como faz a citação, interessa-lhe ressaltar o confronto entre o desejo natural e um outro tipo de desejo, desta vez efeito de operações deformantes da natureza conduzidas pelos seres, o qual é mais diretamente nomeado “apetite”. O desejo, neste caso, deixa de afirmar-se como ponto de fortalecimento analógico do Ser Primeiro, para tornar-se hábito vicioso, indiferente à sua condição de dependência substancial do Ser. Apenas aí, numa perspectiva católica, o desejo passa a ser interpretado como pecado, isto é, como relativo a um ato desordenado, contrário à ordem da natureza instituída por Deus9. Quando Vieira diz: A mais poderosa inclinação e o mais poderoso apetite do homem é desejar ser10, o que está afirmando é que, degenerado pelo apetite, o que era da natureza mesma dos seres passa a negá-la e, em consequência, a negar a sua própria semelhança com o Ser. A “tentação”, cujo modelo o demônio se encarrega de fornecer, é justamente essa forma degenerada de desejo que, em vez de orientarse para o Ser, encerra-se na negação dele: (...)o sereis do demônio não só nos tirou o ser como Deus, senão também o ser.11 236 da palavra 4 A concepção de natureza, aí, é a mesma que Etienne Gilson identifica como predominante entre os filósofos medievais cristãos: natureza é a essência (causa) de uma operação que produz regularmente um fenômeno. Ver a respeito L’esprit de la philosophie médiévale (2ª ed., 4ª tiragem, Paris, Vrin, p. 83). 5 A noção de participação, de inspiração platônica, permanece atuante entre os filósofos cristãos, mesmo tomistas, embora profundamente alterada: ela serve sobretudo para acentuar o elo não-casual entre o Criador e as criaturas. O termo criada, que especifica a participação, pretende deixar claro que, do ponto de vista cristão, apenas num sentido analógico as criaturas podem chegar a assemelhar-se ao Ser de Deus. Aqui, como ao longo de toda essa primeira parte do ensaio, adoto a interpretação de Gilson a propósito dos desdobramentos medievais de algumas noções da filosofia grega, tal como se mostra no seu L’esprit de la philosophie médiévale. 6 Na perspectiva cristã é que, pela primeira vez, as criaturas são concebidas como tendo uma contingência radical: não apenas poderiam ser de uma forma diferente da atual, como poderiam mesmo não ser. Tudo o que não é Deus deve a ele a sua existência. O capítulo do L’esprit de la philosophie médiévale dedicado à discussão dos seres e sua contingência é especialmente importante para a compreensão desse ponto no sentido em que se toma aqui. 7 Neste emprego, trata-se de mais um termo que descreve a relação analógica entre Criador e criatura. Há analogias entre a causa e o efeito, isto é, toda causa produz um efeito que lhe parece. O capítulo de Gilson a propósito das noções cristãs de analogia, causalidade e finalidade é o que, na obra citada anteriormente, trata mais diretamente desta questão. 8 Um outro texto de Gilson importante para a compreensão do sentido ortodoxo do conceito de participação intitula-se justamente Causalidade e participação e encontra-se em seu livro Introduction a la philosopbie chrétienne (Paris, J. Vrin, 1960). A ideia mais geral é de que “a relação do participado ao participante” Assim, qualquer outro ser que não se defina em analogia com o Ser de Deus, por maior que pareça, não é, porque vem a parar em não-ser.12 Para entender o risco de não-ser implícito no desejo ainda será pre-ciso considerar que, catolicamente, o mal, o pecado, ou, se se quiser, o não-ser, apenas pode ser definido no interior das operações13 que o homem é obrigado a realizar enquanto ser contingente, isto é, aquelas nas quais apenas se pode conduzir por meio das escolhas próprias. O desejo pressupõe, portanto, uma vontade livre, imagem da liberdade divina e análoga a ela. O ato do arbítrio humano é, nele mesmo, busca da comunhão com o Ser que é Deus e que não pode ser buscado fora da liberdade em que existe14. Tratase, ao mesmo tempo, de uma condição da analogia com a perfeição divina e de uma instância possível do pecado: desejo natural de ser e igualmente potência do contingente ao não-ser. deve ser entendida como uma “relação ontológica da causa ao efeito”. Cada ser particular, uma vez que é ser, participa da natureza do Ser divino, não como “a parte participa do todo”, mas como “o efeito participa de sua causa eficiente”. 9 Mais uma vez, apóio-me na leitura feita por Gilson do conceito cristão de lei e moral. O capítulo 16 do L’esprit de philosopbie médiévale é dedicado a esse tema; mostra-se aí que santo Tomás, apoiandose na definição aristotélica de que um ato é moralmente bom quando concorre para a realização da natureza essencial daquele que o cum-priu, considera o pecado exatamente como um ato desordenado, contrário à natureza, pois esta, uma vez criada por Deus, inscreve-se no interior da lei divina. 10 Sermão de Todos os Santos in Sermões, op. cit., p.227. 11 Idem, p. 228. 12 Idem, ibidem. 13 Retorno ao capítulo de Gilson a propósito da contingência dos seres: o movimento sobretudo é que os caracteriza enquanto tais. 14 De acordo com a ortodoxia católica, o que se pode dizer é que, para ser capaz de buscar a plenitude de Deus, o homem tem de possuir liberdade de vontade: não há vontade real do bem, sem possibilidade de erro. 15 Sermão da terceira quarta-feira da Quaresma, pregado na Capela Real de Lisboa, no ano de 1669, in Sermões, v. I, p. 240. 16 Idem, p. 242. II. A necedade do desejo No interior dessas operações dos seres contingentes, em que o desejo pode decair em apetite, Vieira situa as suas fundas considerações sobre a questão. Por exemplo, a de que o desejo, na sua formulação contingente, sempre corresponde a alguma ausência de conhecimento, a certo nível de engano na definição que faz de seu próprio objeto. Quase todos os seus Sermões da terceira Quarta-feira da Quaresma, relativos ao tema dos pretendentes, cuja matriz nas Escrituras é dada pela mãe dos Zebedeus, tratam justamente dessa necedade essencial do desejo. Num desses sermões, dado como de 1669, Vieira diz expressamente: Nenhum homem há neste mundo, falando do céu abaixo, que saiba o que deseja, nem o que pede15. E ainda: Tão errados são os pensa-mentos e desejos humanos, e tão certo é que no que pedimos com maiores ânsias não sabemos o que pedimos16. Como figuras da ignorância humana do próprio desejo, Vieira postula haver uma sentença tão verdadeira embutida na fábula pagã de Faetonte, cujo desejo de dirigir a majestosa carroça do pai havia de fulminar-lhe os ossos, quanto aquela que havia na narrativa bíblica de Sansão, cuja cegueira era inseparável do desejo que sentia por Dalila. Ambos os casos assinalam que o desconhecimento suposto no desejo contingente pode conduzi-lo a um falso objeto, cuja posse destrói ou afasta o bem desejado, em vez de possuí-lo. Resulta dessa dramatização do confronto entre desejo e conhecimento o argumento vieiriano de que, sem alguma experiência antecipada do objeto do desejo e de seus efeitos, há sempre o risco da condução paradoxal desse desejo, de modo que o que se alcança é a impossibilidade mesma do bem que se procura. da palavra 237 Jogando um pouco mais com as noções aparentadas à de desejo no esboço gramatical17 que se tenta aqui, pode-se dizer que, sem o conhecimento de seu objeto em alguma forma de experiência antecipada do bem proporcionado por ele, a própria noção de “amor”, tomado platonicamente como desdobramento fecundo, natural e desinteressado do desejo na fruição da presença do bem, seria implausível, pois o objeto a que se chega não é o mesmo que o desejo supõe. Ainda mais, tal fruição seria implausível pelo fato de que esse falso objeto não tem ser, e o ser é a condição irredutível do amor real18. Nos termos de Vieira, ainda é possível dizer que o amor mais comum, no âmbito mundano dos desejos, significa uma espécie de deformação fantástica da imaginação, na qual o desejo, longe do conhecimento, torna-se progressivamente irreal. No Sermão da primeira Sexta-feira da Quaresma, dado como tendo sido pregado em Odivelas no ano de 1644, afirma o seguinte: Isto que no mundo se chama amor é uma coisa que não há nem é. É quimera, é mentira, é engano, é uma doença da imaginação19. A noção de “doença da imaginação” aplicada ao amor implica na sobreposição de um duplo engano. Primeiro, o de que, enquanto objeto imaginário (ou ser imaginário de um objeto trocado, diferente do que se supunha) deixa de cumprir o que o desejo promete, pois, sendo imaginário, não pode efetuar-se como presença real; segundo, o de que, por sua falta de ser, ainda tende a desdobrar-se em novas fontes de sofrimento, como as dos ciúmes e desconfianças em relação ao amado. Nesse momento, um longo e novo tormento seria acrescen-tado ao não-ser, como o da dor ao calafrio e à febre. A condição dolorosa seria, assim, efeito real e tradução afetiva da ausência de ser que, ao ser ignorada pelo desejo, imediatamente se contrapõe ao gozo amoroso. Nessa perspectiva, toda forma de amor humano e, de maneira exemplar, o amor sensual, tem, na origem, um objeto de desejo ao mesmo tempo vazio de ser e assediado pela fantasia. As formas imaginárias daí resultantes, sem sustentação ontológica, logo rompem nos costumeiros horrores: Pode haver maior tormento que amar, quando menos em perpétua dúvida, amar em perpétua suspeita... ?20. E, mais declaradamente: (...)o amor desta vida e deste mundo é uma morte que só tem precitos, e não tem predestinados; é uma morte pela qual sempre se vai ao inferno e nunca ao paraíso. O paraíso do amor-se o houvera-havia de ser amar e ser amado, e amado com certeza de nunca ser aborrecido. Mas como não há, nem pode haver no mundo, nem este amor, nem esta certeza, senão as dúvidas, os escrúpulos, as desconfianças, os receios e as suspeitas de se me amam ou não me amam, ou de que já me ama menos que dantes, ou que trocam o meu amor por outro, ou de que outrem pretende o que eu amo, em que consiste por vários modos o tormento crudelíssimo do cíúme, este ciúme sempre duvidoso, sempre crédulo, sempre fixo na imaginação, e nunca satisfeito, este é o inferno inevitável e sem redenção a que todos os que amam se condenam, e em que são atormentados duramente, sem fim e sem remédio.21 238 da palavra 17 Emprego o termo em seu sentido wittgensteiniano, como relativo ao esforço de estabelecimento de uma visão sinótica de usos linguísticas que apresentam semelhanças em família. 18 Na sistematização gilsoniana da questão ressalta a ideia de que o amor, entendido como ato divino ou participação humana nele, refere-se sempre à generosidade do Ser. 19 Sermão da primeira sexta-feira da Quaresma, dado na editio princeps dos Sermões como tendo sido pregado no convento português de Odivelas, no ano de 1644. Citação in Ser mões (op.cit.) v. VI, p. 173-4. 20 Idem, p. 174. 21 Idem, p. 174-5. O tormento amoroso é, pois, efeito da distorção imaginária do desejo, que é incapaz de conhecimento do seu objeto, e, por isso mesmo, incapaz de orientá-lo para o ser. Nessa roda mortal, de circuito falho, o amor, que catolicamente deve ser entendido essencialmente como “união”22, permanece irrealizado. Para ser fecundo, o desejo deve estar fundado sobre o conhecimento de seu objeto real, pois apenas a existência real permite a condução do desejo à forma superior do gozo unitivo. Sem esse conhecimento, com a vontade subjugada pela tentação néscia, apenas pode tomar formas dolorosas, cuja natureza exaltada e falta de ser contraria necessariamente a razão. Num Sermão do mandato, atribuído ao ano de 1645, Vieira propõe ser essa a causa da representação do Amor como uma criança na literatura erótico-galante (depois de propor, de início, que isso se dava apenas porque “nenhum amor dura tanto que chegue a ser velho”23). Diz ele: Pinta-se o amor sempre menino, porque, ainda que passe dos sete anos, como o de Jacó, nunca chega à idade de uso de razão. Usar de razão e amar, são duas coisas que não se ajuntam. A alma de um menino que vem a ser? Uma vontade com afetos, e um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar.24 Diz ainda: (...)tudo conquista o amor quando conquista uma alma; porém o primeiro rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade febricitante, que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de tresvariar, se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade que o fumo não cegasse o entendimento. Nunca houve enfermidade no coração que não houvesse fraqueza no juízo.25 De maneira mais direta, para acentuar a relação entre o irracional do amor vulgar e a falta de conhecimento que o preside, afirma: (...)isto, que vulgarmente se chama amor, tem mais partes de ignorância; e quantas partes tem de ignorância, tantas lhe faltam de amor26. O arremate é lapidar: Quem ama porque conhece, é amante; quem ama porque ignora, é néscio. Assim como a ignorância na ofensa diminui o delito, assim no amor diminui o merecimento. Quem ignorando ofendeu, em rigor não é delinquente. Quem ignorando amou, em rigor não é amante.27 22 Idem, p. 174. Sermão do mandato, pregado na Capela Real de Lisboa em 1645, in Sermões (op.cit.), v. III, p. 364. 24 Idem, p. 364-5. 25 Idem, p. 365. 26 Idem, ibidem. 27 Idem, ibidem. 28 Idem, p. 367. 23 Assim, aplicando várias imagens de cruezas e esquivanças galantes contrapostas a lugares comuns platônicos, Vieira propõe que a irracionalidade do amor que desconhece o ser de seu objeto impede a sua existência mesma: (...) amar ignorando não é amar, é não saber.28 Bem entendida, a máxima propõe que a ignorância mais ou menos inevitável na qual o desejo se formula, visto que existe na contingência dos da palavra 239 seres criados, tem de ser reorientada por alguma espécie de ciência do ser, para evitar, assim, a sua dissolução nas formas estéreis e atormentadas do apetite. Ou seja, o desejo deve mover-se segundo um parâmetro ordenado que proporcione a sua consumação na união amorosa que exige o ser. Na direção contrária, a entrega à fermentação fantástica, fantasiosa, da ignorância inevitável do desejo impede o salto para o ser. A fantasia, absolutizada, conduz o desejo a submeter a vontade e a destruir a sua natural orientação para a livre obtenção do bem. Por fim, isto equivaleria à própria destruição do desejo, cuja finalidade última não é desejar, mas ser (“desejar ser”) à imagem do Ser primeiro. Em outros termos, o perigo da representação imaginária do não-ser significa catolicamente -a renúncia – irracional e moralmente má – à comunhão com aquilo cujo maior bem, antes de ser qualquer coisa, antes de ter uma essência particular, é -ser29, e que, a rigor, só é desejável porque verdadeiramente é. Quer dizer, só o amor do que tem realidade e cuja natureza admite a existência é amor real. O amor do que não é não pode ser senão falso amor: (...)os homens não amam aquilo que cuidam que amam. Por quê? Ou porque o que amam não é o que cuidam, ou porque amam o que verdadeiramente não há. Quem estima vidros, cuidando que são diamantes, diamantes, estima, e não vidros; quem ama defeitos, cuidando que são perfeições, perfeições ama, e não defeitos. Cuidais que amais diamantes de firmeza, e amais vidros de fragilidade; cuidais que amais perfeições angélicas, e amais imperfeições humanas. Logo, os homens não amam o que cuidam. Donde também se segue que amam o que verdadeiramente não há, porque amam as coisas, não como são, senão como as imaginam, e o que se imagina e não é, não o há no mundo.30 Ou ainda: Os homens amam muitas coisas, que as não há no mundo. Amam as coisas como as imaginam,e as coisas como eles a imaginam, havê-las-á na imaginação, mas no mundo não as há31. O reconhecimento do real, horizonte que se define na efetiva existência cristã, é condição da realidade do amor. A existência do amor decorre da realidade de seu objeto: só o amor do que é real permite realmente amar; só a incidência da ordem do desejo sobre o Ser que se manifesta sensivelmente no mundo pode significar uma aproximação amorosa do bem desejado. III. Um Mundo de Enganos Até aqui, pelo que ficou dito, o desejo manter-se como busca do Ser que é Deus está em relação com manter-se igualmente no horizonte real do mundo, sem abandonar-se às fantasias irracionais, com seu cortejo de infelicidades. Mas deve ficar claro também que, para Vieira, o Ser buscado pelo desejo não é idêntico ao estado do mundo tal como se configura num determinado momento ou mesmo ao longo de toda a sua história até o presente. O realismo católico de Vieira não poderia ser traduzido por imanentismo. Para não se perder em falsas representações do Ser, o desejo deve evitar tanto o desregramento irreal da fan-tasia como o seu esgotamento no estado particular das coisas do mundo. 240 da palavra 29 Remeto aqui à concepção tomista do Ser divino como ato puro de ser (esse), anterior a qualquer delimitação essencial. A essência divina, nessa concepção, seria seu próprio ser. Gilson, a propósito, diz o seguinte: 0 ato de ser existe e atualmente em si e à parte, na pureza metafísica absoluta daquilo que não tem nada, nem mesmo essência, porque ele é tudo aquilo que se pudesse querer atribuir-lhe. O capítulo intitulado Aquele que é, da Introduction a la philosophie chrétiene, discute particularmente essa questão. 30 Sermão do mandato, in Sermões, v. III, p. 378. 31 Idem, p. 379. Se a fantasia não responde ao desejo de participação no Ser de Deus, porque ignora a sua manifestação viva no real, tampouco o faz o mundo, considerado fora de sua finalidade transcendente. Em primeiro lugar, porque considerado num momento qualquer, o mundo representa sempre um estado decaído, distante da comunhão com Deus, por efeito dos sucessivos enganos da história humana; em segundo, porque o desejo se orienta pelo real para participar da finalidade divina de sua criação. Isto é, o desejo busca em meio aos efeitos o fim pretendido por Deus; logo, não são os estados circunstanciais do mundo, mas o seu movimento providencial que responde ao desejo na-tural, definido de maneira finalista, teleológica. Se a fantasia é uma deformação do desejo à margem do real, os objetos do mundo, sem a Providência, são uma redução do real a sua matéria, uma interrupção do movimento desejante para o Ser. Um e outro – o imaginário fora do mundo e o estado imediato do mundo – têm muito em comum. Trata-se apenas de amplificar a irrelevância frenética das paixões viciosas pessoais até o mais vasto esvaziamento mundano. Cumprir-se o desejo, nessas condições, significa ultrapassar tanto o imaginário vão, como o engano da matéria; tanto o irreal da fantasia, como o infrarreal do mundo. A razão, entendida como discernimento do objeto do desejo, é decisiva para impedir o descolamento da fantasia do real ou o enrijecimento dele na sua matéria. IV. A realidade sacramental 32 O termo anatomia é usado pelo padre Vieira em relação à sua discussão das potências envolvidas no afeto da esperança; tal sentido pareceu-me oportuno aqui. O sermão em que dá destaque ao termo é o do Santíssimo Sacra-mento, de 1669, pregado no Convento da Esperança (ver Sermões, v. IV). Neste ponto, a questão do desejo torna necessária a introdução de uma ordem do real capaz de responder a ele, de acordo com o que se chamou anteriormente de experiência antecipada de seu objeto. Nos seus termos mais gerais, trata-se daquela em que o Ser de Deus se manifesta sensivelmente, no seio das coisas do mundo, portanto, ao mesmo tempo em que preserva a sua substância além de toda precariedade material. A definição dessa ordem do real, na qual se afirma com eficácia a busca da participação no Ser, essência mesma do desejo, gera algumas perguntas inevitáveis. Como Vieira pensa o real que se atualiza no mundo e, concomitantemente, difere dele? E, se há aí, aparentemente, um traço paradoxal, em que o Ser se manifesta no real, mas não se identifica com ele – em que o real se refere ao mundo, mas não se esgota nele nem se reconhece fora da finalidade inscrita nele –, qual “anatomia” da esperança32 o paradoxo revelaria? Para Vieira, o que responde verdadeiramente ao desejo, em seu caminho para a participação no Ser, é natureza própria dele, chamada “sacramental” ou “encoberta”, segundo se pretendesse ressaltar o aspecto litúrgico ou o profético que contempla. No seu âmbito, o Ser divino – que, por princípio, numa perspectiva tomista, está além de toda determinação – quer determinar-se essencialmente para tornar-se objeto possível do desejo humano. E determinarse, aqui, significa “ocultar” sua substância infinita e indivisível nas espécies particulares existentes no mundo. Não concebo nada mais vieiriano que o investimento retórico em torno desses lugares em que convivem miste-riosamente a presença do Ser de Deus e a matéria comum do mundo. da palavra 241 O plano sacramental da invenção de Vieira permite supor pelo menos três instâncias distintas. Uma primeira, em que a acidentalização do Ser encontrase manifesta em todo o universo, dado que este, não sendo autônomo, mas criado, sustentado e dirigido pelo Ser divino, guarda necessariamente em suas múltiplas circunstâncias os “vestígios”33 daquele que o fabricou do nada. O que há nas variações do mundo e da história, e ainda no que nelas falta, está impregnado do Ser que é Causa final delas. Uma segunda instância sacramental destaca o lugar privilegiado dos mistérios litúrgicos para essa presença do Ser sob a capa das espécies do mundo-o da Eucaristia, sobretudo: “o mais alto de todos os mistérios”, “o mais alevantado de todos os sacramentos”, “soberano mistério”34. Uma terceira instância, enfim, está articulada à crença popular ao tempo da Restauração portuguesa, na qual o ocultamento inevitável que sofre o divino quando se apresenta no mundo, opera-se mediante a instituição da figura de um eleito, de um favorito da Providência destinado a atuar decisivamente no desfecho da história hu-mana. Quer dizer, nessa última instância, o Ser buscado pelo desejo toma a forma e o nome de “Encoberto”. Tal ideia do desejado que se encobre se compreende, portanto, quando a comunhão com o Ser de Deus, que o desejo busca, aparece mediada por um intermediário capaz de ajustar o desejo comum do homem à finalidade cristã da história. De maneira direta: o desejo apenas descobre o verdadeiro desejado quando o Ser assinala o que Vieira chama de “Vice-Cristo”35. Aí estão os três passos da via sacramental do desejo, a única que assegura a posse do desejado. Tomados em separado, referem-se a passos bem conheci-dos, seja da ortodoxia (na formulação predominante, mas não exclusiva, do tomismo), seja do sebastianismo da Restauração portuguesa, de que os jesuítas foram insistentes propugnadores.36 Particular de Vieira é apenas o discurso que articula o tema do Encoberto, sem perda da carga que recebe do imaginário nacional da Restauração, a lugares argumentativos exclusivos da ortodoxia católica. A interpretação de seus sermões é, portanto, dependente do exame dos movimentos proporcionados por esse eixo sacramental. V. A via sacramental O primeiro movimento da via sacramental diz respeito ao sacramento da Eucaristia, que fornece também o modelo da ideia contrarreformista de sacramento. Aí, pela presença do Ser divino encoberto sob as espécies materiais do pão e do vinho, há-, de acordo com a ortodoxia católica (que, como é sabido, recusa qualquer concepção de uma presença meramente simbólica), uma “comunhão” do homem com Deus, uma comunicação “abreviada” do Ser.37 Vieira discute não apenas a natureza dessa comunicação, como também as razões para que ela se faça pela via sacramental, isto é, como presença encoberta na matéria. A primeira delas refere-se à ideia de que a presença manifesta do Ser, vista sem a mediação das espécies nas quais se sacramenta, tende paradoxalmente a fazer com que o desejo, dada a imper-feição humana em que se formula, seja dissolvido no plano exclusivamente material dos sentidos. Considerada a ignorância do homem, a vista direta de Deus no mundo traz o risco iminente de o desejo do Ser restringir-se ao âmbito imediato do visível, excluindo dele sua substância e fim.38 242 da palavra 33 Na ortodoxia católica, há analogia entre causa e efeito. O universo criado seria análogo, portanto, ao Criador. A causalidade física (entre os seres criados, portanto) seria um desses vestígios, um elemento analógico do Ser que é Causa. Gilson discute essa questão no capítulo do L’esprit de la philosophie médiévale dedicado às noções de analogia, causalidade e finalidade. Pode-se dizer que o mundo cristão tem um caráter sacramental porque tudo o que nele há se orienta pelo e para o Ser que o cria. 34 São termos empregados no Sermão do Santíssimo Sacramento, pregado em Santa Engrácia, em 1645; in Sermões (op.cit.), v. I, p. 134. 35 O eleito é assim descrito por Vieira no Sermão de ação de graças pelo nascimento do príncipe d. João (palavra de Deus desempenhada), dado como pregado na Bahia, em 1688: O Filho do homem é Cristo; o quase Filho do homem é o quase Cristo, ou Vice-Cristo. De sorte que, assim como o primeiro vigário de Cristo, que é o sumo pontifico, pela jurisdição universal que tem sobre toda a Igreja, se chama Vice-Cristo no império espiritual, assim o segundo vigário do mesmo Cristo, pelo domínio universal que terá sobre todo o mundo, se chamará também no império temporal Vice-Cristo: Quasi Filius hominis. A esse eleito caberá, então, efetivar o paraíso terreal que Vieira identifica como sendo o V Império (após o de assírios, persas, gregos e romanos): E este é o império quinto e último, que se há de levantar depois da extinção do turco, não na pessoa de Cristo imediatamente, senão na de um príncipe seu vigário” (in Sermões, v. XXI, p. 416-7). 36 Sobre a participação jesuítica na elaboração e divulgação do sebastianismo da Restauração há muitos textos importantes. Cito dois muito conhecidos: A literatura autonomista sob os Filipes, de Hernâni Cidade, e A Companhia de Jesus e a restauração de Portugal, de Francisco Rodrigues, publicado no volume VI dos Anais do Ciclo da Restauração de Portugal (Lisboa, Academia Portuguesa de História, 1942). 37 Cristo ao Sacramento tem abreviada e estreitada sua grandeza (Sermão do Santíssimo Sacramen- Para Vieira, se o desejo humano, por um lado, não se pode dar fora de sua condição corpórea, sensível, por outro, se os sentidos forem satisfeitos neles mesmos, romperão a finalidade substancial do desejo. Nessa perspectiva, quando se encobre nas espécies sacramentais, Deus é previdente em relação à natureza dos sentidos, cuja satisfação imediata conduz à limitação do desejo ao próprio campo dos sentidos, abandonando-se o seu encaminha-mento para o Ser. Encobrir-se é a forma eficaz de manter insatisfeito o desejo com a matéria e estado do mundo, a fim de apurá-lo enquanto desejo do Ser39. Assim é que Vieira afirma-: (...) amam os homens mais finamente a Cristo desejado por saudades, do que gozado por vista”40. Ou então: (...)o amor de Cristo desejado por saudades é muito mais eficaz nesta parte, ou mais afetuoso, ou mais impa-ciente, que o mesmo amor de Cristo gozado por vista”41. A expressão “desejo por saudades” deve ser expressamente entendida em relação à propriedade encoberta do Ser no Sacramento: E como a Cristo lhe vai melhor com as nossas saudades que com os nossos olhos, por isso se quis deixar em disfarce de desejado, e não em trajos de visto. Descoberto para os olhos, não; encoberto sim para as saudades.Co-nheça logo a nossa devoção que é fineza, e não implicação do amor de Cristo, o deixar-se invisível naquele mistério (...).42 to, pregado no Convento da Esperança em 1669, in Sermões, v. IV, p. 93). 38 O ensaio que escrevi para o volume O Olhar, da Companhia das Letras, é inteiramente dedicado a essa questão; restrinjo-me, portanto, aqui, à formulação mais conclusiva. 39 Quanto a esta questão, das relações entre o desejo e o encoberto do mistério, dediquei um ensaio particular: 0 mistério eficaz, in Estudos portugueses e africanos, Unicamp, 1987, n. 10. 40 Sermão do Santíssimo Sacramento, de 1645, in Sermões, v. I, p. 175-6. 41 Idem, p. 176. 42 Idem, ibidem. 43 (...) o Sacramento é viático de caminhantes, em que somente se nos dá Cristo enquanto dura a peregrinação e passagem desta vida (Sermão do Santíssimo Sacramento, de 1669, in Sermões, v. IV, p. 93). 44 Idem, p. 101. Além de impedir a satisfação no visível, a eficácia própria da via sacramental multiplica a presença de Deus no meio humano, isto é, torna presente em muitos lugares, ao mesmo tempo, esse “viático de caminhantes”43. É assim que Vieira relaciona a presença multiplicada no Sacramento às muitas estrelas que, à noite, fazem as vezes do sol: Não debalde instituiu Cristo o Divino Sacramento de noite, quando, por uma presença que nos levou da vista nos deixou muitas à fé. Mete-se o sol no ocidente, escurece-se o mundo com as sombras da noite, mas se olhar-mos para o céu, veremos o mesmo sol multiplicado em tantos sóis menores quantas são as estrelas sem número, em que ele substitui a sua ausência, e não só se retrata, mas vive. Assim se ausentou Cristo de nós sem se au-sentar, deixando-se abreviado sim no Sacramento, mas multiplicado em tantas presenças quantas são as hóstias consagradas em que o adoramos e temos realmente conosco.44 A forma encoberta do Sacramento é, pois, duplamente eficaz: uma vez, como maneira de intensificar o desejo pelo que adia ou nega de satisfação aos sentidos; segunda vez, como maneira de disseminar nas espécies sensíveis as presenças reais do Ser único. Uma vez, como afirmação da substância subjacente à matéria; outra vez, como indi-cação das marcas sensíveis e materiais do Ser substancial. Uma vez, para impedir a totalização do desejo na matéria; uma segunda vez, para cumprir a condição sensível de formulação do desejo humano. da palavra 243 O postulado dessa dupla eficácia não compreende o movimento inteiro da via sacramental do desejo, pois, tal como está proposto em Vieira, ele ainda supõe a “comunhão”, essencial ao mistério. O sentido da comunhão com o Ser por meio do Sacramento Eucarístico não se esgota no contato entre o homem e Deus, pois exige ainda a produção de uma particular relação de identidade entre os homens que têm o mesmo desejo de Deus. Num Sermão do Santíssimo Sacramento, dado como tendo sido pregado no ano de 1662, Vieira expõe assim a questão: (...) pergunto: que quer dizer comunhão? O nome comunhão-communio-não é inventado por homens, senão imposto por Deus, e tirado das Escrituras Sagradas em muitos lugares do Testamento Novo.E que quer dizer communio? Quer dizer communis unio: união comum. Assim expli-cam sua etimologia todos os intérpretes. De maneira que dando Cristo nome à Comunhão, não lhe pôs o nome da união particular que temos com ele, senão da união comum que causa entre nós. A união que cada um de nós tem com Cristo no Sacramento é união particular; a união que mediante Cristo temos todos entre nós é união comum, e esta união comum, como efeito principal e ultimadamente pretendido por Cristo, é a que dá o Ser e o nome à Comunhão: communio: communis unio.45 E um pouco mais adiante: Assim como os acidentes sacramentais são composição de muitas coisas unidas em uma, assim, o efeito do Sacramento é união de muitos homens entre si.46 Resulta da via sacramental uma identidade fraternal dos que desejam o mesmo. A comunhão proporciona o reconhecimento de uma substância desejante comum e ordenada para o Ser, e não apenas o contato individual e vertical entre cada homem e Deus. A presença divina encoberta, multiplicada nas espécies sacramentais, descobre o real comum dos desejos humanos, sem o risco do individualmente deli-rado ou institucionalmente decaído. O movimento do desejo, em sua instância eucarística, significa, pois, o reconhecimento decisivo da existência de uma relação analógica essencial entre o Ser único que se encobre nas espécies do Sacramento Eucarístico e a identidade que o desejo comum de participar desse Ser estabelece entre os homens. Em suma, apenas no ser comum do desejo se dá a imagem do Ser que se busca. VI. O Encoberto que vem Reconhecida a identidade comum dos desejos, o movimento seguinte para a efetiva participação dela no Ser implica a sua parturição na figura do Encoberto – um movimento que, em Vieira, tem nuances, mas que em seu aspecto geral é relativo ao desdobramento do desejo de Ser (até aqui revelado em sua dimensão coletiva pelo Sacramento) numa existência particular. Melhor, mais que particular: uma existência correspondente tanto ao desejo comum dos homens como à destinação dele traçada pela Providência. O desejo estabelece um momento de comunhão em torno da presença divina encoberta no Sacramento, mas propõe também, a fim de cumprir-se 244 da palavra 45 Sermão do Santíssimo Sacramento, pregado em Santa Engrácia no ano de 1662, in Sermões, v. XV, p. 282. 46 Idem, p. 286. inteiramente, a indicação de uma forma externa àquela que subjaz a essa comunhão coletiva. Mlehor: forma mais que externa, isto é, capaz de representar essencialmente a comunhão, sem deixar de ser distinta dela. O argumento de Vieira é, portanto, o seguinte: à identificação do desejo comum, segue-se a identificação de uma pessoa, real, única, que possa responder tanto à esperança de participação no Ser, quanto aos desígnios do Ser para suas criaturas. Primeiro, o desejo busca a substância de sua manifestação humana, o que implica a existência de uma coletividade como imagem possível do Ser divino que se busca; em seguida, essa imagem ganha vida autônoma, fora do desejo coletivo, pois, além de lhe ser correlata, deve ser também manifestação da vontade soberana do Ser que está ao fim e além do desejo. O Encoberto concilia, portanto, numa existência humana única, o mais fundo do desejo – a sua substância coletiva – com o ato de eleição divina, ato de escolha amorosa de Deus que a aceita como sua. Ou seja, quando a comunhão entre os homens reconhece o seu desejo essencial do Ser, este gera, nele, o ser capaz de conduzilo ao seu legítimo destino. Assim como Cristo é o encoberto no ventre de Maria – cujo parto é tanto mais esperado quanto mais se aproxima a hora (“quanto o bem desejado está mais vizinho, tanto é maior o desejo”47) –, o Encoberto é o esperado parto do desejo comum. Assim como o Cristo não é simples fruto do desejo de Maria, o Desejado não se confunde com um fruto exclusivo do desejo do homem (o que implicaria recair na tentação irrealista do imaginário). Vieira propõe que, quando a natureza comum desejante se revela, na clareza possível, como imagem do Ser de que se quer participar, ela é fecundada por um ato do Ser capaz de gerar a existência do desejado, até então encoberto. A presença divina na imagem comum toma, então, a forma de um corpo real. Ou, para dizê-lo à Vieira, o desejo precisa sofrer a ausência para chegar ao seu objeto. A esse respeito, dedica algumas páginas de seu belo Sermão de Nossa Senhora do O, de que teria sido palco a Igreja da Ajuda, na Bahia, em 1640. Ao discorrer sobre a natureza do desejo, que nem sempre se desfaz na presença de seu objeto, afirma: (...) a presença, para ser presença, há de ter alguma coisa de ausência48; Um pouco depois, reafirma: (...) a presença, para ser presença, não há de passar a ser íntima, nem há de estar totalmente unida, senão, de algum modo, distante49. A imagem do Ser, unida ao desejo comum, íntima dele, enseja uma queixa semelhante àquela que Vieira figura em Narciso, “com verdadeira razão, em história fabulosa”: 47 Sermão de Nossa Senhora do O, in Sermões, v. VI, p. 119. 48 Idem, p. 121. 49 Idem, p.122 50 Idem, ibidem. O que desejo, tenho-o em mim; e porque o tenho em mim, careço do que tenho. - Pois, que remédio? Votum in amante novum: o remédio é um desejo novo, qual nunca desejou quem amasse. E que desejo é esse? Velle quod amamus abesse: desejar que o que amo se ausente e se aparte de mim.50 da palavra 245 É a mesma queixa da Virgem, com o Cristo no ventre: Carecia do mesmo bem que tinha, porque o tinha dentro em si. Por isso suspirava e desejava com ânsia vê-lo já fora.51 O movimento do desejo para o Ser, portanto, não finda na virtualidade da imagem coletiva que se possa ter dele, mas exige uma manifestação externa ao conjunto dos seres que o desejam. O movimento inicial, discutido em torno do encoberto eucarístico, representa uma internalização coletiva da presença divina, como Vieira o diz de tantas maneiras: (...) dando-nos Cristo sua própria carne no Sacramento, encarnou em todos os homens, que somos nós, os que a comungamos52; (...) unindo-se Cristo por meio de sua carne a cada um de nós, todos como membros seus ficamos um só corpo”53. Já o movimento seguinte significa o desdobramento dessa presença, a partir do desejo comum que ela suscita e sustenta, no nascimento feliz do desejado Encoberto. Tal desdobramento não se pode fazer, contudo, sem um ato fundamental de eleição por parte de Deus. A figura do Encoberto que vem é gerada pela vontade divina que incide sobre a condição da comunhão desejante dos homens. Apenas nesse momento, quando o Encoberto existir na história, está segura a evolução do desejo para o Ser e superado o risco sempre iminente de sua degeneração nas fantasias do não-ser. O Encoberto, só ele, para Vieira, concilia o desejo de todos com a Providência divina: piloto da nau humana a acertar finalmente com o sopro de Deus. 246 da palavra Idem, ibidem. Sermão do mandato, de 1655, in Sermões, v. VII, p. 100. 53 Idem, p. 101. 51 52 Paixão e ciúme: uma abordagem “problemática e aproximativa” de um poema de Safo Adélia Bezerra de Meneses* * Colaboradora voluntária da UNICAMP e orientadora em Pós-graduação na USP. Atua na área de Literatura Comparada e Teoria Literária. 1 “Que isto de método...” – Prefácio de Benedito Nunes a Joaquim Brasil Fontes: Eros, Tecelão de Mitos: A Poesia de Safo de Lesbos. São Paulo, Estação Liberdade, 1991, p. 20. Num inspirado prefácio ao livro Eros, Tecelão de Mitos: a Poesia de Safo de Lesbos”1, Benedito Nunes finaliza seu texto dizendo que “No confronto da distância temporal que as une e separa, a lírica de Safo e a lírica moderna se aclaram mutuamente. Eis até onde vai a interpretação problemática e aproximativa de Safo de Lesbos.” É este o propósito deste ensaio-homenagem ao grande filósofo-crítico literário: um contraponto entre três peças literárias que ressoam a mesma vibração passional: o emblemático poema de Safo “Parece-me igual aos deuses” e duas canções da MPB, a saber “Nervos de Aço”, de Lupicínio Rodrigues, e “Dor de Cotovelo” de Caetano Veloso. Todas sob o denominador comum do ciúme, ingrediente da lírica amorosa de todos os tempos. Isso significaria atenção ao “diálogo cultural” que os autores de diferentes épocas empreendem entre si, levando em conta seus diferentes contextos culturais, com 26 séculos de permeio. Mais do que tudo, pretendo ilustrar, apenas ilustrar uma experiência passional que a lírica registra, apontando um paradigma literário, num arco que se desdobra do século VII a.C. até a contemporaneidade: textos que nos ensinam a dizer o amor, dando forma verbal àquilo que todos nós, humanos, confusamente sentimos e percebemos, mas de uma maneira não articulada e que, sem a poesia, ficaria inexpressa e não perduraria. Aliás, a questão do tempo há de ser colocada, pois se estabelece inevitavelmente uma dialética entre as invariantes do sentimento amoroso e a historicização da paixão, uma vez que, como todo elemento constituidor do humano, a experiência passional é modulada historicamente. Assim não se poderia considerar o amor – e sua expressão — como algo de imutável ao longo dos séculos: tudo que é humano é marcado pelo tempo. Não se vivencia um afeto hoje como na Antiguidade. No entanto, a essa historicidade contrapõe-se da palavra 247 a evidência de invariantes , que atravessam séculos, que cruzam espaços. Esse sentimento que é inexprimível a não ser pela poesia , mudaria, no espaço e no tempo? Mas mesmo com todas as disposições para se respeitar a dimensão histórica, eu me dobro à percepção inequívoca de uma invariante amorosa. Os estudiosos são unânimes em afirmar que a nossa concepção de amor data da lírica trovadoresca. No entanto, no caso dos poemas elencados, a lírica grega do século VII A.C. faz inequivocamente ressoar em nós algo que integra a nossa experiência de humanos do século XXI. Mas antes de entrar nas modulações da paixão atualizada no poema (e fragmentos) de Safo, bem como nas estrofes de “dor de cotovelo” dos nossos compositores da MPB, impõe-se uma questão preliminar, dizendo respeito à própria etimologia da palavra paixão: o pathos grego, que significa sofrimento, é do mesmo radical da passio latina, (de onde se originou passivo, passividade) – indicando algo que se sofre. E se é verdade que pathos designa qualquer emoção da alma (cólera, inveja, alegria, ódio, remorso, piedade, etc), é verdade que o conceito se afunilou, e paixão, nos tempos atuais, passa a designar paixão amorosa, algo que sobrevém, que irrompe, como uma doença. Pathos, assim, é o que se experimenta, por oposição ao que se faz, isto é, tudo o que afeta o corpo ou a alma, no bem e no mal. Põe-se à luz a ligação entre afeto e afetado. Em todo o caso, reitero que vou usar o termo “paixão” na sua acepção moderna, atual; neste momento não vou me debruçar sobre as questões delicadas da historicização do termo “pathos”, um terreno rico (e minado). No entanto, umas rápidas pinceladas se farão necessárias para prosseguirmos: na Poética de Aristóteles, “pathos” enquanto “sofrimento” é o termo para denominar uma das partes do “mythos”, do enredo da tragédia: o sofrimento cruento, que nunca era mostrado em cena aberta; na Retórica , quando discorre longamente sobre as paixões, é da amizade, “Philia”, que Aristóteles tratará, bem como na Ética a Nicômaco, onde o filósofo faz a tocante declaração de que amizade é condição necessária para a felicidade. Mas será com Platão, n´O Banquete, que Eros será apresentado em toda a sua grandeza. O nosso conceito usual de “paixão” seria recoberto por Eros, podendo ser traduzido ora por “amor”, ora por paixão amorosa. N´O Banquete, diz Aristófanes, à guisa de introdução à narrativa do mito do Andrógino: “Com efeito, parece-me os homens absolutamente não terem percebido o poder do amor (Eros) , que se o percebessem, os maiores templos e altares lhe preparariam, e os maiores sacrifícios lhe fariam, não como agora que nada disso há em sua honra, quando mais que tudo deve haver. É ele, com efeito o deus mais amigo do homem, protetor e médico desses males, de cuja cura dependeria sem dúvida a maior felicidade para o gênero humano.” (O Banquete, 65) Mas se é verdade que o amor provê a cura para o mal de existir, nos grandes textos que tratam do amor- paixão, do amor passional, essa coisa que se experimenta é sentida como algo que faz sofrer. Por que sofrimento? Por que essa rima inevitável do amor com dor? 248 da palavra 2 Esse ser “completo” podia ser formado ou de duas metades de sexos diferentes, ou de duas metades do mesmo sexo. 3 As traduções dos fragmentos são de Joaquim Brasil Fontes: Safo de Lesbos. Poemas e Fragmentos. São Paulo, Iluminuras, 2003; a tradução do poema analisado, “Parece-me igual aos deuses” é do livro anterior do mesmo Autor: Eros, Teceláo de Mitos. Sáo Paulo, Estação Liberdade, 1991. Uma primeira resposta nos levaria a algo com que a nossa experiência pessoal inevitavelmente já nos terá feito deparar: a percepção da radical incompletude que nos estigmatiza, impelindo-nos ao encontro com o Outro. E, evidentemente, a sensação da solidão, a nostalgia da Completude. Nostalgia do Um, que é radicalizada – e atualizada em termos de mutilação — nas separações. Foi ela que deu origem aos mitos do Andrógino n´O Banquete de Platão e de Eva tirada da costela de Adão, no Gênesis bíblico: mitos de cepas culturais diferentes, mas no entanto de mesma etiologia. Com efeito, se tomarmos esses dois mitos fundantes de duas civilizações de cuja confluência se originou a nossa civilização: a grega e a judaica, (com a contribuição africana e indígena, no caso específico brasileiro) , veremos que eles tentam dar conta dessa dolorosa percepção ligada à nossa experiência do amor. Vejamos o mito do Andrógino: o ser humano foi criado por Zeus como duas metades acopladas2, e estava se tornando muito forte: isso preocupou os deuses, que, para fragilizar essa criatura – repito: para enfraquecê-la – resolveram dividi-la em duas metades – que hão de procurar-se, o resto da vida, inapelavelmente.... Essa mesma ideia será encontrada no seio de uma outra civilização, como já disse, na narrativa mítica da Criação no Gênesis bíblico, em que Eva foi tirada da costela de Adão. Em ambos os casos, alude-se à ruptura de uma unidade primordial e suas dolorosas consequências. Se a Filosofia e também nos nossos tempos a Psicanálise tentam dar respostas – lógicas, racionais – a questões fundamentais do humano no nível do pensamento racional, da razão, o que faz o mito? O mito conta uma história, uma narrativa em que essas questões fundamentais são colocadas– a saber, a incompletude que experimentamos, a dor mutilante nas rupturas afetivas, a percepção da falha, da falta, da carência: isso tudo é figurado numa narrativa, constela-se num mito. Reitero: tanto o mito grego do Andrógino, quanto o bíblico de Adão e Eva são criados a partir de uma vivência humana, e de uma perplexidade: a dor da incompletude. Mitos criados a partir da experiência da fugaz percepção de completude que as relações amorosas propiciam, infinitas enquanto duram. A paixão é flagrada sempre em momentos de clivagem; está sempre no registro da dor, e não no registro da alegria. Paixão, desde a etimologia, reitero, está ligada a sofrimento. Será por isso que encontramos, num dos fragmentos de Safo: “os que são meu bem-querer, esses me trazem dores” (Fragmento 75) ?3 Ou ainda, no mesmo diapasão, no fragmento 60: “a minha dor ,que flui gota a gota” Dor e sofrimento modulados o mais das vezes como solidão, como a que Safo expressa numa tocante simplicidade, em versos que conjugam o “estar da palavra 249 sozinha” (literalmente: “mas eu só”: ego de mona) com a passagem implacável do tempo, um tempo mensurado pelo movimento dos astros: “A lua já se pôs, as Plêiades também; É meia noite; A hora passa, e estou deitada, sozinha (Fragmento 31) Daí, como consequência, a espera, a busca amorosa (desde as perguntas insofridas que pontuam o Cântico dos Cânticos4, passando – pinçados ao acaso — pela indagação anelante da poesia trovadoresca5, pelo Leito de Folhas Verdes6 de Gonçalves Dias até Ronda de Paulo Vanzolini7): é esta uma invariante da lírica amorosa de todos os tempos. Nos textos a seguir, o poema “Parece-me igual aos deuses” e em canções da MPB, de Lupicínio Rodrigues e Caetano Veloso, flagra-se a dor da perda do amor, ou da iminência da perda , numa situação em que o ser que nos completaria desvia seu olhar para um outro objeto amoroso: está instalada a situação de ciúme. De Otelo a Dom Casmurro, de Medéia a Camões e às canções de dó de peito e de “dor de cotovelo” da canção popular, esse é um topos da Literatura. E pelo conhecimento que se tem da Lírica Ocidental (na medida em que se pode chamar de “ocidental” o que é grego), pode-se com tranquilidade dizer que temos na poeta de Lesbos uma de suas mais intensas manifestações. Vamos ao poema, um dos textos de Safo que nos restaram praticamente completos — pois na realidade falta uma estrofe final, encabeçada por um “mas” — o que,por sinal, nos deixa suspendidos, à beira do mistério: “Parece-me igual aos deuses ser aquele homem que, à tua frente sentado, de perto, doces palavras, inclinando o rosto, escuta, e quando te ris, provocando o desejo: isso, eu juro, me faz com pavor bater o coração no peito; eu te vejo um instante apenas e as palavras todas me abandonam; a língua se parte; debaixo da minha pele, no mesmo instante, corre um fogo sutil; meus olhos não vêem; zumbem meus ouvidos; um frio suor me recobre, um frêmito se apodera do corpo todo, mais verde que as ervas eu fico; e que já estou morta, parece Mas ... “ (Trad. Joaquim Brasil Fontes).8 Esse famosíssimo poema tornou-se já na Antiguidade não apenas um topos literário do apaixonamento, mas um clichê da sintomatologia da paixão, 250 da palavra 4 “ Em meu leito, pela noite/procurei o amado da minha alma,/ Procurei-o e não o encontrei!/Vou levantar-me/ vou rondar pela cidade,/pelas ruas, pelas praças, /procurando o amado da minha alma.../ Procurei-o e não o encontrei! [...]/ Vistes o amado da minha alma?” (Cântico dos Cânticos, 3, 1-4) 5 Ai flores, ai flores do verde ramo,/ Se sabedes novas do meu amado?/ Ai, Deus, e u é? 6 Por que tardas, Jatir que tanto a custo ...” 7 “De noite, eu rondo a cidade, a te procurar, sem encontrar...” 8 V. Joaquim Brasil Fontes: Eros, Tecelão de Mitos. (A Poesia de Safo de Lesbos). São Paulo. Estação Liberdade, 1991.pág. 148 ss. 9 Idem, ibidem. Op. Cit., p. 148. 10 Emil Staiger: Conceitos Fundamentais da Poética. Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1993, p. 62 ss. Agradeço essa indicação a Marcus Vinicius Mazzari. 11 Otto Maria Carpeaux: História da Literatura Ocidental, vol. I .Brasília, Edições do Senado Federal, 3ª. Ed., 2008, p. 56.. como diz Joaquim Brasil Fontes. Há um texto de Plutarco, refere ele, em que são descritas as reações de um rapaz quando ele encontra uma mulher e , diz Plutarco, nesse homem podiam ser encontrados “todos aqueles sinais que Safo nos descreve em suas obras.”9 O estado de apaixonamento e sua conturbação revela-se no corpo, marcao profundamente, sensorialmente. A emoção é percebida no nível corporal: o coração bate com pavor, a cor muda, os sentidos comparecem na sua quase totalidade. Com efeito, 4 dos 5 sentidos são violentamente convocados e atingidos, como que desatinando: o sentido do gosto (a língua se parte), o sentido do tato (o fogo sutil sob a pele; o frio suor), a visão (os olhos não vêem): a audição (os ouvidos zumbem). O único sentido que não aparece explicitamente é o olfato. E finalmente, o corpo na sua totalidade é atingido: “um frêmito se apodera do corpo todo”, vem a palidez (verde como as ervas) e o símile é a morte. Staiger, ao falar da lírica, transcreve esse poema em seu Conceitos Fundamentais da Poética, como um exemplo insuperável de sensações ou sentimentos que são realidade corpórea, ratificando, diz ele, a sentença de Schleiermacher: “ser alma quer dizer ter corpo10”. Efetivamente, aqui é o corpo, sede da emoção, o lócus da dor, do sofrimento. Não há uma “análise psicológica” em pauta: há um sofrimento, um pathos , uma emoção intensa que é exteriorizada no corpo. Emoção: etimologicamente, emoção pressupõe movimento: de exmovere = mover a partir de. Não por acaso, Otto Maria Carpeaux11, para quem “A Expressão de paixões violentas parecia aos antigos a verdadeira tarefa da poesia lírica” , fala de uma verdadeira “psicofisiologia erótica” desses versos. Efetivamente, a paixão aí se mostra na sua violência, através dos efeitos corporais que provoca. Estamos de tal maneira no plano físico que o “coração” que aparece é, no original grego, “cardia”, e não o termo “frenes” (traduzido no mais das vezes como “espírito”, ou “alma”, ou coração mesmo, mas enquanto sede de sentimentos); aqui se trata do coração fisiológico, aquele que bate no peito, e de que se ocupam os cardiologistas. E tudo isso, provocado pela visão, por parte do eu lírico, da amada dando atenção a um outro: ciúme. Está instaurada a situação clássica, um triângulo amoroso. Ou: um triângulo supostamente amoroso, em que uma das personagens deduz dos gestos das outras duas, uma ameaça (real?) de perda amorosa. Pois nesse poema nada é interpretado das personagens, nada é narrado, só descrito. E aqui, tem-se que dar razão aos helenistas que, unanimemente, falam da ausência de análise psicológica na poesia grega. Mostra-se uma cena, um “clima” entre duas personagens, um homem e uma mulher; e alude-se a uma terceira, espectadora, que é o eu lírico, por detrás de quem estaria Safo de Lesbos. Uma cena, sua espectadora, e mais todas as suas consequências: um vórtice. Há um outro poema de Safo, ou melhor, um fragmento de poema que se pode dizer que daria conta de explicitar o potencial devastador dessa cena; nesse fragmento (No. 62) nomeia-se o medo, a possibilidade virtual a que essa cena alude: da palavra 251 “Tu me lançaste no esquecimento [ ] ou existe outro homem que a mim tu preferes?” Mas aqui, nada se nomeia; apenas se mostra. Toda essa emoção intensamente corporal, no poema de Safo, é provocada por gestos corporais; tudo é desencadeado pelo fato de um homem sentar-se à frente do ser que é objeto da paixão do eu lírico, numa situação de proximidade e de intimidade; apenas: sentar-se próximo, inclinar o rosto, e escutar. Não se sabe quais as palavras que ele escuta; seriam “doces” pelo efeito que causam. E também, da parte da outra protagonista da cena, somente os signos corporais, os signos da gestualidade estão presentes. Náo se está às voltas com o que pensa, diz ou sente esse homem; nem com o que diz ou pensa a jovem com quem ele contracena; mas registra-se o efeito devastador que a sua presença provoca numa terceira personagem, que vem a ser o eu lírico. Gestualidade corporal do homem , e, do lado da amada de Safo (ou melhor, do objeto dos cuidados do eu lírico), além das “doces palavras” aludidas, também um gesto corporal: o sorriso. “E quando te ris, provocando o desejo” No mundo grego, o sorriso é um atributo fundamental de Afrodite, a deusa do amor. No “Hino Homérico a Afrodite”, como diz Joaquim Brasil Fontes, ela recebe o epíteto de “Philomeidés”12,) a “amiga dos sorrisos”, ou “aquela que ama o sorriso” – num contexto, entretanto, em que a deusa é descrita como “Senhora das Feras”, seguida por um cortejo de lobos, panteras e leões. Ela atiça o desejo no coração dos animais, instigando-os a se acasalarem13, numa manifestação poderosa de sua ação, que submete os humanos, os animais e os deuses. É um poder que encontra seu símile na natureza: “Como o vento que se abate sobre os carvalhos na montanha, Eros me trespassa”, (Fr. 17) diz um outro fragmento de Safo. Mas volto ao Hino Homérico, que nos provê de ricas informações sobre Afrodite, a deusa de quem Safo, especificamente, é a “Servidora” (“Tu e Eros, meu Servidor”, diz Afrodite dirigindo-se a Safo, em versos registrados por Máximo de Tiro14); aqui a deusa aparece não apenas em todo o seu esplendor (sua beleza, seus adereços são descritos pormenorizadamente), mas também como a senhora da Persuasão15 (Peithô), aquela que dispõe de palavras persuasivas . Assim, temos com Afrodite a sedução pelo sorriso, a que vem se somar a sedução pela palavra – o que leva a redimensionar as “doces palavras”16 que a jovem dirige ao rapaz “semelhante a um deus”. É interessante observar-se que o desejo provocado pelo riso atinge não somente o rapaz, a quem evidentemente o sorriso é dirigido, mas também atinge a espectadora da cena. E o efeito é devastador, semelhante àquele que se encontra no Fragmento 18: 252 da palavra 12 Hino Homérico a Afrodite, v. 17; v.65. 13 Cf Joaquim Brasil Fontes: Eros Tecelao de Mitos, Op. Cit. p. 138. 14 Máximo de Tiro, Dissertações, 18, 19. Apud Joaquim Brasil Fontes: Poemas e Fragmentos.Safo de Lesbos. São Paulo, Iluminuras, 2003, p.49. 15 “Sappho diz que a Persuasão é filha de Afrodite” . (Escoliasta de Hesiodus, 74) Apud Joaquim Brasil Fontes op. Cit, p. 176. 16 “Sappho diz que a Persuasão é filha de Afrodite” . (Escoliasta de Hesiodus, 74) Apud Joaquim Brasil Fontes op. Cit, p. 176. “] de novo, Eros me arrebata, Ele, que põe quebrantos no corpo, Dociamaro, invencível serpente” A caracterização de Eros como aquele que “põe quebrantos no corpo”, tem uma tradição consagrada no mundo grego, como se pode verificar na Teogonia de Hesíodo, em que fica registrada a força poderosa do deus Amor, que atua no corpo e no espírito: “... Eros, o mais belo dentre os deuses imortais, que amolece os membros e, no peito de todos os deuses e de todos os homens, domina o espírito e a vontade ponderada.” Efetivamente, o Amor aí, seja figurado como Eros, ou como Afrodite, é uma força externa, invencível, mas que pouco tem a ver com a interioridade da pessoa.É por isso que o Coro da tragédia Fedra assim se pronunciará: “Amor, amor, que instilas pelos olhos o desejo e volúpias infundes n’alma daqueles a quem dás combate, Oxalá nunca Te reveles a mim com a desdita, Nem me ataques além de minhas forças. Dardos não têm o fogo e os astros Iguais aos que dos braços de Afrodite Desfere Amor, filho de Zeus. E essa força é “doce e amarga” (glykýpikron), como vimos também no fr. 18 – uma figuração do caráter contraditório do amor. É assim que na tragédia Hipólito, de Eurípides, Fedra , essa grande figura passional da Literatura grega, apaixonada pelo enteado Hipólito, filho de seu marido Teseu, tem com a ama um diálogo revelador: — Fedra: Na linguagem dos homens, o que é amor? — Ama: “tudo o que há de mais doce e mais amargo”. Continuemos a leitura do poema,: na terceira e na quarta estrofes, recortam-se outras imagens paradigmáticas para se dizer a paixão: “... debaixo da minha pele, No mesmo instante, corre um fogo sutil [...]. Um frio suor me recobre... As figuras contrastantes , do fogo e da água , do calor e do frio nos remetem — mesmo fora de um quadro de ciúme — aos paradoxos do sentimento da palavra 253 amoroso –— que, 10 séculos depois de Safo, encontrarão guarida num dos mais belos sonetos de Camões, tecido de antíteses e paradoxos: Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer Nesse quadro de realidades paradoxais é que também se estriba a comparação com o fogo (símbolo do amor e da libido), pela polaridade de seus efeitos: fonte de vida e de calor, de um lado (que o digam os povos do frio!) e de morte e destruição, de outro; aquece e queima. E paradoxalmente, o fogo do amor é acalmado pela presença do ser amado, como diz o fragmento 58 de Safo: “Vieste: eu te aguardava e me trazes a paz, quando eu queimava de amor” Vamos ao final do poema: “e que já estou morta, Parece Mas...” Essa adversativa final nos deixa ... à beira do abismo. Já se falou que seria preciso incorporar a fragmentação, a incompletude, à nossa percepção dos poemas de Safo. Um poema é, séculos depois, ele próprio e tudo aquilo que o tempo aí agregou (ou desagregou) 17. Nesse caso, são as incompletudes que, paradoxalmente, se agregam ao corpo do texto, dando-lhe uma nova dimensão, abrindo-o para o inconcluso, para o não definitivo – como é o conhecimento tateante que temos das coisas. Mas volto à ideia de morte com que finaliza esse poema passional. A sensação de já estar morta comparece em outro fragmento de Safo, o de No. 9: “não sinto mais o gozo deste mundo ... E um desejo da morte” Apaixonados de todos os tempos já sentiram assim, poderão sentir isso, e assim se expressam. *** Vamos então dar um pulo de séculos e aterrizar na década de 30 do século passado, numa canção paradigmática da MPB, “Nervos de Aço”18 de Lupicínio Rodrigues. Composta em 1936, não por acaso ela acaba com essa mesma imagem de desejo de morte do Fragmento no. 9 de Safo: “Você sabe o que é ter um amor Meu senhor? 254 da palavra 17 Importa observar que este é um dos poemas de Safo que nos restaram mais completos. 18 Uma vez que a melodia é também produtora de significados, eu gostaria de apelar agora para a memória musical do leitor, que certamente terá na sua bagagem cultural de brasileiro os acordes dessa extraordinária canção da MPB. Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor Meu senhor Nos braços de um outro qualquer? Você sabe o que é ter um amor Meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do seu pode ser? Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias E sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhe venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor”. Essa canção de Lupicínio Rodrigues, que interpela diretamente o leitor, colocando-o dentro da canção: “Você sabe o que é ter um amor / Meu senhor” retoma os tópoi da crise amorosa provocada pelo ciúme. Também aqui se trata de uma cena que foi flagrada: a amada nos braços de um outro. O autor poupa seu ouvinte/leitor da descrição de sua “reação”. Mas já se esboça aqui – afinal, estamos em pleno século XX! – uma análise que poderíamos chamar de psicológica, e que vai além da descrição das sensações, tentando esquadrinhar os sentimentos: Eu não sei se o que trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror 19 Cf Tarik de Souza (org) : O Som do Pasquim – Entrevistas com Compositores, 2ª. Ed., Rio de Janeiro, Desiderata, 2009, p. 98. Aqui também se desdobra uma triangulação amorosa, em que o eu lírico, ao mesmo tempo que atualiza a sede de completude que o marca, tem a percepção da perda do único ser que o completaria. Daí, o “desejo de morte ou de dor”, ecoando a mesma imagem – que atravessa séculos — do final do poema de Safo (bem como do Fr. 9), como vimos. Embora não seja necessária para a interpretação que venho empreendendo, creio que lhe daria mais colorido uma informação biográfica fornecida pelo próprio compositor: o fato de que essa mulher que foi objeto de “loucura”do eu lírico tenha tido um referente na vida real , existia em carne e osso, e chamavase Iná: “A Iná foi a primeira mulher que eu tive. E a primeira desilusão.”—diz Lupicínio numa entrevista ao Pasquim19, em 1973. Conta o compositor que essa mulher, com quem foi casado por 6 anos, e de quem se separou porque ela intentou traí-lo, é a inspiradora de Nervos de Aco e é “a Iná de muitas músicas”. É interessante aqui também fazer o paralelo com Safo, cuja fortuna literária se confunde com a sua biografia lendária: o que sabemos dela é aquilo da palavra 255 que se pode deduzir de seus poemas e fragmentos de poema (alguns, referidos indiretamente, por outros autores da Antiguidade, como, por sinal, esse poema de que estamos tratando, preservado na íntegra por Longino); e confunde-se o tempo todo o chamado “eu lírico”com a Poeta, deduzindo-se, a partir de seus poemas, sua vida amorosa. *** Mas, continuemos: quase 28 séculos depois ( Safo viveu por volta de 612 A.C.), no registro da contemporaneidade, temos, entre mil outros exemplos, na MPB, a canção “Dor de Cotovelo”, de Caetano Veloso .20: O ciúme dói nos cotovelos Na raiz dos cabelos Gela a sola dos pés Faz os músculos ficarem moles E o estômago vão / e sem fome. Dói da flor da pele ao pó do osso Rói do cóccix até o pescoço Acende uma luz branca em seu umbigo Você ama o inimigo E se torna inimigo do amor O ciúme dói do leito à margem Dói pra fora na paisagem Arde ao sol do fim do dia Corre pelas veias na ramagem Atravessa a voz e a melodia Da raiz dos cabelos à sola dos pés, da flor da pele ao pó do osso, de um cotovelo a outro, do cóccix até o pescoço21: imagens da totalidade para se pensar um corpo humano totalmente invadido por um sentimento. E o sinal do perigo está no centro (centro do corpo/ centro exato do poema, verso 8): “acende uma luz branca em seu umbigo”. Dividido exatamente em duas partes, os 7 primeiros versos dizem da extensão totalizadora dos estragos que o ciúme provoca no ser humano, corporalmente considerado, tomando o corpo no seu eixo vertical (dos pés à cabeça, ou melhor, do cóccix ao pescoço), e no seu eixo horizontal (de um cotovelo a outro); na sua superfície (sola dos pés, raiz dos cabelos) e no seu interior (osso, estômago):o corpo está totalmente ocupado, totalmente perpassado pela emoção. Depois do verso central, “acende uma luz branca em seu umbigo”, a segunda parte da canção se divide: primeiramente, dois versos que, semelhantemente ao que se passara com a canção de Lupicínio Rodrigues, esboçam uma introversão psicológica: Você ama o inimigo E se torna inimigo do amor 256 da palavra 20 Uma vez que a melodia também é produtora de significado, eu gostaria de — aqui como na canção anterior, de Lupicínio Rodrigues — apelar para a memória musical do leitor, confiante de que ambas as canções já integram seu patrimônio cultural musical de brasileiro. 21 “Do cóccix até o pescoço”: essa expressão, pela sua contundência e expressividade, tornou-se o nome de um show de Elza Soares, no Rio de Janeiro. Caetano Veloso aí avança, em relação a Lupicínio, em complexidade e sutileza, naquilo que diz respeito a uma análise de sentimentos, que a antiga lírica grega não expressaria. Na sua formulaçao condensada, esses versos 9 e 10 talvez revelem mais sobre a natureza do ciúme do que sonha a nossa vã filosofia. Mas na sequência, os versos finais da canção nos apresentam o ciúme se espraiando pela Natureza externa ao homem, literalmente: “dói pra fora na paisagem”. E em detalhes: “ dói do leito à margem”, “arde ao sol do fim do dia”, “corre pelas veias na ramagem”. Estamos em pleno universo da analogia; e será inevitável que, com o filósofo Giambatista Vico, a gente veja aí uma “transposição do corpo humano e das humanas paixões”22 sobre a realidade circundante, sobre a paisagem. A imagem de um rio em que o ciúme dói “do leito à margem”, figura um total abarcar; a do sol que arde ao fim do dia metaforiza o ardor da paixão ; e a das veias na ramagem mostra o sistema venoso do ser humano duplicado nas formações arbóreas e na estrutura das plantas. Aliás, é através dessa alusão ao sistema circulatório que o “coração” (nomeado literalmente nos textos de Safo e de Lupicínio) se faz presente nesta canção de Caetano Veloso. Em suma: o corpo humano aí comunga com uma dimensão cósmica, de que plantas, árvores, rios e astros participam. E a ação mais reiterada do ciúme se desvenda pelo martelar dos verbos mais presentes: dói, dói, rói, dói... Mas ao final da canção, há ainda um outro universo que é atingido pelo ciúme: o universo da poesia, mais especificamente aquele que articula “voz” e “melodia”, o mundo da canção: “Atravessa a voz e a melodia”. Efetivamente, o Poeta e Eros são servidores de Afrodite23. E assim, finalizo essa tentativa de “interpretação problemática e aproximativa de Safo de Lesbos”, retomando e reiterando o pensamento de Benedito Nunes, com que iniciei este texto: “No confronto da distância temporal que as une e separa, a lírica de Safo e a lírica moderna se aclaram mutuamente.”24 22 Cf Giambatista Vico: Princípios de uma Ciência Nova. 23 Cf Fr. 15, em que, como refere Joaquim Brasil Fontes, Máximo de Tiro registra que numa das canções de Safo, Afrodite se dirige à poeta , dizendo: “Tu e Eros, meu servidor”. 24 “Que isto de método...” – Prefácio de Benedito Nunes a Joaquim Brasil Fontes: Eros, Tecelão de Mitos: A Poesia de Safo de Lesbos. São Paulo, Estação Liberdade, 1991, p. 20. da palavra 257 258 da palavra Drummond e o Livro Inútil1 * Professor titular da USP – Universidade de São Paulo. Atua na área de Estudos Comparados de Literatura de Língua Portuguesa. 1 Texto publicado em Letterature d’America. Direção de Ettore Finazzi-Agrò. Roma, Facoltà di Scienze Umanistiche dell’ Università di Roma “La Sapienza”, 2005, v. 107, p. 69-98I 2 Confissões de Minas publica textos de gêneros variados escritos desde 1932,: crônicas escritas como ensaios críticos ( “Três Poetas Românticos”, “Mauriac e Teresa Desqueyroux” etc.); crítica artística, crítica política e notícia histórica (“ Morte de Federico Garcia Lorca”, “Viagem de Sabará” etc.); memória dos anos da formação do autor em Belo Horizonte e dos iniciais de sua vida no Rio (“Na Rua, com os Homens”; “Estive em Casa de Candinho” etc.). Também traz textos escritos como crônicas narrativas, quase ficcionais, de vidas compostas como retratos (“Lembrome de um Padre” etc.); e, ainda, peças pequenas, difíceis de classificar, postas entre a teoria da escrita, a invenção poética em prosa e o diário (“Caderno de Notas”) etc. Cf. Confissões de Minas. In Obra Completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1964. 3 Vale totalmente para a prática do Drummond prosador de Confissões de Minas o que afirma sobre poesia: “Entendo que poesia é negócio de grande responsabilidade, e não considero honesto rotular-se de poeta quem apenas verseje por dor de cotovelo falta de dinheiro ou momentânea tomada de contato com as forças líricas do mundo, sem se entregar aos trabalhos cotidianos da técnica, da leitura, da contemplação e mesmo da ação. Até os poetas se armam, e um poeta desarmado é, mesmo, um ser à mercê de inspirações fáceis, dócil às modas e compromissos. Infelizmente, exige-se pouco do nosso poeta; menos do que se reclama ao pintor, ao músico, ao romancista...” Drummond. “Autobiografia para uma Revista”. Confissões de Minas ( Na Rua com os Homens) ed.cit. p. 530 João Adolfo Hansen* Para o caríssimo Benedito Nunes, grande leitor com quem aprendi a ler Guimarães Rosa, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e o mais que há pra ler nesse nosso vasto mundo. “La littérature, d’accord en cela avec la faim,consiste à supprimer le Monsieur qui reste en l’écrivant ». Mallarmé Na nota introdutória de seu primeiro livro de prosa, Confissões de Minas (1944), Drummond expõe a ética utópica de seu estilo2. Data a nota de agosto de 1943, “depois da batalha de Stalingrado e da queda de Mussolini”, propondo os eventos como balizas negativas do “exame da conduta literária diante da vida”. Afirmando que “Não há muitos prosadores, entre nós, que tenham consciência do tempo, e saibam transformá-lo em matéria literária”, declara que não desdenha a prosa e que a respeita a ponto de furtar-se a cultivá-la. Define-a como “linguagem de todos os instantes”; pelo avesso, a definição permite ver que não pensa a poesia como “linguagem de todos os instantes”, pois implica outros processos e fins. Drummond postula que há uma necessidade humana de que não só se faça boa prosa, “(...) mas também de que nela se incorpore o tempo, e com isto se salve esse último”3. Frequentemente, a literatura é escrita à margem do tempo ou contra ele, por inépcia, por covardia, por cálculo. Não basta usar as palavras “cultura” e “justiça” para incorporar e redimir o tempo, mas é preciso “(...) contribuir com tudo (...) de bom para que essas palavras assumam o seu conteúdo verdadeiro ou então sejam varridas do dicionário”. Não há temas maiores ou da palavra 259 menores; todos estão no presente, divididos pelas mesmas contradições históricas: “Este livro começa em 1932, quando Hitler era candidato (derrotado) a presidente da república e termina em 1943, com o mundo submetido a um processo de transformação pelo fogo”. Nesse mundo, os escritores têm que se confessar mais determinados quanto aos problemas fundamentais do indivíduo e da coletividade, examinando com rigor as matérias da escrita para atuar criticamente nos processos inventivos que as transformam, separando o que merece durar como “conteúdo verdadeiro”. O preceito implica não aceitar as coisas como se apresentam, mas regredir ao pressuposto delas para evidenciar sua particularidade e explicitar seus encadeamentos em teias microscópicas de causa-efeito que permanecem impensadas para seus agentes, enredando-os em petrificações vividas como natureza. Segundo Drummond, o escritor deve classificá-las e destruí-las no comentário leve da crônica, na estranheza da ficção, na mescla tragicômica da poesia, dissolvendo a inércia de injustiças que se tornaram hábitos, de superstições vividas como civilização, de provincianismos com pretensão a universalidade, de “conteúdos verdadeiros” que se naturalizaram como opressão. Como em Mallarmé, a Beatriz que lhe orienta a ética do estilo é a destruição. A transformação do mundo pelo fogo evidencia que a liberdade livre da invenção que se apropria das representações divididas da memória coletiva é apenas parcial e contingente. Recusando a omissão da arte pela arte e a obediência a palavras de ordem partidária, é parcial e não pode ceder à inércia do passado, como se a história depositada nas matérias fosse história de mortos. Ao contrário, deve transformá-las como história de vivos, buscando as formas possíveis de um futuro em que as palavras “justiça” e “cultura” não serão só palavras. Um texto de Confissões de Minas, “O Livro Inútil”, figura essa ética utópica. Hoje, quando essa ética está esquecida e arquivada no conformismo da nossa desesperança pós-utópica, provavelmente o texto é ilegível. Ou talvez só legível como fóssil que documenta as disposições modernas que a poesia de Drummond passou a intensificar principalmente depois de Sentimento do Mundo, escrito entre 1935 e 1940: “Escrever um livro inútil, que não conduzisse a nenhum caminho e não encerrasse nenhuma experiência; livro sem direção como sem motivação; livro disfarçado entre mil, e tão vazio e tão cheio de coisas (as quais ninguém jamais classificaria, falto de critério) que pudesse ser considerado, ao mesmo tempo, escrito e não escrito, sempre foi um dos meus secretos desejos. Os dias passaram sobre esse projeto e não o fizeram mais nítido; ambições mais diretas me agitaram; nunca soube quando chegaria o tempo desse livro, e nunca senti em mim a plenitude insuportável da maturação; será hoje? Se me disponho a escrevê-lo (o livro inútil) é porque já está feito...O mesmo seria dizer que minha vida está acabada. Quando me sinto capaz de nascer nesse escasso momento e olhar com olhos ingênuos essa janela que se insere entre mim e a paisagem; ou aquela porta, que esconde um gato; ou o céu, 260 da palavra onde passam aeroplanos postais. O homem acabado, o livro acabado são fórmulas; o homem que continua, o livro que continua, e, sobretudo, o leitor que continua estão insinuando como é audacioso esse projeto e como é difícil ‘pintar a passagem’, com o pincel que foge da minha mão, com a mão que se desprega do braço e navega por conta própria, sobre a crista móbil da onda, da onda que, por sua vez ...” 4. “O Livro Inútil” é ficção teórica de um livro autonomizado de toda determinação. Põe em cena a dualidade característica da grande arte moderna lembrada por Deleuze: faz uma teoria da sensibilidade, como forma da experiência individual possível, e uma teoria da arte, como reflexão da experiência social real. As duas teorizações correm paralelas sem unir-se, pois Drummond sabe que as condições individuais da experiência artística não são as condições da experiência social real5. A dissimetria de sensibilidade e razão, de possível e real que escande “O Livro Inútil” é o núcleo da forma da poesia e da prosa que passa a escrever a partir de Confissões de Minas. Nela, o corpo, sempre determinado pela fratura do sujeito e condicionado pela divisão de classe, dissolve-se em afetos divergentes, nunca sublimados nem sublimes. Distanciamento da ironia, que nega a brutalidade da história, e imersão no humor, que afirma a solidariedade com o sofrimento, a dissimetria mescla revolta, recusa, angústia e resignação. Na leitura de Drummond, é difícil apreender ou definir essa experiência como uma unidade, pois se repete prismaticamente como ressonância de timbres nos modos muito variados da extrema condensação dos poemas, aparecendo na prosa de maneira menos condensada, mas não menos insistente. Seria inútil, por isso, comparar a prosa e a poesia de Drummond só para afirmar a superioridade de uma delas. Em ambas atua a mesma negatividade com o mesmo sentido moderno, mas com intensidades e significações diferentes, específicas das duas. “O Livro Inútil” faz a teoria da sensibilidade e da arte. Significa o que não se deve fazer no momento; também o que se quer fazer, mas que ainda não é possível. Escrever o livro inútil é impossível, pois seria repetição que afirmaria a memória frustrada da experiência histórica. Se fosse possível escrevê-lo, a linguagem o faria cheio de coisas ausentes, mas seria vazio de experiência, porque acumularia experiências arruinadas sem nenhum caminho; talvez tivesse sentido completo, mas isso não teria sentido, pois não teria direção material futura. O livro inútil significaria a “plenitude insuportável da maturação”: não só a posse perfeita da técnica, mas a posse total do tempo, como se o escritor estivesse fora dele, pois já estaria completado. Em sua plenitude de abolido bibelô sonoro, o livro já estaria acabado, escrito antes de ser escrito. Assim, afirmaria que o presente do ato da sua escrita seria eterno, pois a história teria acabado nele. Toda imagem de futuro estaria bloqueada ou já incluída e antecipadamente domada nele, pois seu texto seria o do tempo de uma memória repetida e repetível como o tempo morto de um arquivo total da experiência acabada: “Se me disponho a escrevêlo é porque já está feito... O mesmo seria dizer que minha vida está acabada”. 4 Drummond. Confissões de Minas (Caderno de Notas) ed. cit. p.585. 5 Deleuze, Gilles. Lógica do Sentido. Trad. de Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo, Perspectiva, 1974, pp.265-266 (Estudos, 35). Como a vida felizmente não está acabada, o “livro inútil” significa outra coisa, fundamental. Por exemplo, significa o estilo. Se fosse possível escrevê-lo, o estilo do “livro inútil” seria o de uma vida acabada, por isso mesmo estilo que fixaria numa fórmula estática o dinamismo do pensamento dividido que, no presente, passa de um motivo contraditório a outros motivos contraditórios dos da palavra 261 temas, fazendo alusões parciais aos possíveis do futuro. Drummond afirma que o estilo é justamente a negação da completude da memória na experiência do presente, pois figura a razão dividida que analisa sua própria falta de ser e unidade nas formas incompletas ou contingentes do devir da sensação, realizando a experiência de dissolução própria da grande arte moderna em que é “insuportável” a “plenitude da maturação”6. Aqui, teoriza a ética utópica da sua arte: para não escrever o livro inútil, é preciso sentir-se “(...) capaz de nascer nesse escasso momento”. Ou seja: ser capaz de escolher a cada novo momento a forma precária, entre as formas possíveis da experiência do passado e da expectativa do futuro, sabendo que o escritor está limitado por condicionamentos e determinações - também os inconscientes- do “escasso momento” do presente ruim. A inteligência, a sensibilidade, o caráter, a família, a educação, a província, a cultura pessoal, as escolhas que modelam a vida de um homem; a situação de classe do escritor funcionário público, a posição de classe do escritor funcionário público, as amizades e as inimizades do escritor funcionário público, os amores do escritor funcionário público, as dores do escritor funcionário público, as trocas simbólicas do escritor funcionário público; e as instituições, políticas e artísticas, a luta de classes, o fascismo, os acontecimentos terríveis do país e do mundo do escritor funcionário público, tudo sem remédio imediato... É impossível escrever o livro inútil porque, num tempo em que todos os homens continuam a nascer num escasso momento, o “olhar com olhos ingênuos” do trabalho infindável da arte ainda nem começou. Se já começou, já não é mais, já não pode ser mais o mesmo, pois não pode fixar-se: a vida do escasso momento do presente não está e provavelmente nunca estará acabada. Drummond afirma que o livro inútil, como livro acabado, é mais que inútil, pois pressupõe o homem acabado, a vida acabada, a história acabada. Fórmulas a evitar, porque o homem, o escritor, o livro e o leitor continuam, “nesse escasso momento”, a nascer escassamente, mas, apesar de tudo, a nascer, demonstrando que a escrita nunca está acabada, porque a vida verdadeira ainda nem sequer começou. Essa incompletude feita de divisões é orientada pelo futuro improvável e deve ser o núcleo raciocinado da forma, orientando-lhe politicamente o sentido estético. Logo, o “livro inútil” é também a metáfora do livro que ainda não veio: é do futuro que vem o tempo da escrita. A repetição é insuportável porque o moderno não admite cânone nem canonização; toda arte será, antes de tudo, auto-reflexão da impossibilidade de totalização da forma da sensibilidade partida que escreve no “escasso momento” já o deixando livremente para trás no ato, pois também o leitor continua a nascer nele. A fidelidade ao acabado é uma contrafação, pois repete o mesmo num momento precário em que tudo já está mudando ou já terá mudado ou já mudou, sem que ainda tenha vindo o terceiro pensamento, a precária síntese das contradições. Quando vier - se vier- o livro inútil então será realmente inútil. Por enquanto, o fundo da imaginação individual do artista continua sendo a memória social dos signos e seu radical fracasso. A escrita que transforma essa memória não pode naturalizar e repetir sua divisão, seu sofrimento, sua morte. Os conteúdos sociais da memória só interessam como matéria da experiência de um presente em que a escrita programaticamente 262 da palavra 6 Provavelmente, é em poemas de A Rosa do Povo, como “ Vida Menor”, “Nosso Tempo” e principalmente em alguns de Claro Enigma , como “Os Bens e o Sangue”, “Rapto”, e em um dos melhores já escritos de toda a história da poesia, “Elegia”, de Fazendeiro do Ar (1952-1953), que o arabesco dessa dissolução aparece na sua liberdade livre, suspenso no ar, como o quarto de Manuel Bandeira e a sintaxe de Mallarmé. “Fragilidade”, de A Rosa do Povo, teoriza a suspensão do sentido formulada antes, no pequeno texto de Confissões de Minas sobre “pintar a passagem”. A suspensão aludida é a do ato que figura não propriamente conceitos cheios, mas o instante mesmo das passagens do uso de uma palavra a outra, o átimo dos intervalos daquela indecisão entre som e sentido que finalmente acha a chave. Berkeley dizia que a ideia do movimento é antes de tudo uma ideia inerte. No auge da sua arte, em A Rosa do Povo e Claro Enigma, Drummond figura o movimento da linguagem mesma no incessante deslocamento vazio e silencioso dos signos, não-ser das coisas. inacabada se anula na negação de si mesma como completude, abrindo-se dividida para o futuro donde tantas coisas apenas pressentidas hão de vir, entre elas principalmente o sopro da revolta que destrói os limites do “escasso momento”. A utopia da arte moderna anunciada nessa pequena prosa moderna de Drummond “pinta a passagem” do seu próprio devir futuro ainda nem sequer imaginado e, hoje, quando o pop norte-americano domina, esquecido. Enunciados poéticos - “com o pincel que foge da minha mão, com a mão que se desprega do braço e navega por conta própria, sobre a crista móbil da onda, da onda que, por sua vez...”- apontam para a linguagem como a realidade do possível de uma experiência plena só aludida, pois ainda não vivida por ninguém. Nessa linguagem, tal “a mão que se desprega do braço e navega por conta própria”, a estrutura estética tende a transcender-se a si mesma como auto-negação pressionada pelo conteúdo aludido de verdade que anuncia o conceito totalmente irrealizável de sublime como síntese final. Do que decorre o “audacioso desse projeto” e, certamente, enquanto “o pincel foge da mão”, também o impossível utópico dele, pois a divisão dos materiais do passado e do “escasso momento” do presente do escritor os torna radicalmente inconciliáveis com o ideal pressuposto. Logo, para ainda lembrar Adorno, ideal e material se afastam um do outro na tensão com que o escritor figura o infigurável em uma arte cuja utopia faria enfim coincidir a dissimetria de reflexão e sensibilidade, possível e real, abolindo a experiência frustrada das violências do passado, o tempo horrível do presente do autor e do leitor divididos pela classe e pela morte, e a si mesma, ficção, como coisas finalmente acabadas e verdadeiramente inúteis, na forma de um livro afinal e muito justamente inútil. Por enquanto, isso é impossível. É o “durante” do trabalho de “pintar a passagem” para o devir de outra coisa que essa prosa anuncia generosamente como a futura radicalidade que o tema do “nada” terá na poesia de Drummond. *** Em um texto de Confissões de Minas, que situa a poesia pessimista de Abgar Renault no modernismo, lê-se o enunciado que funde referências à ação de Mário de Andrade e ao Mallarmé de Crise de vers: “Consumada a função destruidora do modernismo, e desmoralizadas, por sua vez, as convenções novas com que se procurava substituir as velhas convenções, ficou para o poeta brasileiro a possibilidade de uma expressão livre e arejada, permitindo a cada um manifestar-se espontânea e intensamente, no tom e com o sentido que melhor lhe convenha”7. 7 “Pessimismo de Abgar Renault”, Confissões de Minas, Obra Completa. Rio de Janeiro, Aguilar, 1964, p. 529. “Selon moi jaillit tard une condition vraie ou la possibilité, se s’ exprimer non seulement, mais de se moduler, chacun à son gré”, escreve Mallarmé em Crise de Vers A referência à possibilidade de “uma expressão livre e arejada” é útil para especificar os pressupostos da ética utópica do estilo da prosa de Drummond. Nela, a negatividade alia-se ao exercício de uma função que sua poesia não prevê, pelo menos imediatamente: a comunicação de informações feita como comentário crítico, principalmente quando o gênero é a crônica. Rubem Braga dizia que Drummond é mais moita na crônica porque o gênero o obriga a ser da palavra 263 mais claro. Como na poesia o hermetismo não é de todo impróprio, pois na boa arte a falta de clareza é antes de tudo falta de clareza do leitor, Drummond guarda para o poema o mais íntimo da experiência8. A tensão ética desse ocultamento na clareza é construída por procedimentos técnicos que modelam sua prosa como função comunicativa e função crítica. A função comunicativa é obtida pela propriedade vocabular, clareza e linearidade sintáticas, estilo médio, análise, exemplo, citação de autoridades, explicação etc.; a função crítica, por meio da elisão de termos redundantes, pelo uso de marcas optativas de dúvida, negação e indeterminação, da formulação aforismática, da análise do “eu” como não-unidade, da ironia e do humor quanto à matéria tratada etc. Tais procedimentos, recombinados a cada texto, constituem o conteúdo material da prosa de Drummond como instrumentos gramaticais e retóricos ou, ainda, como procedimentos técnicos mobilizados para “manifestar-se espontânea e intensamente” no estilo eticamente orientado. Na crônica, a eficácia técnica desse conteúdo material associa-se funcionalmente à análise das matérias, constituindo a maneira singular ou “estilo Drummond” de efetuar valores simbólicos propostos à leitura como “conteúdo de verdade” relativizador e relativizado9. O valor- ou os valores- nascem da transformação das significações transportadas das matérias para a cena comunicativa do texto como sentido utópico que nega a facticidade das “verdades” das matérias, demonstrando que são perspectivas parciais datadas; com isso, transforma as significações das matérias em um “conteúdo de verdade” parcial e orientado pela moralidade técnica como ponto de vista que se autocritica a cada momento, fazendo a distinção de “bom” e “ruim” como tensão não-resolvida. A tensão escande o discurso como destruição construtiva de um outro, possível, sempre aludido. Assim, o que é o “conteúdo verdadeiro” de que fala? O resto que sobra do ato crítico do mundo torto realizado como crítica de linguagens na linguagem. Reconhecendo a particularidade datada dos textos que publica, Drummond afirma que Confissões de Minas é insuficiente: falta-lhe justamente o tempo, pois teria sido escrito para contar ou consolar um homem das Minas Gerais, o indivíduo Carlos Drummond de Andrade. Em várias crônicas, tratou dos condicionamentos desse “indivíduo das Minas Gerais” e da sociabilidade letrada em que se escolheu a si mesmo nos anos de 1920, em Belo Horizonte. Numa delas, “BH”, publicada no Correio da Manhã, em 10/12/1967, escreve: “Nas calçadas da Avenida Afonso Pena, moças faziam footing, domingo à noite, como deusas inacessíveis, estrelas; a gente ficava parado no meio-fio, espiando em silêncio. E divertimento era esperar o trem da Central, que trazia os jornais matutinos do Rio; era fazer interminavelmente a crônica oral da cidade nas mesinhas de café do Bar do Ponto, literaturar à noite na Confeitaria Estrela, do Simeão, que nos fiava a média, com pão e manteiga. Não acontecia nada. Que paisagem!Que crepúsculos!Que tédio!” Nesse tempo referido na crônica, 1923, como escreve em “Recordação de Alberto Campos”, de Confissões de Minas, ele e Abgar Renault, Gustavo 264 da palavra Rubem Braga. “Fala, Amendoeira”. Diário de Notícias, Rio de Janeiro, 19/9/1957. 9 Por exemplo: “Não somos bastante hábeis para extrair de nosso instrumento a nota mais límpida, bastante honestos para confessá-lo, bastante hipócritas para disfarçá-lo, bastante cínicos para nos consolar, bastante obstinados para tentar de novo e sempre. Por fim, cumprimos a nossa carreira. E não há outra”. Cf. Drummond. “Do Homem Experimentado”. Passeios na Ilha. Ed. cit. p. 666. 8 Capanema, Alberto Campos, Emílio Moura, Milton Campos, Pedro Nava, Mario Casasanta, Martins de Almeida, Gabriel Passos e outros, esporádicos, preparavam “materiais de cultura”. Como costuma acontecer nos grupos intelectuais de província condenados ao autodidatismo e à vigilância ferozmente irônica e autoirônica contra os poderes da sombra do lugar, também os intelectuais do grupo de Drummond eram vítimas da própria ironia; impiedosos, não se perdoavam nenhuma fragilidade a si mesmos10. Será talvez preciso ter vivido no interior para lembrar a desesperada náusea dessas noites relatadas sem auto-indulgência nas crônicas de Drummond? Lá e então, como aqui-agora, os poderes que faziam o deserto crescer eram imediatamente visíveis em tipos emblemáticos, padre, delegado, vereador, dono de cartório, juiz, comerciante, gerente de banco, professora, aluno promissor que um dia ainda iria ser alguém na vida prestando serviços bajulando medalhões. A ironia aí tinha pasto. Mas Drummond também sabe que os poderes são principalmente ativos na invisibilidade das micro-formas sutis do gregarismo, do individualismo, do tédio, do compromisso amoroso, das mães terríveis, da família e do Ideal com que o entusiasmo da cruel abstração da juventude é mistificado. As redes tentaculares dos poderes que constituem o provincianismo conseguem transformar a auto-ironia em irrisão para os próprios indivíduos que tentam, e como! resistir contra eles com suas mesmas formas. É magnífica a formulação dessa irrisão em outra crônica de Confissões de Minas: “Era ainda naquele tempo (bom tempo) em que se tomava cerveja e café com leite na Confeitaria Estrela. Entre dez e onze horas, o pessoal ia aparecendo e distribuindo-se pelas mesinhas de mármore. Discutia-se política e literatura, contavam-se histórias pornográficas e diziam-se besteiras, puras e simples besteiras, angelicamente, até se fechar a última porta (você se lembra, Emílio Moura?Almeida? Nava?). Ascânio chegou quando o Estrela já entrara em decadência, e nas melancólicas mesinhas o mosquito comia o açúcar derramado sobre as últimas caricaturas de Pedro Nava.”11 10 “Recordação de Alberto Campos”, p. 524. 11 Idem, p. 525 “(...) o Estrela já entrara em decadência, e nas melancólicas mesinhas o mosquito comia o açúcar derramado sobre as últimas caricaturas de Pedro Nava”. Aqui, mais uma vez, é o poeta quem escreve: o mosquito que come o açúcar derramado sobre as caricaturas condensa agudamente os restos da memória desse tempo na alegoria que figura qualquer experiência análoga, reavivando a lembrança de quem já tenha vivido sua irrisão, pois não se trata só de Belo Horizonte ou Para-lá-domapa, mas de Brasil. Segundo Drummond, orgulhoso e duro consigo mesmo, o provincianismo de Minas Gerais diria pouco das relações do mesmo indivíduo mineiro que escreve a nota com o período histórico em que vive. Obviamente, é sinceridade de quem viveu a coisa pra valer; mas também modéstia afetada. Embora o provincianismo seja fortíssimo na formação intelectual de qualquer brasileiro, não é necessariamente determinante da orientação política que se dá à experiência da história. Desde cedo, Drummond foi internacionalista e o provincianismo não é determinante do modo como seu pensamento material dá sentido crítico à sua poesia e prosa. Também se deve lembrar que, em 1924, ele teve a oportunidade de, no meio do caminho da sua estrada de Minas pedregosa, topar com intelectuais como Mário de Andrade e Oswald de Andrade. O jeito provinciano permanecerá, contudo, ativamente transformado como da palavra 265 posição não-provinciana à esquerda, na timidez ousada do estilo que vai como que de cabeça baixa e mãos pensas, cismando sobre o que é cheio de si sem si, lucidez da descrença e a angústia de sempre. Como afirma Drummond, sua prosa marcada pela vida provinciana, por isso mesmo prosa limitada, tem um saldo: deve ser lida como depoimento negativo que indicará aos mais novos o que fazer. O que fazer? Diferentemente da poesia, em que o conteúdo é a forma, a crônica comunica informações, pressupondo que a forma é meio para conteúdos dirigidos a uma imagem pré-constituída de leitor. O gênero comunica a própria comunicação. Essa estrutura faz a crônica tender, independentemente da qualidade do texto particular, a ser uma adequação comunicativa à recepção pressuposta. Muitas vezes, uma facilidade e mesmo uma facilitação comunicativa, que fará o leitor sorrir agradado com a própria inteligência capaz de reconhecer a engenhosidade amena da crítica das matérias, e, pensando por instantes em como realmente a vida brasileira não presta, passar para a seção esportiva. Até o dia seguinte, quando o jornal sai novamente. Pois a forma da crônica prevê o esgotamento de si mesma quando é lida, mais ainda quando aparece onde deve , o jornal e o tempo brevíssimo da sua leitura recortada na simultaneidade das informações que compõem o ato como repetição das trocas mercantis onde a crônica se dissolve naturalmente, como um fait divers entre outros. Além disso, a crônica sempre é meio para outra coisa fora dela, meio por assim dizer “iluminista” ou pragmático, sempre atravessado por uma tensão. A crônica escrita “criticamente” propõe as informações para o leitor apostando na capacidade de produzir mudanças dos seus hábitos com comentários mais ou menos divergentes da normalidade suposta das matérias cotidianas. Para realizar a pretensão, tem que manter a normatividade da estrutura comunicativa, modulando-se como um paralelismo de forma convencional e conteúdos “críticos”. Toda crônica é sempre “interessante”, no estrito sentido material de realizar o inter esse fático de mensagem situada “entre” a intencionalidade autoral e a recepção pressuposta. Em termos comunicacionais, basta que realize essa função de contato para ser eficaz. Já em termos artísticos, não, pois a subordinação dos enunciados ao contato a determina como reprodução simples dos esquemas perceptivos habituais que organizam a experiência das matérias sociais que seus conteúdos “críticos” pretenderiam superar. A crônica é não só interessante, no sentido referido, mas literariamente boa, quando é inventada programaticamente como tensão de função comunicativa e conteúdo crítico, direcionando os enunciados em sentido divergente do pressuposto na reprodução da nor matividade comunicativa, numa espécie de auto-sabotagem maliciosamente irônica. Por isso mesmo, a função comunicativa do gênero, que no jornal é virtude, é o seu maior defeito estético quando os textos são juntados em livro. No caso, a brevidade do tempo da recepção jornalística, pressuposta no contrato enunciativo do gênero, é eliminada pela contiguidade dos textos no livro, que os compacta e simultaneamente põe em relevo segundo outros protocolos de leitura, deslocando-os do tempo da sua recepção inicial e tornando ainda mais tênue a 266 da palavra atualidade do seu comentário dos temas. Daí, muitas vezes, esse ar meio paradão de depósito de coisas usadas que os livros de crônicas costumam ter. Neles, os aspectos das matérias cotidianas escolhidos e transformados pelo autor como temas de interesse imediato, que no jornal são o nervo do gênero, tornam-se apenas póstumos, bastando lembrar o óbvio: o livro é compilação feita e editada depois, quando a atualidade da crônica já passou e ela sobrevive a si mesma na leitura como um casulo de inseto que já voou ou memória exterior de matérias mortas desprovidas de imediaticidade. É por isso, talvez, que crônicas despertam o interesse de historiadores, que se apropriam delas como documentos de ruínas. Muitas vezes, as crônicas de Drummond sofrem desses defeitos. Eles são determinados não propriamente pelo seu estilo, mas pela simples mudança do meio material de publicação. Mesmo assim, a passagem do tempo e a função comunicativa própria do gênero não conseguem eliminar totalmente o sentido negativo que imprime aos temas nos textos publicados como livro. Isso porque usa a crônica tendendo a subordinar sua estrutura comunicativa à dramatização de conflitos, tensões e contradições da memória coletiva depositada nas matérias que transforma nela, orientando o comentário com o sentido utópico da perspectiva ética que, compondo o estilo como negatividade, consegue derrotar a facticidade e a obsolescência das matérias, flutuando, por assim dizer, aquém e além delas, para ganhar autonomia análoga- análoga, não idêntica- à da poesia. Isso é ainda mais evidente hoje, quando o eventual leitor lê suas crônicas e zomba da sua ética, como de um morto de sobrecasaca. O tempo das crônicas de Drummond realmente passou, mas não as determinações capitalistas dele, que aí estão intensificadas como um verme a roer também o leitor pós-utópico, fazendo pior o soluço de vida criticada nelas. Seria equivocado, de qualquer modo, aplicar os critérios de leitura da poesia à leitura das crônicas de Drummond, pois equivaleria a esperar delas uma condensação que não têm nem pressupõem. *** 12 Cf. Santiago, Silviano. “Introdução à leitura dos poemas de Carlos Drummond de Andrade”. In Carlos Drummond de Andrade. Poesia Completa. Volume único.Fixação de textos e notas de Gilberto Mendonça Teles. Introdução de Silviano Santiago. Rio de Janeiro, Editora Nova Aguilar S.A., 2002, pp. III-XLI. Quando afirma, na mesma nota introdutória de Confissões de Minas, que uma sutileza que não resista à prova da convivência mais larga é apenas um vício, alegando justamente a necessidade política da socialização da inteligência, Drummond propõe a mesma orientação ética que se lê nos trechos da carta de Mário de Andrade transcritos em outra crônica comovidíssima e comovedora de Confissões de Minas. Mário de Andrade foi fundamental para Drummond, ensinando-lhe, quando era moço de província, a esquecer o bovarismo de Joaquim Nabuco e as afetações céticas de Anatole France12. A mesma lição do amigo se lê quando Drummond afirma que é necessário reformar a capacidade de admirar e de inventar, inventando olhos novos ou novas maneiras de olhar para estar à altura do espetáculo do tempo: “estamos começando a nascer”. Esse mário-oswaldiano “ver com olhos novos” exige um olhar armado, culto e informadíssimo sobre as coisas estrangeiras, ao mesmo tempo sem prevenção, ingênuo e como que primeiro na consideração das coisas antigas, velhas e novas do país. Ele caracteriza os melhores momentos da prosa de Drummond, como da palavra 267 os textos de Confissões de Minas, Contos de Aprendiz e Passeios na Ilha. Drummond declara com todas as letras sua apropriação dos paulistas de 1922, principalmente as lições de Mário de Andrade sobre a moralidade da técnica e o “bárbaro e nosso”, de Oswald de Andrade. Mas, diversamente do nacionalismo limitador de Mário de Andrade - “É preciso evitar Góngora, é preciso evitar Mallarmé”a concepção de palavra poética de Drummond deve muito a Mallarmé, principalmente porque não dissocia a formulação estética do pensamento da economia política do signo. Por isso mesmo, em Confissões de Minas e na sua prosa posterior, são recorrentes temas e procedimentos da sua poesia. Sempre orientados como “expressão livre e arejada”, recebem o mesmo direcionamento negativo do sentido. Desde o início, Drummond escolhe a direção negativa do sentido em função da sua ética do estilo, mas como que a disfarça, discreto, em amabilidades finas, convenientes à vertiginosa liberdade da sua inteligência sempre analítica, fiel antes de tudo a si mesma no exame de sua matéria, a palavra. Uma leitura paciente de toda a sua prosa que a compare com sua poesia encontrará mais evidências desse trânsito dos temas de um campo para outro e poderia ser útil, quem sabe, para elucidar o sentido de formulações condensadas e por vezes herméticas de muitos poemas. Lê-se em um pequeno texto de Confissões de Minas, “Neblina”: “Mas como é impossível partir -os caminhos são compridos e os meios são curtos e a vida está completamente bloqueada-, tu te resignas a tomar o teu grogue do hotel, nessa hora mais que todas tristíssima - seis horas da tarde, enquanto a neblina cai lá fora, e as mulheres passam monstruosas e vagas como desenhos indecisos, que a mão constrói para apagar logo depois”13 Em “Ciclo”, de A Vida Passada a Limpo, voltam as mulheres monstruosas e vagas, transformadas na formulação: “Sorrimos para as mulheres bojudas que passam como cargueiros adernando”. Aqui, o termo “monstruosas” da prosa se repete parcialmente em “bojudas”, que mantém a significação de /quantidade/ , mas agora com conotações sexuais e de fertilidade, como a de /vaso/, em “bojudas”; a fórmula genérica “como desenhos indecisos” torna-se “como cargueiros adernando”, em que se acumulam várias noções, /carga/, /viagem/ , /missão/, /peso/, /dificuldade/ etc., tornando a imagem muito condensada. Mantém-se nos dois casos a prótase da similitude, “como”, indicativa da operação intelectual de comparação. Por vezes, a estrutura de uma frase personifica o inanimado: “o mole consentimento das peras”, de um texto de Confissões de Minas14, reaparece na poesia como “o sono rancoroso dos minérios”. Ou, ainda, a crônica “Natal U.S.A. 1931”: “Possível alusão a Papai Noel, se bem que o indivíduo se haja desprestigiado terrivelmente em literatura. O bom ladrão que, não podendo insinuar-se por outra abertura mais cômoda, introduz-se pelo buraco da fechadura”15, que cita o poema “Papai Noel às Avessas”, de Alguma Poesia. Do mesmo modo, a crônica “Viagem a Sabará”, em que trata da arte colonial mineira, reaparece estilizada em poemas de “Selo de Minas”, de Claro 268 da palavra 13 “Neblina”, in Confissões de Minas, ed. cit., p. 588 14 Confissões de Minas, p. 598 15 Idem,ibid. p.598 Enigma. Também seria útil comparar a estrutura de textos postos na forma sequencial de prosa em muitos poemas com os textos que publicou como prosa e nos quais a condensação onírica dos significados tem efeitos análogos aos da poesia. É, por exemplo, o caso de “Enquanto descíamos o rio”, de Confissões de Minas, e de “O Enigma”, de Novos Poemas, que têm andamento e processos analíticos análogos: “E quando as águas pareciam calmas, um peixe voou que se escondia em camadas mais fundas que o mais fundo suspiro. Logo se formaram círculos, elipses, triângulos e mais desenhos alheios à vã geometria. Entre esses ressaltava a corola de uma flor, que era como uma cobra rastejando na corrente, mordendo apenas, com o seu breve contato, a planta úmida de nossos pés e assumindo a cada instante uma nova complexidade.”16. “As pedras caminhavam pela estrada. Eis que uma forma obscura lhes barra o caminho. Elas se interrogam, e à sua experiência mais particular. Conheciam outras formas deambulantes, e o perigo de cada objeto em circulação na terra. Aquele, todavia, em nada se assemelha às imagens trituradas pela experiência, prisioneiras do hábito ou domadas pelo instinto imemorial das pedras. As pedras detêm-se. No esforço de compreender, chegam a imobilizar-se de todo”17. A negatividade tem, na prosa e na poesia, modulações de tom e de intensidade. Nos poemas de Drummond, ainda na maior empatia pelo outro, a palavra sempre é escarpada e escarninha, arredia ao contato: “toda sílaba/acaso reunida/ a sua irmã, em serpes irritadas vejo as duas”, diz em “Nudez”, de A Vida Passada a Limpo. Mas a prosa é ávida de contato humano. Se às vezes implica a facilidade de alguns textos posteriores, que fazem o leitor sorrir por instantes antes de esquecê-los, como acontece em alguns de Contos Plausíveis, não elimina o sentido negativo do conjunto. Vejam-se, como exemplo de diferentes intensidades e tons, um trecho de prosa e um poema que, praticamente contemporâneos, têm a mesma referência, o mundo visto do apartamento. A prosa: 16 “ Enquanto descíamos o rio”, Confissões de Minas, p. 594. 17 “O Enigma”, Novos Poemas, p. 231. 18 “Esboço de uma Casa”, Confissões de Minas, p. 579 “Casa fria, de apartamento. Paredes muito brancas, de uma aspereza em que não dá gosto passar a mão. Aí moram quatro pessoas, com a criada, sendo que uma das pessoas passa o dia fora, é menina de colégio. Plantas, só as que podem caber num interior tão longe da terra (estamos em um décimo andar), e apenas corrigem a aridez das janelas. Lá embaixo, a fita interminável de asfalto, onde deslizam automóveis e bicicletas. E ao longo da fita, uma coisa enorme e estranha, a que se convencionou dar o apelido de mar, naturalmente à falta de expressão sintética para tudo o que há nele de salgado, de revoltoso, de boi triste, de cadáveres, de reflexos e de palpitação submarina. Do décimo andar à rua, seria a vertigem, se chegássemos muito à janela, se nos debruçássemos. Mas adquire-se o costume de olhar só para a frente ou mais para cima ainda”18. E a poesia: da palavra 269 “Silencioso cubo de treva; um salto, e seria a morte. Mas é apenas, sob o vento, a integração na noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade nem vão propósito. Somente a contemplação de um mundo enorme e parado. A soma da vida é nula. Mas a vida tem tal poder: na escuridão absoluta, como líquido, circula. Suicídio, riqueza, ciência... A alma severa se interroga e logo se cala. E não sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol da Ilha Rasa.19 A diferença é a condensação. A imagem poética de Drummond é sempre tão extraordinariamente condensada que se torna símbolo. Como a “pedra”, o “no meio do caminho”, o “gauche”, o “e agora, José?”, o “João amava Teresa”, o “elefante”, “Luísa Porto” ou a “flor”, os motivos que convergem nela abrem a leitura para associações inesperadas em que não há intervalo temporal entre significante e significado, por isso imediatamente densas e imediatamente sentidas-vividas pelo leitor como sínteses da experiência. Como ocorre com as associações da oposição semântica de “Triste” e “farol”, da expressão “Triste farol”, que é um correlato objetivo construído como oxímoro ou síntese disjuntiva da tristeza que tolda a lucidez do juízo metaforizada na luz-guiaaltura do farol a brilhar na treva. O mesmo oxímoro da lucidez obscurecida do juízo que se distancia de si e do mundo, no alto, para avaliar a existência, é redistribuído nos significados de /isolamento/ e /solidão/ da palavra “ilha” e no significado novo, inesperado, que irrompe quando a categoria /quantidade/ , de “rasa”, se transforma pela associação com “ilha” em /qualidade/, que traduz a lucidez triste como irrisão generalizada da vida banal. “Triste farol da Ilha Rasa” é mais um símbolo drummondiano, pois num átimo condensa, para separá-la, a unidade contraditória de sujeito-objeto na experiência angustiada que lê o leitor. A prosa, como a do trecho, avança movida analiticamente por alguns impulsos básicos encontráveis na poesia: a enunciação descendente, restritiva e quase pejorativa, demonstrando com minúcias a mesquinhez do objeto polifacetado pelo distanciamento triste e sem ênfase, não obstante curioso e onívoro; o senso agudo do nonsense da opacidade bruta dos processos limitadores 270 da palavra 19 “Noturno à Janela do Apartamento”, Sentimento do Mundo, p.117. da vida; a desconfiança e a descrença das soluções acabadas; o raríssimo senso de alternativa; a particularização analítica de coisas, pessoas, personagens, situações, eventos; o desejo quase sempre incontido de evidenciar a nãonaturalidade do que é dito; e a dramaticidade do terrível que espreita no mínimo detalhe inocente. Na poesia, a elisão dos nexos gramaticais impede, obviamente, a representação do processo analítico do pensamento como linearização sintática dos atos do juízo. A mesma elisão produz o discurso como justaposição de pedaços que significam a divisão social do “eu” e das matérias e, simultaneamente, funcionam como diagrama sintático do trabalho crítico de desorganização programática da forma. A possível análise dos temas é feita pelo leitor como inferência parcial das significações condensadas agudamente nas palavras e entrevistas nos intervalos semânticos do deslocamento contínuo dos pedaços justapostos. Interceptando-se em vários planos semânticos associados como politematismo, as imagens dão-se à leitura como metonímias do desejo dividido e símbolos extremamente condensados. *** Drummond não escreve prosa experimental como Oswald de Andrade. Não dissolve os nexos sintáticos, como faz na poesia; ao contrário, como é uma inteligência extremamente analítica, quando escreve prosa parece ter predileção pela oração contínua e seus incisos e acidentes particularizadores. Veja-se uma formulação típica do seu estilo, que se afunila na particularização crescente de um tema observado e fixado na tensão que constitui sua referência, a cidade capitalista contemporânea, tensão visível na formulação optativa, hipotética “pode ser”, “poderá explicar”; no gosto das duplicações - “o paralisa e o priva”, “liberta e ao mesmo tempo oprime”, “desta solidão está cheia a vida” e oposições“mas, poeticamente” etc.: “No formigamento das grandes cidades, entre os roncos dos motores e o barulho dos pés e das vozes, o homem pode ser invadido bruscamente por uma terrível solidão, que o paralisa e o priva de qualquer sentimento de fraternidade ou temor. Um desligamento absoluto de todo compromisso liberta e ao mesmo tempo oprime a personalidade. Desta solidão está cheia a vida de hoje, e a instabilidade nervosa do nosso tempo poderá explicar o fenômeno de um ponto de vista científico; mas, poeticamente, qualquer explicação é desnecessária, tão sensível e paradoxalmente contagiosa é esta espécie de soledade”20 20 “Fagundes Varela, Solitário Imperfeito”-Três Poetas-Confissões de Minas- pp. 512-513. Drummond vê em sua prosa, antes de tudo, o exercício de uma função que sua poesia não prevê, pelo menos imediatamente: a comunicação. A essa função se relacionam a propriedade vocabular, a formulação aforismática e a clareza. Os textos de Confissões de Minas são escritos com a propriedade vocabular que será, durante toda a vida do autor, adequação da palavra à representação dos temas e à avaliação deles pelo juízo da enunciação. A propriedade vocabular de Drummond não é purista, como a unificação monocórdica do estilo em um registro restrito ao “bem dizer” gramaticalesco, normativo e lusitanista dos da palavra 271 gramáticos brasileiros de fins do século XIX e começos do século XX, mas estilização modernista e moderna de vários padrões da língua portuguesa como variedade necessária pressuposta no conceito de mot juste. Leitor de Machado de Assis, Gustave Flaubert e Marcel Proust, aplica os termos com propriedade e variedade, pressupondo que a justeza da palavra - como adequação representativa aos temas- deve ser simultaneamente evidência da justiça dos atos do juízo que, enquanto os avalia, não discorre pelas matérias, simplesmente, mas antes de tudo as decompõe para especificar os mecanismos que as particularizam e, distinguindo o bom do ruim, evidenciar a distinção operada na mesma propriedade do uso do termo. Fazendo distinções, Drummond é discreto, pois acredita, como dizia Adorno, que o sujeito precisa sair de si na medida em que se oculta. Saindo de si com discrição, incorpora à seleção vocabular de suas primeiras crônicas a lição modernista da contribuição milionária de todos os erros. E é nisso que se revela um estilista dos bons, pois sua prosa dá nome aos bois. Nunca a simplicidade kitsch das tentativas de singeleza humanista de um sujeito cheio de boas intenções aquém do objeto, mas a simplicidade artificialíssima que resulta da depuração obtida por operações técnicas extremamente complexas21. A “poesia mais rica/ é um sinal de menos”, lemos em A Vida Passada a Limpo. Ou, em prosa: “À medida que envelheço,vou me desfazendo dos adjetivos. Chego a crer que tudo se pode dizer sem eles melhor talvez do que com eles. Por que ‘noite gélida’, ‘noite solitária’, ‘ profunda noite’? Basta ‘a noite’. O frio, a solidão, a profundidade da noite estão latentes no leitor, prestes a envolvê-lo, à simples provocação dessa palavra noite”22. *** Como qualquer outro, o estilo que “pinta a passagem” na poesia e na prosa de Drummond é uma sintaxe, uma maneira particular de ver e de dizer as coisas. Mas não só, porque antes de tudo é a impossibilidade de vê-las e dizêlas de outra maneira23. Essa restrição, decisiva na sua arte de poeta do finito e da matéria, determina a composição das significações de seus textos como divisão pelo “fatal meu lado esquerdo”, expressão-síntese de sua poética legível no primeiro poema de A Rosa do Povo (1945). Drummond é, antes de tudo, uma sensibilidade comovida com o tempo, mas capaz, como dizia T.S. Eliot dos poetas metafísicos ingleses do século XVII, de controlar e devorar intelectualmente qualquer experiência afetiva24. Desde seu primeiro livro, Alguma Poesia (1930), a inteligência da forma dessa sensibilidade aparece unida materialmente à afirmação da liberdade como dicção irônica e auto-irônica muito pessoal, mas sem subjetivismo, orientada pelo firme e desencantado senso utópico de justiça que a faz atenta a tudo quanto é dor. A partir de Sentimento do Mundo (1935-1940), humaniza-se mais, se é possível dizê-lo assim, como maneira auto-reflexiva de dizer as coisas daqui e do vasto mundo que evidencia a particularidade da sua angústia anti-heróica. Acentuando a auto-reflexão com gravidade trágica, o poeta opera o sentido “esquerdo” da ética do estilo em dois níveis complementares e antitéticos de significação, a angústia de viver as formas 272 da palavra 21 Cf. “Simplicidade”, em Confissões de Minas. Ed. cit., p. 591. 22 Cf. Confissões de Minas, p.581 23 Drummond “Apontamentos literários”. Correio da Manhã, Rio, 1/9/1946. 24 “Mas Carlos Drummond de Andrade, timidíssimo, é ao mesmo tempo, inteligentíssimo e sensibilíssimo. Coisas que se contrariam com ferocidade. E desse combate toda a poesia dele é feita”. Mário de Andrade. “A Poesia em 1930”. Aspectos da Literatura Brasileira. 5 ed. São Paulo, Martins, 1974, p. 33. 25 Cf. Lima, Luiz Costa. “O princípio-corrosão na poesia de Carlos Drummond de Andrade”. Lira e Antilira. Mário, Drummond, Cabral. 2 ed. revista. Rio de Janeiro, Topbooks, 1995. 26 “Vila de Utopia”, Confissões de Minas. Obra Completa. ed. cit. p. 561. Por exemplo dessa melancolia racional e ceticismo sentimental, leia-se “O Enigma”: “Ai! de que serve a inteligência- lastimam-se as pedras. Nós éramos inteligentes, e contudo, pensar a ameaça não é removê-la; é criá-la. Ai! de que serve a sensibilidade- choram as pedras. Nós éramos sensíveis, e o dom da misericórdia se volta contra nós, quando contávamos aplicá-lo a espécies menos favorecidas.” ( Novos Poemas, ed. cit. p. 231). 27 “ Se a realidade dada perde seu valor para o ironista, não é enquanto é uma realidade ultrapassada que deve dar lugar a uma outra mais autêntica, mas porque o ironista encara o Eu fundamental, para o qual não há realidade adequada”. “Kierkegaard, O Conceito de Ironia”. In Ménard, Pierre. Kierkegaard, sa vie, son oeuvre, pp. .57-59, cit. por Deleuze, Gilles. Lógica do Sentido.Trad. Luiz Roberto Salinas Fortes. São Paulo, Perspectiva, 1974, p. 142 (Estudos, 35). 28 Aqui, escolhi estabelecer algumas relações da prosa inicial de Confissões de Minas e de livros de poesia publicados opressivas da vida capitalista e a resistência contra a sua essencial barbárie. Ser e tempo, vida profunda e miséria histórica, a complementaridade antitética das significações é estranhamento, tensão e contradição das normas sociais que organizam a naturalidade das representações que o leitor habitualmente faz de si e do mundo. O estranhamento acontece em todos os níveis do discurso como dramatização dos temas por meio de duas perspectivas antagônicas25. Dividem a figuração em afetos irônico-sentimentais irreconciliáveis e opõem os enunciados como elevação lírica e trágica das matérias humildes e baixas e rebaixamento cômico e satírico das matérias altas e graves: “anjo torto”, “sublime cotidiano”, “vísceras sentimentais”. As mesclas estilísticas dessa divisão negam a unidade suposta do sujeito e a racionalidade suposta das coisas do seu mundo, evocando no leitor as incongruências de um abismo de melancolia racional e ceticismo sentimental26. Na auto-reflexão sobre a impossibilidade da poesia em um tempo de miséria, Drummond dissolve as formas artísticas que naturalizam a arte como evidência. A particularidade histórica do artifício aparece à leitura como suspensão e desvanecimento do sentido, pois incide negativamente sobre os condicionamentos sociais, materiais e institucionais da sua própria possibilidade como poesia em um mundo no qual o leitor está inteiramente subordinado à lógica da mercadoria. O real não é racional, propõe sua forma, transformando e dissolvendo as ideologias correntes sobre o tempo e a história. Dissolvendo-as, esvazia também o ato da invenção em um vácuo posto entre limites denegados: o ainda impossível futuro das formas da sensibilidade livre anunciadas no “livro inútil”- a inteireza da memória da infância, a vida sem culpa, o amor sem medo e extorsão, o trabalho significativo, a simplicidade da beleza, a liberdade coletiva, a revolução- e o real do presente intolerável, objeto da reflexão em “livros inúteis”- a miséria da história, a exploração, a mercadoria, a feiúra da cidade, a falta de sentido, a opressão de classe, a solidão do indivíduo, a falta de amor, a injustiça, o fascismo. Como em Mallarmé, a destruição é sua Beatriz. Poesia da experiência, nunca é harmônica, pois sabe que o sofrimento humano é histórico. Sua divisão mesclada corresponde à desarmonia essencial da vida, pois sabe que o sofrimento nunca é anedótico, menor, pouco ou insignificante. Vamos morrer. Máximo poeta moderno da memória, do esquecimento esquecido de si mesmo e da impossibilidade de esquecer o peso horrível do passado, sabe que qualquer dor é mal, devendo ser tratada com a delicadeza e a honestidade de uma comoção só possível porque fundada na maior solidão de todas, a solidão do indivíduo que vai morrer sabendo que a injustiça não acabou, uma solidão anti-heróica, portadora da peste coletiva transfigurada na recusa da Grande Saúde que faz a vida improvável. Sua poesia lembra que a morte, tal o gavião molhado de “Morte das Casas de Ouro Preto”, baixou entre nós, em nós e não vai embora. Com comovedora exemplaridade por assim dizer compendiária, dramatizando experiências que nunca tiveram vez nem voz, impensável amargo da beleza e impensado recalcado da herança das violências das estruturas coloniais sintetizadas na memória da família patriarcal e das modernidades oligárquicas da sociedade urbana instaurada no país pela Revolução de 1930 e pelo Estado da palavra 273 Novo, a força negativa da sua recusa da vida ruim é extraordinária. A materialidade da palavra em “estado de dicionário”, a mescla estilística, a sintaxe gaga, a dissolução do verso, a ausência de música, as incongruências de ironia, comoção, humor, desprezo e angústia da poesia retomam a autoreflexão irônico-sentimental praticada pelos românticos como contraste de ideal sublime e de realidade grotesca. Como reflexão infinita de um Eu ilimitado sobre a essência da forma poética, a ironia romântica expressa o distanciamento que a perspectiva de uma consciência infeliz, mas superiormente crítica, toma em relação ao mundo mau e incapaz, em suas formas finitas, de oferecer consolo à má generalidade da sua solidão saudosa de Absoluto. Fundamentando as sentimentalidades em unidades metafísicas tidas como soluções, os românticos recusam as únicas existentes, as humanas, por isso nadificam o finito no mito27. Nada desse idealismo no estilo da poesia e da prosa de Drummond. Antiromântico, seu pensamento é material. Sabe, com a lição romântica de Baudelaire, que o “eu” é abominável; com a lição cética de Montaigne, que é vário e desinteressante; com a lição do rigor de Mallarmé, que a transposição e a estrutura produzem a desaparição elocutória do sujeito, cedendo lugar às palavras em estado de dicionário. E sabe, com a sabedoria do seu fazer, que o eu lírico eleva a voz do fundo do abismo do ser, pois sua subjetividade é pura imaginação, como diz o Nietzsche do Nascimento da Tragédia28. Mas sabe principalmente, com a simples, comum, rotineira e imediata experiência da vida brasileira, que a destruição da vida besta é mais fundamental que o “eu”, a poesia e o Ser. 274 da palavra pelo autor até 1945. Mas avanço, um tanto, para lembrar rapidamente que o arabesco em movimento anunciado em Confissões de Minas no pequeno texto sobre a “pintura da passagem” torna-se princípio estruturador da forma em Claro Enigma e Fazendeiro do Ar. Neles, o conceptismo já classificado como “barroquismo” da dicção do enovelar-se intelectualista da linguagem sobre si, deslizando-se, estrutura, em palavra e palavra no vazio que vai de uma a outra, como se em torno de um eixo de ar intensificado na suspensão encantatória do sentido livre de nexos de representação na fictícia aparência do presente, tem certamente sentido alegórico de resposta política ao estalinismo do PCB aludida também na prosa de Passeios na Ilha. Mas, antes de tudo, isso- ou aquilo - que também já foi chamado de “formalismo” pelos que falam de “literatura e história” ignorando a historicidade das transformações históricas da forma da poesia moderna- aponta de novo, poeticamente, para o mestre do Valér y citado na epígrafe, o Mallarmé do “nada”, o Mallarmé “syntaxier”, o Mallarmé do “enunciar é produzir”, o Mallarmé que relaciona auto-reflexão, linguagem, ficção e crítica da representação: “Minha matéria é o nada”, lê-se em “Nudez”, de A Vida Passada a Limpo (1958). Tratando do ser e do tempo sem perder-se na floresta negra ou no mato nacionalista, Drummond busca o tema do “nada” também em outro mestre da indeterminação rigorosamente construída, Machado de Assis, desenvolvendo-o como palavra “em estado de dicionário”. Mas não só. Desde A Rosa do Povo, principalmente, passou a fazer poemas narrativos e dramáticos longos, que lembram contos e peças teatrais postos em forma de romance ritmado e rimado, como “Caso do Vestido”. Nesses textos, a distinção tradicional de poesia/prosa já não funciona mais. Já em Alguma Poesia e Brejo das Almas, tinha escrito textos como “O Sobrevivente” e “Outubro 1930”, em que a prosa comparece. Lição de Coisas continua a experiência narrativa e dramática em poemas como “Os Dois Vigários” e “O Padre e a Moça”. da palavra 275 276 da palavra A “Ode marítima”: representações metafóricas da viagem no texto de Álvaro de Campos Audemaro Taranto Goulart* Para o Mestre Benedito Nunes, Navegante de todas as águas. Ao lado: Fernando Pessoa, reprodução * Professor nos cursos de graduação e pós-graduação da PUC Minas Gerais. Atua nas áreas de Letras - Literatura, Filosofia e Literatura Comparada. Autor de diversos livros entre eles: Do heróico ao erótico: uma leitura de O Guarani. 1. ed. Belo Horizonte: Ópera Prima Editora, 2002 1. Glória, frustração e medo: metáforas de um mesmo tema O tema da viagem sempre estimulou a criação literária, aparecendo tanto na sua dimensão mais reconhecível – de transição dinâmica no espaço – quanto em variantes metafóricas que vão desde a viagem interior à viagem definitiva, representada pela morte. Numa síntese rápida, pode-se lembrar o tema na Odisséia, a grande viagem das narrativas homéricas, n’Os Lusíadas – livro que tem a viagem como assunto, motivo, tema, numa configuração até mesmo obsessiva – no Dom Quixote das andanças do cavaleiro da triste figura, n’As viagens na minha terra, de Garrett, espécie de redimensionamento do Voyage autour de ma chambre, de Xavier de Maistre, n’As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, e o fantástico mundo dos homens pequeninos, nas viagens a que, na literatura canadense, se impunham as personagens dos romances, Maria Chapdeleine, de Louis Hémon, e Le Survenant, de Germaine Guèvremont, no grandioso poema “Ode marítima”, do heterônimo Álvaro de Campos, em que se movimenta singularmente o gênio de Fernando Pessoa, chegando até aos brasileiros Oswaldo França Júnior, com sua obra máxima que é Jorge, um brasileiro, e Guimarães Rosa, com seu inexcedível Grande sertão: veredas. Essa síntese rápida pretende apenas mostrar a diversidade de modos sob que se apresenta a temática da viagem e, principalmente, apontar uma direção específica: a da transformação metafórica. Apenas a título de ilustração, destaco como a metaforização da temática da viagem incide n’Os Lusíadas e nas duas da palavra 277 obras canadenses. Quero enfatizar esse desdobramento como forma de introduzir uma leitura do poema “Ode marítima”, objeto maior deste trabalho. Quanto a’Os Lusíadas,1 é desnecessário lembrar que circunda o poema toda uma tradição que o coloca no primeiro plano da literatura ocidental, mostrando como o poema camoniano celebra as glórias portuguesas, levantando um passado glorioso e se fazendo, o próprio texto, esse passado que a cultura lusófona não se cansa de exaltar. Entretanto, é preciso ver que o tema dá muitas voltas – talvez fosse melhor dizer que ele faz muitas viagens –, plantando surpresas. É o que ocorre, por exemplo, quando se lê o romance As naus,2 de Lobo Antunes. A crítica tem reconhecido no romance uma espécie de inversão especular do poema camoniano. Se neste se tem o apogeu glorioso das conquistas portuguesas, nas fabulosas viagens em busca de novos mundos, na narrativa de Lobo Antunes essa glória é posta em xeque, na medida em que representa o retorno sem glória daqueles que “entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram”. Trata-se do retorno da África, na descolonização, dos portugueses que encarnaram o papel de heróis no poema de Camões. Se aqueles foram os heróis celebrados, estes, de agora, são os próprios anti-heróis, amargando, séculos depois, a frustração anunciada, n’Os Lusíadas, pelo Velho do Restelo. No Jornal de Letras, Artes e Idéias, de Lisboa, comentou-se, à época do lançamento de As naus, que o romance seria “a sequência lógica do Canto X d ‘Os Lusíadas’, ou seja, o necessário decrescendo que, desglorificando, nos reconcilia e aproxima dos vultos que povoam a nossa memória escolar”. Como segundo exemplo ilustrativo, lembro que, nas narrativas canadenses referidas, Maria Chapdeleine, de Lous Hémon,3 e Le Survenant, de Germaine Guèvremont,4 o tema da viagem aparece numa forma inusitada. Na verdade, a permanente mobilização das personagens masculinas representa uma fuga ao contato amoroso com a mulher, o que faz dos homens um ser em constante deslocamento, como se tais personagens fossem incapazes de ver a mulher como objeto do desejo. É o que ocorre, por exemplo, no Maria Chapdeleine, quando a personagem François Paradis, um andarilho nas matas, morre durante uma tempestade de neve, deixando Maria na vã espera de um casamento anunciado mas que jamais aconteceria. No Le Survenant, o homem foge quando a tímida Angélina confessa seu amor com a singeleza da frase: “Se você quiser, Survenant...”. Essa fuga ao contato amoroso, marca do medo do homem diante da mulher, caracteriza-se, na verdade, como uma representação metafórica do episódio histórico da Conquista Inglesa de 1760, quando se dá a capitulação de Québec e Montreal e o Canadá torna-se uma colônia britânica. Desapossado de sua classe dirigente, o Canadá passa por uma ruptura política, econômica, social e lingüística. Assim, a história marcará os canadenses-franceses com a humilhação de sobreviverem, buscando a agricultura, o artesanato e o pequeno comércio. Tudo isso decorre da angústia do arrebatamento do território, fazendo surgir, nas narrativas canadenses-francesas da segunda metade do século XX, um recobrimento metafórico que faz do homem, da personagem masculina, um ser viajante, em fuga desesperada, justamente para não ter de confrontar a figura feminina que lhe provoca um medo incontornável. 278 da palavra 1 2 3 4 Camões, 1970 Antunes, 1988. Hemon, 1956. Guevremont, 1974. Feitas essas considerações introdutórias ao tema, passo, então, à leitura do poema “Ode marítima”,5 do heterônimo Álvaro de Campos, em que a viagem se desloca do exterior para o interior do eu poético, numa busca do desejo inconsciente. 2. A “Ode marítima”: a viagem de um eu atormentado A “Ode marítima” é um longo poema de Álvaro de Campos que sempre é considerado paralelamente a um outro, a “Ode Triunfal”. A crítica tem visto uma articulação entre os dois textos, considerando a “Ode Triunfal”, publicada em março de 1914, como uma espécie de ilustração que Pessoa procurou fazer dos tempos modernos, da presença da tecnologia e de suas conquistas, papel que caberia bastante bem a Álvaro de Campos, a quem o poeta atribuía uma espécie de contemporaneidade do futuro. Mas a crítica registra também que bem cedo Pessoa se deu conta de que suas convicções futuristas eram um equívoco, razão por que, um ano depois, em junho de 1915, o poeta como que procura uma correção de rumo, publicando a “Ode marítima”. Assim, o entusiasmo do primeiro poema é substituído, no segundo, por um tom soturno, quase desesperado, em que fica patente que só o sofrimento e a dor podem representar, senão um rumo, pelo menos uma perspectiva de encontro. Essas considerações é que me levam a ver a “Ode marítima” na dimensão de uma viagem para dentro de si mesmo, numa nítida busca do mais profundo do ser. Não posso, pois, negligenciar a afirmação de que se trata de uma busca especial, da busca do inconsciente. É dessa forma que vejo o tom soturno, a escuridão redimensionada, a dor e a frustração que a crítica tem detectado no poema. Veja-se, pois, como essa articulação pode ser feita. A ode inicia-se com o eu poético contemplando a entrada de um navio na barra: Sozinho, no cais deserto, a esta manhã de Verão, Olho pro lado da barra, olho pro Indefinido, Olho e contenta-me ver, Pequeno, negro e claro, um paquete entrando. O fato – a chegada do navio – é saudado como um acontecimento, porque ele acende no espírito do poeta “uma doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea”. Aí já se fazem presentes alguns elementos que indiciam o mergulho no labirinto interior. Desse modo, enunciam-se algumas metáforas, como a do próprio navio que dirige essa volta do eu para si mesmo, partindo de um cais em busca de um outro porto: Ah, quem sabe, quem sabe, Se não parti outrora, antes de mim, Dum cais; se não deixei, navio ao sol Oblíquo da madrugada, Uma outra espécie de porto! 5 Campos, 1995, p. 314-335. da palavra 279 Parecem nítidas as imagens que apontam o rumo de uma busca interior, na direção de um lugar diferente, desconhecido. E tais circunstâncias revelam a íntima conexão que as aludidas metáforas estabelecem com o desejo. Basta atentar para os termos que sustentam as metáforas para observar-se que “o paquete vem entrando” o que faz o eu poético confessar o tremor que toma conta de sua carne e de sua pele. É interessante verificar como o próprio texto revela a natureza metafórica do significante “navio” quando afirma: Os navios que entram na barra ............................................................. Todos esses navios assim comovem-me como se fossem outra coisa E não apenas navios indo e vindo ...................................................................................................... E os navios vistos de perto, mesmo que se não vá embarcar neles, ...................................................................................................... Os navios vistos de perto são outra coisa e a mesma coisa, Dão a mesma saudade e a mesma ânsia doutra maneira. Assim, o poeta tenta delinear essa “outra coisa”, que provoca “a mesma ânsia doutra maneira” de um modo peculiar, vendo-a entrando num cais, “Um grande cais cheio de pouca gente / Duma grande cidade meio-desperta”, que ele, significativamente situa “Tanto quanto isso pode ser fora do Espaço e do Tempo”, o que, de resto, parece sugerir a irrupção do desejo numa vertente que não se define claramente para o sujeito mas que lhe impõe uma busca que parte para o mais íntimo de seu ser. Se insistirmos numa pauta psicanalítica na leitura, poderemos encontrar outras sugestões muito significativas para essa ideia do desejo ardentemente buscado. Assim, logo depois de trazer à tona o significante “cais”, articulandoo, na importante imagem dos “navios entrando”, é de se notar o modo como o poema caracteriza o cais. Ele traz toda a sugestão do “útero materno”. Senão, vejamos o texto na sua clareza: Ah o Grande Cais donde partimos em Navios-Nações! O Grande Cais Anterior, eterno e divino! De que porto? Em que águas? E por que penso eu isto? Grande Cais como os outros cais, mas o Único Chamam a atenção, nos versos, alguns aspectos importantes: o fato de o cais e toda a referência a ele serem grafados com letra maiúscula; a ideia de um Lugar de onde se partiu, assim como a convicção de se tratar de um Lugar Único – “Grande Cais como os outros cais, mas o Único”. Tais elementos sugerem bastante nitidamente a ideia do nascimento e o desejo de recuperação do Lugar perdido – quase se poderia dizer, do Paraíso Perdido. Os versos que se seguem aos que acabo de citar só fazem reforçar essa ideia de nascimento como perda, na dimensão psicanalítica da falta, como o buraco que se impõe inexoravelmente ao ser. Nesse sentido, é impossível não enxergar tudo isso nos versos seguintes, que ilustram o que acabo de dizer: 280 da palavra E todo o nosso corpo angustiado sente, Como se fosse a nossa alma, Uma inexplicável vontade de poder sentir isto doutra maneira: Uma saudade a qualquer coisa,. Uma perturbação de afeições a que vaga pátria? A que costa? a que navio? a que cais? Que se adoece em nós o pensamento. E só fica um grande vácuo dentro de nós,, Uma oca saciedade de minutos marítimos, E uma saciedade vaga que seria tédio ou dor Se soubessem como sê-lo... Essa alusão à falta, à hiância insuperável, é que move o sujeito na elaboração do desejo, na busca do prazer e do gozo de cuja satisfação ele, sujeito, guarda apenas alguns laivos. Daí a necessidade do mergulho no interior, na tentativa de retomada da satisfação, uma vez que, segundo Freud, “o desejo está indissoluvelmente ligado a traços mnésicos e encontra a sua realização na reprodução alucinatória das percepções tornadas sinais dessa satisfação”.6 Tais traços ligam-se, de modo inconsciente, a sinais infantis indestrutíveis, pois, como diz A. Ehrenzweig, “as formas simbólicas inconscientes não são destruídas; elas estão ainda lá, abertas para os olhos e os desejos infantis recalcados que ainda reagem a elas”.7 Desse modo, pode-se perceber como o poema é pródigo no registro de cenas e situações que indicam bastante bem essa busca alucinada de um gozo anterior que não é fácil encontrar. Não é por outro motivo que até mesmo a morte – o gozo supremo – aparece como uma possibilidade, tal como se vê nos versos “Todos os mares, todos os estreitos, todas as baías, todos os golfos, / Queria apertá-los aos peitos, senti-los bem e morrer!”. É interessante verificar como essa articulação do desejo na busca do prazer elege o marinheiro como o seu principal significante. O encantamento é tanto e a busca de identificação funciona de modo tão imperioso que o eu poético como que grita: Quero ir convosco, quero ir convosco, ................................................................. Ter braços na vossa faina, partilhar das vossas tormentas, Chegar como vós, enfim, a extraordinários portos! Fugir convosco à civilização! Perder convosco a noção da moral! A ânsia de identificação com os marinheiros chega ao paroxismo de evocar, por alusões, que se fazem no deslizamento de significantes, figuras como as de Cristo e Ulisses: 6 Laplanche e Pontalis, 1977, p. 159. 7 Ehrenzweig, 1977, p. 107. Sim, sim, sim... Crucificai-me nas navegações E as minhas espáduas gozarão a minha cruz! Atai-me às viagens como a postes E a sensação dos postes entrará pela minha espinha da palavra 281 Essa entrega completa, total, absoluta à figura do marinheiro, tal como insinuada nos versos anteriores, é que gera o surgimento do lado feminino do eu poético. Nesse ponto, é bom lembrar os sinais infantis indestrutíveis aos quais o adulto se liga, assim como os desejos infantis recalcados que reagem aos mergulhos no inconsciente, pois, como ensina Juan-David Nasio, nas suas considerações sobre o etapa do Édipo no menino, a “fantasia mais típica do desejo de ser possuído é uma cena em que o menino sente prazer em seduzir um adulto para se tornar seu objeto. Essa fantasia é uma fantasia de sedução sexual em que o menino sedutor imagina-se seduzido pela mãe, por um irmão mais velho ou até mesmo, ainda que isso os surpreenda, pelo próprio pai. Com efeito, um menino pode desempenhar o papel passivo, eminentemente feminino, de ser a coisa do pai e fazê-lo gozar”.8 Essa posição diante do ser com quem o poeta quer identificar-se gera uma idolatria que o leva, voluntariamente, a ser uma vítima diante da majestade do outro: Ah, ser tudo nos crimes! ser todos os elementos componentes Dos assaltos aos barcos e das chacinas e das violações! Ser quanto foi no lugar dos saques! Ser quanto viveu ou jazeu no local das tragédias de sangue! Ser o pirata-resumo de toda a pirataria no seu auge, E a vítima-síntese, mas de carne e osso, de todos os piratas do mundo! Essa vítima-síntese tem como consequência natural a identificação com a figura feminina, numa ânsia de entrega total e de encontro com um lado feminino que a educação e a formação do adulto obscureceram e recalcaram, ao longo do tempo, mas que agora aparece com todas as cores: Ser o meu corpo passivo a mulher-todas-as-mulheres Que foram violadas, mortas, feridas, rasgadas p’los piratas! Ser no meu ser subjugado a fêmea que tem de ser deles! E sentir tudo isso – todas estas coisas duma só vez – pela espinha! Não é por outro motivo que Eduardo Lourenço vê, na “Ode marítima”, manifestações da sexualidade de Fernando Pessoa. Nesse passo, o poema parece confirmar aquela afirmação de J.-D. Nasio, de que, na evolução do Édipo, o “menino pode desempenhar o papel passivo, eminentemente feminino, de ser a coisa do pai e fazê-lo gozar”, de vez que não é difícil identificar a figura do pai nas referências ao marinheiro. Em alguns momentos, essa identificação é, inclusive, explícita, como nos versos em que o poeta faz alusão à figura paterna proscrita, tal como acontece no chamado acidente do simbólico: Ah, os paquetes, as viagens, o não-se-saber-o-paradeiro De Fulano-de-tal, marítimo, nosso conhecido! Ah, a glória de se saber que um homem que andava conosco Morreu afogado ao pé duma ilha do Pacífico! 8 282 da palavra Nasio, 2007, p. 31. São bastante significativas as alusões ao “Fulano-de-tal”, com letra maiúscula, ao “marítimo, nosso conhecido”, ao “homem que andava conosco”. Mas o confuso e labiríntico mundo penetrado, mundo do inconsciente, no qual se busca desesperadamente o desejo, espelha o turbilhão em que o sujeito mergulha, num choque de situações que dão bem uma mostra de como se convive nele com o paradoxo e a confusão. Nesses termos, se o marinheiro pode encarnar a figura do pai que intercepta a busca daquele desejo que quer restaurar a antiga e perdida unidade com a mãe, é de se notar também uma outra passagem do poema em que o marinheiro ganha um nome próprio e, aí, ele passa a ser o pai com quem o eu se identifica. Trata-se da referência que o poeta faz à figura do marinheiro inglês Jim Barns, a quem atribui o apelo ao eu para que mergulhasse nas águas. Entretanto, é preciso notar que essas águas que o chamam enviamlhe um “chamamento confuso”, o que, em termos metafóricos, é uma bela referência ao mundo interior, ao inconsciente. Vejam-se, pois, os versos: Chamam por mim as águas, Chamam por mim os mares. Chamam por mim, levantando uma voz corpórea, os longes, As épocas marítimas todas sentidas no passado a chamar. Tu, marinheiro inglês, Jim Barns meu amigo, foste tu Que me ensinaste esse grito antiqüíssimo, inglês, Que tão venenosamente resume Para as almas complexas como a minha O chamamento confuso das águas. Mas é importante notar que todas as identificações realizadas pelo eu poético, na tentativa de alcançar o seu imo profundo e, desse modo, capturar o desejo que implicaria a restauração de sua antiga unidade, levam-no ao encontro de um mundo informe, de forças incontroláveis, confuso, ameaçador. Pois é do encontro com essas pulsões desestruturadoras – poderia dizer, o encontro com as forças dionisíacas – que o eu poético vai derivar o sentimento do medo. É nesse momento que ele, sentindo “Grandes desabamentos de imaginação sobre os olhos dos sentidos, / Lágrimas, lágrimas inúteis, / Leves brisas de contradição roçando pela face a alma...”, busca uma saída, conforme de pode ver nos versos: Evoco, por um esforço voluntário, para sair desta emoção, Evoco, com um esforço desesperado, seco, nulo, A canção do Grande Pirata, quando estava a morrer: Fifteen men on the Dead Man’s Chest, Yo-ho-ho and a bottle of rum! É importante ter em mira que esse “Grande Pirata” que estava a morrer, tendo quinze homens debruçados sobre ele, continua a indiciar a figura paterna, só que, agora, esse pai tem todas as características do pai da tradição religiosa cristã. Embora o poeta tenha dito que essa “canção do Grande Pirata” seria “uma da palavra 283 linha reta mal traçada dentro de mim” – um claro traço da incerteza quanto a essa presença de um pai Jesus Cristo – vai-se verificar que, ante as agruras do que a imaginação da mente profunda produziu, o poeta se dá conta da inviabilidade dessa busca e do preço que teria de pagar por ela. Assim, ante o terror que já lhe afiguram as ações do pirata como o “paladar do saque”, a “chacina inútil de mulheres e de crianças”, a “tortura fútil... dos passageiros pobres”, a “sensualidade de escangalhar... as coisas mais queridas dos outros”, o eu poético sente a necessidade de renunciar ao seu desejo. Até mesmo porque forças mais altas se levantam contra esse apetite, tal como se pode ver nos versos seguintes: Lembro-me de que seria interessante Enforcar os filhos à vista das mães (Mas sinto-me sem querer as mães deles) Enterrar vivas nas ilhas desertas as crianças de quatro anos Levando os pais em barcos até lá para verem (Mas estremeço, lembrando-me dum filho que não tenho e está dormindo tranqüilo em casa). É aí, então, que o Grande Pirata ganha a dimensão do Grande Pai, ou seja, Deus, mas, curiosamente, essa é uma dimensão também daquele pai que já fora invocado, ou seja, Jim Barns: De repente – oh pavor por todas as minhas veias! -, Oh frio repentino da porta para o Mistério que se abriu dentro de mim e deixou /entrar uma corrente de ar! Lembro-me de Deus, do Transcendental da vida, e de repente A velha voz do marinheiro inglês Jim Barns com que eu falava, Tornada voz das ternuras misteriosas dentro de mim, das pequenas coisas de /regaço de mãe e de fita de cabelo de irmã, Mas estupendamente vinda de além da aparência das coisas, É nesse momento que se alcança o grande momento epifânico do poema. Ele já se insinuara momentos antes quando, ao tentar chamar a “fúria da pirataria”, percebera que isso seria feito através “duma imaginação quase literária”. Pois é aí que se alcança a revelação que a “Ode marítima” explicita. A volta à realidade, a uma realidade marcada pela ordem, pela claridade apolínea que vem substituir a escuridão dionisíaca. Tudo “tão maravilhosamente combinando-se / Que corre tudo como se fosse por leis naturais / Nenhuma coisa esbarrando com outra!”, graças ao reconhecimento de que “Nada perdeu a poesia”. Tem-se, assim, o momento redentor da arte enquanto forma de equilíbrio, de justa medida, de superação das tensões e do pânico ante o desconhecido. Tem-se, pois, a função estética, naquela dimensão que foi tão bem exposta por Schiller de articulação entre sensibilidade e racionalidade. Isso está indicado no poema através da imagem com que ele se iniciou: a metáfora do navio. Só que, agora, os navios enchem os portos e é essa presença num mundo claro, compreensível, confortável que traz a paz interior ao poeta. E esse mundo pacificado estabelece-se ainda na metáfora do navio. Mais precisamente, de um navio inglês, evocando a simpatia do poeta: 284 da palavra Despeço-me no corpo deste outro navio Que vai agora saindo. É um tramp-steamer inglês, Muito sujo, como se fosse um navio francês, Com um ar simpático de proletário dos mares, ......................................................................... Enternece-me o pobre vapor, tão humilde vai ele e tão natural. Parece ter um certo escrúpulo não sei em quê, ser pessoa honesta, Cumpridora duma qualquer espécie de deveres. Lá vai ele tranquilamente, passando por onde as naus estiveram Outrora, outrora... Fica bem patente nos versos a mudança de rumo exibida pela metáfora do navio. Agora tudo é naturalidade, é humildade, é tranquilidade. É a prevalência do escrúpulo, da honestidade. Como se vê, o mundo do inconsciente ficou para trás, submerso, novamente, nas suas profundezas insondáveis. Para substituir esse mundo ameaçador, veio a poesia. Anton Ehrenzweig delineia esse mecanismo criador, dizendo que “o processo de elaboração secundária (a criação literária) ajuda a mente de superfície a recuperar a carga de energia perdida e essa carga de energia passa a ser usada como um prazer estético”.9 Para finalizar, e me valendo do psicanalista alemão citado, diria que a “Ode marítima” é um exemplo do que ele chama de “elaboração secundária em um estilo”, ou seja, elaboração de um texto literário. Como Ehrenzweig pontua, o texto artístico oferece “uma gratificação inconsciente aos desejos recalcados na nossa mente profunda”. Mas, acentua o autor, devido “à enorme pressão que os desejos inconscientes exercem contra as forças da censura do superego”, a mente de superfície vê-se tomada de uma emoção dionisíaca dolorosa. Essa sensação é afastada pelo prazer estético presente na elaboração literária que compensa a perda da gratificação inconsciente, funcionando, assim, como um mecanismo substituto. É nesse sentido que se pode compreender as preciosas articulações linguísticas de que Fernando Pessoa se vale na urdidura metafórica de seu poema. Numa palavra, diria que o eu poético desce ao inconsciente, debate-se por entre suas ameaçadoras e dionisíacas forças, mas faz retornar a claridade do mundo através de seu poema. Permito-me, nesse passo, por ilustrativos, ler seus versos finais: 9 Ehrenzweig, 1977, p. 107. Passa, lento vapor, passa e não fiques... Passa de mim, passa de minha vista, Vai-te de dentro do meu coração. Perde-te no Longe, no Longe, bruma de Deus, Perde-te, segue o teu destino e deixa-me... Eu quem sou para que chore e interrogue? Eu quem sou para que te fale e te ame? Eu quem sou para que me perturbe ver-te? Larga do cais, cresce o sol, ergue-se ouro, Luzem os telhados dos edifícios do cais, Todo o lado de cá da cidade brilha... Parte, deixa-me, torna-te da palavra 285 Primeiro o navio a meio do rio, destacado e nítido, Depois o navio a caminho da barra, pequeno e preto, Depois ponto vago no horizonte (ó minha angústia!), Ponto cada vez mais vago no horizonte..., Nada depois, e só eu e a minha tristeza, E a grande cidade agora cheia de sol E a hora real e nua como um cais já sem navios, E o giro lento do guindaste que, como um compasso que gira, Traça um semicírculo de não sei que emoção No silêncio comovido da minh’alma... REFERÊNCIAS ANTUNES, António Lobo. As naus. Lisboa: Publicações Quixote, 1988. CAMÕES, Luís de. Obras de Luís de Camões. Porto: Lello & Irmão - Editores, 1970. CAMPOS, Álvaro de. Poesias de Álvaro de Campos. In: PESSOA, Fernando, Obra poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar S.A., 1995. EHRENZWEIG, Anton. Psicanálise da percepção artística. Uma introdução à teoria da percepção inconsciente. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977. GUEVREMONT, Germaine. Le Survenant. Montréal: Fides, 1974. HEMON, Louis. Maria Chapdeleine. Paris: Nelson, 1956. LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da psicanálise. Lisboa: Moraes Ediores, 4ª. ed., 1977. NASIO, Juan-David. Édipo: o complexo do qual nenhuma criança escapa. Rio de Janeiro: Zahar Ed., 2007. 286 da palavra da palavra 287 288 da palavra Nietzsche, Freud e Marx: Ricouer, Foucault e a questão da hermenêutica Ernani Chaves1 Ao lado: Michel Foucaut, reprodução 1 Professor da Faculdade de Filosofia da UFPA. 2 Este livro tinha sido publicado em 1967, pela Editora Buriti, de São Paulo. Proferi a presente palestra quando do lançamento da 2ª edição do livro, na Livraria da UFPA, no Campus Universitário do Guamá, em 2004. Fiz alguns acréscimos e modificações para esta publicação. O título desta palestra merece, de início, um esclarecimento. Pois se trata, neste momento, de homenagear mais uma vez o Prof. Benedito Nunes, por ocasião do relançamento de seu livro Filosofia Contemporânea, pela Editora da UFPA.2 É que, ao olhar o índice da nova edição, percebi que diversos acréscimos foram feitos, entre eles, a inclusão de dois dos principais pensadores de nossa época. Refiro-me a Paul Ricouer e Michel Foucault. Dois pensadores que, num momento muito preciso de minha trajetória acadêmica, me foram muito caros. Quando escrevia minha dissertação de mestrado sobre Foucault e a Psicanálise, no começo dos anos 1980, foi por indicação do Prof. Benedito que comprei e li o livro de Ricouer sobre Freud. Por isso, achei que seria interessante, para esta ocasião, fazer uma espécie de “prestação de contas” ao Prof. Benedito, da leitura que fiz há tanto tempo atrás e que não apareceu na dissertação. Na verdade, o livro de Ricouer sobre Freud nunca teve no Brasil uma grande acolhida, sempre foi deixado à margem, por diversas razões que não são importantes agora discutir. E eu, ao retirá-lo de meu trabalho, acabei por corroborar esta situação marginal. Assim sendo, ao mesmo tempo em que presto contas ao Prof. Benedito, também faço justiça ao impressionante trabalho de Ricouer. Vou me deter num único ponto, dentre muitos que poderia abordar, nesta conjunção entre Ricouer e Foucault, um ponto que também é central na reflexão do Prof. Benedito: trata-se da questão da hermenêutica, ou melhor, dos destinos da hermenêutica na modernidade, a partir da posição que Ricouer e Foucault atribuem, cada um a seu modo, a Nietzsche, Freud e Marx. Para isso, tomarei como referências básicas o livro de Ricouer sobre Freud - Da Interpretação: ensaio sobre Freud (originado de três conferências na Universidade de Yale, em 1961, publicado na França em 1965 e no Brasil em 1977) - e a célebre conferência de da palavra 289 Foucault, intitulada justamente “Nietzsche, Freud e Marx” e proferida, em 1964, no Colóquio “Nietzsche”, realizado na Abadia de Royaumont, na França. Gostaria então de mostrar um pouco da confrontação possível entre as posições desses dois grandes pensadores de nossa época, a propósito da questão da hermenêutica. I Partindo da ideia de que o problema filosófico contemporâneo por excelência é o da linguagem, Ricouer pode justificar assim, seu interesse por Freud. Desta perspectiva, ao lado das investigações de Wittgenstein, da filosofia lingüística dos ingleses, da fenomenologia oriunda de Husserl, das pesquisas de Heidegger , dos trabalhos dos exegetas do Novo Testamento como Bultmann, dos trabalhos de história comparada das religiões e de antropologia, Ricouer alinha a Psicanálise. E desde o início do primeiro capítulo do livro, já deixa enunciar sua tese: as “vissicitudes das pulsões”, diz ele, “só podem ser atingidas nas vissicitudes do sentido”. Com isso, Ricouer antecipa sua vinculação da problemática da linguagem e da interpretação em Freud aos seus próprios pressupostos teóricos, ou seja, a ideia, que vem da Fenomenologia de Husserl e que se amplia com Heidegger, de que a interpretação supõe a busca do sentido. Entretanto, qual é a grande tensão, a “tração extrema” que marca a modernidade, como nos diz Ricouer, senão aquela que existe entre a hermenêutica como “restauração do sentido” - este é o lado onde o próprio Ricouer se coloca (1977, p. 33) - e a hermenêutica oriunda da “escola da suspeita”, cujos mestres, é ele ainda quem nos diz, são Freud, Nietzsche e Marx? Para nos esclarecer acerca desta tensão, Ricouer parte da ideia de Deutung ou ainda de Auslegung, tal como enunciada no livro fundamental de Freud acerca do tema: Die Traumdeutung, A Interpretação dos Sonhos, de 1900. Ele nos diz que devemos a Nietzsche a introdução do conceito filológico de Deutung na reflexão filosófica. De todo modo, Nietzsche o fez, continua ele, a partir de um novo conceito de Vorstellung, “representação”, que teria implodido a posição kantiana sobre o tema: não se trata mais, a partir de Nietzsche, como o era ainda para Kant, de saber como uma representação subjetiva pode ter uma validade objetiva, mas de referir-se a “uma nova possibilidade que não é mais nem o erro no sentido epistemológico, nem a mentira no sentido moral, mas a ilusão (...)” (1977, p. 32). Trata-se portanto, de um deslocamento do conceito de símbolo como “duplo sentido”. Se uma hermenêutica da restauração do sentido supõe a existência necessária do sentido e, desse modo, símbolo e sentido caminham juntos, na escola da suspeita, nessa hermenêutica da destruição, mais do que o lugar do sentido está em questão o próprio ato de interpretar e com isso, desaparece do horizonte, toda ideia de uma hermenêutica geral, de um cânon universal para a exegese e, em seu lugar, surgem teorias separadas e opostas, dizendo respeito às regras mesmas da interpretação. A consequência disso, para Ricouer, seria o rompimento do que ele chama de “campo hermenêutico”, ou seja, dessa esfera de atuação específica do símbolo ou do duplo sentido, no interior do campo maior e mais vasto da própria linguagem. 290 da palavra O tema de Ricouer é o pensamento de Freud e sua ambição é examinar se Freud está inteiramente do lado dos “mestres da suspeita” ou se a Psicanálise pode ainda também ser entendida como “busca do sentido”. A argumentação de Ricouer começa confrontando Freud com a hermenêutica do sentido e alinhando-o aos seus companheiros de “suspeita”, Nietzsche e Marx. Ao final do livro - que provocou reações bastante inflamadas - Freud está situado a meio-caminho entre uma e outra atitude hermenêutica. Entretanto, cabe-nos no momento apenas perguntar, com Ricouer, o que liga Freud a Nietzsche e a Marx. Em outras palavras, em que consiste a “escola da suspeita” por oposição à “escola da reminiscência”, o outro nome que Ricouer dá à hermenêutica como “restauração do sentido”. Ricouer começa por “recuperar”, como se diz hoje, Freud, Nietzsche e Marx. Marx deve ser libertado da redução ao economicismo e da absurda teoria da consciência como reflexo; Nietzsche, do biologismo e da ideia de um perspectivismo incapaz de enunciar-se a si mesmo sem contradição e Freud, por sua vez, de um confinamento na psiquiatria e da redução a um pansexualismo simplista. E se podemos indicar entre eles, malgrado as grandes diferenças, um ponto em comum, este deve ser, de início, o da ideia da consciência como “falsa”: “O filósofo formado na escola de Descartes sabe que as coisas são duvidosas, que não são tais como aparecem. Mas não duvida de que a consciência não seja tal como aparece a si mesma: nela, sentido e consciência do sentido coincidem. Depois de Marx, Nietzsche e Freud, duvidamos disso. Após a dúvida sobre a coisa, ingressamos na dúvida sobre a consciência” (1977, p. 37). Assim sendo, a teoria da ideologia, o conceito de vontade de poder e o de pulsão formulariam, em cada um dos três pensadores, o meio pelo qual eles pretendem “destruir” o edifício da filosofia moderna da consciência que se erigiu a partir de Descartes. Entretanto, mais uma vez Ricouer “recupera”, a sua maneira, Nietzsche, Freud e Marx. E desta vez, a partir da ideia de “destruição” presente em Ser e Tempo, de Heidegger. Não se trata, portanto, de dizer que os “mestres da suspeita” são os “mestres do ceticismo”. Muito pelo contrário, pois segundo Heidegger, o momento da destruição é fundamental e constitutivo de “toda nova fundação”. E assim, torna-se imperioso para Ricouer, justamente para indicar as limitações da “escola da suspeita”, dizer em que consiste a “nova fundação” da “escola da suspeita”: a invenção de uma arte de interpretação! E, com isso, todos os três se dirigem para o horizonte de “uma palavra mais autêntica”, de um “novo reino da Verdade”, vencendo “a dúvida sobre a consciência através de uma exegese do sentido”. A partir deles, ainda Ricouer, “a compreensão se torna uma hermenêutica: doravante procurar o sentido não significa mais soletrar a consciência do sentido, mas decifrar suas expressões”. A “escola da suspeita”, nesta perspectiva, torna-se também, aos olhos de Ricouer, na “escola da astúcia”. Em vista disso, instaura-se uma nova relação entre o patente e o latente, na qual a categoria fundamental da consciência não é mais a clareza e a distinção, mas a relação entre o que se mostra e o que se oculta, entre o que se manifesta e o que se simula, em outras palavras, a “ilusão” da palavra 291 torna-se agora constitutiva da própria consciência. A “escola da suspeita”, portanto, nos ensinaria, fundamentalmente, a não apenas suspeitar, mas também, insidiosamente, astuciosamente, a nos indicar algo que vai além da suspeita: Freud, através da dupla entrada do sonho e do sintoma neurótico, nos conduz à decifração da “econômica das pulsões”; Marx, a partir dos limites da alienação econômica fomentada pela ideologia, nos conduz a uma outra “economia”, a “política” e Nietzsche, a partir do problema do “valor”, nos conduz, do lado da “força” e da “fraqueza” da vontade de poder, para o desvendamento das máscaras e ilusões. Processo de “desmistificação”, que se apresenta em cada um desses autores, com objetivos diferentes, mas que, no fundo, remetem a uma única coisa, qual seja, a da consciência como máscara, como veículo de representações ilusórias, que nos aprisionam, seja à alienação de classe, seja aos imperativos morais, seja às injunções do recalque. Assim, revolução, transvaloração e processo analítico se constituiriam numa espécie de “grande astúcia”, através da qual a “escola da suspeita” acabaria por se legitimar. Esta é, grosso modo, a posição de Ricouer, que aponta, como pretendi mostrar, uma espécie de insuficiência, de incompletude, por parte da “escola da suspeita”, da qual deveríamos, com os pressupostos fenomenológicos, também “suspeitar”. Sem desconhecer a importância de Nietzsche, Freud e Marx, Ricouer assinala, entretanto, os impasses de suas respectivas posições para enfatizar a sempre necessária “busca do sentido”. No outro extremo desta posição, podemos situar Michel Foucault. II No Colóquio “Nietzsche” de Royaumont, em 1964, onde estiveram presentes grandes intérpretes de Nietzsche, oriundos da Alemanha (como Karl Löwith) da Itália (como Gianni Vattimo, mas também Giorgio Colli e Mazino Montinari, organizadores da edição crítica de Nietzsche) e da própria França (Jean Wahl, Gabriel Marcel, Jean Beaufret, Gilles Deleuze e Pierre Klossowsky, entre outros), Foucault, já então o conhecido autor de História da Loucura na Idade Clássica retoma, por outras vias, como veremos, a mesma questão de Ricouer, qual seja, o conceito de interpretação em nossa época e o papel desempenhado na formulação de uma nova hermenêutica, por Nietzsche, Freud e Marx. Comecemos pelo final, ou seja, pela posição de Foucault diante da hermenêutica como “restauração do sentido”. Digo, do “final”, porque esta questão só vai aparecer explicitamente, no debate que se seguiu à exposição de Foucault. E dentro de um contexto bem específico, uma vez que falar de uma her menêutica do sentido na perspectiva de Ricouer é falar do papel desempenhado na história da interpretação, da exegese religiosa, em especial, da exegese bíblica. Ora, para Ricouer ainda, a “escola da suspeita” ao se opor à hermenêutica como “restauração do sentido”, se opõe a toda fenomenologia do sagrado: “o contrário da suspeita, dizendo de modo brutal, é a fé” (1977, p. 33). Mas, não se trata, evidentemente, da fé ingênua, mas da fé do hermeneuta, isto é, “de uma fé racional”, na medida em que se põe a caminho da interpretação. 292 da palavra 3 Sobre Foucault e a Fenomenologia neste período, ver LÉBRUN, 1985. Há um afastamento progressivo de Foucault em relação a Fenomenologia, tendo como cerne a questão do “sujeito”: ao “sujeito do tipo fenomenológico, trans-histórico”, que não “é capaz de dar conta da historicidade da razão”, Foucault opõe o corte operado por Nietzsche (1994c, p. 436). 4 Para a concepção de “arqueologia” em Foucault, a referência fundamental ainda é MACHADO (1982). Pois bem: uma das eminentes figuras que acompanhou a exposição de Foucault era um conhecido filósofo da religião, o vienense e judeu Jacob Taubes (1923-1987), que desde 1975, era professor na Freie Universitât, de Berlim. Taubes perguntou a Foucault porque ele havia excluído as técnicas de exegese religiosa de sua exposição e, mais ainda, afirmava, ao contrário do que dissera Foucault, que era a Hegel (e não à tríade Nietzsche, Freud e Marx), que devíamos o deslocamento do conceito de interpretação em nossa época. A resposta de Foucault foi a seguinte (1967, p. 194; 1994, p. 575): ele não se referiu à exegese religiosa, embora reconhecesse sua importância, “porque na brevíssima história que retracei, me coloquei ao lado dos signos e não do sentido” e, acrescenta, que “o corte do século XIX bem poderia ter acontecido sob o nome de Hegel”, embora existam outros aspectos tão “importantes quanto à filosofia hegeliana, para concluir, de maneira lapidar: “é preciso não confundir história da filosofia com arqueologia do pensamento”. Ora, por isso é que resolvi começar pelo final, ou seja, para mostrar que o duplo ponto de partida de Foucault, o privilégio do signo sobre o sentido e o método (não uma história da filosofia, mas uma arqueologia do pensamento), se constitui numa distância bastante grande em relação a Ricouer. Poder-se-ia dizer, grosso modo, que Foucault, que já havia assinalado os impasses da Fenomenologia em As Palavras e as Coisas, assuma um ponto de partida ainda impregnado pelo Estruturalismo.3 Embora, tanto quanto Ricouer, Foucault colocava, naquela época, a questão da linguagem no centro de seu pensamento. Entretanto, sua aproximação do Estruturalismo, fazia-o valorizar o signo e não o sentido. Por outro lado, ao dizer que faz “arqueologia” e não “história da filosofia”, Foucault demarca também sua perspectiva diante da tradição universitária na qual ele mesmo foi formado4. Talvez, não por acaso, na sua aula inaugural no Collège de France, em 1971, ele tenha feito o elogio de seu professor Jean Hypolite. Foucault entendia talvez, que a grande obra de Hypolite sobre a Fenomenologia do Espírito, de Hegel, fosse algo mais do que uma obra de História da Filosofia e sim uma escavação aprofundada no solo do pensamento hegeliano e com isso, ao mesmo tempo, revolvia o solo do próprio pensamento ocidental. Não que Foucault quisesse dizer que o livro de Ricouer sobre Freud pudesse ser restringido a uma obra de História da Filosofia. Mas que, ele mesmo, quando escrevia sobre filósofos, não o fazia a partir dos pressupostos de leitura, historicamente assentados na universidade francesa. Ao afastar-se da questão do sentido, Foucault afasta-se de toda tentativa de entender a hermenêutica como “restauração do sentido”. E, com isso, não há, do ponto de vista em que ele se coloca uma “escola da suspeita” em oposição a uma “escola da reminiscência”, pura e simplesmente porque, segundo ele, a história das técnicas de interpretação não mostra a suspeita contra a reminiscência, mas sempre a suspeita, inegavelmente a suspeita (1967, p. 183; 1994a, p. 564). E isso em dois aspectos: a primeira suspeita é a de que a linguagem nunca diz o que diz, aquilo que os gregos chamavam de “allegoria” e “hypnoïa” e a segunda suspeita é a de que a linguagem ultrapassa sua forma da palavra 293 propriamente verbal e que há muitas outras coisas no mundo que também falam, o que os gregos chamavam de “semaïnon”. Estas duas suspeitas, que fundam o pensamento ocidental junto com os gregos, nos acompanham até hoje diz Foucault: “Creio que cada cultura, quero dizer, cada forma cultural na civilização ocidental teve seu sistema de interpretação, suas técnicas, seus métodos, suas maneiras de suspeitar que a linguagem quer dizer outra coisa do que ela diz e de suspeitar que há linguagem para além da linguagem” (1967, p. 184; 1994a, p. 565). Foucault inicia então seu texto estabelecendo um modelo de comparação para que compreendamos melhor a renovação de Freud, Nietzsche e Marx, nos lembrando de que, no século XVI, por exemplo, o trabalho da interpretação se baseava no império das “semelhanças”: “Lá onde as coisas se assemelham, lá onde isso se assemelha, alguma coisa quer ser dita e pode ser decifrada; sabe-se bem a importância do papel desempenhado na cosmologia, na botânica, na zoologia, na filosofia do século XVI, da semelhança e de todas as noções que gravitam em torno dela, como satélites” (1967, p. 184; 1994a, p. 565). Assim, é a episteme da semelhança (e aqui Foucault antecipa a linguagem de Les mots e les choses, livro no qual já se encontrava trabalhando naquela época), que domina no século XVI e a teoria do signo e das técnicas de interpretação nesta época repousam sobre uma definição perfeitamente clara de todos os tipos de semelhança que fundam, por sua vez, dois tipos distintos de conhecimento: a “cognitio”, a passagem de uma semelhança a outra e a “divinatio”, o conhecimento em profundidade, que ia de uma semelhança artificial a outra mais profunda. Apesar da crítica que Descartes e Bacon fizeram à rede de semelhanças, Foucault não reconhece neles e em nenhum de seus pósteros, o privilégio de ter, de fato, instaurado uma nova técnica de interpretação, pois apenas Nietzsche, Freud e Marx fundaram, diz Foucault, a possibilidade de uma nova hermenêutica. Este é o ponto de maior convergência entre Foucault e Ricouer. Entretanto, repito, Foucault não oporá, como Ricouer, uma escola da suspeita a uma escola da reminiscência. Isso porque nesta época ele já se afastara da Fenomenologia, para se inscrever mais radicalmente na tradição que tenta pensar a partir da constatação e da afirmação da “morte de Deus”. Em outras palavras, se Foucault não se interessa pelo sentido, é porque, como veremos, já não há mais nenhum sentido a encontrar. Qual deslocamento então foi operado por Nietzsche, Freud e Marx na concepção de signo, de tal modo que eles fundam uma nova “arte de interpretar”? Os argumentos de Foucault poderiam ser resumidos da seguinte maneira: 1. pela negação de uma profundidade ideal, uma vez que se abre um novo espaço de repartição dos signos: o espaço da superfície. Aqui, por exemplo, Foucault relembra uma passagem da abertura do Capital, de Marx, quando este diz que deverá , à diferença de Perseu, se afundar na bruma para mostrar, de fato, que não há nem monstros nem enigmas profundos, pois tudo que há de profundo na concepção burguesa da moeda, do capital, do valor, não passa de “superficialidade”. 294 da palavra 2. os signos não se reenviam mais uns aos outros (como na episteme da semelhança renascentista), mas por sua inesgotável profusão, pelas suas infinitas facetas, abrindo portanto a possibilidade de uma interpretação infinita, sempre inacabada; neste ponto, Foucault lembra a diferença entre “começo” (le commencement) e “origem” (l’ origine) em Nietzsche. O “começo”, ao contrário da “origem”, remete ao caráter infinito da interpretação, a uma abertura que lhe é irredutível. Como sabemos, alguns anos depois, em 1971, Foucault, em “Nietzsche, a genealogia e a história”, refinará a distinção nietzschiana entre “começo” e “origem”: aquele, recoberto com mais intensidade pelos termos Entstehung (proveniência, ponto de surgimento) e Herkunft; (emergência, entrada em cena das forças em confronto, num jogo perpétuo, que deixa suas marcas no corpo); esta, como busca metafísica, Ursprung, do que é sempre dado antes como verdadeiro, belo e bom (1994b, p. 136; 1979, 15). 3. ao negar qualquer referência a um significado absoluto, a chave da hermenêutica moderna é que tudo já é interpretação, que todo signo não remete a uma coisa, mas sempre a um outro signo (o que não quer dizer, evidentemente, que todas as interpretações sejam verdadeiras); aqui, por sua vez, podemos lembrar de Freud. Com efeito, pergunta Foucault, o que ele descobre por trás dos sintomas senão outros signos, os “fantasmas”, com sua carga de angústia, isto é, um cerne que já é no seu próprio ser, uma interpretação? E, em decorrência da distinção entre “começo” e “origem”, ele dirá que, em Nietzsche, “não há um significado original” (1994a, p. 572; 1967, p. 190). 4. a negação de qualquer referência a um significado absoluto submete a interpretação à tarefa de interpretar-se a si mesma: “Não se interpreta o que há no significante, mas se interpreta no fundo: quem interpreta” (1994a, p. 573; 1967, p. 191).5 Disso, Foucault tira uma dupla consequência: primeiro, que o princípio da interpretação nada mais é do que o intérprete e segundo, que a interpretação não se dá num tempo linear e homogêneo, mas sim num tempo que lhe é próprio, num tempo circular. Enfim, uma vez que não há crença em signos imóveis, irreversíveis e absolutos, a vida da interpretação seria uma espécie de “eterno retorno” das interpretações ou ainda, segundo uma famosa afirmação de Nietzsche: “não há fatos, somente interpretações”. O destaque em quem existe apenas na publicação de 1967 e não na de 1994. 5 Em que medida Foucault segue Ricouer e em que medida se afasta dele? Sem dúvida, como Ricouer, Foucault também considera, pelo menos neste período de seu pensamento, que a questão da linguagem é a questão central da filosofia. Do mesmo modo, ele também concede a Nietzsche, Freud e Marx um lugar privilegiado na história das técnicas de interpretação. Com isso, ele também considera que a Filosofia precisa confrontar-se com a Psicanálise, ou que sem essa confrontação com Freud o pensamento filosófico contemporâneo não pode ir muito longe. Mas, talvez eu pudesse resumir numa palavra, a distância que separa Foucault de Ricouer: a figura de Nietzsche, o pensamento de Nietzsche. Eis o ponto onde, pelo menos neste momento,6 não pode haver acordo entre eles. É Nietzsche o fiel da balança e é ele quem, no fundo, dá as cartas quando da palavra 295 Foucault se refere à questão da interpretação. Interpretação e perspectivismo no sentido nietzschiano se constituiriam assim, nos grandes antípodas, para Foucault, da hermenêutica enquanto restauração do sentido. REFERÊNCIAS FOUCAULT, Michel (1967), “Nietzsche, Freud et Marx”. In: Nietzsche. Cahiers de Royaumont. Paris: Éditions de Minuit. (1979), “Nietzsche, a genealogia e a história”. In: Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Graal. (1994a). “Nietzsche, Freud et Marx”. In: Dits et écrits. Paris: Gallimard, vol. I. (1994b). “Nietzsche, la généalogie, l’ histoire”. In: Dits et écrits. Paris: Gallimard, vol. II. (1994c). “Structuralisme and Post-Structuralisme”. In: Dits et écrits. Paris: Gallimard, vol. IV. LEBRUN, Gérard (1985). “Transgredir a finitude”. In: RIBEIRO, Renato Janine (Org.). Recordar Foucault. São Paulo: Brasiliense. MACHADO, Roberto. Ciência e saber: a trajetória da arqueologia de Foucault. Rio de Janeiro: Graal, 1982. MARTON, Scarlet (1985). “Foucault, leitor de Nietzsche”. In: RIBEIRO, Renato Janine (Org.). Recordar Foucault. São Paulo: Brasiliense. RICOUER, Paul (1977). Da interpretação: ensaio sobre Freud. Rio de Janeiro: Imago. (2000). La mémoire, l´histoire, l’ oublie. Paris: Éditions du Seuil. 296 da palavra 6 Posteriormente, Ricouer vai nuançar bastante sua interpretação de Nietzsche, além de utilizar largamente a Arqueologia do saber, de Foucault, para seus próprios projetos teóricos (RICOUER, 2000). Para uma leitura crítica da interpretação foucaultiana de Nietzsche, que remete aos mesmos textos que estou comentando, ver Marton, 1985. Para que fenomenologia “da” educação e “na” pesquisa educacional? Aniceto Cirino da Silva Filho1 1 Mestre em Educação: Ensino Superior e Gestão Universitária pela Universidade da Amazônia e professor de Filosofia da UNAMA e do Instituto Regional de Formação Presbiteral – IRFP. 2 SILVA FILHO, Aniceto Cirino da. Produção/transmissão de conhecimento na Universidade: uma questão a investigar. Belém: UNAMA, 2003 No início de um estudo, já publicado2, cujo tema foi “Produção/ Transmissão de conhecimento na Universidade: Uma questão a investigar”, meu propósito foi refletir a Universidade, como locus eminente do pensar/ criar e de servir à comunidade, tendo em vista a formação docente no ensino superior, os determinantes do ensinar e do aprender que se experienciam na vida acadêmica numa correlação noesis-noema-noesis e as interrelações essenciais entre as concepções de conhecimento e as concepções de aprendizagem e ensino. Foi com esta prematura intenção de pesquisa que decidi – para obter algumas orientações teórico-metodológicas – conversar (que aqui se entenda perguntar e responder entre pessoas unidas pelo interesse comum da busca) com a maior expressão viva da Filosofia no Pará, meu ex-professor Benedito Nunes. Num primeiro diálogo e, não ficou somente neste, em sua própria residência, Benedito me recebeu para que esclarecesse acerca desse “objeto” de investigação. Disse a ele que minha trajetória, diferentemente das pesquisas empíricas, era para interrogar os fundamentos epistemológicos da educação que têm constituído eixos de estudo da produção do conhecimento nas áreas da Pedagogia, apontando problemas, limitações e exclusivismos. Decerto, não como modelo, mas numa tentativa de colocar em suspensão (epoché) o próprio ensino e a pesquisa educacional como um “que fazer” sem as quais a educação (exducere) nada significa, tomei intuitivamente a Fenomenologia à descrição da existência de tendências teórico-metodológicas que incidem na produção científica e que ficam subtendidas sobre as quais nem mesmo alguns pesquisadores têm consciência. da palavra 297 Assim, partilhei com o mestre as minhas inquietações, mas fui logo advertido por ele de que a fenomenologia só é um qualificativo da pedagogia porque constitui uma teoria da experiência humana alargada. Era, pois, minha tarefa, num valor de tentativa, pôr em ordem e justificar um discurso sobre as práticas pedagógicas na universidade e elaborar uma crítica da educação. Daí em diante persegui a ideia de tornar visíveis abordagens epistemológicas que norteiam a docência e fui buscar um método e/ou filosofia (fenomenologia) para que as atividades educacionais se mostrassem (phainomenon) na sua clareza (aletheia) à consciência intencional dos sujeitos (visée de la conscience), sobretudo, através de minha “existência” (Dasein) como professor (ser/pessoa de possibilidades) que se desoculta mundanamente e se auto-conhece nas relações inter-pessoais, aberto às coisas e aos outros (ser com mit-sei), no espaço e no tempo (Kairós) social. Para que fenomenologia “da” educação e “na” pesquisa educacional? Esta foi a interrogação introdutória, porém essencial a uma boa conversa com o meu instigador. Ora, se introduzir (introducere) é a ‘ação de levar para dentro’, a questão me possibilitou um deslocamento eficiente numa direção que eu mesmo escolhi. Certamente, Benedito Nunes me instigou a lavrar um tento ao escolher conscientemente um procedimento de investigação organizado (methodus) importante para alcançar a realização de minha perspectiva. Como todo problema filosófico - cuja resposta é desconhecida, porém a sua essência é a necessidade de conhecer -, retomei as práticas educacionais como quem retorna às coisas mesmas tendo em vista que essas próprias práticas se apresentam a mim como algo que existe e que precisa ser “novamente” investigado para encontrar o sentido único, o significado próprio, a forma verdadeira de educare. Eis aí uma afecção (significado na tradição filosófica), indispensável ao conhecimento intelectual, cujo artigo teria de se iniciar com aquela indagação que se impôs objetivamente e foi assumida subjetivamente: PARA QUE FENOMENOLOGIA “DA” EDUCAÇÃO E “NA” PESQUISA EDUCACIONAL? Durante muito tempo, a educação brasileira empacou numa concepção e tendência idealistas imputando uma ação pedagógica cujo aprendizado apoiavase, essencialmente, na consciência do educando. Como não fosse suficiente, modelou-se também pelos ditames do autoritarismo e da prática antidialógica, próprios da educação positivista que visava tão somente a integrar e/ou adaptar o ser humano à ordem social estabelecida. Contudo, entre as mais diversas criações culturais que são sustentadas e melhoradas – no tempo histórico – por meio das experiências ativas, profundamente humanas, a educação será sempre o fenômeno da aprendizagem da cultura. Todavia, é preciso compreendê-la, procurando os sentidos da existência do ser humano como aquele que a realiza, torna-a possível, ou seja, é preciso significar a educação vivida humanamente como tal. 298 da palavra A essência da educação é compreender o sentido global da existência humana inacabada para que, nesta existencialidade, o projeto humano se realize buscando o seu ser-possível. Não há educação, mas alienação, se nós, seres humanos, vivermos sem perceber o significado compreensivo de que as nossas vidas realmente têm com relação ao inesgotável mundo. Isso supõe que precisamos “estar sendo” e, do mesmo modo, necessitamos qualificar uma educação num processo contínuo do refazer-se. Devemos, sim, considerar a educação como um produto cultural, isto é, aprendizagem da cultura, mas,é por meio da aprendizagem que alcançamos a esfera da humanização propriamente dita e nos tornamos diferentes do resto dos entes que habitam o mundo, visto que somos, pelo trabalho, capazes de criação cultural, acrescentando sempre algo de novo à natureza e aprimorando o nosso mundo-vida-educacional: Promover a aprendizagem é promover a cultura, e isto também é trabalho. Tanto mais que a aprendizagem humana e significativa tem exigências que não permitem a improvisação e a superficialidade. Neste sentido, a qualificação dos docentes é tão importante quanto a preparação da “mão-de-obra” especializada para os outros setores da atividade humana. É mesmo mais importante, uma vez que se trata de um trabalho mais especial, visando a geração da cultura pela transformação dos sujeitos humanos e da sociedade. (REZENDE, 1990 p. 72) Jamais se ignora que a permanente transformação da mulher e do homem se realiza em torno da necessidade de melhorar o seu modo de viver, procurando formas adequadas de crescer e progredir em seu sistema social, em contínua troca de saberes não só entre humanos, como também entre humanos e o mundo, possibilitando novas aprendizagens. Redescobrir o significado da compreensão educacional, o tipo de sociedade em que essa está inserida, segundo a esfera vivencial dos sujeitos que a ela se remetem, impõe a todos os educadores vários desafios. Assim, interrogar a educação, uma vez que a sua existencialidade envolve pessoas que a manifestam intencionalmente e a acolhem, é considerá-la como um fenômeno próprio, universal e necessário, da experiência humana. A análise da experiência educacional, voltando-se para o lado-sujeito ou noético, se torna, fundamentalmente, análise da vida do sujeito no qual e para o qual se constitui o sentido da educação e da existência do sujeito no mundo. Isto significa, igualmente, que o fenômeno educação é humano, demasiadamente humano. É próprio, então, da reflexão fenomenológica, ao se voltar para a experiência humana como fenômeno, ressignificar o sentido existencial do Ser, mas, para tanto, é necessário compreendermos – a exemplo de Heidegger em sua analítica da existência – um Ser transformado num ente, em algo concreto, um Ser que constitui o mundo-vida e assim aparece como homem, que, no seu sentido particular, é o “Ser-aí”. Para não digredir da linguagem heideggeriana cuja palavra predominante é Dasein, insistimos com a sua etimologia: da (aí, lugar onde o Ser se desvela no da palavra 299 próprio homem) e Sein (presença existencial). O Dasein designa o homem, ente singular e concreto; não o homem em si mesmo substancializado na tradição ontológico-metafísica, mas aquele que, ao se encontrar aí, coloca o seu Ser em questão; portanto, o Dasein pertence ao campo ôntico do existente, daquilo tal qual é (ação e abertura), ou seja, “o ente que temos a tarefa de analisar somos nós mesmos” (HEIDEGGER, 1993 p. 67). O Dasein é o Ser situado, engajado numa dada realidade concreta; sua essência é se lançar no mundo-vida e neste se fazer presente, colocando a sua própria existência em questão. O homem realiza sua essência na existência, uma vez que o seu caráter mais universal e particular de existir é a sua própria essência: O dasein sempre se compreende a si mesmo a partir de sua existência, de uma possibilidade própria de ser ou não ser ela mesma. Essas possibilidades são ou escolhidas pelo próprio dasein ou um meio em que ele caiu ou já sempre nasceu e cresceu. [...] a questão da existência sempre só poderá ser esclarecida pelo próprio existir. (HEIDEGGER, 1993 p 39) Na vida cotidiana, o homem – caracterizado pela sua facticidade, “ser-nomundo” sem ter escolhido tal mundo para viver – projeta-se para fora de si mesmo, relaciona-se com outros homens (“Ser-com”), mas não consegue escapar de sua total ruína, o que implica dizer que o Dasein, ao desviar-se de seu projeto essencial para se ocupar com preocupações rotineiras da vida cotidiana, tornase alienado, isto é, inautêntico. Em suma, para Heidegger, a vida cotidiana faz do homem um ser preguiçoso e cansado de si próprio, que, acovardado diante das pressões sociais, acaba preferindo vegetar na banalidade e no anonimato, pensando e vivendo por meio de ideias e sentimentos acabados e inalteráveis, como ente exilado de si mesmo e do ser. (HEIDEGGER apud CHAUÍ, 1989 p. IX) Nessa compreensão, o ser humano se define pela sua própria existência cotidiana, porém, mais que isso, ele é existência idealizada (Existenz). Isto significa dizer que, ao invés de retornar para a vida cotidiana, pode transcender, ou seja, dar sentido ao seu próprio ser, voltando-se à sua realidade mais íntima, longe de tudo que lhe retira a possibilidade de uma vida autêntica. O “Ser-no-mundo”, o Dasein, não está sozinho. Ele exige necessariamente a presença de um outro Dasein para, em comunhão, manter a intersubjetividade, isto é, a relação com outrem, coexistindo o amor e a comunicação direta entre eles, por meio da temporalidade (ser temporal, finito, ‘ser-para-a-morte’) e da mundanidade (um mundo existencial). Todavia, se toda a existência humana é feita de encontros de subjetividades nas mais diversas situações históricas; então, uma dessas situações é a possibilidade de, também, encontrar-se com a educação [em relação à qual eu não deixo de me situar], “estar junto” dela, (pre)ocupar-se “com” ela. Ao colocarmos a existência humana e nela a alteridade – como especial exemplo, o ser-aluno “com” o ser-professor numa relação de “ser-para-outro” – 300 da palavra reconheçamos que, entre os fenômenos culturais, a experiência educacional, por sua dimensão, extensão, amplitude e profundeza, é a mais significativa a uma fenomenologia da educação. Mas, se a fenomenologia da educação é um processo permanente de elucidação da experiência pedagógica, não se pode negar que a educação habita sutilmente nossa vida cotidiana e, por assim dizer, está mais próxima de nossa experiência pessoal do que desejamos admitir. Ao considerar a educação um fenômeno próprio dos seres humanos, devemos começar por reconhecer que não há como procurar o seu sentido, sem refletir acerca da existencialidade humana, isto é, precisa-se compreender a educação a partir das relações humanas vivenciadas “com” e “no” mundo, sobretudo porque a educação é, sem dúvida, experiência universal essencialmente constitutiva do homem engajado efetivamente no mundo. A aprendizagem humana não ocorre somente na esfera do intelectual, do lógico, do psicológico, etc. Aprendemos com a totalidade de nosso corpo, com nossa sensação, percepção, imaginação e intuições estimuladas pela intersubjetividade. Aprendemos vendo a nós mesmos ou vendo outros corpos que se aproximam do nosso e juntos formamos novos corpos-videntes. Aprendemos sentindo o outro ou sentindo a nós mesmos, pois nosso corpo é tátil. Aprendemos ouvindo os próprios sons que nosso corpo emite como ouvindo outros sons comunicados por outros corpos, uma vez que nosso corpo é sonoro. Aprendemos, portanto, significando a existência da corporalidade do “ser-no-mundo” visto que nosso corpo em potência esboça um ‘tipo de reflexão’, “[...] este saber, como todos os outros, só se adquire por nossas relações com o outro [...]” (MERLEAU-PONTY, 1999 p. 141). Nosso modo fundamental de ser e de estar-no-mundo, de se relacionar com o Outro e de ele se relacionar comigo, forma uma estrutura cuja complexidade expressa o fenômeno humano com o qual se origina também o fenômeno da aprendizagem, e esta só se permite numa unidade indissociável entre o teórico e o prático proposta aos agentes da educação embricados no contexto homem-mundo. Isso tudo esclarece uma pesquisa de natureza qualitativa, sobretudo de modalidade fenomenológica existencial-hermenêutica, cujo caráter é a interpretação reflexivo-crítica acerca do sentido da experiência [educacional] vivida pelos sujeitos em sua própria realidade cultural a partir das suas diversas dimensões (sociais, econômicas, políticas, éticas e técnicas), bem como a clarificação dos aspectos existenciais destes sujeitos. Ao pretendermos usar o método fenomenológico ? cujo termo técnico é usualmente conhecido como “descrição fenomenológica” ? lidaremos com aquilo que é significativo ou com a experiência consciente, uma vez que, ao tentarmos explicar a essência do fenômeno na sua própria existência, o seu sentido e a sua estrutura manifesta, fá-lo-emos através de uma consciência aberta e livre dos “prejuízos do mundo”. O fenômeno (entendido como aquilo que se mostra em si mesmo), que vai se revelando a partir do estudo em processo, ressignificará uma terminologia (signos) do cotidiano dos sujeitos envolvidos e permitirá também apreender uma nova maneira de dar sentido (através do logos) a esses signos constantes no da palavra 301 mundo-vida [educacional] daquela realidade. E, por assim dizer, a própria palavra fenomenologia, por sua origem e formação, compõe-se de dois vocábulos gregos (fenômeno e logos) e significa “deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra, tal como se mostra a partir de si mesmo” (HEIDEGGER, 1993 p. 65). Segundo Merleau-Ponty (apud BICUDO; ESPÓSITO, 1997 p.26-27) a descrição fenomenológica constitui-se de três passos fundamentais: 1. A percepção assume a primazia do processo reflexivo. Isto quer dizer que o mundo percebido é o fundamento, sempre suposto, de toda a racionalidade, de todos os valores, de toda a existência. Tal tese não destrói a racionalidade, nem o absoluto. Procura apenas traze-los para a terra, para o chão. Primazia da percepção significa que a experiência da percepção é nossa presença no momento quando as coisas, as verdades, os valores são constituídos para nós. 2. [...] a redução fenomenológica, que ilustra a comunicação das convenções. Aqui também há três níveis de análise que constituem a redução: 2.1. A ideia de epoché derivada de Husserl. No primeiro nível, o pesquisador suspende as proposições características da construção teórica. 2.2. No segundo nível, há a criação de uma perspectiva gestáltica radical, na qual o observador e o sujeito são os pontos focais da descrição. Esse processo é frequentemente referido como localização do temático nos dados da descrição. 2.3. No terceiro nível, o pesquisador tenta localizar as fontes pré-reflexivas do tema, derivadas da descrição, indicando o que a experiência consciente era antes da reflexão e do julgamento sobre ela. 3. O terceiro passo da descrição é a interpretação fenomenológica como uma forma de legitimização comunicativa. Então, temos aí, resumidamente, três complexos movimentos da fenomenologia que, uma vez utilizada como recurso metodológico para a compreensão da educação, no seio de uma totalidade de significados, assume (1º passo) a primazia do processo reflexivo. Edmund Husserl (1859-1938), criador do movimento fenomenológico, já havia destacado que a consciência cognoscente é doadora de sentidos, por isso intenciona um objeto para – por sua razão de ser – preenchê-lo de significados. A [primazia da] percepção não se confunde com as nossas isoladas sensações (por ex.: sinto frio ou calor, vejo cores, ouço vozes, etc.), pois a percepção já está prenhe de sentido e por isso ultrapassa os objetos empiricamente dados. Perceber, mais que “puro sentir”, não é estar preso ao mundo e receber dele sensações fragmentadas na psique, mas é a apreensão de uma qualidade. No entanto, ainda permanecemos, segundo Merleau-Ponty (1999 p. 26), “presos ao mundo e não chegamos a nos destacar dele para passar à consciência do mundo. Se nós o fizéssemos, veríamos que a qualidade nunca é experimentada imediatamente e que toda consciência é consciência de algo”. Dada à primazia da percepção, temos a (2º passo) redução fenomenológica que intenciona encontrar o sentido originário do fenômeno. Para tanto, é preciso mostrar como o “mundo que eu distinguia de mim enquanto soma de coisas ou de processos ligados por relações de causalidade, eu o redescubro “em mim”... 302 da palavra revelando-me como “ser no mundo” (idem, p. 9), isto é, sou consciência encarnada num mundo que agora tanto o mundo quanto o “eu” tem sentido para mim. Promover a redução, para Husserl, é voltar às coisas mesmas, é voltar ao eidos, por isso toda redução é necessariamente eidética na medida em que procuramos uma essência, um sentido sem o qual nada tem sentido. Mas, “as essências de Husserl devem trazer consigo todas as relações vivas da experiência...” (idem, p. 12), ou melhor, uma consciência intencional é aquela que se abre à experiência do mundo e o apreende tal como ele é, extraindo-lhe o seu sentido essencial. Heidegger também aguçou essa discussão quando procurou o “ser dos entes”, isto é, o sentido que faz com que todas as coisas ou pessoas sejam verdadeiramente o que são. Para Heidegger existe um “ente” que se distingue dos demais: o Dasein, cujo privilégio é o de compreender-se a si mesmo. Contudo, numa determinada aproximação, só o homem do ponto de vista de seu ser, como Dasein, conceito mais importante de Ser e tempo (cf. NUNES, 2002 p. 8), é capaz de significar o mundo e de dar sentido ao seu próprio ser. Por isso, o sentido é aquilo em que “se apóia a compreensibilidade de algo” (HEIDEGGER apud NUNES, 1992, p. 172-173), alguma coisa que se abre ao ser-aí numa relação de pertença que a torna interpretada, pois ele sabe o que fazer dela, bem como compreende a si próprio quando sabe perfeitamente acerca de seu estar-nomundo. A fenomenologia será, pois, esse esforço de interpretação das coisas e, fundamentalmente, dos humanos que se revelam “no”, “com” e “para” o mundo. Essa compreensão, conduzida pela epoché fenomenológica, exige a “suspensão de todo o juízo” que temos de algo para alcançar a sua genuinidade, a própria essência das coisas. Deste modo, tudo quanto sabemos sobre o homem e sobre o mundo, através da atitude ingênua do senso comum ou mediante qualquer filosofia, dogma ou até mesmo conforme o conhecimento científico deve ser colocado fora de ação – “posto entre parênteses” – para que possamos redescobrir o “ser dos entes”, o significado em toda a sua riqueza original da experiência vivida, presente nas situações históricas em que são percebidas ou expressas. Tudo isso se acha em relação direta com a apreensão da estrutura fenomenal da educação que, uma vez simbólica e intersubjetiva, deve ser aprendida por meio da experiência íntima dos sujeitos que a projetaram intencionalmente. Para tanto, é preciso encontrar o “princípio do princípio” educacional vivido humanamente. É aí que a Fenomenologia põe-se (ao educador e ao pesquisador) como necessária, isto é, como método de rigor ao indicar um caminho lógico e como Filosofia ao “reaprender a ver o mundo”. Se a descrição do discurso dos sujeitos envolvidos, de suas experiências humanas [educacionais] vivenciadas para posterior interpretação (3º passo) e o alcance dos significados atribuídos por estes sujeitos à (sua) práxis, qualificam um modelo de pesquisa qualitativa de tipo fenomenológica, esta terá, como apoio teórico-metodológico, a fenomenologia existencial-hermenêutica que se caracteriza pela união do ‘conceito existencial de situação’ (somos no mundo sempre afetados de alguma forma) com a ‘interpretação’ (o conhecimento mais original é a compreensão interpretativa do real). da palavra 303 Desse modo, esta fenomenologia, consequentemente, constitui-se também como hermenêutica da existência, por renovar continuamente – no movimento do compreender e interpretar – o projeto humano e nele o seu ‘fazer pedagógico’ inseparável da interpretação e, sobretudo, da linguagem e do diálogo crítico. Compreende-se, pois, a importância que foi ganhando o conceito de interpretação não só como simples método ou teoria metodológica, porém como Filosofia, ou seja, elucidação sistemática das questões que determinam todo o saber e o fazer humanos que, para Gadamer (2002 p. 391), “... é o que oferece a mediação nunca acabada e pronta entre homem e mundo, e nesse sentido a única imediatez verdadeira e o único dado real é o fato de compreendermos algo como algo”. Se ocorrer a pesquisa de campo, podemos realizar entrevistas (e a hermenêutica destas) com as pessoas inseridas na modalidade educacional em estudo, a fim de coletar um material necessário que expresse, por exemplo, o sentido da vontade de aprender dos educandos, a idiossincrasia dos educadores, as escolhas e o envolvimento do professor e aluno com os problemas sócioculturais. A coleta de dados (significante-significado) pode ser realizada através de entrevistas fenomenológicas – um dos instrumentos que atendem mais de perto ao estudo do vivido – com os sujeitos que, diretamente envolvidos, devem se manifestar acerca de alguns signos (valores, ações sociais, adesões, engajamentos políticos, etc.) relacionados às suas vivências educacionais tanto como alunos, professores, diretores de escolas, etc. onde atuam, isto é, são vivências a serem descritas e sobretudo a reflexão dessas mesmas experiências que estão condensadas de vivos sentidos. É importante salientar, desde já, que a análise dos dados coletados, isto é, a descrição fenomenológica, deverá caminhar na direção de análise de discurso, objetivando situar o fenômeno investigado a partir do contexto vivido. No entanto, numa perspectiva descritiva sobre o que se pretende investigar, uma fenomenologia da educação, lembrando o historiador Gerardus Van der Leeuw e a sua Fenomenologia da Religião (apud HOLANDA, 2004 p. 53), não pode deixar de: 1. Nomear os fenômenos, designando-os como tal [...]; 2. Inseri-los na vida, ou seja, trazê-los de volta à experiência vivida; 3. Colocar-se de lado para, por meio da époché, tentar ver o que se mostra (o fenômeno); 4. Tentar elucidar o que viu; 5. Tentar compreender o que se mostrou. Para estabelecer o rigor nas ações educacionais e nas pesquisas, é essa análise, método e atitude fenomenológica que garantirá uma concepção de educação pautada nos “atos vivos” dos sujeitos que produzem cultura e reconhecem as suas criações conscientemente, que constroem conhecimento com atos de consciência intencionados “na” e “para a” educação. Se nos dispomos ao “que-fazer” educacional numa perspectiva fenomenológica, estaremos motivados a uma constante procura da verdade que 304 da palavra se origina na inquietação humana; procuraremos clarear os problemas de fundo da educação global do homem com uma preocupação radical com o rigor e a evidência; garantiremos uma mediação dos sujeitos (professor e aluno) com os saberes sistematizados, com a cultura e com o mundo. Entretanto, sabendo de antemão que há sempre um horizonte de possibilidades a ser conquistado, a se revelar e a dizer; à educação, então, retomaremos a cada instante, e toda e qualquer compreensão fundante que dela tivermos jamais se dará por acabada na ordem existencial. Decerto, um caminho para o fundamento da educação e às pesquisas educacionais se encontra na fenomenologia – daí a importância fundamental da primazia da percepção intencional, da redução fenomenológica (da epoché, da suspensão do juízo, da fidelidade ao que se dá de modo evidente) e da interpretação – e é nela que a educação procurará o seu sentido essencial, a sua reta direção para alcançar os fins e objetivos que deseja. Assim sendo, a fenomenologia – compreendida para além de método – é uma atitude intencionalmente consciente, crítica e criativa das experiências vivenciais humanas que, aqui, está presente também nas práticas pedagógicas; sem a fenomenologia, essas práticas estariam desorientadas em seus fins próprios e as pesquisas educacionais seriam estéreis sem essa atitude investigativa que se abre à possibilidade de refletir o fenômeno, rompendo com os cercos do conhecimento estabelecido. CONCLUSÃO Refletir sobre a docência no ensino superior, analisando os determinantes do ensinar e do aprender que se concretizam no espaço acadêmico, exige de nós, professores inquiridores do saber, preparar “caminhos” para tal empreendimento. Numa descrição essencial do processo ensino e aprendizagem, a característica fundamental desta relação não é a simples transmissão de conhecimentos do professor ao aluno, mas assegurar comportamentos ativos de sujeitos cognoscentes, preparados para o julgamento crítico, capazes de construir e reconstruir por conta próprias novas ideias. Para tanto, é necessário apreender procedimentos adequados (methodus) que possibilitem o exercício da atividade pensante e permitam a pesquisa na universidade. Busquei o método fenomenológico com o intuito de aprofundar e fundamentar criticamente os problemas da educação superior, evitar desvios da boa qualidade de ensino, fortalecer as práticas pedagógicas no sentido de conduzir a educação como um processo de constante libertação do ser humano e estimular o prazer e o gosto pela pesquisa. Como professor universitário, mergulhado numa prática donde emerjo ainda insatisfeito por não poder reestrurá-la, por perceber que muitas vezes a própria prática não dá conta da teoria, pois há rupturas; procurei uma teoria que me ensinasse a ir em direção às próprias coisas, que me deixasse “ouvir” a ordem das próprias coisas (do ensinar/aprender/transmitir/produzir conhecimento) e da palavra 305 “ver” o movimento delas no próprio mundo (sociedade/Universidade/sala de aula,etc.). A fenomenologia pode estar na base da busca individual de muitos professores-pesquisadores por mudanças de sentido; acreditei nela como certo estou de que a verdadeira educação não separa ação da reflexão, teoria da prática, consciência do mundo. Para completar a sua rigorosidade metódica, a fenomenologia é uma atitude refinada para trabalhar o sentido essencial não somente da educação, mas o aprimoramento ético da ciência, da filosofia e da existência humana. REFERÊNCIAS BICUDO, Maria Aparecida Viggiani; ESPÓSITO, Vitória Helena Cunha (Org.). Joel Martins... um seminário avançado em fenomenologia. São Paulo: EDUC, 1997. CHAUÍ, Marilena. Heidegger – vida e obra (Introdução). In: Heidegger. São Paulo: Nova Cultural, 1989. (Os Pensadores) GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método II: complementos e índice. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 1993. HOLANDA, A. (org.) Psicologia, religiosidade e fenomenologia. Campinas-SP: Átomo, 2004. HUSSERL, Edmund. A idéia da fenomenologia. Rio de Janeiro: edições 70, 1990. MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. NUNES, Benedito. Passagem para o poético: filosofia e poesia em Heidegger. São Paulo: Ática, 1992. . Heidegger & ser e tempo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. REZENDE, Antonio. Concepção fenomenológica da educação. São Paulo: Cortez, 1990. 306 da palavra da palavra 307
Download