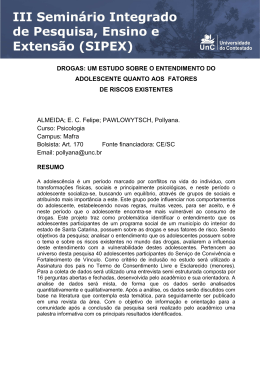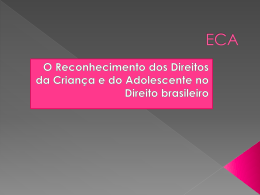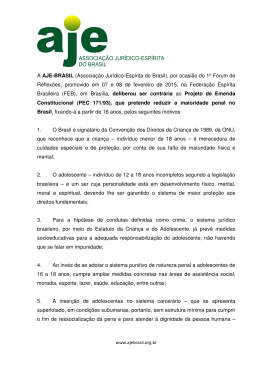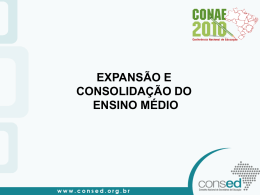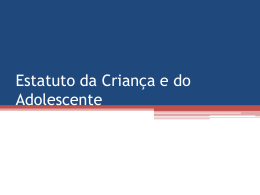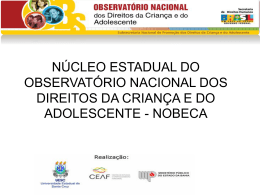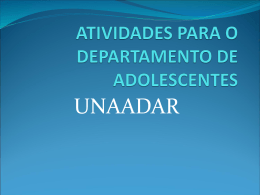Efeitos Perversos do Trabalho Infantil Alessandra de Carvalho¹ Iandra Torres da Costa² Ana Márcia Luna Monteiro³ 1 Resumo: O propósito deste artigo é o de apresentar uma análise documental preliminar sobre o trabalho infantil e os efeitos perversos que este acarreta a crianças e jovens. O trabalho infantil por nós evidenciado é aquele que expõe os menores à exploração e que traz prejuízos ao desenvolvimento físico, psíquico, e à escolarização aspecto o qual priorizamos. Para tanto, foram pesquisados dados históricos, documentos de Organizações Internacionais e Nacionais, dados do IBGE/PNAD e textos acadêmicos. Concluímos que o trabalho infantil traz prejuízos reais à formação escolar e principalmente perpetua o ciclo da pobreza, que acaba por manter esse quadro vergonhoso. Uma cruel realidade imposta às crianças a ele submetidas. Palavras-chave: Trabalho infantil, prejuízos físicos e psicológicos e danos à escolaridade. Justificativa Segundo a OIT em 2002 havia 246 milhões de crianças trabalhando em todo mundo, expondo-se a diversos tipos de atividades, e entre elas prostituição e tráfico de drogas. Os dados quanto ao Brasil revelam que três milhões de crianças estavam submetidas a esse tipo de exploração e que em sua grande maioria, 43% dessas crianças, estão localizadas na região Nordeste (PNAD, 2003). Culturalmente aceito como prevenção à marginalidade é comum ouvir que é melhor a criança estar trabalhando do que roubando ou “vagabundeando” ou 1 Concluinte do Curso de Pedagogia – Centro de Educação – UFPE. [email protected] 2 Concluinte do Curso de Pedagogia – Centro de Educação – UFPE. [email protected] 3 Professora do Departamento de Psicologia e Orientações Educacionais – Centro de Educação – UFPE. [email protected] ainda que o trabalho educa e dignifica. Dignifica sim, o adulto, mas à criança cabe o direito de se desenvolver como tal sem sacrificar momentos importantes de sua infância. O Trabalho Infantil barra seu acesso à educação e a aquisição de novas habilidades, tendo como resultado, no futuro, a existência de um círculo vicioso de mão-de-obra não qualificada. Assim, como um elevado grau de transmissão de pobreza por gerações seguidas, já que quanto menor a escolaridade do pai, maior a probabilidade do filho começar a trabalhar precocemente (Kassouf, 2000/2001). A Constituição Nacional (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) determinam a proibição do trabalho de menores de 14 anos, mas como pudemos ver acima, o Brasil ainda não conseguiu erradicar esse mal. Tendo conhecimento desses dados, procurou-se, neste artigo, examinar os impactos do trabalho precoce na escolarização. Não nos referimos ao trabalho que alguns autores atribuem certo caráter pedagógico ou ao trabalho como princípio pedagógico, mas, ao contrário, o sentido aqui atribuído encontra-se diretamente relacionado com a inserção em atividades produtivas geradoras de valor e de exploração. E, que apesar de ser um tema bastante discutido em sociedade, ainda não penetrou completamente no curso que se propõe a formar professores, que por estar junto às crianças podem vir a contribuir identificando e intervindo na realidade a que estão submetidas as vítimas deste fenômeno. Além do objetivo deste trabalho, temos a esperança, que esta breve análise documental traga pra frente de batalha os profissionais pedagogos, para lutar para erradicação desse problema social. Para tanto é preciso conhecer os males e prejuízos que o trabalho infantil provoca, físicos, psicológicos e principalmente escolares. Nosso objetivo é o de realizar um estudo exploratório desses prejuízos e suas principais conseqüências, fator que durante o convívio com crianças que fazem parte do Programa de Erradicação do Trabalho infantil despertou o nosso interesse. Entendemos ser esta uma questão importante uma vez que estes fatores marcam a vida dessas pessoas e a sociedade em que estão inseridas, não só através dos danos físicos, psicológicos e educacionais, mas em um âmbito mais global pelo fato de não conseguirmos romper com o ciclo da pobreza. 2 O que define o Trabalho Infantil O trabalho infantil pode ser definido como o que é feito por crianças e adolescentes que estão abaixo da idade mínima para a entrada no mercado de trabalho. No entanto, é preciso refinar essa definição, considerando aspectos e tradições culturais em diferentes lugares do mundo. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1998) será considerado trabalho infantil: Toda actividad económica llevada a cabo por personas menores de 15 años de edad, sin importar el status ocupacional (trabajo asalariado, trabajo independiente, trabajo familiar no remunerado, etc.). Ello no incluye los quehaceres del hogar realizados en su propio hogar, excepto donde los quehaceres del hogar pueden ser considerados una actividad económica - como, por ejemplo, cuando un niño dedica todo su tiempo a estos quehaceres para que sus padres puedan trabajar fuera del hogar, y ello signifique privarlo de la posibilidad de ir a la escuela (p.3). Destacamos que no Brasil encontramos na agricultura ou na produção artesanal, crianças e adolescentes que realizam trabalhos sob a supervisão dos pais como parte integrante do processo de socialização. Para essas pessoas essa é uma maneira de transmitir, de pais para filhos, conhecimentos técnicas tradicionais. Assim reconhecemos que existem trabalhos que valorizam e ajudam no crescimento social e auto-estima dos jovens. Esses trabalhos podem ser também motivos de satisfação das próprias crianças, por tanto, este não será levado em conta em nossa pesquisa. No entanto, essas situações de trabalho não devem ser confundidas com aquelas em que as crianças são obrigadas a trabalhar, regularmente ou durante jornadas contínuas, para ganhar seu sustento 3 ou de suas famílias, com conseqüentes prejuízos para seu desenvolvimento físico, educacional e social (CENDHEC, 2005). Dessa forma, como destacamos acima, o trabalho infantil que queremos abordar é aquele explorador e que prejudica de alguma forma o desenvolvimento infanto-juvenil, aquele que fere os Direitos da Criança e do Adolescente impostos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O nosso objetivo, como já dissemos, é o de realizar um estudo exploratório de modo a destacar as conseqüências sócio-educacionais na vida das crianças que trabalham. Os prejuízos à saúde física, mental e principalmente os prejuízos à escolarização. Metodologia Durante a preparação do nosso projeto nos deparamos com um problema real, que poderia inviabilizar o nosso objetivo: a escassa literatura, sobretudo em nível nacional, que trata sobre o tema. Ainda assim, decidimos realizar uma análise documental acerca do assunto abordado, de forma a conhecermos um pouco mais sobre essa realidade tão atual e que há muito constitui a história de nosso país. Para a realização desta análise documental entendemos que “considera-se como documento qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de informação sobre princípios e normas que regem o comportamento de um grupo sobre as relações que estabelecem entre diferentes subgrupos (Alves-Mazzotti, 2001, p. 246)”. Assim, procuramos informações históricas que nos remetessem a origem desse fenômeno social. Fomos aos livros de história (Dourado e Fernandez, 1999) e encontramos a dura realidade da qual o trabalho infantil faz parte como um fenômeno intrínseco à formação nacional, da colônia á atualidade. Pesquisamos organizações que estão na luta pela erradicação do trabalho infantil, tanto no Brasil quanto no mundo (OIT, Unicef, Unesco, entre outras), e textos acadêmicos 4 que nos fundamentassem em uma definição de Trabalho Infantil. Todas as definições partiam do referencial da OIT que a qual citamos anteriormente. Fomos então à busca de dados que retratassem a realidade nos dias atuais que nos revelaram que, apesar da Convenção das Nações Unidas (1989) que estabelece em seu artigo 32 que a criança tem o direito à proteção contra o trabalho que ameace sua saúde, educação e desenvolvimento, milhões de crianças trabalham em todo o mundo. No que se refere aos documentos e dados nacionais a pesquisa foi realizada através da PNAD/IBGE. Vistoriamos a PNAD de vários anos e nos detivemos nos dados de 2001,2003, tendo em vista que, quando da realização de nossa pesquisa os dados de PNAD 2004 ainda não haverem sido publicados. Ainda nos mantendo no âmbito nacional, fizemos uma breve revisão das leis, desde o momento em que constavam apenas como determinações e orientações até finalmente, nas décadas de 80 e 90 chegar a proibição através do Artigo 227 da Constituição Federal (1988) e com o Artigo 60 Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Posteriormente demos seqüência à nossa investigação através da análise de dados relativos à Região Nordeste (região mais afetada por esse fenômeno), ao Estado de Pernambuco e finalmente à Cidade do Recife. Neste momento um dado da realidade estabeleceu os limites de nosso estudo, uma vez que nos deparamos com a escassez de dados, já citada inicialmente e que se evidenciou ainda mais quando buscamos dados relativos à problemática em Pernambuco e Recife. De acordo com informações obtidas por representantes das instituições investigadas (CENDHEC) a carência de dados reflete o quanto esta é uma realidade ainda muito pouco estudada em nosso Estado. Após nos apropriarmos dos dados focamos a pesquisa nos efeitos perversos que o trabalho infantil causa às crianças e jovens. Investigamos diversos textos acadêmicos que relatavam esses efeitos. Observamos que muitas pesquisas por nós revisitadas exploram os aspectos físicos e psicológicos, mas o retrato dos reflexos na escolaridade ainda não é um tema fortemente explorado. Os textos estudados foram trabalhos acadêmicos publicados em revistas científicas (Revista Brasileira de Educação, Psicologia em Estudo, entre outras) e 5 livros, tais como Compromisso da Saúde no Campo do Trabalho Infanto-juvenil, onde foram apresentadas pesquisas de campo, revisões documentais e entrevistas com pessoas que vivem esta realidade. Um Pouco de História Historicamente o Brasil tem um relacionamento estreito com o trabalho infantil. Podemos citar dados que nos remetem à colonização, passando pelo período escravocrata, republicano até chegarmos aos dias atuais, nos quais após mais de 500 anos ainda nos deparamos com um quadro de exploração infantil. Evidentemente há um diferencial marcando cada período. Segundo Dourado e Fernandez (1999), o tipo de trabalho infantil presente no Brasil no século XVI, quando os portugueses chegaram, era voltado para a educação e tradição indígena. Mas não chegava a ser caracterizado como tal, já que este era um dado cultural, e ainda hoje é encontrado nas agriculturas de subsistência. A partir da escravidão e exploração dos curumins pelo “homem branco”, crianças indígenas passam a ser utilizadas para disseminar a cultura européia, justamente por sua inocência e fragilidade, já que “domesticar” os índios adultos muitas vezes era impossível. Ainda no século XVI, os portugueses começaram a trazer escravos da África. Homens, mulheres e crianças eram jogados em porões de navios, mas muitos não resistiam às viagens sem alimentação, água e em um ambiente insalubre, principalmente as crianças e as mulheres. Tal fato, com o tempo, desestimulou o processo de vinda dessas crianças, já que se tornava um prejuízo iminente para o mercador, uma vez que elas ou morriam durante a viagem ou chegavam aqui tão subnutridas que valiam apenas um quarto do valor de um adulto. Este fato, porém, não impediu o processo de escravização das crianças negras que aqui chegavam ou nasciam. Do nascimento aos sete anos não trabalhavam, mas a partir dos oito, os senhores obrigavam as crianças a trabalhar para pagar o que “receberam” como sustento. No geral as meninas ajudavam na lida da casa, costurando, bordando, cuidando das crianças, filhos dos senhores, 6 ou servindo de mucama. Para as escravas adolescentes era ainda pior, pois enfrentavam assédios e abusos sexuais dos seus senhores, filhos ou capatazes e quando resistiam eram barbaramente espancadas. Já os meninos serviam como pajens, moleques de recado, lava-pés dos donos e visitas, lavavam cavalos, serviam à mesa, espantavam mosquitos, balançavam a rede e carregavam objetos pesados. Cansadas desta situação algumas dessas crianças conseguiam fugir para os quilombos e mais tarde com o crescimento das cidades e o decreto da Lei do Ventre Livre, completados os 21 anos saíam das fazendas para irem viver nos grandes centros urbanos. Pode-se afirmar, portanto, que essas crianças que fugiam das fazendas para a cidade representaram os “primeiros meninos de rua” do país (Dourado e Fernandez, 1999, p.13). No período republicano vê-se, pela primeira vez, a implementação de projetos sociais, chamados projetos de regeneração dos pobres e “vagabundos”, numa perspectiva de controle social e formal dessa população. Um desses programas foram as Casas de Trabalho, instituições que abrigavam crianças pobres que viviam de vadiagem e mendicância. No século XVIII, durante a revolução industrial, com a introdução do maquinário ao processo produtivo, as crianças fizeram parte desse processo, mesmo que sem experiência alguma, uma vez que a mecanização dispensava a força muscular necessitando, apenas, flexibilidade e adaptação a ela. Assim, diante de um trabalho “menos” complexo, a criança passa a fazer parte da força de trabalho de forma efetiva. De certo modo, pode-se afirmar que a utilização da força de trabalho infantil auxiliou o desenvolvimento do capitalismo no processo de acumulação de riquezas. Os trabalhadores adultos resistiam em transformar-se em proletários industriais, além da instabilidade com que se apresentavam para o trabalho e ainda pela redução dos custos e salários que a contratação dessa mão-de-obra propiciava. Assim, dar trabalho à criança no século XVIII, era um “favor”, um “beneficio” dos empregadores para com o Estado, que tinha por obrigação manter as Casas de Trabalho (Dourado e Fernandez, 1999). 7 Em 1891, foram criadas diversas leis para controlar esse tipo de trabalho, mas a maioria dos industriais não respeitava os limites impostos. Em 1894, o código sanitário proibiu o emprego de crianças menores de 12 anos nas fábricas e em 1911 proibiu o trabalho noturno para menores de 18 anos (CENDHEC, 2005). Adentrando a Era Vargas, o governo aprovou leis para proteger do trabalho crianças e mulheres. E na educação ampliou-se o número de vagas nas escolas públicas em todo país. Em 1927 é instituído Código de Menores, como também a criação do primeiro Juizado de Menores do país, ficando assim o Estado responsável pela “problemática do menor “. Em 1941 o governo passa a adotar uma dura política em relação às crianças órfãs ou abandonadas, as quais eram enviadas para instituições chamadas Serviços de Assistência ao Menor (SAM). O SAM teria um caráter reeducativo, reformativo e com o objetivo de reintegrá-los à sociedade. Porém, conforme Dourado e Fernandes (1999) essas instituições funcionavam, quase sempre, como prisões semelhantes a penitenciárias para criminosos adultos. Esses institutos eram considerados “depósitos de meninos”, onde os adolescentes lá internos deveriam seguir uma rotina militar, mas não recebiam educação para a vida quando de lá saíssem, não havia educação ou livros. O número de meninas nessas instituições era muito menor que o de meninos, pois na maioria das vezes em que eram “recolhidas” acabavam entregues a famílias para que trabalhassem como empregadas domésticas em regime e semiescravidão, sendo pior para as que ficavam internas. Essas acabavam por serem maltratadas e abusadas sexualmente, vendidas ou mesmo alugadas a bordéis, mais uma vez pelos funcionários do SAM, tornando-as prostitutas e eles seus cafetões. Dessa forma essas crianças e adolescentes ficavam expostos ao mais degradante tipo de trabalho (Dourado e Fernandez, 1999). Durante o período ditatorial, o governo passa a ter como uma das suas principais metas a Política Social, mas passa a utilizá-la de maneira a manter a ordem social e responder pressões populares, desenvolvendo e atendendo suas necessidades populacionais. Diante desse contexto, em 1964 é criada a Fundação 8 do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) que viria para substituir o SAM, assim, a criança passaria a ser vista como vítima da sociedade. Em 1980, o censo populacional denunciou as terríveis condições em que vivia grande parte das crianças brasileiras. Diante da situação a sociedade começa a se organizar para garantir os direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Cria-se então o Fórum Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (FÓRUM – DCA), em conjunto com diversas organizações não governamentais. Em 1988, a nova Constituição inclui um artigo, o 227, que define a criança como prioridade nacional. E no artigo 7o. Inciso XXXIII proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz. O Artigo 227, Emenda Constitucional nº 20 de 1998 estabelece os 16 anos como Idade Mínima para Admissão ao Emprego no Brasil. Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) no capítulo V, artigo 60 determina que "É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade salvo na condição de aprendiz", e no artigo 61 garante a proteção ao trabalho dos adolescentes e que este será regulado por legislação especial. Além de estabelecer no artigo 227 como dever da família, sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Não podemos negar que esses foram passos muito importantes para o enfrentamento da problemática, entretanto o trabalho infantil ainda representa um imenso desafio social à realidade brasileira. O trabalho Infantil na atualidade: alguns dados No mundo, o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) "Um Futuro sem Trabalho Infantil" (1998), revelou que uma em cada seis crianças e 9 adolescentes, com idade entre cinco e dezessete anos exerce algum tipo de atividade econômica (Tamayo, 2002). Nesse período constava-se 246 milhões de crianças trabalhando, sendo que 73 milhões tinham menos de dez anos. Outro ponto de destaque que este relatório informou foi o de que uma a cada oito crianças do mundo estava exposta às piores formas de trabalho infantil, como: tráfico de drogas, exploração sexual e atividades danosas, o que põe em perigo o bem-estar físico, mental e moral das mesmas. No Brasil a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio - PNAD (2003) informa a existência de 43.125.753 pessoas na faixa etária entre 5 e 17 anos. Destas, 3.482.515 estavam trabalhando, ou seja, 12,7% da população infantojuvenil. Em números absolutos, o trabalho infantil está igualmente distribuído entre as áreas urbanas e rurais, com um pouco mais de 1,5 milhões de crianças e jovens trabalhando em cada uma, porém a incidência é bem maior na área rural, onde atinge 23% da população nessa faixa etária, contra 5% nas áreas urbanas. O percentual de crianças trabalhadoras eleva-se, substancialmente, na faixa etária dos 10 aos 14. O contingente dos que trabalhavam representou 18,7% (3,3 milhões) das crianças do grupo como um todo (cerca de 17,6 milhões). O trabalho infantil nessa faixa etária é predominantemente masculino (87,4%). Cerca de 55,5% são de pardos, 39,5% de brancos e apenas 4,5% de negros. Cerca de 54,6% dessas crianças tinham como domicílio a área rural (PNAD, 2001). Segundo a PNAD (2003) a principal ocupação infantil ainda é na agropecuária (58,3%), seguida do comércio (12,4%), da indústria e da prestação de serviços (11,2%). Os dados mostram que 53,8% exerciam seu trabalho em fazendas, sítios, granjas, chácaras, entre outros e 23,1%, em lojas, fábricas, oficinas e escritórios. As crianças, geralmente, desenvolvem atividades nas pequenas propriedades rurais que trabalham em regime de economia familiar. Conforme Kassouf (1999, 2000, 2001) o fato de as crianças trabalharem é importante para a família, pois, embora seus salários sejam baixos a contribuição das crianças para a renda familiar é significativa, posto que a renda familiar também é muito baixa. Um estudo desenvolvido pela Unicef (1997) evidenciou que as crianças 10 trabalhadoras de famílias pobres chegam a contribuir com 25% da renda familiar. Em vista disso, a renda adicional proporcionada pelo trabalho infantil torna-se indispensável para a sobrevivência das famílias. Fato que contribui efetivamente para a manutenção desse quadro. Todavia a inclusão ou permanência de crianças e jovens na população estudantil pode ser impedida ou dificultada pelo seu envolvimento em atividade econômica. As crianças e adolescentes ocupados apresentaram nível de escolarização menor do que aqueles que não trabalhavam. A taxa de escolarização dos ocupados ficou em 80,3% e alcançou 91,1% entre os que não trabalhavam (PNAD, 2001). O Nordeste, sendo uma das regiões mais afetadas pelo fenômeno, repete o quadro apresentado em todo país, onde 27% da população de 5 a 17 anos trabalha. Como podemos verificar na tabela 1(anexo) a predominância também é masculina e aumenta notavelmente na faixa etária dos 11 aos 15 anos. Podemos, também, observando o gráfico 1 (anexo) verificar que esta realidade persiste há mais de uma década. Posto que, em pesquisa realizada pelo PNAD 95, o quadro é similar. Embora os números acima destacados registrem uma tendência à queda, a participação das crianças e adolescentes na força de trabalho ainda mantém-se elevada (Vilela, 1998). Em Pernambuco encontramos 16,1% da população infanto-juvenil no trabalho, ou seja, aproximadamente 361.000 crianças e adolescentes estariam atuando nas mais variadas funções; 52,3% na área rural e 40,7% na área urbana (CENDHEC, 2005). O índice, maior que a média nacional, confirma o dado que este fenômeno se revela mais acentuado na Região Nordeste. Os dados encontrados quanto ao Recife e região metropolitana ainda restringem-se quase que exclusivamente ao trabalho infantil doméstico. Estes demonstram que 46,5% das famílias das crianças que trabalham vivem com uma renda global de menos de dois salários mínimos. Fato que corrobora o motivo que os leva a aceitar trabalhar, pois entre outros motivos a necessidade financeira atinge 58,5% das respostas dos jovens entrevistados pelo Centro Dom Helder Câmara de Estudos, numa pesquisa em 2002. Embora não tenhamos encontrado 11 dados que apresentem um número exato de crianças trabalhando na cidade do Recife e região metropolitana, podemos afirmar que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil atende hoje a 3.990 crianças em todo o Recife (CENDHEC, 2005). Conseqüências e Malefícios do Trabalho infanto-juvenil Conforme já afirmamos anteriormente, o trabalho precoce é um problema social que atinge toda a humanidade e tem estreita relação com a condição econômica. A criança trabalha, muitas vezes, em circunstâncias que comprometem sua saúde e longevidade, pois os pais contam com os "braços dos filhos" para sobreviverem. Essa estratégia, embora tenha uma resposta econômica imediata para assegurar a sobrevivência das famílias, reveste-se de elevado custo social com o passar do tempo, na medida em que perpetua a pobreza e a desigualdade. Dessa forma, nos casos em que o trabalho apenas consegue assegurar a comida para a sobrevivência, a educação é um luxo inacessível e o futuro torna-se sombrio (Franklin, Lucas e Pinto, 2001). Os efeitos mais visíveis do trabalho precoce na vida de crianças estão na área da saúde física e na ausência ou baixa escolarização. Do ponto de vista físico as longas jornadas de trabalho, as ferramentas, os utensílios e o próprio maquinário inadequado à idade comprometem o desenvolvimento sadio. Furlanetto e Jacinto (2003) lembram que as crianças e adolescentes expostos ao trabalho precoce são oriundos de famílias pobres, muitas vezes, sem condições de prover uma alimentação diversificada e adequada ao seu desenvolvimento físico o que os torna jovens franzinos. Este particular já os coloca em desvantagem para as suas duras tarefas do trabalho diário. Conseqüentemente, o trabalhador infantil está mais propenso às lesões físicas como deformação óssea, atrofia muscular e intoxicação. Além disso, sabe-se que a percepção de uma criança é difusa e desorganizada, assim, a falta de atenção é 12 uma agravante para que aconteçam acidentes de trabalho, como por exemplo perda de membros, queimaduras ou outras lesões. A distribuição das ocupações masculinas permite uma análise dos riscos e condições que o trabalho infantil está sujeito. Ocupações como de carregador de caminhão, servente de pedreiro, borracheiro e carpinteiro, durante a infância e juventude são exemplos das atividades que podem trazer conseqüências para saúde na fase adulta. A razão é que os locais de trabalho, equipamentos, móveis, utensílios e métodos não foram projetados para utilização por crianças, e sim, para adultos. Dessa forma, pode haver problemas ergonômicos, fadiga e maior risco de acidentes (Kassouf, 2000). Mesmo hoje, com todo desenvolvimento social, técnico e científico, ainda não se leva em conta que as crianças não possuem condições para o trabalho, pois aos 12 anos de idade possuem apenas 40% da força muscular desenvolvida. Realizar tarefas repetidas e pesadas compromete o desenvolvimento bio-psíquico das crianças (Ferreira, Pereira e Sarti 1999). Mesmo as atividades que são realizadas com certos cuidados, podem trazer irremediáveis comprometimentos da coluna, do equilíbrio e do desenvolvimento físico (Campos e Francischini, 2003). As crianças são mais vulneráveis às doenças e aos acidentes de trabalho devido a alguns fatores, dentre os quais se pode citar imaturidade e inexperiência desse grupo de trabalhadores, distração e curiosidade naturais à idade, pouca resistência física, menor coordenação motora (quanto menor a idade), desconhecimento dos riscos do trabalho, tarefas inadequadas a sua capacidade, locais e instrumentos de trabalho desenhados para adultos (Franklin, Lucas e Pinto, 2001). Ou seja, fatores tão naturais à infância ficam distorcidos diante da realidade do trabalho. Os riscos relacionados às atividades na agricultura, na indústria e comércio como esforços físicos excessivos e inadequados, exposição a contaminantes atmosféricos (gases vapores e poeira) e ambientes mal iluminados e mal ventilados são alguns dos muitos riscos a que estão submetidas algumas das crianças que trabalham como podemos ver no quadro 1 (anexo). Devem ainda ser 13 considerados os riscos ambientais; os agentes químicos, físicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos existentes nos ambientes de trabalho que sejam capazes de causar danos à saúde e à integridade física da criança e do adolescente, em função de sua natureza, intensidade, susceptibilidade e tempo de exposição (Franklin, Lucas e Pinto, 2001). Alguns sinais e sintomas são mais prevalentes entre as crianças e adolescentes inseridos precocemente no mercado de trabalho, como fadiga crônica, deformações ósseas e até mesmo câncer de pele são alguns dos problemas de saúde decorrentes, suas principais causas encontram-se no quadro 2 (anexo). Esses fatores nos levam a examinar os prejuízos psicológicos que decorrem tanto do extremo esforço físico, como de seu efeito. Foram identificados significativos índices de tristeza, desânimo e apatia entre os trabalhadores precoces, explicados pela monotonia das tarefas e dispêndio de energia que requerem os trabalhos realizados (Brasil, 1999). Através da pesquisa de campo realizada no interior do Rio Grande do Norte, por meio de pesquisas documentais, entrevistas e observações, onde as crianças assumem o encargo financeiro do sustento da casa, os autores Campos e Francischini (2003) concluíram que por estarem submetidas a uma carga de trabalho estafante e de alta responsabilidade até para um adulto, há um comprometimento da organização psicológica das crianças. De modo que o adulto que será não terá, muito provavelmente, o equilíbrio emocional suficiente para fazer frente às novas demandas que lhes serão postas. À debilitação da sua condição física acrescente-se um estado de fadiga e falta de disposição (e tempo) para engajamento em outras atividades, déficit de atenção e de concentração e restrições às possibilidades de relações sociais. Em decorrência, as crianças ficam impossibilitadas de brincar, ou seja, de uma das atividades que mais contribuem para o desenvolvimento saudável de aspectos físicos, cognitivos e sociais. Segundo Vygotsky (1984), no exercício de atividades lúdicas a criança "faz o que mais gosta de fazer porque o brinquedo está unido ao prazer", (1984,p.113). E, é este mesmo brinquedo que ajuda ao desenvolvimento 14 psicológico e de amadurecimento natural, pois “No brinquedo a criança comportase de forma mais avançada do que nas atividade da vida real e também aprende a separar objeto e significado” (Oliveira, 1993, p. 62). Ou seja, o brincar é essencial para um desenvolvimento sadio. Essas crianças também estão sujeitas à perda da alegria natural da infância, tornando-se tristes, desconfiadas, amedrontadas e pouco sociáveis pela submissão ao autoritarismo e à disciplina no trabalho. Por fim, as crianças e adolescentes estão sujeitos a sofrer acidentes, ferimentos, lacerações, fraturas, esmagamentos, amputações de membros e outros traumatismos que, entre outras conseqüências, podem até causar a morte (Brasil, 2000/ Forastier, 1997/ Silva, 1996) Em decorrência das condições de existência a que estão submetidas, certamente não se enquadram no "ideal de infância" preconizado por algumas vertentes tradicionais da psicologia do desenvolvimento. São, antes, sujeitos que não só interiorizam os elementos de seu universo, mas também vivenciam uma infância em que não há lugar para a singularidade exercida na escolha ou prazer daquilo que fazer (Campos e Francischini, 2003). Assim, determinados aspectos coercitivos da dura realidade de trabalho que, imaginariamente, não encontrariam eco na infância, ocupam, desde cedo, lugar na existência desses sujeitos. Alguns autores discordam desse ponto. Em pesquisa realizada em 1994, Alves-Mazzotti nos leva a reconhecer que “a representação que o jovem constrói sobre seu próprio trabalho é fortemente associada à natureza da atividade e à representação que ele tem sobre sua família” (p. 18). Ou seja, verificou-se que os jovens que não exercem atividades penosas vêem suas família como solidárias e têm uma representação positiva do trabalho, considerando-o uma necessidade ligada ao seu próprio sustento e à ajuda à família. “Isto reflete-se favoravelmente em sua auto-imagem”(Alves-Mazzotti, 1994). Entretanto a mesma pesquisa, avalia o contraste com o grupo composto por adolescentes que trabalham em situações como vendedores ambulantes e flanelinhas, estes vêem suas famílias como desunidas e exploradoras e tem sobre o trabalho uma representação negativa, encarando-o como algo cansativo e penoso. Pois a atividade que desenvolvem 15 estão associadas a frustrações e humilhações, o que contribui para uma visão negativa do futuro. Não podemos esquecer que as representações têm função identidária (Abric, 1994), isto é, o universo representacional do sujeito define sua identidade. Isso nos leva a examinar as atividades educacionais a que esses jovens estão inseridos, já que a educação é um dos fatores decisivos para o desenvolvimento profissional futuro. Distinguir as crianças que estudam e trabalham daquelas que apenas estudam é de fundamental importância, principalmente para poder associá-las aos problemas decorrentes da relação educação versus trabalho (Furlanetto e Jacinto, 2003). Segundo Kassouf (2004) 89% das crianças que trabalham freqüentam a escola, enquanto 97% das que não trabalham estão na escola. Na área urbana 86% das crianças só estudam, 9% delas trabalham e estudam e apenas 1% só trabalha. Já na área rural, apenas 68% das crianças só estudam e 25% trabalham e estufam. A Região Nordeste apresenta a menor proporção de crianças que só estudam, 80%, e que estudam e trabalham 14%. Dados coletados, através da pesquisa realizada por Furlanetto e Jacinto (2003), evidenciam que a regularidade escolar das crianças trabalhadoras e não trabalhadoras apresentam um decréscimo com o aumento da idade. Duas razões foram levantadas para explicar esse comportamento: a primeira estava associada à atratividade que o mercado de trabalho exerce sobre as crianças não trabalhadoras, a segunda razão seria o papel desempenhado pelo atraso escolar gerado pelas reprovações nos anos anteriores. Em decorrência disso, a permanência na escola poderia se tornar menos atrativa que o mercado de trabalho. Quando se pensa na escola em um cenário como esse, o fracasso acadêmico aparece como o resultado mais esperado, tendo-se em vista as condições nas quais se encontram as crianças trabalhadoras. Objetivo de investigação em inúmeras pesquisas, o fracasso escolar, manifesto, principalmente, nos altos índices de evasão e repetência das crianças oriundas 16 das camadas desfavorecidas da população, continua sendo realidade no sistema educacional brasileiro (Ferreiro, 1992 p.78). De acordo com a DRT/RN (Brasil, 1998a), dos 446 empregados na indústria têxtil que trabalhavam em jornadas superior a 8 horas diárias, apenas 100 eram estudantes, ao passo que 291 pararam de estudar. Excetuando-se aqueles com ensino médio ou curso superior concluídos, há um total de 425 empregados fora da escola, alguns deles, com idade entre 15 e 17 anos, alegam que o desinteresse ou trabalho foi a razão para tal decisão. Segundo Marques, Neves e Neto (2002) se uma criança não vai para escola na época certa, terá dificuldades em recuperar o que não foi assimilado. Os períodos de "alerta" para a aprendizagem de várias tarefas como ler e andar de bicicleta quando desperdiçados têm comprometido a sua recuperação. O cansaço toma conta e não há disposições para freqüentar a escola, dormem em sala de aula ou simplesmente não conseguem ter uma boa freqüência. Quando insistem, a falta de atenção, pelo cansaço, os faz ficar cada vez mais distantes da aprendizagem desejável e, em conseqüência, sentem-se humilhados frente aos colegas que acompanham com regularidade a escola. Tal fato vai se agravando até que o jovem trabalhador perde totalmente o interesse por aprender. A liberdade que experimentam nas ruas é fascinante e bem mais interessante que os fatos ocorridos em sala de sala. As crianças, por sua vez, incorporam também, os desgastes que muitas das ocupações já reservam ao trabalhador adulto, implicando em comprometimento físico e mental, podendo afirmar-se “em termos gerais, que a incorporação prematura ao trabalho inibe o desenvolvimento satisfatório da criança, afeta de maneira decisiva suas futuras oportunidades de emprego, remuneração e promoção social e, o que é pior ainda, a expõe ao risco de uma degradação física, espiritual e social, em um mundo que deveria oferecer às suas crianças um tratamento mais favorável” (El Trabajo Infantil en América Latina, 1979:24/apud Tamayo, 2002). As considerações acima apontam para a necessidade de se considerar que além dos irremediáveis danos a saúde, há um sério comprometimento no 17 processo de escolarização. Segundo Abreu (2005), em 2003 a proporção de crianças e adolescentes que só trabalham apresentou uma ligeira redução de 0,5 ponto percentual em relação ao ano anterior, atingindo 3,4%. A parcela daqueles que trabalham e estudam também reduziu de 15,3% para 13,9%. Conseqüentemente, observou-se um aumento de cerca de 2 pontos percentuais na proporção daquelas que só estudam. A mesma síntese mostra ainda que os efeitos do trabalho infantil vão além do abandono da sala de aula. O atraso atingia 37% dos estudantes de 10 a 17 anos ocupados em 2003. Embora a mão-de-obra concentre-se no Nordeste, no Centro-oeste observou-se a menor taxa de freqüência à escola para aqueles que estavam ocupados (77,4%). Dentre os motivos que impediriam as crianças e adolescentes de freqüentarem a escola a realização de tarefas, sendo uma atividade econômica ou afazeres domésticos, atingiu o índice de 12,1% dos entrevistados (PNAD 2001). Alves-Mazzotti (2002), revela que efeitos atribuídos ao trabalho infantojuvenil freqüentemente camuflam a atuação de outros fatores a ele correlacionados e não correlacionados e não controlados pelas pesquisas, os quais são em parte ou totalmente responsáveis pelos efeitos observados. Como a carência de boas escolas nas áreas mais pobres, os conteúdos escolares distanciados da realidade das crianças que vivem nessas áreas mais pobres, a falta de perspectivas para a continuidade dos estudos leva à repetência e à evasão, contribuindo significativamente para o ingresso precoce no mercado de trabalho. O que a autora quer revelar é que dessa forma inverter-se-ia, assim, a relação entre “fracasso escolar” e trabalho infantil. Sabemos que nem todo trabalho infanto-juvenil é penoso, insalubre ou humilhante, concordamos com Alves-Mazzotti (2002), quando ela diz que nem todos os pais são exploradores, e que ao atribuir às famílias pobres o “fracasso escolar” de seus filhos, mascara-se a inadequação do sistema escolar para atender às necessidades dessas crianças; ao culpar essas famílias pelo trabalho precoce, mascara-se também o fato que, elas próprias, são vítimas dos 18 mecanismos sociais perpetuadores da pobreza. Em ambos os casos, contribui-se para que as raízes da questão permaneçam intocadas. Apesar disso, sabemos que muitas famílias sem vislumbrar outras possibilidades de enfrentamento dessas dificuldades, acabam entendendo que é melhor encaminhar seus filhos ao trabalho. Nesse caso cabe à escola repensar sua adequação a essa clientela, pois a função social da escola em uma sociedade democrática é permitir o acesso de todos os alunos ao conhecimento. Em suma, o trabalho infantil não se justifica e não é solução para coisa alguma. A solução para esta problemática é prover às famílias de baixa renda de condições tais que elas possam assegurar as suas crianças um desenvolvimento saudável (OIT, 1995). Conclusão No que se refere ao processo histórico de consolidação do Trabalho Infantil no cenário nacional, é possível perceber, através da breve revisão apresentada, que no Brasil durante séculos, a criança pertencente ao universo da pobreza foi encaminhada ao trabalho, fato que encontra apoio em todo corpo social. Só no século XX, na década de 90 é que surgem as políticas de combate ao trabalho infantil. A sociedade, no entanto, durante mais de 400 anos conviveu passivamente com a escravidão infantil, tanto indígena quando negra. Ficou muda diante dos abusos físicos e psicológicos durante os períodos escravagista e republicano. Períodos que pouco a pouco consolidaram estigmas como “é melhor a criança estar trabalhando de que roubando” ou “o trabalho educa”. Impôs às famílias pobres uma realidade avassaladora de submeter seus filhos a exploração por acreditar ser o melhor a fazer por eles. No tocante às leis que na atualidade garantem os direitos da criança e do adolescente é possível observar um grande avanço, sobretudo quando comparamos a situação da criança brasileira em momentos anteriores da nossa história. Entretanto, a promulgação de leis na Constituição Federal (1988) e da lei nº 8.069/90 que sancionou o Estatuto da Criança e do Adolescente não podem e 19 nem têm garantido por si sós a erradicação do trabalho infantil. Uma vez que o Brasil ainda apresenta um quadro de mais de 3 milhões de crianças trabalhando. Quanto à região Nordeste a realidade é ainda mais preocupante, pois das crianças relacionadas acima 1,5 milhões estão nesta região. A taxa de escolarização nesta região também é a mais baixa de todo país. Enquanto a média nacional de crianças trabalhando e estudando era de 89%, no Nordeste, trabalhando ou não, a média era de 80% apenas (PNAD,2001). A mesma pesquisa revela um índice de 8,82% dos jovens com 15 anos que trabalhavam eram analfabetos. Não podemos deixar de considerar este um quadro alarmante. Os estudos referentes ao estado de Pernambuco são escassos. Sabe-se apenas que 16,1% da população infanto-juvenil trabalha, média acima da média nacional que é de 12,7%. O quadro quanto a divisão do trabalho infantil na zonas rural e urbana reflete a realidade nacional e nordestina, cuja maior parte das crianças trabalhadoras está na área rural. Em Pernambuco 52,3% das crianças e adolescentes que trabalham estão em atividades agrícolas. Os dados levantados têm como objetivo fundamentar o que supúnhamos, que o trabalho afeta de maneira perversa o desenvolvimento psicossocial das crianças submetidas a uma atividade exploradora. Vimos, então, confirmadas grande parte das nossas suposições diante dos estudos analisados. No que se refere aos danos físicos os problemas que surgem podem afetar e afetam, muitas vezes por toda vida, as crianças em seu desenvolvimento submetendo-as a uma subvida com privações e até mesmo deficiências. As seqüelas que destacamos durante o texto além de marcar fisicamente afetam o emocional e tornam os danos ainda maiores. Quando relatamos deformações ósseas, cefaléias ou ferimentos, esse quadro vai além das doenças apresentadas, pois afetam psicologicamente as vítimas desse fenômeno. Os reflexos psicológicos, assim como os físicos, acabam por entrar em sala de aula comprometendo a formação educacional desses jovens. As grandes preocupações deste estudo foram relativas ao trabalho infantil no que se refere à sua interferência na freqüência e dedicação à escola, pois a 20 educação é uma dos fatores mais importantes relacionados às oportunidades futuras das crianças. No Brasil, enquanto 97% das crianças que não trabalham estão na sala de aula, entre as que trabalham e estudam o índice e bem menor: 89%. A diferença de escolaridade entre as crianças que trabalham e as que não trabalham é presente em todas as regiões do país. E, mais uma vez o Nordeste destaca-se por apresentar a maior diferença entre as crianças que trabalham, apenas 3,91 anos de estudos aos 15 anos de idade (PNAD, 2001). Os danos educacionais, apesar de muito citados, são fenômenos que ainda apresentam um número incipiente de estudos que determinem especificamente o grau de prejuízo à escolarização das crianças. Mas, ainda assim, estes alunos, à medida que a idade aumenta, apresentam um grau relevante de defasagem tanto no que se refere à regularidade de freqüência e permanência escolar, bem como de aprendizagem, quando comparados às crianças que não trabalham. O atraso escolar, como já citamos, chegou há 37% no ano de 2003 entre os estudantes que trabalhavam. Um número extremamente alto e que confirma que o trabalho infantil interfere qualitativamente no ensino. Além disso, há também a falta de interesse por aprender, a partir do momento em que o desgaste e o cansaço vencem o interesse de estar na sala de aula. Dessa forma, fica claro, a partir da análise preliminar por nós realizada, o reflexo social que este prejuízo provoca à sociedade. Como um dos principais exemplos desse prejuízo destaca-se o não romper do ciclo da pobreza, já que, segundo Kassouf (2001), quanto mais jovem começa-se a trabalhar menor serão os rendimentos financeiros dessa pessoa no futuro. Ou seja, não é só o indivíduo que perde diante dessa situação de exploração, mas toda sociedade. Quando essa sociedade procura desculpar-se dizendo que é melhor que a criança trabalhe do que esteja na rua, é preciso reavaliar os conceitos sociais e dizer que lugar de criança é na escola, é praticando esportes, é tendo o direito de desenvolver sua infância saudável, sem traumas. Ainda que entendamos o papel educativo e pedagógico do trabalho para jovens e adultos. Sabemos que os fatores que levam à baixa escolaridade e à evasão escolar são inúmeros e que nem todos podem ser controlados por pesquisas, como a 21 carência de boas escolas nas áreas mais pobres e falta de perspectiva de continuidade dos estudos. Essa falta de perspectiva muitas vezes faz com que se ingresse precocemente no mercado de trabalho, mas o inverso também acontece. O ingresso precoce ao mercado faz com que a criança se veja sem perspectivas diante das outras que acompanham regularmente as aulas. O Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 4o. determina que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Diante do exposto nos perguntamos até onde o Brasil e as sociedades têm cumprido com essa determinação, já que mais de 3 milhões de crianças estão sendo submetidas a exploração do trabalho e dessa forma prejudicando seu desenvolvimento saudável, sua educação e quiçá sua dignidade. O artigo 5o. do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. Do ponto de vista social não estaremos negligenciando as crianças por nos permitir achar culturalmente aceitável o trabalho infantil? Ou sendo discriminadores por acreditar que filhos de famílias pobres não têm outra opção na vida a não ser o trabalho? Ou sendo exploradores, violentos, cruéis e opressores, por muitas vezes fechar os olhos diante das situações que se descortinam a nossa frente, com tantas crianças nos sinais, nos canaviais e às vezes dentro de nossas próprias casas? Acreditamos que é papel do professor conhecer esta realidade e saber lidar com ela sempre que se fizer necessário. Não estamos, no entanto, querendo colocar sobre os ombros do professor mais uma responsabilidade, mas como vimos esta é uma realidade que se faz presente em nossas salas de aula, e não podemos fazer vistas grossas para esse fato. Para tanto é necessário que o professor conheça, ainda que minimamente, sobre mais essa problemática que também afeta a educação, de modo a contribuir para a erradicação do Trabalho Infantil. 22 Anexos Tabela 1 Região Área Sexo 5 a 10 Total Trabalha 11 a 15 % Total Trabalha % Urbano Menino 2.096.991 48.067 2,29 1.827.782 311.126 17,02 Nordeste Urbano Menina 2.082.751 19.989 0,96 1.908.521 183.898 9,64 Rural Menino 1.082.883 168.923 Rural Menina 1.010.600 62.645 15,60 958.264 519.835 54,25 6,20 874.269 218.445 24,99 Fonte: PNAD, 2001 Gráfico 1 Fonte:PNAD/95 Quadro 1 R I S C Agricultura • Uso de ferramentas cortantes • Transporte em veículos sem segurança • Possibilidade de Indústria • Exposição a temperaturas de calor e frio • Ambientes mal iluminados e sem ventilação • Mobiliário Comércio • Excesso de jornada de trabalho • Trabalho noturno • Mobiliário inadequado • Ambientes mal iluminados e mal 23 O S • • • • picada de animais peçonhentos Manipulação de Agrotóxicos Manuseio de máquinas e equipamentos em más condições Esforços físicos excessivos e inadequados Excesso de jornada de trabalho inadequado • Exposição a ruído intenso e umidade excessiva • Manuseio de máquinas sem proteção • Jornada de trabalho excessiva • Realização de trabalho em horário noturno • Exposição a contaminantes atmosféricos (gases vapores e poeira ventilados • Atropelamentos por exercício de atividades em vias de trânsito e veículos (Brasil, 1998a – Brasil, 1998b – Brasil, 2000 – Ferreira, ? – Forastier, 1997 – Rosário, 2000) Quadro 2 Causas Conseqüências - Longas jornadas de trabalho Esforço físico Horários indevidos - Fadiga crônica - Horários inadequados de trabalho - Distúrbios do sono Irritabilidade excessiva - Exposição a ruídos - Progressiva perda auditiva - Iluminação deficiente - Irritação ocular - Má postura Esforços exagerados Movimentos repetitivos - Contraturas Musculares Distensões Entorses excessiva ou 24 - Carregamento de peso Posturas inadequadas - Equipamentos inadequados - Esforço repetitivo mãos e braços e - Deformações ósseas mobiliários dos dedos, - Lombalgia Cefaléia Mialgias - Tendinite Lesão por (LER) esforço - Exposição excessiva ao sol, umidade, frio, calor, vento e poeira - Mal estar - Falta de proteção contra luz solar e outros agentes físicos, químicos e biológicos - Ferimentos de pele Alergias Dermatites Furunculoses Câncer de pele - Inalação de poeira, fibras Exposição ao ar condicionado sem manutenção - Bronquite Pneumonia Rinite Faringite - Inalação e fixação de partículas sólidas espalhadas na atmosfera (carvão, sílica) - Pneumoconioses - Alimentação Inadequada - Distúrbios digestivos repetitivo (Brasil, 1998b/ Brasil, 2000/ Costa, 1998/ Forastier, 1997) (Brasil, 1998b/ Brasil, 2000/ Costa, 1998/ Forastier, 1997) 25 Referencial Teórico ABREU, Maria Lúcia. IBGE divulga a síntese dos indicadores sociais 2004: Um a cada cinco bebês nascidos em 2003 eram filhos de adolescentes. www.pautasocial.com.br. 2005 ABRIC, J. C. Représentations: aspects théoriques. Paud: Alves-Mazzotti, Alda Judith. Repensando algumas questões sobre o trabalho infanto-juvenil. Revista Brasileira de Educação: Universidade Estácio de Sá, 2002. ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Repensando algumas questões sobre o trabalho infanto-juvenil. Revista Brasileira de Educação: Universidade Estácio de Sá, 2002. ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith e GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Método nas Ciências Naturais e Sociais: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa, São Paulo: Pioneira, 2001 BRASIL, Congresso Nacional. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Brasília: DF, 1988 BRASIL, Ministério do Trabalho, Secretaria de Fiscalização do Trabalho. Estatuto da Criança e do Adolescente. Brasília: DF, 1990 BRASIL, Congresso Nacional. Relatório Final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Denúncias sobre o trabalho de crianças e adolescentes no Brasil. Brasília: DF, 1998 BRASIL, Ministério do Trabalho e do Emprego. Delegacia Regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Norte. Projeto “Empregador Legal, Trabalhador cidadão”, indústria têxtil de Jardim Piranhas/RN. Natal: RN, 1998 26 BRASIL, Ministério do Trabalho e do Emprego. Trabalho Infantil no Brasil: Questões Políticas. Brasília: DF, 1998 BRASIL, Ministério do Trabalho e do Emprego. Grupo Técnico Nacional e Organização Internacional do Trabalho. Investigação e comprometimentos do trabalho precoce na saúde de crianças e adolescentes: relatório final de pesquisa. Brasília: DF, 1999 BRASIL, Ministério do Trabalho. Secretaria de Inspeção do trabalho. Trabalho Precoce: Saúde em Risco. Brasília: DF, 2000 CAMPOS, Herculano Ricardo e FRANCISCHINI, Rosângela. Trabalho Infantil Produtivo e Desenvolvimento Humano. Revista Científica: Psicologia em Estudo, v.o.n.1, p. 119-129, Jan/Jun. 2003 CENDHEC. Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil. Caderno de Capacitação. Recife: PE, 2005 COSTA, M. C. O. e SOUZA, R. P. Indicadores de Saúde para a Infância e Adolescência. In: Avaliação e Cuidados Primários da Criança e do adolescente. Porto Alegre: RS, Editora Artes Médicas, 1998 DIMENSTEIN, Magda e FEITOSA, Izabel. Escola, Família e Trabalho Infantil: Subjetividade e Práticas Disciplinares. Interação em Psicologia, 8(2), p. 287-296, 2004 DOURADO, Ana Cristina Dubeux e FERNANDEZ, Maria Aparecida Arias. Uma História da Criança Brasileira. CENDHEC, Belo Horizonte: MG, Palco, 1999 ERIKSON, E. H. Infância e Sociedade. Rio de janeiro: Zahar, 1976 27 FERREIRA, M. A. F. Ministério do Trabalho e do Emprego, SSST/SEFIT. Investigação dos Comprometimentos do Trabalho Precoce na Saúde de Crianças e Adolescentes: Relatório final de pesquisa. Organização Internacional do Trabalho – OIT. Edição e data não informados FERREIRA, Rubens de Camargo, et. al. Compromisso da Saúde no Campo do Trabalho Infanto-Juvenil – Uma Proposta de Atuação. São Paulo: Faculdade, 1999 FERREIRO, E. Com Todas as Letras. São Paulo: Cortez, 1992 FORASTIER, V. Children at Work: Health and Safety Risks. ILO Child Labour Collection. Geneva: International Labour Office, 1997 FURLANETTO, Júlia e JACINTO, Paulo Andrade. Trabalho Infantil no Município de Passo Fundo/RS. Rio de Janeiro: ANPEC, 2003 FRANKLIN, Rafael Narciso, et. al. Trabalho Precoce e riscos à Saúde. Vol. 2, nº 2, p. 80-89. ISSN 1414-7130, mar, 2001 GOMES, J. V. Vida Familiar e Trabalho de Crianças e Jovens Pobres. Paidéia, 6, 45-61, São Paulo, 1998 KASSOUF, Ana Lúcia. Trabalho infantil no Brasil. Tese de Livre Docência – ESALQ – USP: São Paulo, 1999 KASSOUF, Ana Lúcia. O Efeito do Trabalho Infantil para os Rendimentos dos Adultos. ANPEC: Rio de Janeiro, 2000 KASSOUF, Ana Lúcia. Trabalho Infantil: escolaridade x emprego. Economia, Campinas, v. 2, 549-596, 2001 28 KASSOUF, Ana Lúcia. O perfil do trabalho infantil no Brasil, por regiões e ramos de atividades. Brasília: OIT, 2004 MARQUES, Maria Elizabeth, et. al. O Trabalho Infantil: a infância roubada. PUC/MG, 2002 OLIVEIRA, Marta Kohl. Vygotsky – Aprendizado e desenvolvimento um processo sócio-histórico. São Paulo: Scpione, 1993 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Criança que trabalha compromete seu futuro, 1995, fasc. 1, p. 8-9 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. El Trabajo Infantil: lo intorelable en el punto de mira, Conferencia Internacional Del Trabajo, 86ª. Reunión. Informe VI, parte I, Genebra, 1998 PNAD 1995. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE, Rio de Janeiro PNAD 2001. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE, Rio de Janeiro PNAD 2003. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE, Rio de Janeiro ROSÁRIO, M. Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul. Caderno de Cidadania. 1a. Edição Porto Alegre: RS, 2000 SILVA, B. Trabalho infantil: A Triste Realidade de Infância Perdida. Senado Federal. Brasília: DF, 1996 TAMAYO, Eduardo G. Trabalho Infantil: As Cifras da Vergonha. Serviço Informativo ALAI – Amlatina. www.imediata.com, 2002. Acesso em 25/05/2005 29 TAVARES, Maurício Antunes. Onde está Kelly? O trabalho ocultode crianças e adolescentes exploradas nos serviços domésticos na cidade do Recife. CENDHEC: Recife, 2002 UNICEF. Situação mundial da infância. Brasília, 1997, http://www.unicef.org/brazil/prevencaoecombate.htm. Acesso em 10 mai 2005 VILELA, Ruth. O Trabalho Infantil no Mundo. In: Mercado de Trabalho Conjuntura e Análise, IPEA, n. 8, Rio de Janeiro, 1998 VIGOTSKI, I. In: CAMPOS, Herculano Ricardo e FRANCISCHINI, Rosângela. Trabalho Infantil Produtivo e Desenvolvimento Humano. Revista Científica: Psicologia em Estudo, v.o.n.1, p. 119-129, Jan/Jun. 2003 30
Download