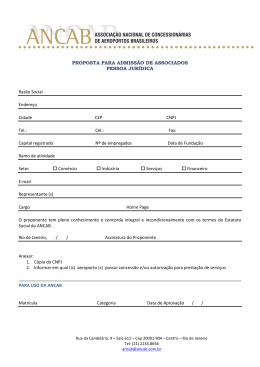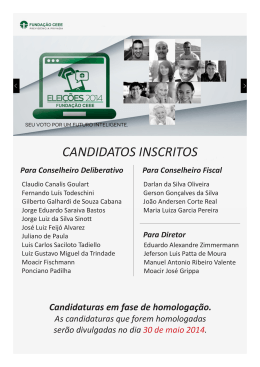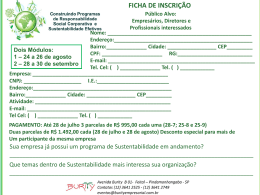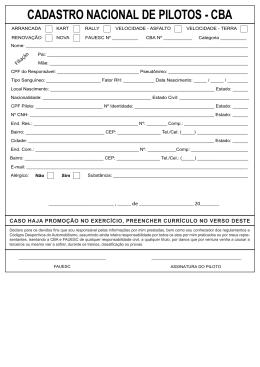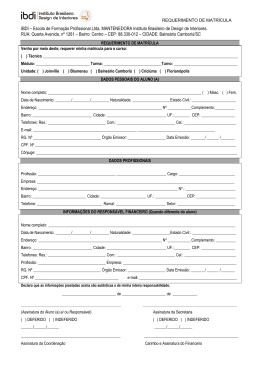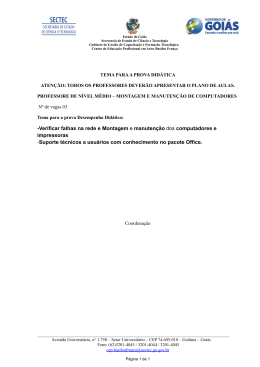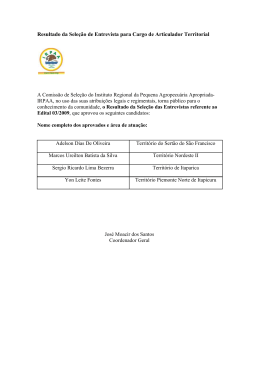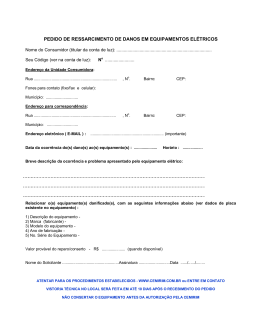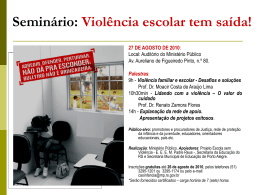BIBLIOTECA PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR Selecionamos para você uma série de artigos, livros e endereços na Internet onde poderão ser realizadas consultas e encontradas as referências necessárias para a realização de seus trabalhos científicos, bem como, uma lista de sugestões de temas para futuras pesquisas na área. Primeiramente, relacionamos sites de primeira ordem, como: www.scielo.br www.anped.org.br www.dominiopublico.gov.br SUGESTÕES DE TEMAS 1. DOS FINS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 2. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: o esporte como conteúdo pedagógico do ensino fundamental 3. A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL, CONSIDERANDO DUAS DIMENSÕES: a da pesquisa e a escolar 4. CARACTERÍSTICAS DOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 5. NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES DO BRASIL 6. EDUCAÇÃO FÍSICA E INCLUSÃO: considerações para a prática pedagógica na escola 7. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: conhecimento e especificidade, a questão da pré-escola 8. O CURRÍCULO DE EDUCAÇÃO FÍSICA PRÉ-ESCOLAR 9. A EDUCAÇÃO FÍSICA, A FORMAÇÃO DO CIDADÃO E OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 10. AS DIMENSÕES DOS CONTEÚDOS (ATITUDINAIS, CONCEITUAIS E PROCEDIMENTAIS) 11. OS TEMAS TRANSVERSAIS E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 12. A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E SUA TRAJETÓRIA HISTÓRICA 13. PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO EO ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 14. NÍVEIS DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL EM ADOLESCENTES 15. DESENVOLVIMENTO MOTOR: implicações para a Educação Física Escolar 16. ESFORÇOS FÍSICOS NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 17. OS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 18. MÍDIA, CULTURA CORPORAL E INCLUSÃO: conteúdos da educação física escolar 19. EPIDEMIOLOGIA, ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE 20. ESPORTE NA ESCOLA: mas é só isso, professor 21. A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA 22. A JANELA DE VIDRO: esporte, televisão e educação física 23. VALORES E FINALIDADES NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: uma concepção sistêmica. 24. O" ESPORTE NA ESCOLA" E O" ESPORTE DA ESCOLA": da negação radical para uma relação de tensão permanente - um diálogo com valter bracht 25. EDUCAÇÃO FÍSICA PROGRESSISTA 26. A LITERATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA: um caráter tecnicista, 27. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UMA PROPOSTA CURRICULAR PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: um estudo de caso 28. PARAMETROS CURRICULARES PARA O ENSINO-APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA: um estudo de caso 29. CONHECIMENTO E ESPECIFICIDADE DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, NA PERSPECTIVA DA CULTURA 30. CULTURA ESCOLAR, CULTIVO DE CORPOS: educação física e ginástica como práticas constitutivas dos corpos de crianças no ensino público primário Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 2 31. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR E DITADURA MILITAR NO BRASIL (19681984): entre a adesão e a resistência 32. REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 33. APTIDÃO FÍSICA E SAÚDE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ampliando o enfoque 34. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: a prática do bom professor 35. PSICOMOTRICIDADE, EDUCAÇÃO FÍSICA E JOGOS INFANTIS 36. METODOLOGIAS EMERGENTES NO ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA 37. EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE MEDIANTE PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 38. A POLÍTICA DE ESPORTE ESCOLAR NO BRASIL: a pseudovalorização da educação física 39. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: uma proposta de diretrizes pedagógicas 40. MENINOS E MENINAS: expectativas corporais e implicações na educação física escolar 41. A CONSTITUIÇÃO DAS TEORIAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA 42. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: conhecimento e especificidade 43. FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. 44. EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL: a história que não se conta 45. EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: em busca da pluralidade 46. EDUCAÇÃO FÍSICA E O CONCEITO DE CULTURA 47. ENTRE A EDUCAÇAO FISICA NA ESCOLA E: a educação física da escola 48. EDUCAÇÃO FÍSICA: raízes européias e Brasil 49. INÍCIO E FIM DO SÉCULO XX: maneiras de fazer educação física na escola Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 3 ARTIGOS PARA LEITURA, ANÁLISE E UTILIZAÇÃO COMO FONTE OU REFERENCIA Cadernos CEDES Print version ISSN 0101-3262 Cad. CEDES vol.19 n.48 Campinas Aug. 1999 doi: 10.1590/S0101-32621999000100004 MENINOS E MENINAS: expectativas corporais e implicações na educação física escolar Eustáquia Salvadora de Sousa* Helena Altmann** RESUMO: Neste texto discute-se o gênero como construção social que uma dada cultura estabelece em relação a homens e mulheres, mostrando que essa construção é relacional, tanto no que se refere ao outro sexo quanto a outras categorias, tais como raça, idade, classe social e habilidades motoras. Analisa as expectativas corporais em relação a meninos e meninas e suas manifestações na cultura escolar, o esporte como conteúdo genereficado da educação física e as possibilidades de intervenção docente na construção das relações entre meninos e meninas. Palavras-chave: Gênero, cultura escolar, educação física, esporte Nessa contagem regressiva para o século XXI, existe um movimento de educadores para que a escola reencontre os vínculos perdidos entre educação e humanização, assuma a formação do cidadão(ã) para sua intervenção na vida pública e fortaleça a concepção democrática, na revitalização do pensamento pedagógico, embora a imagem dela continue vinculada apenas ao treinamento para o mercado de trabalho. Nesse sentido, a nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional (Brasil 1996), apesar de suas contradições, abre espaços para a construção de uma escola comprometida com a cidadania e com a rejeição à exclusão. Esses espaços são garantidos e reforçados pelas Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental (Brasil, CNE 1998) que, ao regulamentar a lei, adotam como princípios da educação a Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 4 garantia aos direitos e deveres da cidadania, a política da igualdade, a solidariedade e a ética da identidade. Também os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (Brasil 1997), que servem de apoio às discussões e ao desenvolvimento dos projetos educativos da escola, reforçam a necessidade de se construir uma educação básica que adote como eixo estrutural o princípio da inclusão, apontando para uma perspectiva metodológica de ensino-aprendizagem que busque a cooperação e a igualdade de direitos. Para isso, sugerem um conjunto de temas que aparecem transversalizados, permeando a concepção dos diferentes componentes curriculares, dentre os quais a ética, a saúde, a orientação sexual e a pluralidade cultural, englobando, portanto, as questões de gênero na cultura brasileira. Entretanto, para que essas idéias e esses valores se tornem realidade na educação escolar não basta incluí-los nas leis e nos PCNs; é necessário entender que quanto mais o pensamento e a prática educacionais se situam no campo dos direitos, mais inevitável se torna encarar a escola como um dos espaços instituídos da integração e da diversidade. E, como recomenda Arroyo (1996), é preciso também situar a escola na construção de um projeto político e cultural por um ideal democrático que reflita, ao mesmo tempo, a complexa diversidade de grupos, etnias, gêneros, demarcado não só por relações de perda, de exclusão, de preconceitos e discriminações, mas também por processos de afirmação de identidades, valores, vivências e cultura1. O propósito deste texto - que discute as relações de gênero na cultura escolar - é contribuir para a fundamentação de uma ação pedagógica que permita às mulheres e aos homens, conjunta e indiscriminadamente, conhecimento e vivências lúdicas do corpo que pensa, sente, age, constrói e consome cultura. Gênero: A construção social das diferenças sexuais Gênero é aqui entendido como a construção social que uma dada cultura estabelece ou elege em relação a homens e mulheres, ou, como conceitua Scott (1995, p. 89), é um elemento constitutivo das relações sociais fundadas sobre as diferenças Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 5 percebidas entre os sexos, que "fornece um meio de decodificar o significado e de compreender as complexas conexões entre várias formas de interação humana". Na visão da autora, o gênero, ao enfatizar o caráter fundamentalmente social das divisões baseadas no sexo, possibilita perceber as representações e apresentações das diferenças sexuais. Destaca, ainda, que imbricadas às diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres estão outras social e culturalmente construídas. Dessa maneira, a ênfase dada pelo conceito de gênero à construção social das diferenças sexuais não se propõe a desprezar as diferenças biológicas existentes entre homens e mulheres, mas considera que, com base nestas, outras são construídas. Nesse sentido, Bourdieu (1995) lembra que o mundo social constrói o corpo por meio de um trabalho permanente de formação e imprime nele um programa de percepção, de apreciação e de ação. Nesse processo, as diferenças socialmente construídas acabam sendo consideradas naturais, inscritas no biológico e legitimadoras de uma relação de dominação. Essas idéias são reforçadas por Bordo (1997, p. 20), ao afirmar que "por meio da organização e da regulamentação de nossas vidas, nossos corpos são treinados, moldados e marcados pelo cunho das formas históricas predominantes de individualidade, desejo, masculinidade e feminilidade". Se os corpos assumem a organização social, a política e as normas religiosas e culturais, também é por seu intermédio que se expressam as estruturas sociais. Assim, há uma estreita e contínua imbricação entre o social e o biológico, um jeito de ser masculino e um jeito de ser feminino, com atitudes e movimentos corporais socialmente entendidos como naturais de cada sexo (Connel 1990). Portanto, o processo de educação de homens e mulheres supõe uma construção social e corporal dos sujeitos, o que implica - no processo ensino/aprendizagem de valores conhecimentos, posturas e movimentos corporais considerados masculinos ou femininos. E, nesse sentido, praticamente, todo movimento corporal é distinto para os dois sexos: o andar balançando os quadris é assumido como feminino, enquanto dos homens espera-se um caminhar mais firme (palavra que no dicionário vem Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 6 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] associada a seguro, ereto, resoluto - expressões muito masculinas e positivas), o uso das mãos [...], o posicionamento das pernas ao sentar, enfim, muitas posturas e movimentos são marcados, programados, para um e para outro sexo. (Louro 1992, pp. 58-59) Como a idéia de gênero está fundada nas diferenças biológicas entre os sexos, ela aponta para o caráter implicitamente relacional do feminino e do masculino. Assim, gênero é uma categoria relacional porque leva em conta o outro sexo, em presença ou ausência. Além disso, relaciona-se com outras categorias, pois não somos vistos(as) de acordo apenas com nosso sexo ou com o que a cultura fez dele, mas de uma maneira muito mais ampla: somos classificados(as) de acordo com nossa idade, raça, etnia, classe social, altura e peso corporal, habilidades motoras, dentre muitas outras. Isso ocorre nos diversos espaços sociais, incluindo a escola e as aulas de educação física, sejam ministradas para turmas do mesmo sexo ou não. Os sistemas escolares modernos não apenas refletem a ideologia sexual dominante da sociedade, mas produzem ativamente uma cadeia de masculinidades e feminilidades heterossexuais diferenciadas e hierarquicamente ordenadas (Mac An Gahill 1996). Mesmo com essa hierarquização, as construções de gênero não se opõem, ou seja, o feminino não é o oposto nem o complemento do masculino. Sobre isso, Poovey (1988) argumenta que a oposição entre os sexos não é reflexo ou articulação de um fato biológico, mas uma construção social. A revelação de que a oposição binária é artificial desestabiliza a identidade aparentemente fixa e rígida do feminino e do masculino e impede a formulação de outras possibilidades. No que se refere à diversidade de construções de gênero, Louro lembra que, entendendo gênero fundamentalmente como uma construção social - e, portanto, histórica -, teríamos de supor que esse conceito é plural, ou seja, haveria conceitos de feminino e de masculino, social e historicamente diversos. A idéia de pluralidade implicaria admitir não apenas que sociedades diferentes teriam diferentes concepções de homem e de mulher, como também que no interior de uma sociedade tais concepções seriam diversificadas, conforme a classe, a religião, a raça, a idade, etc.; além disso, implicaria admitir que os conceitos de masculino e feminino se transformam ao longo do tempo. (1996, p. 10) Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 7 Um entendimento dos gêneros como opostos não é exclusividade do mundo adulto. Após examinar construções de gênero em falas e em jogos de crianças em escolas primárias inglesas, Francis (1998, p. 42) afirma que as próprias crianças construíam os gêneros como opostos, a fim de reforçar seu senso de identidade feminina ou masculina. Entretanto, essas culturas não eram congeladas, e as fronteiras dessa divisão eram freqüentemente ultrapassadas ou recusadas. Similarmente, Thorne (1993) relata ocasiões em que o senso de gênero como fronteira se dissolvia, e meninos e meninas interagiam descontraidamente. Assim, meninos e meninas não mantêm nítidas as divisões de gênero, estando por vezes separados e noutras juntos, o que, nas aulas de educação física, nem sempre ocorre sem muitos conflitos. As construções de gênero nas aulas de educação física para turmas mistas Sendo gênero uma categoria relacional, há de se pensar sua articulação com outras categorias durante aulas de educação física, porque gênero, idade, força e habilidade formam um "emaranhado de exclusões" vivido por meninas e meninos na escola (Altmann 1998)2. Não se pode concluir que as meninas são excluídas de jogos apenas por questões de gênero, pois o critério de exclusão não é exatamente o fato de elas serem mulheres, mas por serem consideradas mais fracas e menos habilidosas que seus colegas ou mesmo que outras colegas. Ademais, meninas não são as únicas excluídas, pois os meninos mais novos e os considerados fracos ou maus jogadores freqüentam bancos de reserva durante aulas e recreios, e em quadra recebem a bola com menor freqüência até mesmo do que algumas meninas. Tais constatações mostram-nos que a separação de meninos e meninas nas aulas de educação física desconsidera a articulação do gênero com outras categorias, a existência de conflitos, exclusões e diferenças entre pessoas do mesmo sexo, além de impossibilitar qualquer forma de relação entre meninos e meninas. Mas, como alerta Kunz (1993), em estudo sobre a construção histórico-cultural dos estereótipos sexuais, no contexto escolar, a educação física constitui o campo onde, por excelência, acentuam-se, de forma hierarquizada, as diferenças entre homens e mulheres. Também Louro lembra que, se em alguns componentes curriculares a Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 8 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] constituição da identidade de gênero parece, muitas vezes, ser feita por meio de discursos implícitos, nas aulas de educação física esse processo é, geralmente, mais explícito e evidente. Ainda que várias escolas e professores/as venham trabalhando em regime de co-educação, a educação física parece ser a área onde as resistências ao trabalho integrado persistem, ou melhor, onde as resistências provavelmente se renovam, a partir de outras argumentações ou de novas teorizações. (1997, p. 72) Essas resistências vêm se mostrando constantes ao longo da história dessa disciplina na escola brasileira, fortemente vinculada à biologia e ao positivismo, como apontam diversas autoras, dentre as quais Soares (1994) e Gomes (1998). Essa história mostra que na aparência das diferenças biológicas entre os sexos ocultaram-se relações de poder - marcadas pela dominação masculina - que mantiveram a separação e a hierarquização entre homens e mulheres, mesmo após a criação da escola mista, nas primeiras décadas deste século. Buscou-se manter a simbologia da mulher como um ser dotado de fragilidade e emoções, e do homem como força e razão, por meio das normas, dos objetos, do espaço físico e das técnicas do corpo e dos conteúdos de ensino, fossem eles a ginástica, os jogos ou e sobretudo - os esportes. Esporte: Conteúdo genereficado e genereficador Com a introdução do esporte moderno como conteúdo da educação física escolar no Brasil, principalmente a partir dos anos 30, a mulher manteve-se perdedora porque era um corpo frágil diante do homem. Todavia, era por "natureza" a vencedora nas danças e nas artes. O corpo da mulher estava, pois, dotado de docilidade e sentimento, qualidades negadas ao homem pela "natureza". Aos homens era permitido jogar futebol, basquete e judô, esportes que exigiam maior esforço, confronto corpo a corpo e movimentos violentos; às mulheres, a suavidade de movimentos e a distância de outros corpos, garantidas pela ginástica rítmica e pelo voleibol. O homem que praticasse esses esportes correria o risco de ser visto pela sociedade como efeminado. O futebol, esporte violento, tornaria o homem viril e, se Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 9 fosse praticado pela mulher, poderia masculinizá-la, além da possibilidade de lhe provocar lesões, especialmente nos órgãos reprodutores. À medida que os anos transcorreram, as perspectivas sob as quais se adjetivava o esporte foram se alterando e, nas últimas décadas, presenciamos algumas mudanças: aos homens é dado o direito de praticar o voleibol, sem riscos para sua masculinidade, e o futebol passa a ser praticado por mulheres, tanto nos clubes quanto em algumas escolas. Essa participação das mulheres foi autorizada pelo Conselho Nacional de Desportos (Brasil 1979, Brasil 1983) e endossada por estudos científicos que jogavam por terra os argumentos sobre a probabilidade de as mulheres estarem mais propensas às lesões esportivas do que os homens (Azevedo 1988). Entretanto, não se pode considerar que, pelo fato de homens e mulheres praticarem os mesmos esportes, estes tenham deixado de ser genereficados. Basta uma análise mais cuidadosa do noticiário divulgado para verificarmos que eles continuam, de maneira geral, estreitamente ligados à imagem masculina: destacamse a beleza das atletas, suas qualidades femininas, sempre frisando que são atletas, mas continuam mulheres. Michel Messner (1992) reforça essas idéias ao considerar o esporte uma "instituição genereficada" - uma instituição construída por relações de gênero. Enquanto tal, sua estrutura e valores (regras, organização formal, composição sexual, etc.) refletem concepções dominantes de masculinidade e feminilidade. Os esportes organizados são também uma "instituição genereficadora" - uma instituição que ajuda a construir a ordem de gênero corrente. (Tradução nossa) Diversos autores e autoras apontam o esporte como uma atividade predominantemente masculina e de fundamental importância na construção da identidade masculina (B. Connel 1992, R. Connel et al. 1995). Também Badinter (1993, p. 94) afirma que os esportes que envolvem a competição, a agressão e a violência são considerados como a melhor iniciação à virilidade, pois é nesse espaço que o adolescente ganha "status de macho", mostrando Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 10 publicamente seu desprezo pela dor, o controle do corpo, a força e a vontade de ganhar e esmagar os outros. "Em suma, mostra que não é um bebê, uma moça ou um homossexual, mas um homem de verdade." Essa imagem do esporte continua afastando as mulheres de sua prática. Se freqüentarmos quadras esportivas em algum parque num final de semana, provavelmente encontraremos um número significativamente maior de homens do que de mulheres jogando. Também nas escolas as quadras esportivas são normalmente ocupadas por meninos durante o recreio e horários livres, o que, até certo ponto, demonstra que eles dominam esse universo. Em Belo Horizonte, Altmann (1998) mostra que, na escola, os meninos ocupam espaços mais amplos que as meninas por meio do esporte, o qual está vinculado a imagens de uma masculinidade forte, violenta e vitoriosa. Isso também parece ocorrer em escolas de outras partes do mundo. Observando pátios de escolas norte-americanas, Thorne (1993) constatou que meninos ocupavam dez vezes mais espaço do que meninas durante o recreio e, enquanto eles controlavam espaços maiores e principalmente destinados a esportes coletivos, elas permaneciam em espaços menores e mais próximos ao prédio, obtendo, assim, a proteção dos adultos. Além disso, meninos invadiam e interrompiam os jogos femininos mais freqüentemente que o contrário. Na Inglaterra, Grugeon (1995) registrou que o domínio masculino do espaço físico durante os recreios ocorria principalmente por intermédio do futebol. Outra questão importante a ser destacada é que meninas não são vítimas de uma exclusão masculina. Vitimá-las significaria coisificá-las, 'aprisioná-las pelo poder', desconsiderando suas possibilidades de resistência e também de exercício de dominação (Altmann 1998). Como exemplo do exercício dessa resistência, trazemos o relato de um dia em que meninas jogaram futebol durante um recreio - espaço diariamente ocupado apenas por meninos. Para se inserirem naquele universo masculino, as meninas lançaram mão de estratégias. Primeiro, visando evitar conflitos, chegaram cedo nas quadras com uma bola, organizando-se antes mesmo da chegada dos meninos. Segundo, permitiram Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 11 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] que dois deles fossem os árbitros do jogo. Ao conceder-lhes o papel de autoridade, elas fizeram da aparente aceitação do domínio masculino daquele esporte uma estratégia para jogar, pois, ainda que o papel de árbitros lhes tenha sido concedido, o exercício pleno desta função não o foi, pois eram as meninas que mandavam em quadra. Apesar de todos os xingões que ouviram, os árbitros, e não as jogadoras, estiveram prestes a levar um cartão vermelho e serem expulsos de campo. Os meninos também não foram passivos: a resistência das meninas ao domínio masculino das quadras foi tão eficiente que a situação se inverteu: elas passaram a dominar e eles, a resistir. Houve, então, um efeito de contra-resistência: ao perceberem que elas dominavam as quadras, os meninos tentaram restabelecer seu domínio, planejando uma invasão e chamando as meninas que jogavam de Marias-homem. Ainda assim, as Marias jogaram o recreio inteiro. Quando meninos e meninas praticam juntos algum esporte, parece haver expectativa de que as práticas e os espaços esportivos sejam dominados por meninos. Na escola pesquisada, jogar com as meninas não era um desafio para os meninos, pois um bom desempenho contra meninas não lhes creditava qualquer mérito especial, e jogar pior do que elas era um vexame, pois ia contra a expectativa de superioridade masculina nesse universo. Desse modo, jogar com meninas representava para eles não um desafio, mas uma ameaça. Para as meninas, por sua vez, superar as expectativas e ser melhor que os meninos no esporte era uma honra, motivo de consagração que, em algumas ocasiões e entre alguns meninos, garantia-lhes legitimidade. Noutros momentos, porém, a desvalorização de sua prática esportiva e delas como mulheres era uma maneira de resistir ao abalo que sua presença nas quadras infligia ao domínio masculino daquele espaço. (Altmann 1998, pp. 98-99). Assim, ainda que a prática de atividades esportivas seja mais freqüente entre homens, o envolvimento de mulheres com os esportes, inclusive com o futebol, está longe de ser desprezível. Se no passado apenas meninos jogavam bola, hoje Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 12 meninas freqüentam esses campos não mais apenas como espectadoras, mas buscando romper com as hierarquias de gênero. Exemplo dessa hierarquização pode ser lido numa reportagem intitulada "Mulheres invadem campos de futebol" recentemente publicada na Folha de S. Paulo, na qual afirma-se que "matar a bola no peito, driblar o adversário e marcar um gol não é mais exclusividade do mundo masculino". Ela destaca que o futebol tornou-se uma possibilidade de emprego para mulheres, que podem receber salários entre R$ 500 e R$ 1.000, valores bastante inferiores aos salários recebidos por jogadores do sexo masculino. Outro dado interessante é que essa reportagem de meia página localizava-se nos classificados de emprego e não na seção de esportes, que era composta praticamente por cinco páginas com artigos sobre campeonatos brasileiros masculinos de primeira e de segunda divisão e sobre torneios internacionais (Abbud 1999). Quanto aos homens, continuam "proibidos" de praticar alguns esportes, dentre os quais a Ginástica Rítmica Desportiva (GRD). Esse esporte é um dos conteúdos de ensino da educação física que nos permitem ler a genereficação do esporte, como também os mascaramentos que, historicamente, foram sendo modificados para que seja garantida a manutenção de valores desejados, com regras diferenciadas para homens e mulheres. Ao se tornar esporte considerado feminino, seu sentido de expressão de arte mudou para significado de eficiência e perfeição técnica, adaptando-se, portanto, ao conjunto de valores que o esporte prevê para os homens. Entretanto, mascarando-se o sexismo dos gestos, esse esporte, mesmo exigindo riscos, valoriza a aparente leveza e feminilidade. Dessa forma, a GRD, uma experiência que poderia ser interessante para ambos os sexos, pois possibilita a interação entre o corpo e o manejo de aparelhos manuais diferenciados, passa a ser valorizada pelos gestos sexistas. O entendimento das barreiras da prática indiferenciada de esporte por homens e mulheres na escola remete-nos à afirmação de Kunz (1993, p. 118). Afirma essa autora que: Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 13 Na contraposição das possibilidades expressas pelos dois mundos esportivos, respectivamente para o feminino e masculino - cooperação/competição, sensibilidade/racionalidade, criatividade/produtividade [agressividade/delicadeza] evidenciam-se os pólos que o esporte, como praticado nas escolas, não deixa, por enquanto, conciliar. Intervenção docente No que se refere à intervenção docente, várias considerações podem ser feitas, dado o importante papel do professor ou da professora na aula. Para Louro (1997, p. 75), as aulas de educação física representam uma situação constante e peculiar de exame: O uso de alinhamentos, a formação de grupos e outras estratégias típicas dessas aulas permitem que o professor ou professora exercite um olhar escrutinador sobre cada estudante, corrigindo sua conduta, sua postura física, seu corpo, enfim, examinando-o/a constantemente. Alunos e alunas são aqui particularmente observados, avaliados e também comparados, uma vez que a competição é inerente à maioria das práticas esportivas. Todavia, esse olhar escrutinador não é exercitado somente pelo docente, mas pelos estudantes entre si. Na escola, estudantes estão constantemente vigiando as habilidades, as atitudes, o gênero e a sexualidade dos colegas. Quando, por exemplo, meninos e meninas são vistos juntos, é comum ocorrerem comentários pejorativos ou "gozações" entre outros colegas, como chamando-os de namorados ou questionando sua sexualidade por a atividade ser considerada feminina ou masculina. Sobre essa questão, Thorne (1993) afirma que a presença de adultos entre crianças pode diminuir a separação de gênero, pois, ao incentivarem a prática conjunta de meninos e meninas, os comentários pejorativos provenientes dessa interação são minimizados. Também Serbin (1984), pesquisando escolas elementares norte-americanas, mostrou que a presença do professor ou da professora em algum local já é por si Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 14 mesma um fator de extrema importância na determinação das atividades da criança. As professoras, por terem sido socializadas como mulheres, têm interesses específicos na sala de aula e, conseqüentemente, acabam interagindo com as crianças, principalmente por meio de atividades de preferência feminina. Isso facilitaria um envolvimento dos meninos com essas atividades, mas não o envolvimento de meninas em atividades predominantemente masculinas. No experimento feito, quando a professora ocupou áreas na sala de aula onde ficavam brinquedos como blocos e caminhões, as meninas tímidas, que antes nunca tinham ido àqueles locais, aproximaram-se. A pesquisadora concluiu que as meninas não chegavam àqueles locais porque a professora não ia até lá. Os mesmos resultados foram obtidos com os meninos, quando a professora foi brincar com bonecas e quando a experiência foi repetida com professores. "A postura docente é uma referência que define como meninas e meninos agem e se relacionam entre si" (Altmann 1998, p. 101). Meninos e meninas nem sempre reagem da mesma forma à intervenção docente, e um exemplo reside no fato de que meninos desobedecem mais a normas escolares e a solicitações docentes do que meninas. Assim, uma maneira encontrada por meninas - e, em menor freqüência, por meninos - para resolver problemas e conflitos presentes nas aulas era por meio da intervenção docente. A professora incentivava seus alunos e alunas a colocarem-na a par do que ocorria nas aulas e a solicitarem sua ajuda para resolver problemas. Essa atitude não poderia ser interpretada como uma incapacidade de resolver o problema, pois quem levava a professora a agir era a aluna ou o aluno. Por meio da intervenção da professora, escondendo-se atrás dela, esses estudantes conquistaram o que desejavam (Altmann 1998). Adaptar as regras de algum jogo ou esporte como recurso para evitar a exclusão de meninas desconsidera a articulação do gênero a outras categorias. Determinar que um gol só possa ser efetuado após todas as meninas terem tocado a bola, ou autorizar apenas as meninas a marcá-los são exemplos dessas adaptações. Se tais regras solucionam um problema, criam outros, pois quebram a dinâmica do jogo e, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 15 em última instância, as meninas são as culpadas por isso, pois foi para elas que as regras foram modificadas. Como afirma Louro (1997), modificar as regras do jogo pode representar uma forma de ajustar o jogo à "debilidade" feminina, mais uma vez consagrando-se a idéia de que o feminino é um desvio construído com base no masculino. Além disso, a exclusão é aí tratada como unicamente de gênero, e aqueles meninos excluídos com as regras oficiais continuam a enfrentar o mesmo problema quando as regras são adaptadas. São inúmeros os conflitos e as dificuldades dos educadores no enfrentamento das questões de gênero presentes na cultura escolar, especialmente nas aulas de educação física, pois se trata de valores e normas culturais que se transformam muito lentamente. É importante lembrar que o processo de socialização das novas gerações não é simples nem pode ser considerado de modo linear ou mecânico. Ele é complexo, sutil e marcado por inevitáveis resistências individuais e grupais, bem como por profundas contradições. Nesse processo, a tendência conservadora lógica presente em toda comunidade social para reproduzir comportamentos, valores, idéias, artefatos e relações que são úteis para a própria existência do grupo humano - choca-se inevitavelmente com a tendência, também lógica, que busca modificar os caracteres dessa formação que se mostram desfavoráveis para alguns dos indivíduos ou grupos que compõem o complexo e conflitante tecido social (Pérez Gomes 1998). Além disso, lembrando Sacristán (1995, p. 89), cabe ressaltar que "a escola não opera no vazio; a cultura que ali se transmite não cai em mentes sem outros significados prévios". Os estudantes são seres com uma bagagem prévia de crenças, significados, valores, atitudes e comportamentos adquiridos fora da escola. A televisão, os quadrinhos, a fala e as atitudes cotidianas dos adultos e dos grupos de amigos estão cheios de estereótipos de gênero, de crenças sobre o que é ser homem ou mulher em nossa cultura. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 16 Se, por um lado, esse fato limita o poder de intervenção da escola, por outro, não podemos esquecer que a escola também constrói cultura e que é possível criar propostas político-pedagógicas que vinculem a cultura escolar e as aprendizagens de origem externa à escolaridade. Mesmo entendendo que o ensino escolar é uma alavanca de potencial limitado para a conquista de objetivos que afetam valores e comportamentos enraizados nos distintos grupos sociais, acreditamos que existe a possibilidade de ampliação de espaços para a construção de relações não-hierarquizadas entre homens e mulheres, para a qual a escola pode contribuir. Notas 1. Diversos estudos sobre as questões de gênero da educação física escolar foram produzidos no Brasil, dentre os quais: Romero 1990 e 1995; Kunz 1993; Sousa 1994; Ferreira 1996; Oliveira 1996; Soares 1994 e Gomes 1998. 2. Utilizando procedimentos da etnografia, a autora buscou compreender como meninos e meninas constroem as relações de gênero. A pesquisa desenvolveu-se em uma escola municipal de Belo Horizonte. Foram observados recreios e aulas de educação física de quatro turmas de 5a série. Bibliografia ABBUD, Lia Regina. "Mulheres invadem campos de futebol". Classificados de empregos, p. 8. Folha de S. Paulo, 7/2/1999. [ Links ] ABREU, Neíse Gaudêncio. "Análise das percepções de docentes e discentes sobre turmas mistas e separadas por sexo nas aulas de educação física escolar". In: ROMERO, Eliane (org.), Corpo, mulher e sociedade. Campinas: Papirus, 1995, pp. 157-176. [ Links ] ALTMANN, Helena. "Rompendo fronteiras de gênero: Marias (e) homens na educação física". Dissertação de mestrado em educação. Belo Horizonte: UFMG, 1998, 111p. [ Links ] ARROYO, Miguel G. "Prefácio". In: DAYRELL, Juarez (org.). Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1996, pp. 7-8. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 17 AZEVEDO. Tania Maria Cordeiro de. "A mulher na educação física; preconceitos e estereótipos". Dissertação de mestrado em educação. Niterói: Faculdade de Educação da UFE, 1988, 233p. [ Links ] BADINTER, Elisabeth. XY - Sobre a identidade masculina. Trad. Maria Ignez Duque Estrada. 2a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1993, 266p. [ Links ] BORDO, Susan R. "O corpo e a reprodução da feminilidade: Uma apropriação feminista de Foucault". In: JACAR, Alison e BORDO, Suzan, R. Gênero, corpo e conhecimento. Trad. Britta Lemos de Freitas. Rio de Janeiro: Record e Roda dos Tempos, 1997, pp. 19-41. (Coleção Gênero, v. 1) [ Links ] BOURDIEU, Pierre. "A dominação masculina". Educação e Realidade, v. 20, no 2. Porto Alegre, jul./dez. 1995, pp. 133-184. [ Links ] BRASIL. Deliberação 10/79 do CND. Baixa instruções às entidades esportivas do país, para prática de desportos para as mulheres. Diário Oficial, Brasília, 31 dez. 1979. Seção 1, p. 20.220. [ Links ] _______. Deliberação 01, de 25 mar. 1983. Dispõe sobre normas básicas para prática de futebol feminino. Diário Oficial, Brasília, 11 de abr. 1983. Seção 1, p. 5.794. [ Links ] _______. Lei 9.394/96 de 20 de dez. 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. [ Links ] _______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997. [ Links ] _______. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental. Parecer CEB 04/98, 29 de jan. 1998. [ Links ] CONNEL, Bob. "Masculinity, violence, and war". In: KIMMEL, M. e MESSNER, M. Men's lives. Nova York e Toronto: MacMillan Publishing Co. e Maxwell MacMillan Canada, 1992, pp. 176-183. [ Links ] CONNEL, Robert W. "Como teorizar o patriarcado?". Educação e Realidade, v. 15, no 2. Porto Alegre, jul./dez. 1990, pp. 85-93. Número Especial Mulher e Educação. _______. "Políticas da masculinidade". Educação e Realidade, v. 20, no 2. Porto Alegre, jul./dez. 1995, pp. 185-206. [ Links ] CONNEL, R.W. et al. Estabelecendo a diferença: Escolas, famílias e divisão social. 7a ed. Trad. Ruy Dias Pereira. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995, 228p. DAOLIO, Jocimar. Da cultura do corpo. Campinas: Papirus, 1995. [ Links ] FERREIRA, José Luiz. "As relações de gênero nas aulas de educação física. Um estudo de caso em uma escola pública de Campina Grande (PB)". Dissertação de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 18 mestrado em educação. João Pessoa: Universidade Federal da Paraíba, 1996, 182pp. [ Links ] FRANCIS, Becky. "Oppositional positions: Children's construction of gender in talk and role plays based on adult occupation". Educational Research, v. 40, no 1, 1998, pp. 31-43. [ Links ] GOMES, Euza Maria de Paiva. "Atividades físico-desportivas de mulheres da elite carioca (1860 a 1930)". Dissertação de mestrado em educação física. Rio de Janeiro: Universidade Gama Filho, 1998, 120p. [ Links ] GRUGEON, Elizabeth. "Implicaciones del género en la cultura del patio de recreo". In: WOODS, Peter e HAMMERLEY, Martyn. Gênero, cultura y etnia en la escuela. Informes etnográficos. Barcelona: Ministério de Educação e Ciência, 1995, pp. 2347. [ Links ] KUNZ, Maria do Carmo Saraiva. "Quando a diferença é mito: Uma análise da socialização específica para os sexos sob o ponto de vista do esporte e da educação física". Dissertação de mestrado em educação. Florianópolis: UFSC, 1993, 167pp. [ Links ] LOURO, Guacira Lopes. "Uma leitura da história da educação sob a perspectiva de gênero". Teoria e Educação, no 6. Porto Alegre, 1992, pp. 53-67. [ Links ] _______. "Nas redes do conceito de gênero". In: LOPES, Marta (org.). Gênero e saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, pp. 7-18. [ Links ] _______. Gênero, sexualidade e educação; uma perspectiva pós-estruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997. [ Links ] MAC AN GHAILL, Marítín. "Deconstructing heterosexualities in school arenas". Curriculum Studies, v. 4, no 2. Inglaterra, 1996, pp. 191-210. [ Links ] MESSNER, Michael. "Boyhood, organized sports, and the consctuction of masculinities". In: KIMEL, Michael e MESSNER, Michael, Men's lives. Nova York e Toronto: MacMillan Publisching Co. e Maxwell MacMillan Canada, 1992, pp. 161131. [ Links ] OLIVEIRA, Greice Kelly de. "Aulas de educação física para turmas mistas ou separadas por sexo? Uma análise comparativa de aspectos motores e sociais". Dissertação de mestrado em educação física. Campinas: Unicamp, 1996, 161pp. PÉREZ, Gomes. "As funções sociais da escola: Da reprodução à reconstrução crítica do conhecimento e da experiência". In: SACRISTÁN, J. Gimeno e PÉREZ, Gomes. Compreender e transformar a escola. 4a ed., Porto Alegre: Artmed, 1998, pp. 13-25. [ Links ] POOVEY, Mary. "Feminism and deconstruction". Feminist Studies, v. 14, no 1, 1988, pp. 51-65. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 19 ROMERO, Elaine. "Estereótipos masculinos e femininos em professores de educação física". Tese de doutorado em psicologia. São Paulo: Instituto de Psicologia da USP, 1990, 325p. [ Links ] _______. (org.). Corpo, mulher e sociedade. Campinas: Papirus, 1995, pp. 99-108. SACRISTÁN, J. Gimeno. "Currículo e diversidade cultural". In: SILVA, Tomaz Tadeu e MOREIRA, Antônio Flávio (orgs.). Territórios contestados; o currículo e os novos mapas políticos e culturais. Petrópolis: Vozes, 1995, pp. 82-113. [ Links ] SCOTT, Joan. "Deconstructing equality versus difference: Or the uses of poststructuralist theory for feminism". Feminist Studies, v. 14 no 1, 1988, pp. 33-49. ________. "Gênero: Uma categoria útil de análise histórica". Educação e Realidade, v. 20, no 2. Porto Alegre, jul./dez. 1995, pp. 71-99. [ Links ] SERBIN, Lisa. "Teachers, peers and play preferences: An environmental approach to sex typing in the preschool". In: DELAMONT, Sara (org.). Reading on interaction in classroom. Grã-Bretanha: Richard Clay LTD, 1984, pp. 273-289. [ Links ] SOARES, Carmem Lúcia. Educação física: Raízes européias e Brasil. Campinas: Autores Associados, 1994, 167p. (Coleção Educação Contemporânea). [ Links ] SOUSA, Eustáquia Salvadora de. "Meninos, à marcha! Meninas, à sombra! A história da educação física em Belo Horizonte (1897-1994)". Tese de doutorado em Educação. Campinas: Unicamp, 1994. [ Links ] THORNE, Barrie. Gender play: Girls and boys in school. New Jersey: Rutgers University Press, 1993, 237pp. [ Links ] * Professora da Faculdade de Educação da UFMG; licenciada em Educação Física; doutora em Educação pela Unicamp. ** Professora da Fundação de Ensino Superior de Bragança Paulista; licenciada em Educação Física; mestre em Educação pela UFMG. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 20 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: conhecimento e especificidade Por: Carmem Lúcia Soares Revista Brasileira de Educação Física e Esporte - n.2 - 1996 INTRODUÇÃO Esta exposição foi organizada como um convite para pensarmos juntos a Educação Física como matéria de ensino escolar. Não apresenta muitos argumentos de autoridade, ou seja, citações, etc.; ela não é uma demonstração sistemática de afirmações mas, certamente, é um apanhado de dúvidas e de algumas certezas provisórias. Deixo registrado também nesta breve introdução que minhas aspirações acadêmicas hoje, estão mais no terreno da concordância do que naquele da discordância. São os pontos convergentes apresentados pelo meu interlocutor que se constituem em ponto de partida e não os divergentes. Esta atitude tem me permitido um enorme crescimento acadêmico e pessoal. Tenho aprendido que há muitos pontos em comum que permitem o aprofundamento das questões acadêmicas, os quais, muitas vezes ficavam submersos em discordâncias e não eram percebidos como emergentes para a compreensão da Educação Física (EF), do homem e da sociedade. Assim, penso que estamos sempre aprendendo e só deixamos de fazê-lo quando morremos. Estar vivo é, sobretudo, estar aprendendo. Mas há diferentes saberes no mundo em que vivemos e há também múltiplos itinerários para sorvê-los, para neles mergulhar. É possível até dizer que "os itinerários para a cultura são múltiplos, mas nunca inteiramente sinalizados"[2], Talvez a escola pudesse auxiliar nesta sinalização, pudesse ser um lugar onde se vai para aprender coisas, coisas que não se sabe ou que, se sabe apenas na superfície. A escola então seria um morno oceano onde se mergulha para conhecer. Como não se chega vazio até ela, este mergulho não é cego... ele é parte de um impulso humano para aprender. A escola então estaria tratando de saberes mais elaborados ou, conforme Snyders, rompendo com a cultura primeira, ampliando o horizonte do aluno para coisas, lugares e saberes que ele não atingiria sem ela. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 21 Esta escola como lugar de conhecer, estaria colocando, para o aluno, o que há de grandioso na ciência, ou seja, o homem diante da dúvida, diante de um processo que se constrói pelos erros e pela negação... por rupturas e continuidades e, sobretudo, por interesses humanos[3]. Neste lugar de conhecer haveria um respeito profundo pela inteligência do aluno, haveria a convicção de que "a inteligência dos alunos não é um vaso que se tem de encher; mas é uma fogueira que é preciso manter acesa"[4]. Por vezes a escola se transforma num enorme balde de água, talvez num esguicho. Mas se ela pensar nesta fogueira que precisa ser mantida acesa, então poderá ser um sinal no itinerário da cultura. Para isto é preciso o desafio. Não se desafia a inteligência do aluno com a repetição do que ele já sabe ou com a reprodução superficial do que os mídia oferecem, ou ainda, com o pronto atendimento do desejo da criança e do jovem. O desejo também é construído socialmente... gosta-se, em princípio, do que se conhece. Rejeita-se, em princípio, o desconhecido, o difícil, o elaborado. Papel da escola, da metodologia do ensino, do planejamento: organizar criativamente o conhecimento a ser tratado no tempo... produzir desafios com este desconhecido, arrancar alegria a cada conquista. Snyders afirma a existência possível de uma escola alegre; afirma a possibilidade da alegria como sentimento que floresce do ato de conhecer. Não fala de uma alegria frívola, de fazer o que se gosta e por isto sentir alegria. Fala da alegria da descoberta, da alegria de se aproximar do que é mais elaborado, do que é difícil, daquilo que não seria possível sem o professor e sem a escola. Afirma assim, para a escola, os saberes científicos, técnicos e estéticos e a escola como algo diferente da vida corrente e, exatamente por isto, desafiador[5]. Snyders deseja que a escola possa ser invadida por aquela alegria que os jovens sentem e expressam nos campos esportivos... e para isto o conhecimento tratado em seu interior não pode ser hierarquizado. As atividades corporais e artísticas fazem parte deste lugar de aprender. Não são apenas o equilíbrio buscado pelo estafante e "sério" trabalho intelectual. O prazer e a alegria não são finalidades da escola, mas são sentimentos presentes no caminho da criança e do jovem que vão ao encontro de um determinado tipo de saber ou que deveriam ir. A escola é um momento na vida de quem está em seu interior e não apenas uma preparação para um futuro. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 22 PRIMEIRA PARTE A Educação Física está na escola. Ela é uma matéria de ensino e sua presença traz uma adorável, uma benéfica e restauradora desordem naquela instituição. Esta sua desordem é portadora de uma ordem interna que lhe é peculiar e que pode criar, ou vir a criar uma outra ordem na escola. Para realizar esta tarefa, a Educação Física deve sobretudo, preservar, manter e aprofundar a sua especificidade na escola. Deve, evidentemente, fazer isto sem isolar-se ou colocar-se à parte e alheia. E como se preserva o que é seu? Sabendo, sobretudo, o que é seu e assim, certamente, exacerbando muito mais conflitos e dores. Nosso ponto de partida são algumas certezas, poucas e provisórias. Elas são como vórtices para impulsionar vôos mais audaciosos. A partir delas podemos tomar posse do que é nosso e negar, reconstruir, superar, diferenciar, adequar... criar e brincar. Parece-me sobretudo importante não acreditar que tudo o que há em nossa formação vai se transformar em conhecimento a ser ensinado aos alunos de uma escola. Há campos e níveis de conhecimento que dão suporte, base, apoio, sustentação àquilo que o professor ensina, mas que não se constituem em conteúdo de ensino. "Não considere seus alunos tolos", observa Snyders[6]. Este alerta é importante, especialmente quando se trata de Educação Física. Crianças e jovens quando chegam a escola (desde que não possuam nenhuma deficiência mental) andam, correm, saltam. Os atos de andar, correr, saltar, são atos da vida diária, da vida em sociedade, são traços da cultura que já inscreveu nos corpos estas ações. Todavia, estes atos da vida diária foram codificados ao longo da história do homem em universos de saber: técnico, científico e cultural. Esta codificação sim poderá ser objeto de ensino da Educação Física. Por exemplo: o ato de andar será para a ginástica o conjunto de passos como por exemplo o "passo picado", "cruzado", "passo valsa", etc.; o ato de correr será uma prova para o Atletismo como a corrida de velocidade, de meio-fundo, de fundo, com barreiras, etc.; o ato de saltar será o salto com vara, o salto triplo, em extensão, em altura; ou na ginástica o salto sobre o cavalo, o salto grupado, salto afastado, salto carpado[7], etc. O ato de executar um Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 23 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] arremesso se vincula ao Atletismo, a Ginástica, aos jogos e jogos esportivos com bola ou outros materiais. É possível afirmar que este ato isolado já foi um dia, na história do homem, um ato de sobrevivência, de defesa, de ataque e se inscreveu em seu corpo, um corpo ...que não é somente a expressão biológica do nosso ser atual, mas a expressão significativa da história do corpo do homem entre os homens. Cada homem é em si a história do Homem, resíduos e vestígios de sua longa e plural história[8]. As prática físicas fora do mundo do trabalho sistematizadas em torno da Ginástica, do Atletismo, dos Jogos, dos Jogos Esportivos, da Dança, possuem características especiais e específicas. Modificam-se pela técnica, pela ciência e, sobretudo, pelas dinâmicas culturais. Portanto, estas práticas formam um interessante acervo da história do homem e constituem-se em objeto de ensino, são pedagogizadas. Não podem merecer o desprezo que o olhar superficial sugere. Não se esgotam nos clichês: "são movimentos estereotipados", "são repetitivos", "são técnicos", "são para poucos". Quero tentar aqui, pela abordagem histórica, aprofundar a questão da especificidade, daquilo que é do domínio do professor de Educação Física. SEGUNDA PARTE A Educação Física Escolar tal como a concebemos hoje - como matéria de ensino têm suas raízes na Europa de fins do século XVIII e início do século XIX. Com a criação dos chamados Sistemas Nacionais de Ensino, a Ginástica, nome primeiro dado à Educação Física e com caráter bastante abrangente, teve lugar como conteúdo escolar obrigatório[9]. QUADRO DO MOVIMENTO DO PENSAMENTO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR A EDUCAÇÃO FÍSICA E SEU CONTEÚDO DE ENSINO NO TEMPO MOVIMENTO DO PENSAMENTO NA EDUCAÇÃO CONTEÚDO A SER ENSINADO NA ESCOLA FÍSICA CRONOLOGIA Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 24 MOVIMENTO GINÁSTICO EUROPEU SÉCULO XIX E INÍCIO DO SÉCULO XX GINÁSTICA QUE COMPREENDIA EXERCÍCIOS MILITARES; JOGOS; DANÇA; ESGRIMA; EQUITAÇÃO; CANTO. MOVIMENTO ESPORTIVO AFIRMA-SE A PARTIR DE 1940 - ESPORTE - HÁ AQUI UMA HEGEMONIZAÇÃO DO ESPORTE NO CONTEÚDO DE ENSINO. PSICOMOTRICIDADE AFIRMA-SE A PARTIR DOS ANOS 70 ATÉ OS DIAS DE HOJE - CONDUTAS MOTORAS CULTURA CORPORAL CULTURA FÍSICA CULTURA DE MOVIMENTO TEM INÍCIO NO DECORRER DA DÉCADA DE 80 ATÉ NOSSOS DIAS GINÁSTICA, ESPORTE, JOGO, DANÇA, LUTAS, CAPOEIRA... A Ginástica compreendia marchas, corridas, lançamentos, esgrima, natação, equitação, jogos e danças[10]. Surgiu na sociedade ocidental moderna como um movimento de caráter popular e sem qualquer relação com a instituição escolar. Este movimento, bastante vigoroso em todo o século XIX, teve sua denominação definida a partir do país de origem e ficou também conhecido como "escolas" ou "métodos de ginástica"[11]. Os mais conhecidos no Brasil foram o Método francês, alemão e sueco, sendo o mais divulgado e que serviu de modelo para um método nacional de ginástica em nosso país, o Método francês[12]. Estes métodos e/ou escolas de ginástica não pensaram a Ginástica na escola, mas os pedagogos e os médicos buscaram neles os princípios básicos para elaborar os conteúdos de ensino da escola, uma especificidade da Ginástica para a escola. Esta Ginástica compreendia exercícios individuais, em duplas, quartetos; o ato de levantar e transportar pessoas e objetos; esgrima; danças; jogos e posteriormente, já no final do século XIX, os jogos esportivos; a música; o canto e os exercícios militares. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 25 Durante todo o século XIX vamos encontrar esta abrangência e diversidade de conteúdos de ensino e, sobretudo, uma clara especificidade. As ciências que dão suporte aos estudos e pesquisas deste conteúdo são aquelas de natureza física e biológica. E isto se deve ao fato de, naquele momento, não haver ainda uma ciência de natureza social. Aqueles que pensaram a atividade física a partir de parâmetros científicos, naquele momento, o fizeram com os instrumentos de seu tempo. É preciso acentuar por exemplo que a Sociologia só irá se constituir como ciência na segunda metade do século XIX e seu estatuto foi dado elaborado a partir da Física; a Antropologia foi, em suas origens, basicamente determinada pela história natural; a Psicologia de fortes características experimentais é também filha deste período; a História era metodologicamente dominada pelo relato cronológico protagonizado pela nobreza, igreja e Estado[13]. Ficavam as atividades físicas, quando tratadas pela ótica científica, e isto era um fator fundamental à sua afirmação e desenvolvimento, diretamente ligadas ao universo científico já constituído, ou seja, aquele das ciências naturais. A partir da última década do século XIX, o termo ginástica ainda é largamente utilizado para denominar a aula que trata das atividades físicas, mas já vem surgindo um outro termo, com o qual convivemos até hoje: Educação Física. Este termo vem acompanhado de um requinte no âmbito da pesquisa científica. Tem lugar a educação do gesto, pensada a partir de análises laboratoriais[14]. Tem lugar também um conteúdo predominantemente de natureza esportiva. A abrangência anterior perde terreno para a aula como o lugar do treino esportivo e do jogo esportivo como conteúdo senão único, certamente predominante. O modelo de aula é buscado nos parâmetros fornecidos pelos métodos de treinamento. As partes constitutivas de uma aula são ditadas mais pela Fisiologia, agora já acrescida do item "esforço", do que pela Pedagogia. Uma parte inicial da aula será destinada a um trabalho de natureza aeróbica, com um tempo para corridas e saltitamentos; numa segunda parte da aula vamos encontrar exercícios de força, flexibilidade e agilidade; numa terceira parte alojam-se Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 26 os fundamentos de um determinado jogo esportivo com sua posterior aplicação propriamente dita e, para finalizar, há uma volta a calma. A obra de Auguste Listello é singular para afirmar esta hegemonia esportiva no ensino de Educação Física na escola, bem como o modelo de aula baseado nos parâmetros do treinamento esportivo[15]. Todavia, cabe ressaltar que, mesmo com a predominância de um conteúdo de natureza esportiva, a já chamada Educação Física mantém sua especificidade no interior da instituição escolar. O seu conteúdo é de domínio daquele que ensina. Esta situação da chamada Educação Física, pelo menos no Brasil, persiste até a década de 70 quando então, passamos a vivenciar uma situação inédita. A Educação Física perde sua especificidade. Talvez este seja um dos momentos mais ricos e mais contraditórios de sua história recente. Com a afirmação, num primeiro momento da Psicomotricidade[16] nós vamos ter um lado, um vigoroso envolvimento da Educação Física com as tarefas da escola, com o desenvolvimento da criança, com o ato de aprender (talvez bem mais do que com o de ensinar), com os processos cognitivos, afetivos e psicomotores. Mergulhamos num outro universo teórico, metodológico e lingüístico. Descobrimos, naquele momento, que estávamos na escola para algo maior, para a formação integral da criança. A Educação Física era apenas um meio. Um meio para aprender Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências... era um meio para a socialização. Meio, esta metáfora biológica e evolucionista foi largamente utilizada pela Educação de um modo geral e pela Educação Física de modo específico. Naquele momento, a Educação Física não tem mais um conteúdo seu, ela é um conjunto de meios para... ela passa a ter um caráter genérico: será de reabilitação? de readaptação? de integração? Talvez ela tenha se tornado um pouco de tudo isto sem exatamente ser tudo isto. Afinal onde ficou a especificidade? Não dá para esquecer que este foi o momento no qual todas as pessoas envolvidas ou não com ensino, davam palpites sobre o que deveria ou não ser do domínio da Educação Física na escola. E o professor começava a sentir-se constrangido se ele não falasse o discurso da psicomotricidade ou melhor, se ele dissesse que ensinava ginástica, esportes, etc. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 27 O discurso e prática da Psicomotricidade pretendeu então substituir o conteúdo até então predominante, de natureza esportiva. Talvez possamos sugerir que é a primeira vez em sua história na instituição escolar que a Ginástica, depois chamada de Educação Física é substituída ou pretende-se que seja, por um conhecimento do professor, um conhecimento básico e fundamental de sua formação, mas não necessariamente um conhecimento a ser pedagogizado, ensinado. Conforme podemos observar no quadro apresentado é possível afirmar que as atividades criadas pelo homem no plano da técnica, da ciência e, portanto, da cultura, prevaleceram como conteúdos de ensino da Educação Física até o surgimento da Psicomotricidade no seu domínio, muito embora desde o século XIX já houvessem estudos bastante precisos sobre o gesto e sobre o ato de aprender este gesto. Desde o século XIX, o movimento genérico dos animais e do homem foi objeto de atenção e de um grande número de pesquisas experimentais. A análise do movimento é um tipo de estudo que encontramos de modo mais compreensível já em Amoros e Ling na primeira metade do século XIX e de modo mais preciso, dados os avanços científicos, em Demeny já no final do século XIX e, sobretudo na primeira década deste século. Mas o que aparece como conteúdo de ensino, repito, é a Ginástica, o Jogo Esportivo, a Dança, a Esgrima, Canto, Música. Desde suas origens na sociedade ocidental moderna, vamos sempre encontrar a inegável importância de um conhecimento do corpo sob o ponto de vista da anatomia, fisiologia e mecânica do movimento. Mas também, desde as suas origens vamos encontrar preocupações de natureza pedagógica, busca de relação entre o físico e o mental, socialização, etc. Mas o conteúdo de ensino está lá, mantém seu caráter de especificidade, altera-se em abrangência, profundidade, mas não se confunde. O discurso e prática da Educação Física sob a influência da Psicomotricidade, coloca de modo nunca antes visto a necessidade do professor de Educação Física sentir-se um professor com responsabilidades escolares, pedagógicas. Busca desatrelar sua atuação escolar dos cânones da instituição desportiva, valorizando o processo de aprendizagem e não mais a execução de um gesto técnico isolado. Muito bem, se de um lado isto foi extremamente benéfico, de um outro foi o início de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 28 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] um abandono do que era específico da Educação Física, como se o que ela ensinasse de específico fosse, em si, maléfico ao desenvolvimento dos alunos e a sua inserção na sociedade. A crítica de natureza mais política que se instaura na década de 80 vai exacerbar, agora com outras tintas, a negação do conteúdo da Educação Física atribuindo ao Esporte e a Ginástica, sobretudo, o caráter de elementos de alienação. As análises de conjuntura substituíram as discussões propriamente acadêmicas que, embora constitutivas de uma dada conjuntura, guardam sua diferença. Uma vez mais se afirmou um discurso que negou a especificidade da Educação Física. Talvez nós sejamos um tipo de professor que em grau maior do que aqueles de outras matérias, costuma valer-se de conceitos de sua própria área em tom pejorativo, denegrindo o que deveria ser de seu domínio. Fazemos tábula rasa do que foi produzido ao longo de quase 200 anos. Não conseguimos acompanhar o movimento do pensamento e perceber como o conhecimento se amplia, se refaz pelos avanços da técnica, da ciência e pela inserção de diferentes práticas em diferentes culturas. Os clichês influenciam mais do que as inúmeras e inúmeras obras sobre Ginástica, sobre Jogo, Dança, e, sobretudo Esportes. É agradável constatar que os anos 90 trouxeram um olhar mais abrangente aos estudos e pesquisas sobre a Educação Física Escolar. Os reducionismos de natureza biológica, psicológica e social parecem não ter mais lugar no debate da área. Hoje já é possível, no âmbito da Educação Física, pensar a ciência fora dos limites do positivismo e perceber que para tratar das atividades físicas em suas determinações culturais específicas, o conhecimento do homem implica em saber que a sua subjetividade e razão cognoscitiva se instalam em seu corpo e as linguagens corporais constituem-se em respostas a esta compreensão. Sem esquecer a provisoriedade do conhecimento, afirmo aqui esta retomada da Educação Física como o lugar de aprender Ginástica, Jogos, Jogos Esportivos, Dança, Lutas, Capoeira. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 29 Talvez as pesquisas sobre ensino hoje já possam romper com a visão tecnicista e mergulhar no conteúdo de cada área. Talvez hoje, estejamos necessitando estudar Ginástica, Jogos, Dança, Esportes e de posse destas fantásticas atividades codificadas pelo homem em sua história valer-se, criativamente, de metodologias que encerrem valores mais solidários, que apontem para uma saudável relação entre indivíduo e sociedade e vice-versa. O Ensino da Ginástica ou de qualquer Jogo Esportivo, por exemplo, sempre encerrará em seu interior uma dimensão técnica. Mas uma dimensão técnica não significa nem tecnicismo nem "performance". O lugar da "performance" não é na escola. O caráter lúdico pode prevalecer sempre numa aula de Educação Física, desde que ela seja realmente uma aula, ou seja, "um espaço intencionalmente organizado para possibilitar a direção da apreensão, pelo aluno, do conhecimento específico da Educação Física e dos diversos aspectos das suas práticas na realidade social"[17]. Aqui retomo a afirmação de Snyders: "não considere seus alunos tolos", eles não gostam de coisas fáceis, óbvias. Como observa Betti em sua pesquisa sobre a percepção do aluno em aulas de Educação Física, "os alunos realmente não desejam que todas as coisas sejam fáceis. O desafio de algo difícil, mas realizável é almejado por eles. Afirmam que querem aprender melhor, que quanto mais aprenderem, melhor a aula se tornará..."[18]. O que confirma a necessidade da aula ser de fato, um lugar de aprender coisas e não apenas o lugar onde aqueles que dominam técnicas rudimentares de um determinado esporte vão "praticar" o que já sabem, enquanto aqueles que não sabem continuam no mesmo lugar. Outro aspecto que precisa ser considerado é aquele que diz respeito a "escolha" do conteúdo por parte do aluno. O aluno "escolhe" Vôlei e passa sete anos na escola "jogando" Vôlei. Ou então o professor "escolhe" Handebol e o aluno passa anos "jogando" Handebol. Imaginemos o professor de Língua Portuguesa, por exemplo "escolher" "análise sintática" e trabalhar somente com análise sintática, ou o aluno "escolher" "redação". Se estamos na escola, devemos dar um tratamento escolar ao conteúdo e, sobretudo dar lugar a abrangência que ele possa ter. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 30 De todos os conteúdos de ensino presentes em aulas de Educação Física pareceme que aqueles da natureza esportiva sempre predominaram. O que não é algo ruim, conforme observa Betti em sua pesquisa, afirmação com a qual compartilho. Mas afirma ainda Betti que faltam muitas coisas nas aulas de Educação Física e assim pergunta: "como explicar isto tendo em vista que aprendemos nos cursos de nível superior tantos conteúdos?[19]. CONCLUSÃO Retomo uma afirmação já feita, a de que a Educação Física na escola é um espaço de aprendizagem e, portanto, de ensino. E o que ela ensina? Historicamente a Educação Física ocidental moderna tem ensinado O JOGO, A GINÁSTICA, AS LUTAS, A DANÇA, OS ESPORTES. Poderíamos afirmar então que estes são conteúdos clássicos. Permaneceram através do tempo transformando inúmeros de seus aspectos para se afirmar como elementos da cultura, como linguagem singular do homem no tempo. As atividades físicas tematizadas pela Educação Física se afirmaram como linguagens e comunicaram sempre sentidos e significados da passagem do homem pelo mundo. Constituem assim um acervo, um patrimônio que deve ser tratado pela escola. E como afirma VAGO, a contribuição da Educação Física, neste caso, será a de colocar os alunos diante desse patrimônio da humanidade, que tem sido chamado por alguns autores de "cultura física" (Betti, 1991), "cultura de movimento (Bracht, 1989) ou "cultura corporal" (Soares, Taffarel, Varjal, Castellani Filho, Escobar & Bracht, 1992)[20]. NOTAS 1.Conferência de abertura proferida III Seminário de Educação Física Escolar promovido pelo Departamento de Pedagogia do Movimento do Corpo Humano da Escola de Educação Física e Esporte da USP. Dezembro/1995. 2.G. Snyders, Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993, p.111. Para as reflexões que se seguem sobre a escola nesta exposição, tomei como base as seguintes obras de G. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 31 Snyders: A alegria na escola; para onde vão as pedagogias não-diretivas e aquela já citada nesta nota. 3.J. Habermas, Conhecimento e interesse, Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. 4.Plutarco citado por G. Snyders, Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993, p.111. 5."O escolar é um retorno periódico exatamente previsto de determinada matéria em determinado momento: daí uma expectativa, uma possibilidade de se preparar para quando a hora disso chegar finalmente, de dar uma atenção especificamente disponível para isso". Uma mesma matéria prosseguirá no mesmo rítmo durante o ano todo, pelo menos; daí resultam possibilidades de progresso que não se pode esperar dos encontros "reais", visitas ou passeios, que se fazem de vez em quando e sobre assuntos variados, de acordo com os caprichos da oferta e da procura; e os acasos, feliz ou infelizmente desordenados, do que se encontrar. Caminha-se passo a passo, aprende-se dentro de uma ordem; ...Uma das frases mais usadas na escola é: "Na última vez, nós paramos em tal ponto; portanto, retomemos a partir desse ponto. Nada de coincidências, de assuntos abordados em determinada ocasião e abandonados devido a algum incidente. A efervescência desordenada tem, sem dúvida, seus encantos, mas esse não é o ponto forte da escola". Idem, Ibidem, p.125. 6.G. Snyders, A alegria na escola, São Paulo, Manole, 1988, p.218. 7.J.C.E. Santos; J.A. Albuquerque Filho, Manual de ginástica olímpica (ginástica artística), Rio de Janeiro, Sprint, 1994. 8.M.J. Almeida, Aproximação em forma escrita sobre as imagens da pintura e do cinema, São Paulo, UNICAMP, 1994, p.3. 9.Para maiores esclarecimentos consultar, entre outros, o livro de minha autoria: Educação física: raízes européias e Brasil, especialmente o 2o. capítulo. 10.Para maiores informações consultar A. Langlade; N.R. Langlade, Teoria general de la gimnasia, Buenos Aires, Stadium, s.d. 11.Ibidem. 12.I.P. Marinho, Sistemas e métodos de educação física, 5.ed., s.n.t. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 32 13.Este assunto foi por mim tratado de modo mais abrangente no texto: A formação do profissional em educação física: algumas anotações. In: A. De Marco, Pensando a educação motora, Campinas, Papirus, 1995. 14.Os estudos do fisiologista E. Marey e do biólogo G. Demeny são decisivos para a pesquisa experimental da época, últimas duas décadas do século XIX. 15.A. Listello, Educação pelas atividades físicas, esportivas e de lazer, São Paulo, EPU/EDUSP, 1979. 16.O discurso da Psicomotricidade no âmbito da Educação Física ganha impulso tanto pela ida de professores brasileiros ao exterior como pela vinda ao Brasil do Dr. J. Le Bouch em dezembro de 1978 para ministrar um curso de Psicomotricidade, sob a coordenação da SEED/MEC e dirigido especialmente para professores de Educação Física das Universidades Brasileiras. É neste período também que crescem as publicações sobre o assunto como a tradução, para o português de autores como o próprio J. Le Bouch, J. Chazaud, P. Vayer, Lapierre e Aucouturier, entre outros. C.L. Soares, Fundamentos da educação física escolar, Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.71, n.167, p.62-3. 17.C.L. Soares; C.N.Z. Taffarel; E. Varjal; L. Castellani Filho; M.O. Escobar; V. Bracht, Metodologia do ensino de educação física, São Paulo, Cortez, 1992. p.87. 18.I.C.R. Betti, Educação física escolar: a percepção discente, Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.16, n.3, 1995, p.166. Utilizei aqui o artigo que é parte da dissertação de Mestrado defendida em 1992 pela FEF-UNICAMP intitulada: "O Prazer em aulas de educação física: a perspectiva discente". 19.Ibidem, p.166. 20.T.M. Vago, Educação física: um olhar sobre o corpo, Revista Presença Pedagógica, mar./abr. 1995, p.69. REFERÊNCIAS ALMEIDA, M. Aproximações em forma escrita sobre as imagens da pintura e do cinema. São Paulo, UNICAMP, 1994. p.3. /Mimeografado/ BETTI, I.C.R. Educação física escolar: a percepção discente. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.16, n.3, p.158-67, 1995. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 33 BETTI, M. Ensino de primeiro e segundo graus: educação física para quê? Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.3, n.2, p.282-7, 1992. BRACHT,V. Educação física e aprendizagem social. Porto Alegre, Magister, 1992. DAOLIO, J. Da cultura do corpo. Campinas, Papirus, 1995. HABERMAS, J. Conhecimento e interesse. Rio de Janeiro, Guanabara, 1987. LANGLADE, A.; LANGLADE, N.R. Teoria general de la gimnasia. Buenos Aires, Stadium, s.d. LISTELLO, A. Educação pelas atividades físicas, esportivas e de lazer. São Paulo, EPU/EDUSP, 1979. MARINHO, I.P. Sistemas e métodos de educação física. 5.ed. s.n.t. SANTOS, J.E.; ALBUQUERQUE FILHO, J.A. Manual de ginástica olímpica (ginástica artística). Rio de Janeiro, Sprint, 1984. SNYDERS, G. A alegria na escola. São Paulo, Manole, 1988. _____. Alunos felizes: reflexão sobre a alegria na escola a partir de textos literários. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1993. _____. Para onde vão as pedagogias não diretivas. In: SNYDERS, G.; LÉON, A.; GRACIO, R. Correntes actuais da pedagogia. Lisboa, Livros Horizonte, 1984. SOARES, C. Educação física: raízes européias e Brasil. Campinas, Autores Associados, 1994. _____. A Formação profissional em educação física: algumas anotações. In: De MARCO, A., org. Pensando a educação motora. Campinas, Papirus, 1995. _____. Fundamentos da educação física escolar. Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, v.71, n.167, p.51-68, 1990. SOARES, C.L.; TAFFAREL, C.N.Z.; VARJAL, E.; CASTELLANI FILHO, L.; ESCOBAR, M.O.; BRACHT, V. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo, Cortez, 1992. VAGO, T.M. Educação física: um olhar sobre o corpo. Revista Presença Pedagógica, p.65-70, mar./abr. 1995. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 34 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: um olhar reflexivo Carolina Canha Santos RESUMO Este estudo tem como objetivo fazer uma reflexão crítica sobre a Educação Física Escolar bem como as possibilidades de tornar esta prática mais interessante visto que esta disciplina vem sendo constantemente desvalorizada pelos alunos, pais e professores de outras áreas do conhecimento. Neste sentido, é preciso fazer um resgate sobre o papel do professor de Educação Física na escola e de como se deve reagir frente a esses problemas. Unitermos: Educação Física. Escola. Reflexão. Através de estudos, discussões, e reflexões com colegas de profissão sobre como vem sendo trabalhada a Educação Física na escola podemos perceber o quanto, aos poucos, esta disciplina está sendo desvalorizada pelos alunos, pelos pais, e até mesmo por professores de todas as áreas de ensino. Este problema torna-se visível pelo fato de haver um aumento no desinteresse dos alunos pela prática desta disciplina. Os pais, muitas vezes, desconhecem os conteúdos, os objetivos e a importância da atividade física, assim, não incentivam os filhos a participarem das aulas e não questionam sobre como está à aula de educação física da mesma forma que questionam sobre conteúdos das demais disciplinas do currículo escolar. Os professores destas disciplinas também desconhecem o valor da atividade física na idade escolar e, naturalmente, vão se distanciando, em nível de trocas de experiências e de planejamento, dos professores de educação física. Isso porque o próprio professor de educação física não tem contribuído para reverter este problema e para mostrar a verdadeira importância desta disciplina do currículo escolar na vida e formação de seus alunos, ele deve encarar esta realidade e começar a fazer algumas modificações no seu próprio comportamento diante dos outros professores e no planejamento e desenvolvimento das aulas, possibilitando que os alunos estejam cientes do real objetivo das aulas, que segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) são o conhecimento do próprio corpo cuidando-o, valorizando-o, adquirindo hábitos saudáveis, e também que os alunos Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 35 sejam capazes de utilizar diferentes linguagens como meio de produção, entre estas a corporal (Brasil, 1998). O profissional de Educação Física deve estar preparado para atender estas exigências e outras, de igual relevância. Ainda, nos PCNs encontramos que a educação física é a área do conhecimento que introduz e integra os alunos na cultura corporal do movimento, com finalidade de lazer, de expressão de sentidos, afetos e emoções, de manutenção e melhoria da saúde (Brasil, 1998, p.62). É preciso trabalhar, desde as séries iniciais, visando o aprimoramento das capacidades físicas e motoras e além de aulas práticas, termos também aulas teóricas, que abordam temas do interesse dos alunos conforme a faixa etária, ampliando o campo de conhecimento sobre corpo, saúde, sociedade, havendo assim uma prática consciente, proporcionando ao aluno uma compreensão mais ampla da realidade. Barbosa (2001) nos fala que ao olharmos para Educação Física Escolar no contexto da Educação, tem-se como papel principal tornar os alunos cidadãos críticos, e autônomos responsáveis pelos seus atos, visando à transformação da sociedade. A aprendizagem é decisiva para o desenvolvimento dos alunos, sendo indispensável à busca de uma complementaridade entre as disciplinas a fim de facilitar aos alunos um desenvolvimento intelectual, social e afetivo mais completo e interligado. A proposta é que as aulas tornem-se mais interessantes, estimulando os alunos para que sejam mais criativos, responsáveis, e participativos. Sabemos que as crianças, do ensino fundamental, gostam e participam bem mais do que os alunos do ensino médio, as crianças são mais ativas sentem prazer ao brincarem, e devemos aproveitar este momento para não deixarmos que estas crianças, com o passar do tempo, comecem a perder o interesse nas aulas. Já os alunos maiores sentem vergonha de praticar algumas atividades, por estarem na adolescência, que é uma faixa etária que colabora com o surgimento de várias dúvidas, de mudanças corporais, e descobertas. Os esportes são os principais conteúdos trabalhados com eles, e estes conteúdos acabam selecionando e estimulando somente os mais habilidosos para que continuem praticando as aulas com prazer. Por isso a importância de abordar diferentes conteúdos, a educação física é uma área do conhecimento que vai muito além dos esportes coletivos. Se as aulas forem mais Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 36 bem planejadas, estruturadas e melhor desenvolvidas em todas as séries, teremos uma maior participação e satisfação do praticante, pois todos estes fatores que influenciam a vida dos alunos devem ser pensados no momento da preparação das aulas. A tarefa do professor é de preparar as situações de ensino de tal maneira que estimulem o aluno a agir e que os problemas e questionamentos do aluno possam ser resolvidos por ele próprio, com base na sua condição de poder fazer e de suas experiências. As vivências corporais de cada aluno, também devem ser valorizadas, assim como merecem respeito tudo que venha tornar este ser humano único e, portanto, diferente. Para que o ensino seja de qualidade, as aulas devem ser relacionadas com a prática ou a experiência do aluno a fim de adquirir significado, a relação entre teoria e prática requer a concretização dos conteúdos curriculares, criando situações mais próximas e familiares do aluno com a aplicação de conhecimentos constituídos na escola e compreendendo as situações da vida cotidiana. Para Gonçalves (1997), a Educação Física com rosto próprio, precisa ser inventada, construída. Essa que disciplina corpos e molda atletas já está aí. A Educação Física, ação pedagógica para educar corporeidades no interior das escolas está esperando os seus criadores ou inventores. Professores criativos, fiéis aos objetivos da prática, podem tornar as aulas diferentes e interessantes, utilizando, também, os temas transversais, como meio ambiente, cultura, ética, orientação sexual, e outras questões de acordo com a realidade de cada escola, para a elaboração das atividades. O profissional de educação física na escola deve estar sempre bem atualizado sobre os acontecimentos da escola e da sociedade como um todo, faz-se necessário que o professor participe das reuniões pedagógicas, selecionando os conteúdos e participando ativamente da construção do Projeto Político Pedagógico da escola, trazendo todo o seu conhecimento para somar e acrescentar junto com os demais profissionais. Desta forma, certamente teremos condições de fazer com que esta disciplina seja vista de forma diferente, primeiramente pelos alunos, que passarão a praticar as Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 37 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] atividades com mais prazer, estes irão passar para os pais o quanto está sendo interessante participar das aulas. Após a mudança das aulas e também à mudança da postura do professor frente aos problemas e aos outros professores, todos terão um entendimento maior dos objetivos da educação física escolar, sendo assim, mais valorizada e respeitada por todos, serão os resultados das aulas que irão proporcionar toda diferença. A educação física, além de todos os fatores físicos, pode contribuir com a formação do ser humano no momento em que possibilitamos que, o mesmo, adquira competências para um agir autônomo, buscando ser um cidadão crítico e consciente. REFERÊNCIAS BARBOSA, C. L. DE A. Educação física escolar da alienação à libertação. Petrópolis RJ. Editora Vozes, 2001. BRASIL. PCN Parâmetros Curriculares Nacionais Secretaria de Educação Fundamental: terceiro e quarto ciclos de ensino fundamental Introdução aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1998. Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. GONÇALVES, M.S.- Sentir, pensar, agir Corporeidade e Educação. Ed. Papirus: Campinas, SP, 1994. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 38 A CULTURA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR Jocimar Daolio RESUMO A partir de referenciais das ciências humanas, especificamente da antropologia social, este trabalho discute o conceito de cultura e algumas de suas implicações para a área de educação física, com ênfase em sua atuação escolar. Discute a questão do corpo como expressão cultural; a prática escolar de educação física como eminentemente simbólica e contextual; o trato dos conteúdos escolares e a necessária mediação por parte do professor. Conclui afirmando que a educação física trata da cultura relacionada aos aspectos corporais, negando a exclusividade das explicações biológicas na área. Assim, a educação física pode ser considerada como a área que estuda e atua sobre a cultura corporal de movimento. Palavras-chave: Educação física escolar, cultura corporal de movimento, educação física, cultura. Pensar a educação física a partir de referenciais das ciências humanas, e em particular da antropologia social, traz necessariamente a discussão do conceito de cultura para uma área em que isso era até há pouco tempo inexistente. Os currículos dos cursos de graduação em educação física somente há poucos anos vêm incluindo disciplinas próprias das ciências humanas e isso parece estar sendo útil para a ampliação da discussão cultural na área. As publicações que utilizam como base de análise da educação física conhecimentos das ciências humanas têm aumentado nos últimos vinte anos. Não causa mais polêmica afirmar que a educação física lida com conteúdos culturais. Evidentemente ainda se vê muita confusão no uso da expressão cultura na educação física. O termo ainda é confundido com conhecimento formal, ou utilizado de forma preconceituosa quantificando-se o grau de cultura, ou como sinônimo de classe social mais elevada, ou ainda como indicador de bom gosto. Ouve-se com freqüência afirmações de mais ou menos cultura, ter ou não ter cultura, cultura refinada ou desqualificada e assim por diante. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 39 Enfim, pode-se falar atualmente em cultura da educação física e creio que a contribuição das ciências humanas, em geral, e da antropologia social, especificamente, foram importantes. Uma contribuição importante dos estudos antropológicos para a área de educação física parece ter sido a revisão e ampliação do conceito de corpo. É por demais sabido que a educação física no Brasil, originária dos conhecimentos médicos higienistas do século XIX, foi influenciada de forma determinante por uma visão de corpo biológica, médica, higiênica e eugênica. Essa concepção naturalista atravessou praticamente todo o século XX - com variações específicas em cada momento histórico - , estando ainda hoje presente em currículos de faculdades, publicações e no próprio imaginário social da área. A conseqüência dessa exclusividade biológica na consideração do corpo pela educação física parece ter sido a construção de um conceito de intervenção pedagógica como um processo somente de fora para dentro do indivíduo, que atingisse apenas sua dimensão física, como se ela existisse independentemente de uma totalidade, desconsiderando, portanto, o contexto sócio-cultural onde esse homem está inserido. As concepções de educação física como sinônimas de aptidão física, a opção por metodologias tecnicistas, o conceito biológico de saúde utilizado pela área durante décadas, apenas refletem a noção mais geral de ser humano como entidade exclusivamente biológica, noção essa que somente nesses últimos anos começa a ser ampliada. Essas concepções parecem ter sido determinantes para a tendência à padronização da prática de educação física, sobretudo a escolar. Segundo essa lógica, se todos os seres humanos possuem o mesmo corpo - visto exclusivamente como biológico composto pelos mesmos elementos, ossos, músculos, articulações, tendões, então a mesma atividade proposta em aula servirá para todos os alunos, causando neles os mesmos efeitos - tomados como benefícios. Isso talvez explique a tendência da educação física em padronizar procedimentos, tais como voltas na quadra, metragens, marcação de tempo, repetição exaustiva de gestos esportivos, coreografias rígidas, ordem unida etc. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 40 É óbvio que a partir dessa concepção de corpo e de educação física não havia espaço nem interesse em aspectos estéticos, expressivos ou subjetivos. A tendência era de uma ação sobre a dimensão física, passível de treinamento visando à repetição de técnicas de movimento, sejam as esportivas, de ginástica ou de atividades rítmicas. Era como se a educação física fosse responsável pela intervenção sobre um corpo tido como natural e sem técnica, a fim de dar a ele padrões mínimos de funcionamento para a vida em sociedade. Se se falava na consideração dos aspectos psicológicos individuais ou na dimensão estética dos gestos, isso era desvinculado da dimensão física, como se o corpo fosse a expressão mecânica de uma superioridade psíquica ou mental. A educação física, a partir da revisão do conceito de corpo e considerando a dimensão cultural simbólica a ele inerente, pode ampliar seus horizontes, abandonando a idéia de área que estuda movimento humano, o corpo físico ou o esporte na sua dimensão técnica, para vir a ser uma área que considera o homem eminentemente cultural, contínuo construtor de sua cultura relacionada aos aspectos corporais. Assim, a educação física pode, de fato, ser considerada como a área que estuda e atua sobre a cultura corporal de movimento. Em relação à educação física escolar, a discussão cultural oriunda da antropologia social também contribuiu de forma significativa para aprofundamento e qualificação dos debates. Primeiramente porque o ser humano passou a ser considerado além de sua dimensão biológica. Sendo um indivíduo que se localiza num determinado contexto e num determinado momento histórico, qualquer intervenção pedagógica sobre ele deve levar em conta esses aspectos. Em segundo lugar, porque a própria dinâmica escolar passou a ser considerada como prática cultural, sugerindo que a educação física não deveria mais ser vista como componente isolado das outras disciplinas, nem sua prática como meramente técnica. Em outro trabalho afirmei que considerar a prática escolar de educação física a partir de referencial oriundo da antropologia social implica ir além de uma visão determinista de instituição escolar, para a qual cada componente curricular apenas reproduz o que a escola prega como princípio. Implica também superar a idéia de que os professores apenas reproduzem o que aprenderam em sua formação Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 41 universitária. Implica ainda ampliar a idéia de que a qualificação profissional dos professores depende unicamente de melhoria salarial ou de valorização por parte do governo. Todos esses pontos são importantes e sua discussão necessária para a educação física escolar, mas, isolados, não permitem a consideração da área como fenômeno social, historicamente situado, culturalmente localizado e constantemente atualizado por meio de práticas significativas. Não permitem olhar para a educação física na escola como prática dinâmica, dotada, inclusive, de alta eficácia simbólica. Se, por um lado, a educação física escolar, nas discussões acadêmicas, vem sendo criticada por ser vazia de conteúdo, por ainda se caracterizar pelo tecnicismo, por não possuir especificidade pedagógica, pelo fato de seus profissionais preferirem atuar com as atividades extra-curriculares ao invés de se preocuparem com as curriculares, por outro, a educação física responde de forma eficaz à demanda colocada pela própria comunidade escolar, incluindo aí, pais, alunos, diretoras, coordenadoras pedagógicas, professores de outras disciplinas e os próprios professores da área. Eficácia essa que parece estar diretamente proporcional ao caráter repetitivo, monótono e pouco útil atribuído pelos alunos às outras disciplinas escolares e à escola como um todo. Essa eficácia simbólica foi sendo construída ao longo do tempo e pode ser comprovada no relato de muitos alunos, para quem as aulas de educação física, apesar de tudo, são as mais interessantes da escola. Pode também ser observada no relato de professores da área, para os quais sua disciplina é gratificante na medida em que alcança aprovação por parte dos alunos. Em pesquisa realizada pude observar entre professores de educação física a distância entre aquilo que as discussões teóricas dos últimos vinte anos esperam deles e aquilo que realmente eles fazem e por meio do qual se justificam na dinâmica escolar. A consideração de que a educação física escolar é dotada de eficácia simbólica é importante para revalorizar a figura do professor, muitas vezes criticado por sua prática alienada e acrítica, consoante ao quadro político ditatorial e militar brasileiro dos anos 70 e início dos anos 80. Segundo essa lógica de raciocínio, bastava conscientizar os professores para que a educação física viesse a se tornar uma Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 42 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] disciplina transformadora da sociedade brasileira. Entretanto, se a conscientização do professor de educação física era condição necessária para a melhoria de sua prática, não era suficiente para a transformação de suas ações. Isso porque o conjunto de fazeres do professor de educação física está imbricado com as representações sociais que ele possui, muitas delas inconscientes. O professor que atua na escola, além de um conjunto de conhecimentos técnicos provindos de sua formação acadêmica, lida com um conjunto de valores, hábitos, com uma tradição, com um determinado contexto, enfim, atualiza significados continuamente. É um ator encenando uma trama, juntamente com outros atores, num determinado cenário, sob uma direção. Possui uma história de vida, que o fez escolher a educação física em detrimento de outras carreiras profissionais; possui um jeito de dar aulas; relaciona-se com professores de outros componentes curriculares; lida com uma expectativa que sobre ele é colocada pela direção da escola e pela coordenação pedagógica; lida cotidianamente com os alunos e suas motivações e interesses; é influenciado pela mídia; participa da dinâmica sócio-política cotidiana. Possui, enfim, um imaginário social que orienta e dá sentido aquilo que faz. É nesse sentido que se pode considerar a cultura escolar da educação física como processo dinâmico, repleto de nuanças, sutilezas e representações sociais. Não considerar esses aspectos da educação física é correr o risco de se perder, ou numa discussão reducionista de competência técnica, ou num idealismo teórico e dogmático. Essa discussão sugere também que a deseja da transformação da prática precisa considerar o nível das representações sociais ancoradas nas ações dos professores. A abordagem cultural na discussão da educação física escolar permite também, questionando a ênfase ao caráter exclusivamente biológico humano, pensar uma intervenção que se paute pelas diferenças presentes no grupo de alunos. Como vimos, se a educação física considerar outros aspectos além da dimensão física do homem, terá que criar condições metodológicas para trabalhar com todos os alunos. O princípio da alteridade, conceito usual e fundante da antropologia social contemporânea, mostra-se determinante para a revisão do papel da educação física. Colocar-se no lugar do outro implica considerar que o outro pode ser diferente e que as relações humanas - incluindo as pedagógicas - devem se pautar pelas diferenças. Se a educação física priorizar a dimensão exclusivamente física do Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 43 homem, ela continuará a objetivar em suas aulas padrões atléticos, visando a homogeneizar todos os alunos. E aqueles que não conseguirem atingir tais padrões, serão considerados menos aptos ou sem talento ou congenitamente incapazes. Por outro lado, se a educação física considerar toda e qualquer diferença humana, terá que reavaliar seu papel pedagógico, seus objetivos e estratégias de ensino. Terá que fazer a aula atingir todos os alunos. Foi nesse sentido que em alguns trabalhos utilizei a expressão educação física plural, procurando enfatizar a necessidade de inclusão de todos os alunos na prática escolar de educação física, por meio da revisão de determinados princípios tradicionais da área. Em trabalho anterior afirmei que a educação física plural parte da consideração de que os alunos são diferentes e que a aula, para alcançar todos os alunos, deve levar em conta essas diferenças. Pois, a pluralidade de ações implica aceitar que o que torna os alunos iguais é justamente sua capacidade de se expressarem diferentemente. A discussão cultural na educação física, por levar em conta as diferenças manifestas pelos alunos e pregar a pluralidade de ações, sugere também a relativização da noção de desenvolvimento dos mesmos conteúdos da mesma forma em todos os contextos. Entendo que a educação física escolar deva tratar pedagogicamente de conteúdos culturais relacionados à dimensão corporal. Porque o ser humano, desde o início de sua evolução, foi construindo certos conhecimentos ligados ao uso do corpo, aos conceitos de higiene, de saúde, formas lúdicas, sempre estimulado pelo meio e pela necessidade de sobrevivência, por vezes, em condições adversas. É nesse sentido que se afirma que a educação física trata da cultura relacionada aos aspectos corporais, expressas nos jogos, nas formas de ginástica, nas danças, nas lutas e, mais recentemente, nos esportes. Ora, se pensarmos a escola como uma instituição que deve, explicitamente e de forma valorativa, discutir, sistematizar, aprofundar e transformar os conhecimentos da chamada cultura popular, no caso da educação física isso também seria possível. Como a matemática deve aprofundar o conhecimento popular sobre os números e operações, chegando ao desenvolvimento da lógica e do raciocínio matemáticos. como a educação artística deve organizar e ampliar o conhecimento popular sobre as expressões artísticas. como a língua portuguesa deve partir dos conhecimentos de senso comum sobre os usos das formas lingüísticas para atingir a chamada Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 44 linguagem elaborada. a educação física também deveria partir do riquíssimo e variado conhecimento popular sobre as manifestações corporais humanas em seus diversos contextos para propiciar um maior conhecimento que leve a melhores oportunidades de prática corporal e possibilidades concretas de crítica, transformação e ampliação desse patrimônio humano relacionado à dimensão corporal. Porém, se assumimos que o conhecimento popular corporal ocorre diferentemente em função do contexto, possuindo significados específicos, não é possível defender o desenvolvimento dos conteúdos da educação física de forma unilateral, centralizada e universal. Entendo que a educação física escolar deva trabalhar com grandes blocos de conteúdo, resumidos no jogo, ginástica, dança, luta e esporte. Isso parece consensual devido ao fato de que qualquer manisfestação corporal humana traduz-se num ou mais de um desses cinco grandes temas da cultura corporal. A própria tradição da educação física escolar mostra a presença desses conteúdos - ou, pelo menos, de parte deles - em todos os programas escolares. Isso valeria para todas as séries e para todas as escolas. Entretanto, há que se levar em conta as características e os significados inerentes à cada manifestação de cada bloco de conteúdo nos variados locais e contextos onde será trabalhado. Em outras palavras, o momento de aplicação, a forma de desenvolvimento e o sentido de cada bloco de conteúdo serão variados, fato que transforma o professor, de um mero executor de um programa escolar para uma determinada série numa determinada escola, em mediador de conhecimentos. E quando me refiro à mediação de conhecimentos, incluo necessariamente a dimensão dos significados desses conhecimentos para o público específico e a representação social dos atores em questão em relação a esses conhecimentos. A mesma modalidade esportiva, como o basquetebol, por exemplo, adquire matizes diferentes em função da dinâmica cultural específica de determinado contexto. Um programa de aulas que imponha que o basquetebol deva ser ensinado a partir da quinta série, no segundo bimestre do ano, seguindo a mesma estrutura pedagógica tida como universal, estará, no mínimo, desconsiderando as especificidades locais. Não estará respeitando a tradição histórica e a dinâmica cultural do grupo. Nesse sentido, há várias formas de praticar o basquetebol, assim como há várias formas culturalmente determinadas de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 45 compreender e praticar a dança, o jogo, a ginástica, a luta. O conhecimento de uma modalidade esportiva não deve ser tomado como rígido objetivo das aulas de educação física, mas como ilustração de uma manifestação cultural específica de um bloco de conteúdo, no caso o esporte. Em outros termos, o que deve necessariamente estar presente em todos os programas escolares de educação física são os blocos de conteúdo. Nas minhas aulas no curso de graduação em educação física da UNICAMP, a fim de justificar para os alunos o sentido de uma disciplina sobre antropologia social no currículo, costumo ilustrar essa questão dizendo que um professor formado em educação física na cidade de Campinas teria condições de trabalhar em qualquer região brasileira, desde que fosse capaz de fazer as leituras de significados dos conteúdos (jogo, ginástica, esporte, dança, luta) da região específica, a fim de fazer as mediações necessárias entre o conhecimento popular específico e o conhecimento elaborado. Essa questão da mediação necessária de conhecimentos tem me tornado avesso à elaboração e utilização de rígidos programas e planejamentos, pois um empreendimento desse tipo, além de não contemplar todas as realidades, poderia ser utilizado como modelo estanque para o desenvolvimento de aulas, negando todos os pressupostos que a discussão cultural da educação física defende. Não que os planejamentos não sejam importantes. Defendo que são necessários quando tomados como referência, atualizados constantemente, construídos e debatidos com os próprios alunos, compartilhados com o projeto escolar, enfim, dinâmicos e mutantes, considerando os contextos onde serão aplicados. Para isso, os professores devem assumir outra característica para o desenvolvimento de suas aulas que não a ordem, a rigidez de comportamentos, a padronização de corpos e de atitudes e a expectativa que todos os alunos, ao final do processo, conheçam os conteúdos desenvolvidos e os pratiquem da mesma maneira. Devo ressaltar que boa parte dessas afirmações serve também para os professores de outras disciplinas escolares que, talvez mais que os professores de educação física, vêem-se reféns de cartilhas, livros-texto e manuais que desconsideram a cultura de cada grupo e impedem o desenvolvimento da criatividade dos alunos, tornando a escola monótona, desagradável e, por vezes, inútil. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 46 Acredito que a área de educação física brasileira, sobretudo nos últimos vinte anos, já formulou críticas contra a chamada prática escolar tradicional, além de, nos últimos dez anos, vir apresentando proposições interessantes e originais. Resta, agora, a proliferação de pesquisas de aplicação, nas quais as propostas deixem os laboratórios, os livros e as teses e sejam testadas em realidades concretas. Diferentemente dos ratos brancos, os homens agem de forma diferente das simulações em laboratório e, muitas vezes, de forma inesperada. Entretanto, não basta somente afirmar que os professores em atuação devem ser treinados ou estimulados a estudar a fim de que sua prática se qualifique. A partir das pesquisas oriundas da antropologia, e utilizando a prática etnográfica, vejo a possibilidade de melhor compreender esse nativo da educação física em atuação na dinâmica de sua tribo. Talvez, assim, possa se compreender de forma mais clara a dificuldade do profissional de educação física em transformar sua prática. Isso porque, para interpretar a lógica de significados que dá sentido à qualquer prática, deve-se tomar como pressuposto o caráter cultural de toda ação humana e o caráter por vezes inconsciente de determinadas ações. Talvez, a partir da etnografia se possa chegar mais próximo do nível das representações sociais que oferecem suporte, dão sentido e orientam a prática do profissional de educação física. Uma ação transformadora na educação física escolar só será efetiva se conseguir penetrar o universo de representações dos professores, decifrar os significados de sua prática, entender a mediação com os fatores institucionais até chegar ao nível dos seus comportamentos corporais. Em resumo, entendo que a educação física - quer como área acadêmica, quer como prática pedagógica escolar - trata da cultura, não de toda e qualquer cultura, mas da parte dela relacionada aos aspectos corporais, aos cuidados com a saúde, às formas lúdicas. Com freqüência tenho observado manifestações de que o objeto de estudo da educação física é o movimento humano. Algumas pessoas reconhecem a cultura como o meio onde o movimento se expressa, mas insistem nele como sendo o principal conceito da área. Creio não ser essa apenas uma questão terminológica diletante, como se as expressões cultura e movimento pudessem ser intercambiáveis. Afirmar que a Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 47 educação física trata da cultura implica negar a exclusividade do componente biológico na explicação das condutas humanas afetas à educação física e fincar a raiz da área nas ciências humanas. Por outro lado, aceitar que a educação física trata do movimento humano consiste em secundarizar a dimensão cultural em relação ao aspecto biofísico humano, afirmando a base biológica como primordial para a compreensão da área, como se a cultura fosse conseqüência ou produção das atividades cerebrais. Enfim, insistir que a educação física trata da cultura corporal faz com que priorizemos a dinâmica sócio-cultural na explicação das ações humanas. Concluindo, procurei nesse trabalho, ainda que rapidamente, discutir o corpo como componente e expressão culturais, podendo ampliar a visão tradicional e o uso que a educação física faz desse conceito. Em seguida, pude discutir a atuação da educação física escolar como prática cultural, compreendendo seu caráter simbólico, dinâmico e contextual. Discuti também a questão do trato dos conteúdos escolares pela educação física e sua necessária atualização e mediação em relação aos contextos específicos onde ela se realiza. Citei também a abordagem etnográfica, característica e originária da antropologia, como importante e necessária atualmente nas pesquisas em educação física, objetivando a análise dos significados de atuação dos profissionais da área. Compreender a atuação dos profissionais por dentro parece fundamental para uma área que vem propondo nos últimos anos a revisão de sua ação tradicional, mas que não pode mais acreditar que a transformação da prática ocorrerá apenas com proposições teóricas. Há que se compreender o caráter cultural - e, por vezes, inconsciente - de atuação dos profissionais de educação física, procurando alcançar o nível das representações sociais que orientam sua prática. Acredito que a abordagem antropológica tem contribuído e pode ainda muito contribuir para uma revisão da educação física, tornando-a uma área mais dinâmica, mais original, mais plural. A análise cultural tem procurado compreender a imensa e rica tradição da área que, durante anos, a definiu como ela se apresenta hoje e, ao mesmo tempo, tem procurado entender suas várias manifestações como expressões de contextos específicos. Além disso, a perspectiva cultural faz avançar na educação física a consideração de aspectos simbólicos, estimulando estudos e Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 48 reflexões sobre a estética, a beleza, a subjetividade, a expressividade, a relação com a arte, enfim, o significado. Afirmei em outro texto: Qualquer abordagem de Educação Física que negue esta dinâmica cultural inerente à condição humana, correrá o risco de se distanciar do seu objetivo último: o homem como fruto e agente de cultura. Correrá o risco de se desumanizar. REFERÊNCIAS 1) André, M.E.D.A.de.(1995). Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus. 2) Betti, M. (1994). Valores e finalidades na educação física escolar: uma concepção sistêmica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 16 (1), 14-21. 3) Betti, M. (1994). O que a semiótica inspira ao ensino da educação física. Discorpo. (3), 25-45. 4) Betti, M. (1999). Educação física, esporte e cidadania. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 20 (2/3), 84-92. 5) Bracht, V. (1999). Educação física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz. Ijuí: Unijuí. 6) Carvalho, Y. M.de & Rubio, K. (2001). Educação física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec. 7) Chauí, M. (1994). Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 8) Daolio, J. (1995). Da cultura do corpo. Campinas: Papirus. 9) Daolio, J. (1997). Cultura: educação física e futebol. Campinas: Unicamp. 10) Daolio, J. (1998). Educação física e cultura. Corpoconsciência. (1), 11-28. 11) Daolio, J. (2001). A antropologia social e a educação física: possibilidades de encontro. Em Carvalho, Y.M.de & Rubio, K. (2001). Educação física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec. 12) Geertz, C. (1989). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. (Trabalho original publicado em 1973). 13) Laplantine, F. (1988). Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense. (Trabalho original publicado em 1987). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 49 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ESPORTE, COMPETIÇÃO E TALENTO Felipe Lucero Hugo Lovisolo RESUMO Apresentamos uma pesquisa de opinião realizada entre alunos da 5ª a 8ª série, de duas escolas do Rio de Janeiro, que se diferenciam tanto em termos do projeto da EF quanto pelo nível social das famílias. Tais diferenças não afetaram significativamente as respostas dos alunos. Os alunos pensam a EF como formadora do caráter: disciplina, competição e respeito e destacam o papel gerador de adesão e conhecimentos para a prática. Opinam favoravelmente sobre os esportes e as competições internas e externas. Destacando o talento, são democráticos, e enfatizam o treinamento. Acolhem a tradição da educação física e do esporte. Unitermos: Opinião. Alunos. Escola. Esporte. Educação Física. 1. Introdução Nas áreas disciplinares caracterizadas pelo domínio da intervenção, como é o caso da educação física, os temas ou problemas de pesquisa estão vinculados às práticas dos interventores e a seus horizontes críticos. No campo da educação física, enquanto disciplina escolar que integra a formação básica, o debate educacional sobre seus valores orientadores, objetivos, funções e papéis, realizado desde sua criação, é considerável e deu lugar a propostas, por vezes, profundamente divergentes. Entretanto, nem sempre os argumentos estão vinculados a evidências empíricas, mal que afeta a toda a área da educação, fazendo com que os debates sejam intermináveis e que dominem o ensaio sobre os resultados de pesquisa. Neste artigo, propomos analisar alguns dados de uma pesquisa realizada com alunos de duas escolas do Rio de Janeiro. Basicamente, trabalharemos suas opiniões sobre a função da competição, em jogos e esportes, intra e extra-escolar, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 50 sobre o talento e a aquisição da habilidade esportiva, mediante escalas de opinião. Acreditamos que as evidências, embora sem pretensões de universalidade nem para o próprio Estado, poderão subsidiar as discussões sobre a educação física escolar. Foram entrevistados alunos dos 3º e 4º ciclos do ensino fundamental do Colégio Lemos de Castro (CLC) e da Escola Municipal Silveira Sampaio (ESS) situada em Curicica - Jacarepaguá, área popular do Município. A ESS tem uma forte influência da prática dos esportes e tornou-se referência no Município do Rio de Janeiro na formação e descoberta de talentos esportivos. Na ESS, com uma média de 1400 alunos matriculados, foram escolhidas duas turmas da 5ª a 8ª série, preferencialmente as de numeração mais baixa, já que a distribuição se dá por idade, ficando as turmas de numeração mais alta com os alunos mais velhos. Com isso se acreditava que haveria uma relação mais próxima das idades por turma em cada colégio. 3 No final, responderam à pesquisa 293 alunos. O CLC, privado, situado em Madureira, uma área de melhor nível econômico, opera com uma proposta que se encaixa melhor no que poderíamos denominar como "desenvolvimento da cultura do esporte". Possui duas turmas da 5ª a 8ª série e o total de alunos entrevistados foi próximo ao da outra escola, mais exatamente 279. No quadro abaixo se pode observar que não existem grandes diferenças entre os dois universos pesquisados, nem em termos absolutos, nem proporcionais. Q.1. Respondentes por escola e série Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 51 2. Da escolaridade dos pais As diferenças da origem social dos alunos entre ambas as instituições, nos levou ao controle da escolaridade e ocupação dos pais, pensando que poderia incidir nas suas respostas. Embora não tenhamos encontrado uma incidência significativa nem da origem nem do projeto de cada escola, destaca-se aqui a escolaridade dos pais para que se tenha uma idéia mais qualificada das diferenças. Q.2. Grau de escolaridade dos pais Os dados indicam, como esperado, o melhor nível de instrução de pais e mães dos alunos do CLC. Destaquemos que, em ambas as instituições, há uma alta ignorância da escolaridade dos pais. As razões do desconhecimento merecem ser melhor pesquisadas pois, por ser um dado inesperado, não foram colocados no questionário elementos que possibilitassem seu esclarecimento. 3. Distribuição de idades por séries escolares Nos estudos sobre a distribuição escolar no Brasil, a assincronia idade/série dos alunos das escolas públicas foi suficientemente destacada. Por tal motivo, controlamos a distribuição entre ambas as instituições mediante as médias por série apresentadas no quadro abaixo. Apesar da tendência para médias maiores de idade, no caso da ESS, as diferenças são baixas, apenas de meses, e praticamente inexistentes na 8ª série. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 52 Gráfico 1. Distribuição de idade/série por escola A distribuição por série, das médias de idades dos alunos, demonstra que, de um modo geral, a ESS possui uma distribuição dos alunos ligeiramente mais alta por série, exceto na sexta série. Assim, podemos pensar que não há uma influência significativa nas respostas determinada por experiências pessoais ancorada em diferenças expressivas nas médias de idade. De fato, poucos alunos se apresentam fora das faixas etárias previstas para cada série, segundo a Secretaria Municipal de Educação. 4. Dois efeitos significativos: correção e adesão Um aspecto que nos pareceu relevante era a visão dos alunos sobre a orientação conseguida na educação física escolar. Vejamos os percentuais de respostas. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 53 Q.3. A Educação Física orienta sobre a forma correta de exercitar-se fora da escola As respostas entre as duas instituições são semelhantes. O dado chama a atenção. No CLC existe uma solicitação para que os professores, sempre que possível, durante as aulas, dêem informações sobre utilidade, segurança, finalidade e contraindicações dos exercícios. O resultado obtido era, portanto, o esperado. Entretanto, os informantes, professores da ESS, mostraram-se surpreendidos com os resultados, já que nenhuma informação extra é dada aos alunos durante a execução dos exercícios. Pensamos que os alunos da ESS possam ter entendido que a pergunta estivesse relacionada com as explicações da execução das técnicas esportivas - estas, sim, intensamente corrigidas e orientadas. De qualquer forma, parece que os alunos avaliam positivamente - quase no nível de 80%, entre concordo muito (CM) e concordo (C) -, as informações recebidas e que podem contribuir com a formação da autonomia do praticante ou, pelo menos, com uma prática mais informada. A educação física escolar teve e tem como uma de suas propostas, e também como objetivo explícito de muitos projetos escolares, a promoção e o incentivo das atividades físicas, na perspectiva de uma prática contínua e moderada que vá além da vida escolar. Qual a opinião dos alunos? Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 54 Q.4. A Educação Física incentiva a prática permanente do exercício físico fora da escola Os resultados nas duas escolas são bastante semelhantes, tanto entre os meninos quanto entre as meninas. A maioria (CM mais C) parece concordar com a afirmativa, confirmando um dos objetivos da educação física na escola que é o de promover um processo de continuidade das atividades físicas que vá além do âmbito escolar, embora não seja esse seu único objetivo. 5. Finalidades da educação física A prática esportiva, mesmo na sua versão inglesa e educativa, esteve associada a valores tais como disciplina, controle e autocontrole, respeito à autoridade do técnico e do juiz, espírito de competição e de equipe. A educação física brasileira, por sua origem militar, foi fortemente associada a uma imagem de disciplina e ordem, de formação de caráter, utilizando-se a ginástica e o esporte como meios de controlar o indivíduo e, no caso dos homens, de formação da masculinidade. Segundo os princípios do treinamento esportivo a aptidão física e a técnica necessitam de uma disciplina rígida para que sejam melhoradas. A melhoria das capacidades físicas e das técnicas do gesto esportivo demanda dedicação que envolve uma reorganização pessoal. As idéias em pauta foram altamente criticadas nas últimas décadas e as principais propostas elaboradas foram críticas dos valores acima enunciados. Alguns deles foram vistos como meios, porém, não como finalidade da educação física escolar. No caso do CLC, sua proposta de desenvolver uma cultura esportiva, usando até aulas teóricas, parece estar distante da tradição. Já a ESS, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 55 por destacar o desenvolvimento do esporte de competição, poderia distribuir alguns desses valores. Ou seja, a comparação é boa porque estamos diante de propostas distintas. Será que as mesmas afetam a opinião dos alunos? Tentaremos aproximar uma resposta a partir de um conjunto de variáveis que procuram avaliar a opinião deles. 5.1. Os alunos talentosos e sua relação nas aulas de educação física Verificaremos, a seguir, como os alunos das duas escolas percebem o tratamento dado àqueles que se destacam e que têm talento, não deixando de considerar as diferenças entre os projetos e práticas das duas instituições. A visão democrática da educação física escolar realizou fortes críticas ao desenvolvimento do esporte na escola, e uma das principais foi endereçada aos docentes que centrariam sua ação nos alunos com algum tipo de talento esportivo. Q.5. Os alunos que se destacam recebem tratamento diferenciado durante as aulas de educação física A concepção de um programa que busca um equilíbrio entre o esporte, jogo atividade física e cultura, como no caso do CLC, parece diminuir a possibilidade de um tratamento diferenciado para o destaque esportivo. A situação da ESS seria quase que inversa (não esqueçamos que se tornou referência para o esporte escolar de desempenho). Os dados parecem refletir a diferença das propostas, sendo considerável a diferença entre CM e C das duas escolas. No caso da ESS, onde o esporte é o eixo central da educação física, a soma dessas duas categorias Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 56 representa 50%. O percentual de alunos que CM é o dobro do encontrado no CLC e essa percepção é maior nos meninos que nas meninas, mesmo com as tentativas dos professores em não dar tratamento privilegiado aos mais aptos. Não podemos afirmar se as respostas, no caso da ESS, se limitam somente às aulas de educação física, já que as saídas para os jogos e as viagens que, muitas vezes, as equipes realizam para participar de eventos esportivos, podem ser consideradas tratamento diferenciado por estes alunos. Podemos concluir que a proposta escolar incide sobre as respostas dadas pelos alunos. Nas propostas educativas destacam-se os que defendem a avaliação como processo de cada aluno. Assim, a habilidade natural, em qualquer campo, não deveria pesar na avaliação ou nota do aluno. Esta lógica avaliativa privilegiaria o "esforço" ou "dedicação" sobre o "talento" ou "habilidade natural", caso, de fato, funcionem como fatores isolados. Contudo, parece difícil que na prática escolar de qualquer disciplina os docentes não favoreçam aos alunos mais dotados. Interessava-nos retratar como os alunos pensam a incidência do talento ou habilidade esportiva no cotidiano da avaliação escolar nas aulas de educação física? Q6. Os critérios de avaliação são injustos, favorecendo os mais fortes e rápidos Segundo os informantes, no CLC as provas são teóricas e completam a avaliação notas de freqüência e conceito. Já na ESS é utilizada a hetero-avaliação, que também não recorre a avaliações práticas de velocidade, resistência, força ou Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 57 qualquer outro protocolo. Ou seja, em hipótese, os alunos não deveriam concordar com a questão, pois, em nenhuma das escolas, existe avaliações onde as capacidades físicas sejam necessárias. A existência de respostas que concordam com a proposição de que os critérios avaliativos favorecem os mais fortes e rápidos (10,8 no CLC e 20,5% na ESS) sugere que, mesmo com avaliações que se distanciam da performance física, a educação física ainda possui uma imagem cristalizada no rendimento e na seleção de critérios físicos em muitos alunos. É bem possível que a mesma imagem apareça se o objeto da avaliação fosse a habilidade matemática ou lingüística. Em outros termos, é possível que um segmento dos alunos considere como "justo" que a habilidade entre como componente da avaliação, ainda mais quando as aulas objetivam seu desenvolvimento, como no caso da ESS. Mesmo assim, os alunos do CLC demonstram um maior entendimento dos processos avaliativos enquanto exclusão do talento. As provas teóricas, introduzidas com o intuito de diminuir as distorções entre os alunos da turma, já que critérios baseados nas capacidades físicas não são controlados nas aulas, parece criar um impacto maior do que o sistema de hetero-avaliação adotado na ESS, que ainda pode estar, muitas vezes, associado à performance durante as aulas. 5.2. A motivação dos alunos para as aulas de educação física A possibilidade de participação com sugestões e a utilização de atividades já conhecidas dentro da comunidade ocupam lugar de destaque nas propostas pedagógicas participativas ou progressistas que supõem, que essas incorporações, podem ser um fator estimulador para os alunos. A aula de educação física deve ser prazerosa como qualquer outra disciplina: a criança aprende melhor quando o conteúdo faz sentido ou proporciona prazer - esta é a crença dominante em diretrizes e propostas. Na próxima tabela será possível verificar como os alunos se sentem motivados para as aulas nas duas escolas. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 58 Q.7. Estou sempre motivado para as aulas de educação física Em relação à motivação dos alunos, a ESS apresenta resultados mais favoráveis que o CLC. Em tese, o projeto do CLC enfatiza os jogos e brincadeiras da cultura do aluno, da cultura local e tradicional, e a ESS parte da cultura do esporte rendimento. Podemos pensar que, talvez, o contexto cultural principal sejam os meios de comunicação que é, por si só, um desencadeador de desejos, que teria uma identificação mais intensa na ESS com o esporte rendimento e com a profissionalização esportiva. Esporte e música são lugares de ascensão social dos populares - efeitos altamente apresentados na mídia. De fato, há escolas privadas que oferecem bolsa de estudo para os alunos da ESS que se destacam nos esportes. A maior variedade de perspectivas profissionais e de lazer, dos alunos do CLC, pode incidir sobre a visão das aulas de educação física, que não seriam tão estimulantes e até poderiam dominar a obrigação disciplinar. ão podemos aferir que dimensões da educação física foram levadas em consideração durante as respostas; apenas podemos admitir que as visões são diferenciadas em cada escola. 5.3. As competições esportivas na escola As competições escolares, internas ou externas, ainda mobilizam discussões no campo da educação física escolar. A Revista Movimento dedicou vários números a essa discussão. O fenômeno esportivo está presente no cotidiano e é inegável o fascínio que exerce entre os estudantes. De modo geral, as propostas para a Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 59 educação física defendem a não reprodução na escola do esporte de rendimento. De fato, as condições e o tempo semanal destinado às aulas de educação física impossibilitam realizar seriamente o treinamento esportivo. O treinamento requer um grupo selecionado, motivado, e com capacidades físicas em níveis semelhantes, coisa que nunca vamos encontrar em uma sala de aula. A intensidade, o volume, a cobrança e as expectativas sobre um grupo de alto nível em nenhum momento se assemelham à nossa realidade escolar; portanto, sessões de treinamento de alto nível na aula de educação física não podem existir. Teriam que ser criados horários alternativos de treinamento para grupos selecionados. Contudo, a competição escolar é um recurso de animação. Analisaremos, agora, como os alunos percebem as competições internas, verificando, dentro de planejamentos e propostas distintas, como se comportam os alunos acerca dessa questão nas duas escolas. Q.8. Eu gosto das competições internas da escola As competições e disputas fazem parte das atividades mais estimulantes da escola, não importando se a metodologia ou o programa as valorizem ou não. Os resultados mostram que nas duas escolas a aceitação é grande, tanto de meninos quanto de meninas. Isso vem demonstrar que as críticas à educação física em promover atividades competitivas, classificadas como seletivas e excludentes, não partem dos atores que delas participam. Kunz (1994), por exemplo, afirma que o esporte na escola constitui-se em uma cópia exata do esporte de rendimento, contribuindo para a seletividade no processo pedagógico e, consequentemente, fomentando vivências Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 60 de sucesso para uma minoria e o fracasso ou vivência de insucesso para a grande maioria. Ele não apresenta evidências para suas afirmações que se aplicam a qualquer desempenho, matemáticas, desenho, etc, e que também diferenciam os bem sucedidos e os mal sucedidos. Mas, será que isto afeta - e como? - aos atores dos processos de seleção? Q.9. Eu procuro participar das Olimpíadas Internas da escola Os resultados são semelhantes nas duas escolas com os meninos demonstrando maior interesse na participação do que as meninas. A busca na participação também parece não sofrer grande influência das formas de organização, já que os Jogos Internos do CLC são realizados em um pequeno período com poucas modalidades, resultando em um evento simples e com pouca divulgação. Já na ESS, os jogos acontecem durante duas ou três semanas, com as aulas suspensas a partir de um horário e com toda a escola envolvida em uma grande atividade, com muitas modalidades. Os alunos são divididos em quatro grupos representados por cores e durante o período de competições podem assistir aula vestidos com a cor do seu grupo. Ou seja, existe uma mobilização total dos setores da escola para a realização dos jogos. Existem também as competições externas entre colégios que acontecem anualmente. No Rio de Janeiro as mais importantes são, para as escolas particulares, o Intercolegial, patrocinado por uma rede de lanchonetes e por um jornal de grande circulação e o Jepar (Jogos das Escolas Particulares), patrocinado pelo Governo do Estado. Já para as escolas públicas temos os JEEPs (Jogos Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 61 Esportivos das Escolas Públicas) patrocinados pelo Governo do Estado e os Jogos Estudantis, patrocinados pela Prefeitura Municipal. Encontramos ao longo do ano outras competições, porém as citadas têm uma grande força dentro das escolas. Todos os anos diversos alunos procuram os horários de treinamento extracurricular para participarem das equipes que disputam essas competições, tanto no CLC quanto na ESS. A movimentação gerada pelas competições afeta não só os que participam, mas também outros alunos que vibram e se mobilizam nos dias de jogos. Serão verificadas, agora, as opiniões sobre a participação das escolas nessas competições externas. Q.10. É importante a escola participar das competições externas como os Jogos Estudantis e o Intercolegial Mais uma vez os resultados mostram que o gosto pela participação nas competições não depende da organização da escola, mas sim de fatores contextuais que afetam a ambas as instituições. Lembremos que a ESS possui um projeto esportivo, envolvendo além da escola a comunidade com equipes de atletismo, futsal, basquete, voleibol, handebol, tênis de mesa e xadrez, colecionando inúmeros títulos nos Jogos Estudantis da Prefeitura que dão à escola uma posição de destaque. O CLC possui apenas equipes de basquete e voleibol, participando apenas de uma competição por ano, em média, e ainda assim os alunos falam da importância dessa participação, compreendendo que é um momento importante no contexto educacional. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 62 Um argumento dos críticos do esporte escolar é que a seleção de alunos para as equipes escolares cria frustrações nos alunos que delas não participam, mas acreditamos que ocorre um outro tipo de emoção: o orgulho por estudar nas instituições que vencem os jogos ou os campeonatos. O gosto de participar, vencendo ou não, não está vinculado à participação enquanto atleta, mas pode também ser dividido e encontrado nos torcedores das equipes. Caso contrário, se o gosto de participar fosse apenas dos atletas, não existiria o esporte-espetáculo, nem as artes, diga-se de passagem. Na próxima questão será destacado como os alunos percebem esse assunto. Q.11. Quando as equipes esportivas da escola vencem eu também me sinto um vencedor por estudar na escola Os dados parecem dizer que mesmo como espectadores os alunos gostam de participar e vencer. As diferenças entre as escolas não são significativas. 5.4. Do talento esportivo Nossa sociedade fabrica ídolos e, especialmente, ídolos esportivos. Tal processo de "fabricação" ocorre em todas as instâncias da mídia e pode influenciar os jovens em idade escolar que se espelham em suas atitudes para estabelecer referências na sua própria vida pessoal. Uma questão central diz sobre o talento como sendo natural ou produto do próprio investimento, da dedicação - no caso, ao treinamento. Escolher uma ou outra opção sugere implicações significativas para a vida de cada um. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 63 Q.12. Os grandes jogadores (craques) já nascem prontos para jogar Nas duas escolas a idéia do craque ainda está fortemente ligada ao treinamento. Ou seja, o talento natural não parece ser suficiente para o sucesso acredita a maioria. Assim, contra uma idéia de seleção natural, de dom ou de predestinação, os alunos se inclinam pela escolha do desenvolvimento do talento. No CLC os valores de discordância com o talento natural são ainda mais altos. Ver abaixo como, em contraposição, os alunos opinam sobre o treinamento. Q.13. Os grandes jogadores (craques) necessitam de treinamento para serem os melhores Mais uma vez é possível perceber o valor dado ao treinamento, ao esforço, para ser diferenciado. Mesmo os grandes jogadores necessitam do treinamento. Nas duas escolas fica claro que o treinamento esportivo ainda é o grande diferencial na conquista da excelência esportiva. Ninguém nasce pronto para o esporte. AfastandoRua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 64 se da idéia de que o ídolo é alguém que tem um dom individual, afirma-se a dedicação e preparação do atleta. Para completar a imagem, a opinião sobre o tratamento dos craques. Q.13. Os grandes jogadores (craques) devem receber tratamento diferenciado por parte de técnicos e dirigentes esportivos A idéia de um tratamento igualitário para todos é bem desenvolvida nas duas escolas, que discordam sobre o tratamento diferenciado dado aos craques esportivos. A valorização do tratamento diferenciado é maior na ESS, talvez por alguns dos alunos que responderam à questão já se sentirem atletas e demandarem tratamento especial. Contudo, o tratamento democrático domina amplamente as respostas. 5.5. O que o aluno gosta? O que ele aprende? Dentre os conteúdos desenvolvidos nas aulas de educação física escolar podemos identificar quais são os que determinam uma maior ou menor participação dos alunos. Isto pode ser um dado importante se entendermos que um dos nossos objetivos é incentivar um estilo ativo de vida, em que a atividade física, seja ela qual for, faça e continue fazendo parte do cotidiano do aluno. Quando se consegue compor um equilíbrio entre os objetivos da disciplina e as expectativas e gosto dos alunos, começa-se a traçar um caminho de eficiência do processo ensinoaprendizagem. Então, ver-se-á agora o que os alunos mais gostam das aulas de educação física. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 65 Q.14. O que eu mais gosto nas aulas de educação física É alto percentual dos alunos que declaram que "gosta de tudo": CLC 26,2% e ESS 37,9%. Os esportes, seguidos dos jogos e brincadeiras são os conteúdos específicos mais indicados pelos alunos como seus favoritos. Percebemos pequenas diferenças entre os colégios que poderiam estar motivados pelos próprios programas e metodologias. Enquanto no CLC os jogos e brincadeiras são valorizados dentro do planejamento, paradoxalmente é na ESS onde estes aparecem com um percentual maior. O esporte, por sua vez, que compõe a linha central de trabalho da ESS, aparece com um percentual maior no CLC. Talvez estejamos diante do desejo daquilo que gostariam ter mais. A dança e a ginástica aparecem com percentuais superiores no CLC, talvez como resultado da influência direta das metodologias diferenciadas de educação física e/ou estilos de vida diferenciados que possibilitam o contato com essas atividades em ambientes especializados como academias de dança e ginástica. Outro ponto que pode ajudar a visualizar mais, de uma forma mais geral, a adequação dos objetivos da educação física em cada escola e a realidade, é quando se questionou os alunos acerca do que eles aprendem, efetivamente, nas aulas de educação física. O resultado é mostrado no quadro abaixo. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 66 Q.15. O que eu mais aprendo na educação física Vemos, claramente, nessas respostas, que a idéia de uma educação física ligada aos conceitos de disciplina, competição e respeito é forte na representação dos alunos. Apesar de no CLC se valorizar a discussão e a ampliação dos conceitos da cultura esportiva e cultural, ou seja, operar com uma proposta inovadora, os valores tradicionais da competição, disciplina e respeito possuem percentuais de respostas muito próximos aos encontrados na ESS que, teoricamente, tem uma proposta mais próxima dos mesmos. A tradição da educação física e da prática esportiva, com seus valores elaborados no século XIX, parece se impor ainda quando a proposta de atuação vai de encontro com a mesma. Os dados indicam que saber competir, respeitar os outros, ser disciplinado e ter autocontrole significam parte do horizonte de formação. Os valores não parecem ter perdido a atualidade nem seu objetivo último, que é a formação do caráter. 6. Comentários finais As diferenças nas origens sociais dos alunos de ambas as instituições têm uma incidência que pode ser negligenciada sob o ponto de vista da diferença nas opiniões diante das questões postas. Também se viu que as diferenças entre os projetos pouco afetam as respostas, apenas parecendo incidir em aspectos muito Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 67 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] específicos e mais vinculados ao cotidiano escolar. Se considerarmos que o CLC acredita ter uma proposta ou projeto de educação físico crítico, participativo e progressista, quando se observam as opiniões sobre o que se aprende na educação física, sobre o papel da competição e da formação dos atletas, as diferenças podem ser negligenciadas quando comparadas com a ESS, um projeto mais tradicional e no qual o esporte ocupa lugar central. Podemos pensar que o CLC, de alguma forma, incide pouco com suas inovações nas opiniões dos alunos. Assim, apesar de valorizar a discussão e a ampliação dos conceitos da cultura esportiva e cultural, ou seja, operar com uma proposta inovadora, os valores tradicionais da competição, disciplina e respeito possuem percentuais de respostas muito próximos aos encontrados na ESS que, teoricamente, tem uma proposta mais próxima dos mesmos. É importante destacar que há uma disciplina boa: é a que autonomamente reconhecemos como necessária, a lei que a nós próprios nos damos, dizia Rousseau. Não há pesquisa boa sem disciplina, sem controle, sem autocontrole e sem vontade de competição, a não ser que admitamos que os cientistas não se motivem pelo prestígio, o reconhecimento e mesmo os retornos financeiros. Os administradores da educação devem entender que os efeitos positivos da educação física requerem um tempo maior no cotidiano escolar, quer sacrificando tempo de outras disciplinas, quer oferecendo atividades extra-horário. Os educadores físicos, sobretudo os críticos ou progressistas, que em alguns casos insistem em combater a competição e a disciplina dentro da escola, podem verificar que estes são valores ainda importantes para a vida, mais ainda quando ela é competitiva na política, na economia e também na academia. O axioma mor do esporte, além do fair play, talvez seja o que diz: perder é possível, desistir não. Quando damos o melhor e perdemos ficamos satisfeitos. A escola não é apenas democrática, os alunos o são quando destacam a importância do treinamento e da dedicação sobre o talento. Ela deve formar o cidadão com valores e habilidades básicas; ela, portanto, iguala, Mas, ao mesmo tempo, ela também deve ajudar aos melhores a serem ainda melhores, criando espaços onde possam multiplicar suas vontades esportivas, artísticas, literárias, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 68 matemáticas, de criação e pesquisa, entre outras. Deveria promover oficinas onde os alunos desenvolvam a excelência, o talento, a habilidade pouco freqüente. O projeto progressista - de igualdade, solidariedade e fraternidade - por vezes parece que se torna ressentimento, pois acaba indo contra qualquer manifestação de superioridade intelectual, artística ou corporal. A superioridade do talento é admirada por todos, mais ainda quando resulta da igualdade de oportunidades. A sociedade não recusa a seleção e formação igualitária do talento. As camadas populares não têm à sua disposição espaços para desenvolver habilidades em nível de excelência, não apenas básicas. Assim, é a escola a responsável por criar esses espaços, talvez multiplicando as oficinas onde os estudantes possam testar e promover suas habilidades, seus talentos. Quando apenas se aponta para o básico, está se fazendo uma escola que nivela por baixo. E essa escola pareceria estar muito mais a serviço da opressão, mesmo quando eficiente, do que da emancipação. Notas 1. A pesquisa foi realizada no PPGEF/UGF, como requisito para a obtenção do título de mestre por Felipe e orientada por Hugo Lovisolo. Neste artigo apresentaremos apenas algumas das repostas dos alunos. 2. A revista Movimento destinou vários de seus números para a discussão da competição no contexto escolar. O debate se caracterizou pela participação de importantes autores da área e pela falta de dados ou evidências. 3. As referências completas sobre a metodologia e sobre a caracterização de ambas as instituições podem ser obtidas em Lucero (2005). Bibliografia Betti, I.C.R. O que ensinar: a perspectiva discente. Rev. Paul. Educ. Fís. São Paulo: supl. I, p.27-30, 1995. Boccardo, L. M. (1993) Comprometimento Pedagógico no Discurso Docente. In: Votre, S. J. (Org.). Ensino e Avaliação em Educação Física. São Paulo:Ibrasa. Brasília. Secretaria da Educação Fundamental. (1998). Parâmetros Curriculares Nacionais: Educação Física. Brasília: MEC/SEF Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 69 Coletivo de Autores. (1993) Metodologia do Ensino em Educação Física. São Paulo: Cortez. Freire, J. B. (1997) Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione. Kirsch, August. Antologia do Atletismo - Metodologia para iniciação em escolas e clubes. Ao Livro Técnico:1984. Kunz, Elenor. (1994). Transformação didático-pedagógica do esporte. Ijuí: UNIJUÍ. Kunz, Elenor. Esclarecimento e Emancipação - Pressupostos de uma teoria educacional crítica para a educação física. Revista Movimento, Ano V, Nº 10, 1999 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Rio de Janeiro, Sinepemrj, 1997. Lovisolo, H. (1995a) Normas, utilidades e gostos na aprendizagem. In: Votre, S. J. & Costa, V. L. de M. Cultura, Atividade Corporal e Esporte. Rio de Janeiro: Editora Central da Universidade Gama Filho. Taffarel, Celi Nelza Zulke. (1985). Criatividade nas aulas de educação física. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico. Outro artigos em Portugués Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 70 EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: conhecimento e especificidade a questão da pré-escola Osvaldo Luiz FERRAZ * INTRODUÇÃO Desde que a escola existe como instituição, vários programas pedagógicos têm sido propostos. Apesar da variedade de programas encontrados, que refletiram diferentes funções da escola ao longo de sua história, atualmente, é reconhecido que: a) a escola tem papel essencial no desenvolvimento das crianças; b) tem uma função social importante, devido a necessidade crescente das famílias de compartilharem com instituições os cuidados com seus filhos; c) tem uma função política clara, contribuindo para a formação dos cidadãos. É óbvio, para os envolvidos com escolarização, que esse reconhecimento geral das funções da escola não são tão simples, uma vez que questões como: qual o objetivo desse ensino? Acumular conhecimentos úteis? Mas, úteis para quem e para quê? Aprender a aprender? Aprender a controlar, a repetir? Essas questões fundamentais têm sido tema freqüente nas discussões acadêmicas e profissionais da educação. Entretanto, a função precípua de ensino sistematizado dos objetos de conhecimento construídos socialmente pelos homens ao longo da história como a escrita, a aritmética, as ciências sociais e naturais têm sido de consenso. A escola, portanto, amplia, organiza e formaliza uma aprendizagem que se inicia e continua no seio da família e no grupo social com o qual se vive. Esse pressuposto, aplicado às diversas disciplinas curriculares como a matemática e as ciências, por exemplo, gerou um conhecimento sistematizado que tem claro seu objetivo específico no processo de escolarização. Contudo, ao se olhar mais atentamente para a educação física, vê-se que o mesmo não ocorre. Observando-se a realidade que a Educação Física ocupa na escola, constata-se um componente curricular sem uma clara definição de sua função no contexto educacional. Isto tem gerado uma prática pedagógica sem sua especificidade devidamente caracterizada e por isso mesmo com dificuldade de interagir com outras disciplinas curriculares. Além disso, freqüentemente se observa a existência de uma prática carente de fundamentação teórica que oriente os procedimentos didático-pedagógicos (Tani, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 71 Manoel, Kokubun & Proença, 1988). Apesar de ser instituída legalmente como um componente curricular e até mesmo reconhecida como fundamental para o desenvolvimento do aluno, a Educação Física, de fato, parece estar presente na escola, essencialmente como simples atividade. Neste sentido, o tema do presente Seminário expressa uma das maiores inquietações dos profissionais da Educação Física, principalmente aqueles que estão atuando nas escolas. Em função dessas constatações, pretendo refletir sobre a natureza do conhecimento específico que acredito ser da Educação Física Escolar e, como conseqüência, definir sua função nos diferentes níveis de escolarização enfatizando, através dos objetivos gerais e blocos de conteúdos, a pré-escola. A NATUREZA DO CONHECIMENTO ESPECÍFICO DA EF O posicionamento básico é de que existe um conhecimento teórico e prático sobre a motricidade humana com o objetivo de otimização das possibilidades e potencialidades do educando para movimentar-se. Esse conhecimento deverá capacitá-lo para regulação, interação e transformação em relação ao meio em que vive, na busca de uma melhor qualidade de vida. Antes de analisar a natureza desse conhecimento, convém esclarecer o significado dos termos regulação, interação e transformação empregados neste contexto. Quando se diz regulação está se referindo a um duplo desafio na motricidade humana: a) operar variáveis comportamentais e fisiológicas que constituem sistemas fundamentais para a qualidade de vida no sentido de um equilíbrio homeostático, ou seja, transformar-se em direção ao que corresponde uma referência vital, fixa; b) operar essas variáveis em direção às transformações que asseguram formas de interação a uma referência variável no processo de desenvolvimento, isto é, transformar-se em direção ao que corresponde a um equilíbrio do tipo homeorrético, dinâmico. A interação e a transformação podem ser exemplificadas quando, por exemplo, as condutas motoras estão fundamentadas na compreensão dos princípios biomecânicos que regulam a postura corporal. Carregar ou levantar um objeto pesado bem próximo ao corpo ao invés de fazê-lo distante do mesmo, tem a finalidade de minimizar a sobrecarga para a coluna, pois com este procedimento o braço de alavanca será menor quanto mais próximo do Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 72 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] corpo estiver o objeto. Da mesma forma, a carga aumenta ainda mais se o tronco estiver inclinado para frente. Um indivíduo que não flexiona os membros inferiores para levantar um objeto pesado mas inclina o tronco, segurando-o longe da linha gravitacional, está utilizando uma técnica corporal ineficiente e lesiva para a coluna vertebral (Freudenheim, 1993). Outro aspecto importante da aplicação deste conhecimento é a possibilidade do aluno poder analisar as condutas motoras presentes no mundo do trabalho, ou a adequação de programas de atividades motoras e treinamento esportivo. Ainda, relacionado a interação e transformação no sentido de uma melhor qualidade de vida, tem-se a possibilidade de poder usufruir, como participante ou espectador, das expressões da cultura de movimento e reivindicá-las como um direito do cidadão e dever do Estado oportunizá-las. Atualmente, o esporte constitui-se em um fenômeno social de proporções mundiais. O que se quer dizer é que o aluno pode não gostar de praticar determinadas expressões da cultura de movimento (jogo, esporte, dança e ginástica), contudo ele terá essa opinião após conhecê-los, ou ainda, mesmo não praticando poderá ser um expectador com capacidade de apreciar essas manifestações que compõem a cultura de movimentos. Portanto, parece haver um conhecimento teórico e prático a respeito da motricidade humana que permite uma melhor qualidade de vida. Em função dessas considerações, a Educação Física como um componente curricular tem o objetivo precípuo de disseminar conhecimentos sistematizados sobre a motricidade humana. Mas, em linhas gerais, quais seriam esses conhecimentos? Qual a relação destes conhecimentos com os diferentes ciclos de escolarização? A partir das considerações apresentadas anteriormente, torna-se possível falarmos em uma dimensão procedimental, uma dimensão simbólica e uma dimensão atitudinal. A dimensão procedimental diz respeito ao saber fazer, a capacidade de mover-se numa variedade de atividades motoras crescentemente complexas de forma efetiva e graciosa. É importante ressaltar que, nessa concepção, aprender a mover-se Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 73 envolve atividades como tentar, praticar, pensar, tomar decisões e avaliar, significando portanto, muito mais do que respostas motoras estereotipadas. No que diz respeito a dimensão atitudinal, está se referindo a uma aprendizagem que implica na utilização do movimento como um meio para alcançar um fim, mas este fim não necessariamente se relaciona a uma melhora na capacidade de se mover efetivamente. Neste sentido, o movimento é um meio para o aluno aprender sobre seu potencial e suas limitações, além de aprender sobre o meio ambiente. Expressando-se pelo gesto, som, mímica, jogos, o aluno percebe que o corpo é um instrumento de comunicação e através dessas exploração e observação poderá estabelecer comparações com outras crianças, adultos, animais construindo seu auto conceito e a compreensão da realidade. Finalmente, a dimensão simbólica que significa a aquisição de um corpo de conhecimentos objetivos, desde aspectos nutricionais até sócio-culturais como a violência no esporte ou o corpo como mercadoria no âmbito dos contratos esportivos. Esta dimensão, além do seu valor cultural e informacional, possui um significado educacional, pois são passíveis de serem aplicados às situações do dia a dia como orientação na compreensão dos mecanismos que regulam o movimento. É importante ressaltar que, enquanto experiências escolares da Educação Física, é difícil separar estas aprendizagens, contudo esses aspectos possuem uma relação de interdependência sendo que a questão básica é determinar a ênfase necessária a essas dimensões da aprendizagem em função das características e necessidades da população nos diversos ciclos de escolarização. Todavia, o que a Educação Física Escolar não pode deixar de fazer é veicular conhecimentos teórico-práticos no sentido de proporcionar aos alunos elementos que lhe garantam autonomia para que no futuro possam: a. gerenciar sua própria atividade motora com objetivos de saúde; b. atender adequadamente suas necessidades e desejos nos movimentos do cotidiano; c. atender suas aspirações de lazer relacionadas a cultura de movimento. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 74 Da observação natural e comprovado por estudos científicos, pode-se constatar que o movimento humano desempenha um papel fundamental no seu processo de desenvolvimento biológico e psicológico (Connolly, 1977; Tani et alii, 1988), evolucionário (Leakey, 1981; Schmidt, 1982), social e cultural (Betti, 1992; Daolio, 1992) e cognitivo (Piaget, 1987a; Tani et alii, 1988). Entretanto, o movimento assume matizes diferenciadas no desenvolvimento do ser humano ao longo do ciclo de vida, devido as suas diferentes características e conseqüentes necessidades. Em linhas gerais, utilizando-se as dimensões relacionadas anteriormente, tem-se como princípio básico que a dimensão atitudinal estará presente em todo o ciclo de escolarização, uma vez que aspectos sócio-afetivos como auto-conceito e socialização devem ser preocupação de todos os componentes curriculares em todo o ciclo. A Educação Física Escolar reúne conteúdos extremamente fecundos para obtenção desses objetivos educacionais, uma vez que as formas de implementação (jogos, atividades rítmicas, ginástica) de seus conteúdos permitem estabelecer e alcançar essas metas da escolarização. O aprendizado sistematizado das normas de convivência, dos hábitos culturais e de outros objetos sociais de conhecimento, pode alterar significativamente o processo de socialização do aluno. Contudo, com relação a dimensão dos procedimentos, ou seja, o saber fazer a ênfase deverá ser a exploração e descoberta de diferentes condutas motoras nas séries iniciais, sem a preocupação de técnicas específicas que poderão ser introduzidas nas séries finais respeitando-se, sempre, as diferenças individuais. Finalmente a dimensão simbólica (fatos, conceitos e princípios) deverá estar presente em todas as séries observando-se as características das crianças mais novas que, em função das estruturas cognitivas que regulam o seu pensamento, estão impossibilitadas de compreensão de conteúdos e suas respectivas causalidades. Neste sentido, concordo com Cisneiros (1995) que posiciona a Educação Física na dimensão de atividade apenas nas séries iniciais do ensino e atribuí o caráter de área de estudo ou disciplina nas séries subseqüentes. A EDUCAÇÃO FÍSICA NA PRÉ-ESCOLA Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 75 Todas as crianças, independentemente de sexo, raça, cultura ou potencial físico, anomalia mental, têm direito a oportunidades que maximizem o seu desenvolvimento. Uma vez que o movimento tem um papel fundamental no desenvolvimento humano (cognitivo, psicomotor, afetivo-social), a Educação Física na escola deve considerar todos esses aspectos como independentes e interdependentes. O currículo de educação física pré-escolar, nesse sentido, implica em estruturação de um ambiente que auxilie as crianças a incorporar a dinâmica da solução de problemas, do "espírito" de descoberta nos domínios da cultura de movimento. Portanto, necessariamente, está-se referindo a um conhecimento que implica uma dimensão simbólica, uma dimensão atitudinal e uma dimensão procedimental. Sendo assim, propõe-se como metas educacionais (adaptado de Thompson, 1981): a. competência: auxiliar o aprendiz a utilizar suas próprias habilidades, conhecimentos e potencial em uma interação positiva com desafios, dúvidas, pessoas e os problemas do seu ambiente; b. individualidade: auxiliar o aprendiz, através de um funcionamento autônomo, a tomar decisões, desenvolver preferências, arriscar-se ao fracasso, estabelecendo uma dinâmica independente para resolver problemas, e aceitar auxílio sem o sacrifício da independência; c. socialização: auxiliar o aprendiz a desenvolver sua capacidade de engajar-se nas relações de mutualidade com outras pessoas dentro de valores democráticos. Podemos encontrar em Piaget (1985, 1987b) uma "arquitetura" do conhecimento que nos facilita a compreensão dos mecanismos que regulam a aquisição desse conhecimento, pois está-se diante de um problema específico, ou seja, o conhecimento que engloba condutas sensório-motoras até representações mentais. Para o autor a aquisição do conhecimento se dá, basicamente, por três tipos de esquemas: presentativo, procedural e operatório. Os presentativos são os ligados às propriedades permanentes e simultâneas de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 76 objetos comparáveis. É o caso dos esquemas representativos ou conceitos (por exemplo, os "quadrados" ou "bolas"), mas são conceituados como presentativos e não representativos, pois este tipo de esquema engloba igualmente um grande número de esquemas sensório-motores, como por exemplo reconhecer e alcançar uma bola em movimento em uma situação de jogo ou um objeto suspenso por um fio, no caso de um bebê, que estando afastado não tenta alcançá-lo. A representação ajuda a presentificar o conhecimento, mas não é ele. No caso dos esquemas presentativos a essência é imagética e não simbólica. Outra característica dos esquemas presentativos é que podem ser facilmente generalizados e abstraídos do seu contexto. Isto tem implicações importantes para os esquemas sensório-motores, uma vez que o esquema de agarrar uma bola será, provavelmente, utilizado em várias situações com vários tipos e tamanhos de bolas. Os esquemas procedurais constituem as ações sucessivas que servem de meio para alcançar um fim (por "precursividade", isto é determinações das ações iniciais pela orientação para um estado ulterior). Os esquemas procedurais, ao contrário dos presentativos, são difíceis de abstrair de seus contextos, pois são relativos a situações particulares e heterogêneas, sendo portanto específicos. Têm a dimensão do fazer, do êxito, da ação eficiente. Os esquemas operatórios integram e sintetizam os dois tipos de esquemas anteriores constituindo-se em um terceiro. Este tipo de esquema organiza o objeto, dando-lhe forma e estrutura (seriação, classificação), através de meios regulados e gerais (as operações) que buscam garantir a obtenção de um objetivo. Além disso, parece fundamental sua dimensão de valoração, pois a interpretação do resultado, nos remete a ética, ao fazer melhor, a crítica, dando portanto o sentido de valor da ação na dimensão cognitiva (Macedo, 1994). Estas distinções de esquemas nos permitem discernir no interior dos mecanismos cognitivos, dois grandes sistemas que são complementares, mas de significações diferentes: o primeiro visa compreender o conjunto de realidades físicas e lógicomatemáticas; o segundo serve para ter êxito em todos os domínios, desde as ações mais elementares até a solução de problemas abstratos. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 77 Em linhas gerais, uma vez que os conhecimentos da motricidade humana englobam as ações físicas e mentais e estas, por sua vez, dependem de dois sistemas cognitivos: o fazer e o compreender, temos, baseado nessa reflexão teórica argumentos para propormos uma taxionomia de objetivos educacionais a seguir: Taxionomia de objetivos 1. Dimensão simbólica a) conhecimento e compreensão do corpo; b) conhecimento e compreensão das habilidades básicas; c) conhecimento e compreensão de regras. 2. Dimensão atitudinal a) apreciação e aceitação da atividade física; b) auto conceito positivo e estável: capacidades e limitações, imagem corporal, auto disciplina; c) comunicação pelo movimento: imitação, expressão e interpretação; d) valores relacionados aos outros: competição, cooperação, capacidades e limitações dos outros, valores e comportamentos dos outros. 3. Dimensão procedimental a) desenvolvimento das capacidades físicas e motoras; b) desenvolvimento das habilidades básicas de manipulação, locomoção e estabilização; c) desenvolvimento perceptivo-motor: consciência espacial, temporal e corporal. Finalmente, é importante ressaltar que não há construção de conhecimentos desligada dos afetos e sentimentos, assim como, não há sentimentos e afetos que não impliquem processos intelectuais, porisso esses aspectos não podem ser abordados separadamente. Entretanto, isto não significa que a Educação Física não possui um conhecimento específico, ou melhor dizendo que o movimento humano não precisa ser considerado especificamente em todo o ciclo de escolarização. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 78 Segue-se a apresentação dos blocos de conteúdos que possibilitam a obtenção desses objetivos e em seguida algumas orientações didáticas. 1. Conhecimento e controle do corpo a. esquema corporal global e segmentar: percepção, discriminação e utilização; b. percepção do corpo em repouso e em movimento: elementos orgânicosfuncionais (respiração, batimento cardíaco, relaxamento e contração); c. diferentes ações básicas de locomoção (andar, correr, saltar), manipulação (arremessar, receber, quicar, rebater, abafar e chutar) e equilíbrio (giros, apoios invertidos e rolamentos); d. noções espaciais: topológicas, lateralidade, dominância lateral e direção; e. noções temporais: ritmo, duração, acentuação e velocidade. 2. Jogos a. o jogo como manifestação social e cultural; b. tipos de jogos: simulação, de regras, tradicionais e adaptados; c. regulação do jogo: regras básicas. 3. Atividades rítmicas e expressivas a. o movimento como instrumento de expressão e comunicação: gesto, mímica e dramatização; b. ritmo: diferentes estruturas rítmicas e as qualidades do movimento: pesado/leve, forte/fraco, rápido/lento, etc; c. tipos de danças: as rodas cantadas, a dança folclórica e a dança moderna. Orientações didáticas Para que o desenvolvimento das habilidades básicas de locomoção, manipulação e equilíbrio possa ser construído com base em um acervo motor com ampla variabilidade de movimentos, o professor deve organizar as tarefas de aprendizagem considerando-se os aspectos constituintes do movimento: Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 79 1. espaço a. direção: frente, atrás, lado, subindo, descendo; b. níveis: alto, médio, baixo; c. planos: sagital, frontal, horizontal; d. extensões: pequena, grande. 2. tempo a) lento, rápido, acelerando, desacelerando. 3. esforço a) forte, fraco. 4. objetos a) corda, bola, arco, jornal, etc. 5. capacidades físicas a) resistência, força, flexibilidade, velocidade. 6. núcleos do movimento a) articulações do ombro, joelho, cotovelo, etc. 7. relacionamentos b) dupla, trios, grupos. Mesmo que o currículo seja elaborado cuidadosamente resultando em um excelente programa, terá pouca eficiência se o ambiente de aprendizagem não for devidamente organizado e se não forem tomados cuidados especiais no planejamento e implementação das atividades. Os cuidados relacionados com a estruturação do ambiente referem-se a: (I) local e equipamentos e, (II) instruções e comportamento do professor. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 80 (I) Local e equipamentos O fato da Educação Física utilizar, freqüentemente, locais amplos, descobertos e uma variedade de materiais faz com que o professor tenha que tomar alguns cuidados: a. verificar a segurança das quadras/espaços com relação a existência de buracos, garrafas, pregos, etc; b. o espaço deve ter seus limites definidos com a visualização constante do professor; c. os materiais devem possibilitar modificações na sua estrutura e formato para que se acomode as variações dos diferentes níveis de desenvolvimento das crianças; d. a novidade do equipamento estimula o grau de interesse da criança, enquanto a complexidade mantém o interesse em um nível elevado. (II) Instruções e comportamento do professor Com o intuito de auxiliar na criação de uma atmosfera que maximize o potencial de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, alguns aspectos devem ser considerados: a. o problema a ser resolvido deve ser compreendido completamente pela criança; b. solicitar uma grande variedade de respostas e estimular reflexão no modo de execução da tarefa; c. permitir identificação dos estímulos mais importantes; d. garantir que todos os membros da classe estejam envolvidos com a aula e evitar longas filas; e. estabelecer rotinas e regras claras pois freqüentemente o professor necessita mover grandes grupos e modificar as tarefas; f. preocupar-se para que as atividades tenham grande ludicidade em suas ações e não superestimular a competição; g. incentivar o auxílio de um aluno para o outro, mostrando a importância do trabalho coletivo. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 81 Em resumo, conhecendo-se o aluno em suas características de crescimento e desenvolvimento e o universo da cultura de movimento infantil têm-se subsídios para selecionar a maneira de ensinar e, dessa forma, aproximar-se de estratégias mais adequadas de ensino. REFERÊNCIAS BETTI, M. Ensino de primeiro e segundo graus: educação física para quê? Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.3, n.2, p.282-7, 1992. CISNEIROS, M. Educação física escolar: temos o que ensinar? Revista Paulista de Educação Física, p.36-7, 1995. Suplemento 1. CONNOLLY, K. The nature of skill development. Journal of Human Movement Studies, v.3, p.128-43, 1977. DAOLIO, J. A representação do trabalho do professor de educação física na escola. São Paulo, 1992. 97p. Dissertação (Mestrado) - Escola de Educação Física, Universidade de São Paulo. FREUDENHEIM, A.M. Aspectos cinesiológicos da postura. In: TEIXEIRA, L.R. Educação física adaptada. São Paulo, EFP/EEFUSP, 1993. HALVERSON, L.E. The young child...: the significance of motor development. In: ENGSTROM, G., ed. The significance of young childs motor development. Washington, DC, National Association for the Education of Young Children, 1971. LEAKEY, R. A evolução da humanidade. Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 1981. MACEDO, L. Ensaios construtivistas. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1994. PIAGET, J. O nascimento da inteligência na criança. Rio de Janeiro, Editora Guanabara, 1987a. _____. O possível, o impossível e o necessário. In: LEITE, L.B.; MEDEIROS, A.A. Piaget e a Escola de Genebra. São Paulo, Cortez Editora, 1987b. _____. O possível e o necessário, evolução dos possíveis na criança. Porto Alegre, Artes Médicas, 1985. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 82 SCHMIDT, R.A. Motor control and learning: a behavioral emphasis. Champaign, Human Kinetics, 1982. TANI, G. Perspectivas para a educação física escolar. Revista Paulista de Educação Física, v.5, n.1/2, p.61-9, 1991. TANI, G.; MANOEL, E.J.; KOKUBUN, E.; PROENÇA, J.E. Educação física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista. São Paulo, EPU/EDUSP, 1988. THOMPSON, M.M. Seek equity educationally in elementary school physical education. Urbana, University of Illinois, 1981. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 83 Cadernos CEDES Print version ISSN 0101-3262 Cad. CEDES vol.19 n.48 Campinas Aug. 1999 doi: 10.1590/S0101-32621999000100005 A CONSTITUIÇÃO DAS TEORIAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA Valter Bracht* RESUMO: O presente ensaio analisa o processo de construção das teorias pedagógicas da educação física no Brasil, buscando demonstrar como elas refletem a concepção e o significado humano de corpo engendrados na e pela sociedade moderna. O texto apresenta as teorias pedagógicas que no âmbito da educação física se colocam numa perspectiva crítica em relação aos usos e aos significados atribuídos pela sociedade capitalista às práticas corporais. E, finalmente, problematiza a possibilidade de estarmos diante de uma ruptura da visão moderna de corpo, refletindo sobre os desafios que essa transição coloca para a educação/educação física. Palavras-chave: Educação física, corpo, modernidade, pós-modernidade Educação "corporal" no âmbito da educação física Neste primeiro item, desejamos apresentar as categorias e as problematizações básicas que orientaram nossas reflexões sobre o tema. Elas são derivadas de questões como: do ponto de vista educativo, o que tem significado a educação "corporal"? Que tipo de educação "corporal" a escola e a educação física vêm realizando? Por que surge o interesse pela educação "corporal" (também na escola) e quais suas determinações sócio-históricas? A utilização de aspas na expressão educação "corporal" fornece uma pista de uma das questões que pretendemos colocar. A tradição racionalista ocidental tornou possível falar confortavelmente da possibilidade de uma educação intelectual, por um lado, e de uma educação física ou corporal, por outro, quando não de uma terceira educação, a moral - expressão da razão cindida das três críticas de I. Kant, filósofo que, não obstante, segundo Welsch (1988), preocupou-se intensamente com Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 84 as mediações entre as diferentes dimensões da racionalidade. Essas educações teriam alvos, objetos bem distintos: o espiritual ou mental (o intelecto), por um lado, e o corpóreo ou físico, por outro, resultando da soma a educação integral (educação intelectual, moral e física). É claro, o alvo era ou é o comportamento humano, mas influenciá-lo ou conformá-lo pode ser alcançado pela ação sobre o intelecto e sobre o corpo. Também na melhor tradição ocidental, a educação "corporal" vai pautar-se pela idéia, culturalmente cristalizada, da superioridade da esfera mental ou intelectual - a razão como identificadora da dimensão essencial e definidora do ser humano. O corpo deve servir. O sujeito é sempre razão, ele (o corpo) é sempre objeto; a emancipação é identificada com a racionalidade da qual o corpo estava, por definição, excluído.1 A esse respeito, assim se expressa Santin (1994, p. 13): A racionalidade foi proclamada como a especificidade exclusiva e única das dimensões humanas. O humano do homem ficou enclausurado nos limites da racionalidade. Ser racional e ter o uso da razão constituíram-se nos únicos pressupostos para assegurar os plenos direitos de pertencer à humanidade. Ou, como afirma Gil (1994) em seu brilhante Monstros, referindo-se à visão de corpo-máquina: Deu-se uma transferência dos poderes do corpo para o espírito: de nada serve ao corpo estar substancialmente unido ao espírito (e, assim, tornar-se vivo e indivisível), é este último que define a sua natureza humana. Doravante, o único defeito do corpo é poder levar a alma a enganar-se. (p. 169) As teorias ou metanarrativas que circunstanciam o projeto da modernidade e que projetavam perspectivas para a humanidade não reservavam ao corpo (a seus desejos, suas fantasias etc.) papel central. Não lhe atribuíam papel importante para a construção de uma prática emancipatória, como também nenhum papel subversivo. A emancipação humana (iluminista) dar-se-ia pela razão, pela consciência desencarnada. As teorias da consciência, mesmo as de orientação positivista, são mentalistas _ vai ser a psicanálise, que não casualmente não goza Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 85 de grande prestígio acadêmico, que colocará o corpóreo, a dimensão nãoracionalizada, como elemento importante para o entendimento das ações humanas. Nas teorias do conhecimento da modernidade, que têm sua expressão máxima no chamado método científico (a ciência moderna), o corpo ou a dimensão corpórea do homem aparece como um elemento perturbador que precisa ser controlado pelo estabelecimento de um procedimento rigoroso (por exemplo: Francis Bacon e os idola). Para Veiga Neto (1996), se existe alguma culpa na ciência ou na racionalidade moderna, ela se situa na divisão entre res estensa e res cogitans, pois essa separação fundamentou o nosso afastamento em relação ao resto do mundo. Esse afastamento, segundo o autor, deixa-nos sem compromisso com o destino de tudo o que nos cerca, incluindo aí os outros homens e mulheres. Tal separação está na base da idéia do controle racional do mundo. Tanto as teorias da construção do conhecimento como as teorias da aprendizagem, com raras exceções, são desencarnadas - é o intelecto que aprende. Ou então, depois de uma fase de dependência, a inteligência ou a consciência finalmente se liberta do corpo. Inclusive as teorias sobre aprendizagem motora são em parte cognitivistas. O papel da corporeidade na aprendizagem foi historicamente subestimado, negligenciado. Hoje é interessante perceber um movimento no sentido de recuperar a "dignidade" do corpo ou do corpóreo no que diz respeito aos processos de aprendizagem. Isso acontece, curiosamente, por intermédio dos desenvolvimentos nas ciências naturais (ver a respeito Assmann 1996). Mas claro que esse entendimento de ser humano tem bases concretas na forma como o homem vem produzindo e reproduzindo a vida. Nesse sentido, o corpo sofre a ação, sofre várias intervenções com a finalidade de adaptá-lo às exigências das formas sociais de organização da produção e da reprodução da vida. Alvo das necessidades produtivas (corpo produtivo), das necessidades sanitárias (corpo "saudável"), das necessidades morais (corpo deserotizado), das necessidades de adaptação e controle social (corpo dócil). O déficit de dignidade do corpo vinha de seu caráter secundário perante a força emancipatória do espírito ou da razão. Mas Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 86 esse mesmo corpo, assim produzido historicamente, repunha a necessidade da produção de um discurso que o secundarizava, exatamente porque causava um certo mal-estar à cultura dominante. Ele precisa, assim, ser alvo de educação, mesmo porque educação corporal é educação do comportamento que, por sua vez, não é corporal, e sim humano. Educar o comportamento corporal é educar o comportamento humano. Mas vejamos na trajetória das diferentes construções históricas da educação física (EF) como esse entendimento de corpo e de educação corporal se concretizou. Antes é imprescindível fazer uma observação quanto a um equívoco que grassa no âmbito da educação física. Trata-se do entendimento de que a educação corporal ou o movimento corporal é atribuição exclusiva da educação física. Sem dúvida, à educação física é atribuída uma tarefa que envolve as atividades de movimento que só pode ser corporal, uma vez que humano. No entanto, a educação do comportamento corporal, porque humano, acontece também em outras instâncias e em outras disciplinas escolares. Contudo, neste texto vou me concentrar na contribuição da disciplina educação física (EF) para a "educação corporal" que acontece na escola, portanto, na construção das teorias pedagógicas da EF. Mas é importante observar que na instituição escolar o termo disciplina envolve um duplo aspecto: por um lado, a dimensão das relações hierárquicas, observância de preceitos, normas, da conduta do corpo; por outro, os aspectos do conhecimento propriamente dito. Portanto, a escola promove a "educação corporal". Nos dizeres de Faria Filho (1997, p. 52): "Assim como a escola `escolarizou' conhecimentos e práticas sociais, buscou também apropriar-se de diversas formas do corpo e constituir uma corporeidade que lhe fosse mais adequada". Esse aspecto reveste-se de importância, uma vez que o tratamento do corpo na EF sofre influências externas da cultura de maneira geral, mas também internas, ou seja, da própria instituição escolar. Da origem médica e militar à esportivização A constituição da educação física, ou seja, a instalação dessa prática pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos XVIII e XIX, foi fortemente influenciada Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 87 pela instituição militar e pela medicina. A instituição militar tinha a prática — exercícios sistematizados que foram ressignificados (no plano civil) pelo conhecimento médico. Isso vai ser feito numa perspectiva terapêutica, mas principalmente pedagógica. Educar o corpo para a produção significa promover saúde e educação para a saúde (hábitos saudáveis, higiênicos). Essa saúde ou virilidade (força) também pode ser (e foi) ressignificada numa perspectiva nacionalista/patriótica. Há exemplos marcantes na história desse tipo de instrumentalização de formas culturais do movimentar-se, como, por exemplo, a ginástica: Jahn e Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália e Getúlio Vargas e seu Estado Novo no Brasil. Esses movimentos são signatários do entendimento de que a educação da vontade e do caráter pode ser conseguida de forma mais eficiente com base em uma ação sobre o corpóreo do que com base no intelecto; lá, onde o controle do comportamento pela consciência falha, é preciso intervir no e pelo corpóreo (o exemplo mais recente é o movimento carismático da Igreja Católica no Brasil - a aeróbica do Senhor). Normas e valores são literalmente "incorporados" pela sua vivência corporal concreta. A obediência aos superiores precisa ser vivenciada corporalmente para ser conseguida; é algo mais do plano do sensível do que do intelectual. O corpo é alvo de estudos nos séculos XVIII e XIX, fundamentalmente das ciências biológicas. O corpo aqui é igualado a uma estrutura mecânica - a visão mecanicista do mundo é aplicada ao corpo e a seu funcionamento. O corpo não pensa, é pensado, o que é igual a analisado (literalmente, "lise") pela racionalidade científica. Ciência é controle da natureza e, portanto, da nossa natureza corporal. A ciência fornece os elementos que permitirão um controle eficiente sobre o corpo e um aumento de sua eficiência mecânica.2 Melhorar o funcionamento dessa máquina depende do conhecimento que se tem de seu funcionamento e das técnicas corporais que construo com base nesse conhecimento. Assim, o nascimento da EF se deu, por um lado, para cumprir a função de colaborar na construção de corpos saudáveis e dóceis, ou melhor, com uma educação estética (da sensibilidade) que permitisse uma adequada adaptação ao processo produtivo ou a uma perspectiva política nacionalista, e, por outro, foi também legitimado pelo conhecimento médico-científico do corpo que referendava as possibilidades, a Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 88 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] necessidade e as vantagens de tal intervenção sobre o corpo. Como lembra Le Breton (1995), a medicina representa, em nossas sociedades, um saber em alguma medida oficial sobre o corpo. Mas novamente esse entendimento vai se alterar e mais uma vez em consonância com alterações de ordem mais geral, ou seja, da forma como se produz e reproduz a vida, portanto, de mudanças históricas. Foucault (1985) identifica uma mudança importante da ação do poder ou do envolvimento do corpo pelos/nos micropoderes. Paulatinamente no século XX saímos de um controle do corpo via racionalização, repressão, com enfoque biológico, para um controle via estimulação, enaltecimento do prazer corporal, com enfoque psicológico. Muitos estudos citam a década de 1960 (Courtine 1996; Le Breton 1995) como o momento mais importante dessa inflexão. Voltaremos a isso mais adiante. Outro fenômeno muito importante para a política do corpo foi gestado e adquiriu grande significação social nesse período histórico (séculos XIX e XX). Essa prática corporal, a esportiva, está desde cedo muito fortemente orientada pelos princípios da concorrência e do rendimento (Rigauer 1969). Este último aspecto ou esta última característica é comum a outra técnica corporal incentivada pelos filantropos e pela medicina na Europa continental que é a ginástica. Aumento do rendimento atléticoesportivo, com o registro de recordes, é alcançado com uma intervenção científicoracional sobre o corpo que envolve tanto aspectos imediatamente biológicos, como aumento da resistência, da força etc., quanto comportamentais, como hábitos regrados de vida, respeito às regras e normas das competições etc. Treinamento esportivo e ginástica promovem a aptidão física e suas conseqüências: a saúde e a capacidade de trabalho/rendimento individual e social, objetivos da política do corpo. A ginástica é parte importante do movimento médico-social do higienismo, como mostrou Soares (1997). Interessante observar que Foucault (1985, p. 151), quando perguntado sobre quem coordena a ação dos agentes da política do corpo, afirma que é "um conjunto extremamente complexo (...). Tomemos o exemplo da filantropia no início do século XIX: pessoas que vêm se ocupar da vida dos outros, de sua saúde, da alimentação, da moradia... Mais tarde, dessa função confusa saíram personagens, instituições, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 89 saberes... uma higiene pública, inspetores, assistentes sociais, psicólogos. E hoje assistimos a uma proliferação de categorias de trabalhadores sociais". Entre estes, seguramente podemos situar os professores de EF. Interessante observar que a adesão ao esporte na Inglaterra puritana, segundo Grieswelle (1978), deveu-se também ao fato de este ter incorporado o princípio do rendimento que o aproximou da ética do trabalho, propiciando inclusive a construção do conceito de "Cristandade Muscular". Courtine (1995) mostra de forma brilhante como o puritanismo absorve esse tipo de prática corporal nos Estados Unidos, conferindo-lhe um significado coerente com a doutrina religiosa e com os valores culturais dominantes. A emergência do esporte após a Guerra Civil ocorreu sobre o pano de fundo de um individualismo disciplinado, exigindo auto-sacrifício e devotamento a uma causa comum. A ética puritana do trabalho tinha se infiltrado profundamente nas práticas esportivas, como se a utilidade social destas práticas devesse ser julgada apenas de acordo com seu critério. Entretanto, no final do século XIX, esta lógica de organização racional e de ordem moral já estava em declínio. Durante as primeiras décadas deste século, ela foi sendo progressivamente substituída por uma concepção um tanto diferente das finalidades da cultura física. O espírito de competição, o desejo de vencer tinham, mais ainda que no passado, sido investidos pelo esporte, ao mesmo tempo em que invadiam o sentimento de que se podia legitimamente buscar no exercício muscular uma gratificação pessoal e um prazer do corpo. Um cuidado com o bem-estar individual aparece nas críticas da ética puritana formuladas desde então. Reprova-se essa ética por investir a totalidade da energia do indivíduo americano em fins puramente utilitaristas, por exprimir e mesmo reforçar um medo do prazer. (Courtine 1995, p. 99) É claro que o esporte, assim como a ginástica, é um fenômeno polissêmico, ou seja, apresenta vários sentidos/significados e ligações sociais. Por exemplo, o movimento olímpico permitiu conferir, pela categoria política da nação, um significado mais imediatamente político aos resultados esportivos, o qual é incorporado à política do corpo mais geral, com as repercussões que todos conhecemos na educação física. Chamo aqui a atenção para a combinação de dois fatores, e para o fato de que o Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 90 esporte passa a substituir, com vantagens, a ginástica como técnica corporal que corporifica/condensa os princípios que precisam ser incorporados (no duplo sentido) pelos indivíduos. A pedagogia da EF incorporou, sem necessidade de mudar seus princípios mais fundamentais, essa "nova" técnica corporal, o esporte, agregando agora, em virtude das intersecções sociais (principalmente políticas) desse fenômeno, novos sentidos/significados, como, por exemplo, preparar as novas gerações para representar o país no campo esportivo (internacional). Tal combinação de objetivos fica muito clara no conhecido Diagnóstico da Educação Física/Desportos, realizado pelo governo brasileiro e publicado em 1971 (Costa 1971). Como os princípios eram os mesmos e o núcleo central era a intervenção no corpo (máquina) com vistas ao seu melhor funcionamento orgânico (para o desempenho atlético-esportivo ou desempenho produtivo), o conhecimento básico/privilegiado que é incorporado pela EF para a realização de sua tarefa continua sendo o que provém das ciências naturais, mormente a biologia e suas mais diversas especialidades, auxiliadas pela medicina, como uma de suas aplicações práticas. Os anos 80 e a crítica ao "paradigma da aptidão física e esportiva" O paradigma que orientou a prática pedagógica em EF descrito no item anterior esteve presente desde a origem e durante a implementação no Brasil, e foi revitalizado pelo projeto de nação da ditadura militar que aqui se instalou a partir de 1964. Pelo Diagnóstico da EF/Desportos, anteriormente citado, e pelos documentos da política de desenvolvimento dos esportes e da educação, aliás, extremamente abundantes nesse período, fica claro que a EF (no sentido lato) possuía um papel importante no projeto de Brasil dos militares, e que tal importância estava ligada ao desenvolvimento da aptidão física e ao desenvolvimento do desporto: a primeira, porque era considerada importante para a capacidade produtiva da nação (da classe trabalhadora) - ver a esse respeito Gonçalves (1971) -, e o segundo, pela contribuição que traria para afirmar o país no concerto das nações desenvolvidas (Brasil potência) e pela sua contribuição para a primeira, ou seja, para a aptidão física da população. É claro que no percurso da hegemonia desse paradigma ele foi Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 91 contestado, alternativas foram propostas; no entanto, nada que pudesse abalar seriamente seus princípios. No seio da própria instituição militar, que teve forte influência na trajetória da EF brasileira, muitos de seus intelectuais foram influenciados nas décadas de 1920 a 1950 pelo movimento escolanovista e pensaram a educação e a educação física com base nos princípios dessa teoria pedagógica.3 Neste ponto aproveito para abordar um outro equívoco recorrente na área da EF. O de que o predomínio do conhecimento das ciências naturais, principalmente da biologia e seus derivados, como conhecimento fundamentador da EF, significava a ausência da reflexão pedagógica. Ao contrário, como procurei demonstrar em estudo anterior (Bracht 1996), até o advento das ciências do esporte nos anos 70, o teorizar no âmbito da EF era sobretudo de caráter pedagógico, isto é, voltado para a intervenção educativa sobre o corpo; é claro, sustentado fundamentalmente pela biologia. Falava-se na educação integral (o famoso caráter biopsicossocial), mas como a educação integral não legitima especificamente a EF na escola (ou na sociedade) e sim o seu específico, este era entendido na perspectiva de sua contribuição para o desenvolvimento da aptidão física e esportiva. A entrada mais decisiva das ciências sociais e humanas na área da EF, processo que tem vários determinantes, permitiu ou fez surgir uma análise crítica do paradigma da aptidão física. Mas esse viés encontra-se num movimento mais amplo que tem sido chamado de movimento renovador da EF brasileira na década de 1980. Um primeiro momento dessa crítica tinha um viés cientificista. Por esse viés, entendia-se que faltava à EF ciência. Era preciso orientar a prática pedagógica com base no conhecimento científico, este, por sua vez, entendido como aquele produzido pelas ciências naturais ou com base em seu modelo de cientificidade. O desconhecimento da história da EF fez com que não se percebesse que esse movimento apenas atualizava o percurso e a origem histórica da EF e, portanto, que ele não rompia com o próprio paradigma da aptidão física. Nesse período vamos assistir à entrada em cena também de outra perspectiva que é aquela que se baseia nos estudos do desenvolvimento humano (desenvolvimento motor e aprendizagem Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 92 motora). O segundo momento vai permitir, então, uma crítica mais radical à EF, como veremos a seguir. A partir da década de 1970, no mundo e no Brasil, passa a constituir-se mais claramente um campo acadêmico na/da EF, campo este que se estrutura a partir das universidades (entre outros, ver Sobral 1996, pp. 243-252, e Bracht 1996), em grande medida em virtude da importância da instituição esportiva, já em simbiose com a EF. O discurso (neo)cientificista da EF visava também à legitimação desta no âmbito universitário. A educação física, como participante do sistema universitário brasileiro, acaba por incorporar as práticas científicas típicas desse meio. Uma das conseqüências será a busca de qualificação do corpo docente dos cursos de graduação em programas de pós-graduação, inicialmente no exterior, mas também, e crescentemente, no Brasil. Um grupo desses docentes optou por buscar os cursos de pós-graduação em educação no Brasil. Principalmente com base nessa influência, o campo da EF passa a incorporar as discussões pedagógicas nas décadas de 1970 e 1980, muito influenciadas pelas ciências humanas, principalmente a sociologia e a filosofia da educação de orientação marxista. O eixo central da crítica que se fez ao paradigma da aptidão física e esportiva foi dado pela análise da função social da educação, e da EF em particular, como elementos constituintes de uma sociedade capitalista marcada pela dominação e pelas diferenças (injustas) de classe. Toda a discussão realizada no campo da pedagogia sobre o caráter reprodutor da escola e sobre as possibilidades de sua contribuição para uma transformação radical da sociedade capitalista foi absorvida pela EF. A década de 1980 foi fortemente marcada por essa influência, constituindo-se aos poucos uma corrente que inicialmente foi chamada de revolucionária, mas que também foi denominada de crítica e progressista. Se, num primeiro momento - digamos, o da denúncia -, o movimento progressista apresentava-se bastante homogêneo, hoje, depois de mais de 15 anos de debate, é possível identificar um conjunto de propostas nesse espectro que apresentam diferenças importantes. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 93 O quadro das propostas pedagógicas em EF apresenta-se hoje bastante mais diversificado. Embora a prática pedagógica ainda resista a mudanças, 4 ou seja, a prática acontece ainda balizada pelo paradigma da aptidão física e esportiva, várias propostas pedagógicas foram gestadas nas últimas duas décadas e se colocam hoje como alternativas. A seguir apresentamos de forma resumida algumas delas. 5 Uma dessas propostas é a chamada abordagem desenvolvimentista. A sua idéia central é oferecer à criança - a proposta limita-se a oferecer fundamentos para a EF das primeiras quatro séries do primeiro grau - oportunidades de experiências de movimento de modo a garantir o seu desenvolvimento normal, portanto, de modo a atender essa criança em suas necessidades de movimento. Sua base teórica é essencialmente a psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, e seus autores principais são os professores Go Tani e Edison de Jesus Manoel, da USP, e Ruy Jornada Krebs, da UFSM. Observe-se que próxima a essa abordagem podemos colocar a chamada psicomotricidade, ou educação psicomotora, que exerceu grande influência na EF brasileira nos anos 70 e 80. Influência esta que está longe de ter-se esgotado, conforme podemos perceber pela reportagem recente da revista Nova Escola, intitulada "A educação física dá uma mãozinha", na qual se demonstra como a EF pode auxiliar no ensino de matemática (Falzetta 1999). Essa proposta vem sendo criticada exatamente porque não confere à EF uma especificidade, ficando seu papel subordinado a outras disciplinas escolares. Nessa perspectiva o movimento é mero instrumento, não sendo as formas culturais do movimentar-se humano consideradas um saber a ser transmitido pela escola. A proposta do professor João Batista Freire (Unicamp), embora preocupada com a cultura especificamente infantil, porque fundamentada também basicamente na psicologia do desenvolvimento, pode igualmente ser colocada como próxima às duas anteriores. Talvez devêssemos também fazer menção a um movimento de atualização ou renovação do paradigma da aptidão física, levado a efeito com base no mote da promoção da saúde. Considerando os avanços do conhecimento biológico acerca Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 94 das repercussões da atividade física sobre a saúde dos indivíduos e as novas condições urbanas de vida que levam ao sedentarismo, essa proposta revitaliza a idéia de que a principal tarefa da EF é a educação para a saúde ou, em termos mais genéricos, a promoção da saúde. As propostas abordadas até aqui têm em comum o fato de não se vincularem a uma teoria crítica da educação, no sentido de fazer da crítica do papel da educação na sociedade capitalista uma categoria central. Esse é o caso de duas outras propostas que vão mais explícita e diretamente derivar-se das discussões da pedagogia crítica brasileira. Uma delas está consubstanciada no livro Metodologia do ensino da educação física, de um coletivo de autores, publicado em 1992. Essa proposta baseia-se fundamentalmente na pedagogia histórico-crítica desenvolvida por Dermeval Saviani e colaboradores, e auto-intitulou-se crítico-superadora. Entende essa proposta que o objeto da área de conhecimento EF é a cultura corporal que se concretiza nos seus diferentes temas, quais sejam, o esporte, a ginástica, o jogo, as lutas, a dança e a mímica. Sistematizando o conhecimento da EF em ciclos (1º - da organização da identidade dos dados da realidade; 2º - da iniciação à sistematização do conhecimento; 3º - da ampliação da sistematização do conhecimento; 4º - do aprofundamento da sistematização do conhecimento), propõe que este seja tratado de forma historicizada, de maneira a ser apreendido em seus movimentos contraditórios. Outra proposta nesse espectro é a que se denomina crítico-emancipatória e que tem como principal formulador o professor Elenor Kunz, da UFSC, hoje acompanhado na tarefa por um conjunto de colegas que compõem o Núcleo de Estudos Pedagógicos do Centro de Desportos daquela universidade. As primeiras elaborações do professor Kunz foram fortemente influenciadas pela pedagogia de Paulo Freire (Kunz 1991). Outra forte influência são as análises fenomenológicas do movimento humano com base, em parte, em Merleau-Ponty, tomadas de estudiosos holandeses como Gordjin, Tamboer, e também Trebels, este seu orientador no doutorado em Hannover (Alemanha). A proposta de Kunz parte de uma concepção de movimento que ele denomina de dialógica. O movimentar-se humano é entendido aí como uma Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 95 forma de comunicação com o mundo. Outro princípio importante em sua pedagogia é a noção de sujeito tomado numa perspectiva iluminista de sujeito capaz de crítica e de atuação autônomas, perspectiva esta influenciada pelos estudiosos da Escola de Frankfurt. A proposta aponta para a tematização dos elementos da cultura do movimento, de forma a desenvolver nos alunos a capacidade de analisar e agir criticamente nessa esfera. É imperioso fazer menção também à proposta da concepção de aulas abertas à experiência, tornada conhecida no Brasil pelo professor alemão Reiner Hildebrandt, que foi professor visitante da UFSM. Essa proposta está consubstanciada principalmente em dois livros: um de autoria do professor Hildebrandt em conjunto com seu colega alemão R. Laging (Hildebrandt e Laging 1986); o outro, resultado da divulgação e do trabalho do professor Hildebrandt no Brasil, o qual foi publicado por dois grupos de estudo, o da UFPE e o da UFSM (Visão Didática 1991).Trabalhando com a perspectiva de que a aula de EF pode ser analisada em termos de um continuum que vai de uma concepção fechada a uma concepção aberta de ensino, e considerando que a concepção fechada inibe a formação de um sujeito autônomo e crítico, essa proposta indica a abertura das aulas no sentido de se conseguir a coparticipação dos alunos nas decisões didáticas que configuram as aulas. Após esta breve (e insuficiente) descrição das diferentes propostas (não todas) que se colocam como alternativas ao paradigma dominante, gostaria de ressaltar alguns pontos. Para as teorias progressistas da EF citadas (pedagogia crítico-superadora e críticoemancipatória), as formas culturais dominantes do movimentar-se humano reproduzem os valores e princípios da sociedade capitalista industrial moderna, sendo o esporte de rendimento paradigmático nesse caso. Reproduzi-los na escola por meio da educação física significa colaborar com a reprodução social como um todo. A linguagem corporal dominante é "ventríloqua" dos interesses dominantes. Assim, ambas as propostas sugerem procedimentos didático-pedagógicos que possibilitem, ao se tematizarem as formas culturais do movimentar-se humano (os temas da cultura corporal ou de movimento), propiciar um esclarecimento crítico a seu respeito, desvelando suas vinculações com os elementos da ordem vigente, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 96 desenvolvendo, concomitantemente, as competências para tal: a lógica dialética para a crítico-superadora, e o agir comunicativo para a crítico-emancipatória. Assim, conscientes ou dotados de consciência crítica, os sujeitos poderão agir autônoma e criticamente na esfera da cultura corporal ou de movimento e também agir de forma transformadora como cidadãos políticos. Vale ressaltar que as propostas buscam ser um "antídoto" para um conjunto de características da cultura corporal ou de movimento atuais que, segundo a interpretação dessas abordagens, por um lado, são produtoras de falsa consciência e, por outro, transformam os sujeitos em objetos ou consumidores acríticos da indústria cultural. Para realizar tal tarefa é fundamental entender o objeto da EF, o movimentar-se humano, não mais como algo biológico, mecânico ou mesmo apenas na sua dimensão psicológica, e sim como fenômeno histórico-cultural. Portanto, essa leitura ou esse entendimento da educação física só criará corpo quando as ciências sociais e humanas forem tomadas mais intensamente como referência. No entanto, é preciso ter claro que a própria utilização de um novo referencial para entender o movimento humano está na dependência da mudança do imaginário social sobre o corpo e as atividades corporais. Entendo que essa visão do objeto da EF está alcançando uma quase unanimidade na discussão pedagógica desse campo. Os termos cultura corporal, cultura de movimento ou cultura corporal de movimento aparecem em quase todos os discursos, embora lhes sejam atribuídas conseqüências pedagógicas distintas. Desafios das propostas pedagógicas progressistas da educação física As propostas pedagógicas progressistas em EF deparam com desafios de várias ordens: desde questões relativas à sua implementação, ou seja, de como fazer com que sejam incorporadas pela prática pedagógica nas escolas, até questões mais teóricas que dizem respeito, por exemplo, às suas bases epistemológicas. Um desses desafios é conquistar legitimidade no campo pedagógico. Os argumentos que legitimavam a EF na escola sob o prisma conservador (aptidão Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 97 física e esportiva) não se sustentam numa perspectiva progressista de educação e educação física, mas, ao que tudo indica, hoje também não na perspectiva conservadora. Parece que a visão neotecnicista (economicista) de educação, que enfatiza a preparação do cidadão para o mercado de trabalho, dadas as mudanças tecnológicas do processo produtivo, pode prescindir hoje da EF e não lhe reserva nenhum papel relevante o suficiente para justificar o investimento público - a revitalização do discurso da promoção da saúde é uma tentativa de setores conservadores de legitimar a EF na escola, mas tem pouca probabilidade de encontrar eco, haja vista a crescente privatização, e individualização, da saúde promovida pelo Estado mínimo neoliberal. Além disso, o crescimento da oferta e do consumo dos serviços ligados às práticas corporais fora do âmbito da escola e do sistema tradicional do esporte - como as escolas de natação, academias, escolinhas de futebol, judô, voleibol etc. - permite o acesso à iniciação esportiva, às atividades físicas, sem depender da EF escolar. Parece-nos mais fácil, paradoxalmente, encontrar argumentos para legitimar a EF (e a educação artística), hoje, na escola, de uma perspectiva crítica de educação. Os argumentos vão na mesma direção do exposto quando apresentamos as propostas progressistas do âmbito da EF. A dimensão que a cultura corporal ou de movimento assume na vida do cidadão atualmente é tão significativa que a escola é chamada não a reproduzi-la simplesmente, mas a permitir que o indivíduo se aproprie dela criticamente, para poder efetivamente exercer sua cidadania. Introduzir os indivíduos no universo da cultura corporal ou de movimento de forma crítica é tarefa da escola e especificamente da EF. Outro ponto que se coloca como um desafio é fazer uma leitura adequada da "política do corpo" (Foucault) ou então de como o "corpo" aparece na atual dinâmica cultural, no sentido mais amplo, com suas intersecções sociais, principalmente na sua função de afirmar, confirmar e reconstruir (porque constantemente contestada) a hegemonia de um projeto histórico, bem como situar o papel da instituição educacional nesse processo. Embora nossa atenção, como profissionais ligados à EF, esteja mais voltada para a cultura corporal ou de movimento num sentido restrito, para compreender as Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 98 mudanças que se operam nesse âmbito é preciso analisar também o percurso da "história do corpo". Podemos constatar, principalmente nas três últimas décadas (a partir dos anos 60), um verdadeiro boom do corpo. Essa (re)descoberta do corpo se dá em várias instâncias e perspectivas e suas razões só podem ser aqui discutidas de forma muito precária. Tal (re)descoberta está presente também no meio acadêmico, onde o corpo passa a ser objeto privilegiado da história, da filosofia, da antropologia, da psicologia da aprendizagem etc. As razões pelas quais o "corpo" - e, por conseqüência, as práticas corporais - passa a ser objeto digno das diversas disciplinas científicas, objeto de atenção da teoria política às teorias da aprendizagem, são, seguramente, múltiplas e complexas. O que é possível afirmar é que estas estão vinculadas ao novo status social que a cultura ocidental vai conferir ao corpo, principalmente a partir da década de 1960. Sem adotar uma perspectiva internalista nem externalista da história da ciência, é possível dizer que desenvolvimentos internos (conhecimentos do âmbito das ciências cognitivas, da neurofisiologia, da biologia, da filosofia etc.) e externos à ciência (crítica ao caráter repressivo das instituições, a possibilidade da vivência do sexo pelo prazer graças aos avanços da anticoncepção, possibilidades de mercadorização do corpo, o advento da indústria do lazer etc.) levaram a conferir ao corpo ou à dimensão corpórea do homem um significado ou uma importância maior nas teorias explicativas de algumas ciências e a reconhecê-lo como problema ou objeto. Algumas delas possuem importância central para a educação. Refiro-me às teorias da sociologia, da história e da antropologia que enfatizam a importância da ação sobre o corpo como elemento da ordem social, à filosofia, campo em que, depois da crise da razão iluminista (paradigma da consciência), percebe-se a retomada do tema da dimensão não-racional do comportamento humano ou da sua dimensão estética; nas teorias da aprendizagem, o corpo passa a ser reconhecido como sujeito epistêmico, pois, como coloca Assmann (1996), "todo conhecimento é um texto corporal, tem uma textura corporal". Enfim, como assevera Eagleton (1998), citado por Alves de Lima (1999), "a retomada da importância do corpo foi uma das mudanças mais importantes no pensamento radical presente". Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 99 Mas centrando nossa atenção novamente sobre a dinâmica cultural e sobre como a corporeidade nela se apresenta, seria importante perguntar se está se gestando uma nova visão de corpo (um novo significado humano de corpo), uma visão de corpo que efetivamente supere a visão moderna apresentada aqui e que foi (é?) a base da EF moderna. Em que medida as práticas corporais da atual dinâmica cultural ainda são tributárias fiéis daquela visão moderna de corpo? (corpo-máquina, corpo-ter). Se estamos num momento de transição na cultura ocidental - caminhando para uma cultura pós-moderna -, estamos num campo bastante complexo, indefinido, que não admite simplificações - e que por isso mesmo se coloca como desafio. Se adotarmos uma postura mais próxima da perspectiva pós-moderna, como, por exemplo, a de Lipovetsky (1989), tenderemos a responder afirmativamente à primeira questão acima. Viver o corpo com base nos valores do presentismo e do narcisismo, sem culpa, e a pulverização radical dos sentidos/significados dessa vivência seriam indicadores do rompimento com valores próprios da modernidade. Já para Le Breton, hoje realmente há outra visão no discurso que se faz acerca do corpo, há outra visão, outra atenção, normas sociais modificadas. Neste entusiasmo, se mudou o imaginário do corpo, porém sem que se alterasse o paradigma dualista. Pois não poderia existir uma liberação do corpo e sim uma liberação do homem mesmo, isto é, que significasse para o sujeito uma maior plenitude. E isto através de um uso diferente das atividades físicas ou de uma nova aparência. Separar o corpo do sujeito para afirmar a liberação do primeiro é uma figura de estilo de um imaginário dualista. (1995, p. 138) Para o autor, "a paixão pelo corpo modifica o conteúdo do dualismo sem mudar sua forma. Tende a psicologizar o `corpo-máquina', mas esse paradigma mantém sua influência de forma mais ou menos oculta" (p. 160). O dualismo de que fala Le Breton é o entre homem e corpo (e não mente-corpo), que tem por base o dualismo homem-natureza. A mercadorização do corpo Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 100 (técnicas corporais, produtos para o corpo etc.) necessita manter a diferenciação homem-corpo, precisa manter a oposição entre o "que corresponde ao corpo e o que corresponde ao inapreensível do homem" (Le Breton 1995, p. 152). Courtine (1995, p. 105), analisando o caso dos Estados Unidos, também entende que o momento narcísico do corpo corresponde não a um laisser-aller hedonista, mas a um reforço disciplinar, a uma intensificação dos controles. Ele não corresponde a uma dispersão da herança puritana, mas antes a uma repuritanização dos comportamentos, cujos signos, de modo mais ou menos explícito, multiplicam-se hoje. O desafio se amplia na medida em que essas mudanças ou permanências estão articuladas com as estruturas e os movimentos sócio-históricos mais amplos que são o alvo, em última instância, das pedagogias progressistas. Essas pedagogias se nutrem de um projeto alternativo de sociedade que precisa se afirmar diante do hoje hegemônico. Daí a importância de uma leitura adequada da realidade que possa se articular com um projeto alternativo realizável. Outro desafio situa-se no plano mais especificamente epistemológico. É sabido que um movimento, muito influente no momento, questiona fortemente a pretensão de verdade da ciência (ou da razão científica), e com isso acaba atingindo o núcleo central da pedagogia crítica que é exatamente sua pretensão de superar, por meio de uma leitura crítica da realidade (do esclarecimento), a ideologia, superar uma visão superficial, distorcida ou falsa da realidade. Não será possível aqui aprofundar a questão. Mas talvez valha a pena reproduzir ainda um comentário de Tomaz T. da Silva (1993, p. 137), um dos mais importantes teóricos da tradição crítica na educação: "esses questionamentos colocam em questão a própria utilização do termo `crítico' ou pelo menos nos obriga a repensá-lo. Não creio [diz ele] que haja presentemente alguma resposta fácil a esse importante desafio". É claro que os pontos citados não esgotam a agenda das teorias pedagógicas críticas da educação física, embora já constituam uma pauta bastante volumosa. Notas Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 101 1. Reitemeyer (1987), em seu livro Philosophie der Leiblichkeit (Filosofia da corporeidade), recupera o materialismo radical de L. Feuerbach, mostrando como a dimensão corpórea (a sensibilidade) encontrava na sua visão de mundo uma posição de destaque: "Razão não sensível, não radicada na sensibilidade é (...) irreal, não mais verdadeira, porque não mais orientada para a totalidade e sim para uma metade abstraída da sensibilidade; assim ela não preenche mais os quesitos da razão" (p. 43). 2. O esporte de alto rendimento é de certa forma uma metáfora dessa máxima. 3. Indicações precisas desse processo encontram-se no texto de A. Ferreira Neto, "Pedagogia no exército e na escola: A educação física brasileira (1880-1950)". Tese de doutorado apresentada para qualificação. Programa de pós-graduação em Educação/Unimep (mimeo.). 4. As razões são muitas e diversas. Vão desde a pressão do contexto cultural e do imaginário social da EF, que persiste e é reforçado pelos meios de comunicação de massa, até o fato de que a formação dos atuais professores de EF ocorreu em cursos de graduação cujo currículo ainda fora inspirado no referido paradigma, passando pelo fato de que as pedagogias progressistas em EF ainda estão em estágio inicial de desenvolvimento. 5. Para uma apresentação mais detalhada, classificando as abordagens em propositivas e não-propositivas, consultar Castellani Filho (1999). Para uma análise crítica das propostas pedagógicas da educação física brasileira construídas na década de 1980, remeto o leitor aos estudos de Caparroz (1997) e Ferreira (1995). Bibliografia ALVES DE LIMA, H.L. "Pensamento epistemológico da educação física brasileira: Das controvérsias acerca do estatuto científico". Dissertação de mestrado. Centro de Educação/UFPe, 1999. (Mimeo.) [ Links ] ASSMANN, H. "Pós-modernidade e agir pedagógico: Como reencantar a educação". Palestra no VIII Endipe. Florianópolis, 1996. (Mimeo.) [ Links ] BRACHT, V. "A construção do campo acadêmico `educação física' no período de 1960 até nossos dias: Onde ficou a educação física?". In: Anais do IV Encontro Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 102 Nacional de História do Esporte, Lazer e Educação Física. Belo Horizonte, 1996, pp. 140-148. [ Links ] _______. "Educação física: Conhecimento e especificidade". In: SOUSA, E.S. de e VAGO, T.M. (orgs.). Trilhas e partilhas: Educação física na cultura escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Cultura, 1997, pp. 13-23. [ Links ] CAPARROZ, F.E. Entre a educação física na escola e a educação física da escola. Vitória: CEFD/Ufes, 1997. [ Links ] CASTELLANI FILHO, L. "A educação física no sistema educacional brasileiro: Percurso, paradoxos e perspectivas". Tese de doutorado. Campinas: Faculdade de Educação/Unicamp, 1999. [ Links ] COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino da educação física. São Paulo: Cortez, 1992. [ Links ] COSTA, L.P. da. Diagnóstico de educação física/desportos no Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura: Fundação Nacional de Material Escolar, 1971. [ Links ] COURTINE, J.-J. "Os stakhanovistas do narcisismo". In: SANT'ANNA, D.B. de (org.). Políticas do corpo. São Paulo: Estação Liberdade, 1995, pp. 81-114. [ Links ] FALZETTA, R. "A educação física dá uma mãozinha". Revista Nova Escola, mar. 1999. [ Links ] FARIA FILHO, L.M. de. "História da escola primária e da educação física no Brasil: Alguns apontamentos". In: SOUSA, E.S. de e VAGO, T.M. (orgs.). Trilhas e partilhas; educação física na cultura escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Cultura, 1997, pp. 43-58. [ Links ] FERREIRA, M.G. "Teoria da educação física: Bases epistemológicas e propostas pedagógicas". In: FERREIRA NETO, A.; GOELLNER, S.V. e BRACHT, V. (orgs.). As ciências do esporte no Brasil. Campinas: Autores Associados, 1995. [ Links ] FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 5a ed. Rio de Janeiro: Graal, 1995. [ Links ] GIL, J. Monstros. Lisboa: Quetzal, 1994. [ Links ] GONÇALVES, J.A.P. Subsídios para implantação de uma política nacional de desportos. Brasília, 1971. [ Links ] GRIESWELLE, D. Sportosoziologie. Stuttgart: Kohlhammer, 1978. [ Links ] GRUPO DE TRABALHO PEDAGÓGICO (UFPE/UFSM). Visão didática da educação física. Rio de Janeiro: Ao livro técnico, 1991. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 103 HILDEBRANDT, R. e LAGING, R. Concepções abertas no ensino da educação física. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1986. [ Links ] KUNZ, E. Educação física: Ensino & mudanças. Ijuí: Unijuí, 1991. [ Links ] LE BRETON, D. Antropologia del cuerpo y modernidad. Buenos Aires: Nueva Visión, 1995. [ Links ] LIPOVETSKY, G. A era do vazio. Lisboa: Antropos, 1989. [ Links ] REITEMEYER, U. Philosophie der Leiblichkeit. Frankfurt: Suhrkamp, 1988. [ Links ] RIGAUER, B. Sport und Arbeit. Frankfurt: Shuskamp, 1969. [ Links ] SANTIN, S. Educação física: Da alegria do lúdico à opressão do rendimento. Porto Alegre: Edições EST/Esef, 1994. [ Links ] SILVA, T.T. da. "Sociologia da educação e pedagogia crítica em tempos pósmodernos". In: SILVA, T.T. da (org.). Teoria educacional crítica em tempos pósmodernos. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. [ Links ] SOARES, C.L. "Imagens do corpo `educado': Um olhar sobre a ginástica no século XIX". In: FERREIRA NETO, A. (org.). Pesquisa histórica na educação física. Vitória: CEFD/Ufes, 1997, pp. 5-32. [ Links ] SOBRAL, F. Para uma teoria da educação física. Lisboa: Diabril, 1976. [ Links ] _______. "Cientismo e credulidade ou a patologia do saber em ciências do desporto". Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 17(2), 1996, pp. 143-152. [ Links ] VEIGA NETO, A.J. da. "Currículo, disciplina e interdisciplinaridade". Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 17(2), 1996, pp. 128-137. [ Links ] WELSCH, W. Unsere postmoderne Moderne. Weinheim: Acta Humaniora, 1988. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 104 Cadernos de Saúde Pública Print version ISSN 0102-311X Cad. Saúde Pública vol.16 n.4 Rio de Janeiro Out./Dec. 2000 doi: 10.1590/S0102-311X2000000400027 NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA EM ADOLESCENTES DO MUNICÍPIO DE NITERÓI, RIO DE JANEIRO, BRASIL Rosane C. Rosendo da Silva Robert M. Malina RESUMO O presente estudo teve como objetivo investigar o nível de atividade física (AF) de adolescentes de Niterói, Rio de Janeiro. Alunos (n = 325) da rede pública de ensino tiveram seus AF avaliados pelo questionário de Crocker et al. (1997), PAQ-C. Dados antropométricos (massa corporal, estatura e índice de massa corporal) e horas que assistem à televisão (TV) também foram coletados. As médias dos escores do PAQC foram 2,3 e 2,0 para meninos e meninas, respectivamente (p < 0,01). A média de TV foi de 4,4 e 4,9 horas/dia para os sexos masculino e feminino. As atividades físicas mais praticadas foram o futebol entre os meninos e a caminhada entre as meninas. Os adolescentes apresentaram maior nível de atividade nos finais de semana em comparação aos dias de semana. Os valores do PAQ-C classificaram 85% dos meninos e 94% das meninas como sedentários. Os resultados encontrados alertam para a alta prevalência de sedentarismo neste grupo, aumentando a probabilidade de adultos sedentários. No entanto, outros estudos devem ser desenvolvidos para determinação de AF durante toda a adolescência e dos fatores determinantes da atividade física regular. Palavras-chave: Atividade Física; Adolescência; Saúde do Adolescente Introdução A atividade física é uma área relevante de investigação pela sua relação inversa com as doenças degenerativas, isto é, indivíduos ativos tendem a apresentar menor mortalidade e morbidade por essas doenças (CDC/National Center for Chronic Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 105 Disease Prevention and Health Promotion, 1996). Dessa forma, várias instituições e organizações tais como a International Federation of Sports Medicine (1990), a American Heart Association (Fletcher et al., 1992), a Organização Mundial de Saúde (Bijnen et al., 1994) e o Colégio Americano de Medicina Desportiva (Pate et al., 1995) têm enfatizado a importância da adoção de atividade física regular para a melhoria dos níveis de saúde individual e coletiva, especialmente para a prevenção e reabilitação da doença cardiovascular. Amostras de algumas localidades brasileiras apontam que a prevalência do sedentarismo no tempo de lazer em adultos é em torno de 70% (Bloch, 1998). Recentes resultados da Pesquisa sobre Padrão de Vida (IBGE, 1998) mostram que 80,8% dos indivíduos investigados não praticam exercício semanalmente. Mello et al. (1998) encontraram uma prevalência de sedentarismo de 68,7% em uma amostra aleatória de paulistanos, embora não tenham apresentado o critério para sedentarismo. Em uma amostra do Rio Grande do Sul, Piccini & Victora (1994) relataram que 55,8% dos participantes de 20 a 69 anos de idade não praticaram nenhum tipo de atividade física regular no ano anterior ao estudo. Poucos estudos sobre o nível de atividade física foram encontrados com amostras de crianças e adolescentes brasileiros (Nahas et al., 1995; Maitino, 1997; Andrade et al., 1998; Matsudo et al., 1998). Maitino (1997), estudando escolares de 10 a 17 anos de idade da periferia de Bauru, São Paulo, relatou que 42% dos investigados eram classificados como sedentários valendo-se de seus resultados no teste de corrida de 12 minutos (categorias muito fraca e fraca). A categorização do nível de atividade física por resultados em teste de aptidão cárdio-respiratória traz limitações, pois a performance é influenciada pelo estágio de maturação sexual, motivação, habilidade no teste e ainda pelas condições para o teste, conforme discutido por Fox & Biddle (1988). Além disso, baixos coeficientes de correlação são encontrados entre a aptidão cárdio-respiratória (medição pelo teste de 12 minutos) e os instrumentos de medição da atividade física (Morrow & Freedson, 1994). Nahas et al. (1995), em avaliação preliminar a um programa de atividade física e saúde na escola, encontraram aproximadamente 10% de alunos sedentários, usando o questionário de Pate. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 106 Já Matsudo et al. (1998) e Andrade et al. (1998) determinaram o nível de atividade física pelo nível comparado de atividade física (do inglês activity rating) no qual o indivíduo compara o seu nível de atividade física habitual ao nível de outras pessoas da mesma idade e sexo. Dessa forma, os indivíduos são classificados como menos ativos, igualmente ativos, ou mais ativos que seus pares. Matsudo et al. (1998) encontraram 9% dos meninos e 12% das meninas com níveis de atividade menores que seus pares, enquanto Andrade et al. (1998) relataram que 12% das meninas de classe social baixa e 20% das de classe social alta eram menos ativas. Esses achados são de difícil interpretação, na medida em que se desconhece o nível de atividade física ao qual o adolescentes está se comparando. Nenhum outro estudo que apresentasse níveis de atividade física expressos por gasto energético ou índices/escores com base em atividades físicas realizadas regularmente foi encontrado em adolescentes brasileiros. Assim sendo, o objetivo do presente trabalho é apresentar os níveis de atividade física de uma amostra de adolescentes da rede publica de ensino do Município de Niterói, Rio de Janeiro, em função de suas atividades físicas habituais. Metodologia Trinta e duas das 71 escolas do sistema público de ensino de Niterói possuíam turmas de 8a série na época do estudo (1997-98). Dezesseis escolas foram incluídas segundo a sua localização nas regiões administrativas, com o intuito de se produzir uma amostra similar à proporção de adolescentes de 10-19 anos do Censo Demográfico de 1991 nessas regiões (PMN/CECITEC, 1996; Tabela 1). A participação no estudo se deu pelo voluntariado de alunos de 14 e 15 anos de idade. Dessa forma, 325 alunos (123 meninos e 202 meninas) foram incluídos, representando entre 1,4% e 2,5% da população estimada em 1997 para essas faixas etárias por sexo (DATASUS, 1998). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 107 O nível de atividade física regular foi avaliado através do questionário de atividade física para crianças (PAQ-C) (Crocker et al., 1997), que foi traduzido e modificado apenas para excluir atividades físicas e esportivas não praticadas no Brasil. Em suma, esse questionário investiga o nível de atividade física moderada e intensa de crianças e adolescentes nos sete dias anteriores ao preenchimento do questionário. Contudo, o PAQ-C tem a limitação de não discriminar a intensidade, freqüência e duração das atividades e de não estimar o gasto calórico do período (Crocker et al., 1997). O questionário é composto de nove questões sobre a prática de esportes e jogos; as atividades físicas na escola e no tempo de lazer, incluindo o final de semana. Cada questão tem valor de 1 a 5 e o escore final é obtido pela média das questões, representando o intervalo de muito sedentário (1) a muito ativo (5). Os escores 2, 3 e 4 indicam as categorias sedentário, moderadamente ativo e ativo, respectivamente. Sendo assim, a partir do escore pode-se classificar os indivíduos como ativos ou sedentários. Ativos são aqueles que têm escore 3 enquanto sedentários são os indivíduos com escores < 3. O PAQ-C também inclui perguntas sobre o nível comparado de atividade, sobre a média diária do tempo de assistência à televisão (também indica tempo em atividade sedentária), e sobre a presença de alguma doença que impedisse a atividade física regular na semana avaliada, porém esses dados não entram no cômputo do escore. O preenchimento do questionário pelo aluno leva em torno de vinte minutos. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 108 Crocker et al. (1997) relataram que o PAQ-C apresenta valores de consistência interna entre 0,79 e 0,89 e de fidedignidade de teste-reteste entre 0,75 e 0,82. A validade foi investigada pela correlação do escore do PAQ-C com os resultados do nível comparado de atividade física (r = 0,63), com o questionário de atividade física de Godin e Shephard (r = 0,41), com o acelerômetro Caltrac (r = 0,39) e com um teste de banco para a avaliação da aptidão cárdio-respiratória (r = 0,28). Medidas antropométricas, massa corporal (kg) e estatura (cm), foram realizadas no mesmo dia em que o participante preencheu o questionário. A idade centesimal foi calculada a partir da data de nascimento e da data de medição. O índice de massa corporal (IMC) foi computado utilizando a fórmula: Os dados coletados foram analisados por intermédio de análise de variância para comparações entre sexos. Na comparação entre proporções, utilizou-se o teste do Qui-quadrado. O nível de significância estatística foi estabelecido em 0,05, e as análises foram executadas pelo programa Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 8.0.0 (SPSS Incorporation, 1997). Resultados A Tabela 2 apresenta os dados antropométricos (massa corporal, estatura e IMC), atividade física e horas de assistência à televisão. Não foram observadas diferenças entre sexos na idade, no tempo de assistência à televisão ou no IMC. Os dados de massa corporal e estatura são comparáveis aos valores do estudo de Santo André (Marques et al., 1982), contudo, os meninos dessa amostra tenderam a ser ligeiramente mais altos e pesados. A média de horas de assistência à televisão variou entre 4,4 horas e 4,9 horas por dia (meninos e meninas, respectivamente). Os maiores valores de massa corporal e estatura encontrados em meninos foram estatisticamente significantes (p < 0,01) e esperados para a faixa etária. Os meninos também apresentaram uma maior média no escore do PAQ-C do que as meninas, embora a diferença numérica seja pequena (0,3). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 109 Analisando a lista de atividades esportivas do PAQ-C, a atividade física mais praticada entre os meninos foi o futebol, com 75% do grupo participando. Cinqüenta porcento dos meninos relataram jogar futebol mais de três vezes na semana avaliada. As outras atividades mais praticadas foram trote-corrida moderada (62%) e andar de bicicleta (57%). No sexo feminino, as atividades mais praticadas foram a caminhada e a dança (que também inclui a dança de salão), com 67% e 60% de participação, respectivamente. Pouco mais de 30% das meninas praticaram essas atividades mais de três vezes na semana avaliada. A terceira atividade mais praticada foi andar de bicicleta, com 48%. Utilizando apenas uma das questões do PAC-Q foi possível comparar o nível de atividade física entre os dias de semana e do final de semana. Os adolescentes de ambos os sexos mostraram que praticam em média mais atividade física durante o final de semana em comparação com a média dos outros dias, e as diferenças são estatisticamente significativas (2,7 versus 2,2 e 2,5 versus 2,0, respectivamente para meninos e meninas, p < 0,05). A diferença entre os sexos permaneceu significativa (p < 0,05). O nível comparado de atividade física (comparação da atividade à atividade de indivíduos da mesma idade e sexo) e o nível de atividade física pelo PAQ-C são mostrados na Tabela 3. Aproximadamente 25% dos meninos e 33% das meninas se consideraram menos ativos que seus colegas. Em ambos os sexos, indivíduos que se achavam menos ativos que seus colegas do mesmo sexo e idade demonstraram Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 110 menores níveis de atividade física (p < 0,01). No grupo feminino não houve diferença significativa entre os classificados como igualmente ativos ou mais ativos que suas companheiras. No entanto, no grupo masculino os classificados como mais ativos apresentaram um nível maior de atividade física que os indivíduos igualmente ativos (p < 0,01). A classificação dos níveis de atividade física a partir dos escores do PAQ-C é apresentada na Tabela 4. A distribuição dos adolescentes nos três níveis encontrados na amostra é estatisticamente diferente entre meninos e meninas (2 = 14,64, d.f. = 2, p < 0,01). Uma maior proporção dos meninos é moderadamente ativa enquanto eles também apresentam uma menor proporção de indivíduos muito sedentários. Conforme o critério de sedentarismo pelo escore do PAQ-C (< 3,0), aproximadamente 85% dos adolescentes do sexo masculino e 94% do feminino foram classificados como sedentários. O tempo médio de assistência à televisão foi analisado segundo o nível de atividade pelo escore do PAQ-C (Tabela 5). Mesmo que não tenham sido observadas Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 111 diferenças significativas em nenhum dos sexos, no grupo feminino existe a tendência de diminuição do tempo de assistência à televisão com maiores níveis de atividade física. Discussão As médias dos escores do PAQ-C encontradas na amostra de adolescentes de 14 e 15 anos de idade de Niterói (2,3 e 2,0, respectivamente para meninos e meninas) são mais baixas dos que as médias relatadas por Kowalski et al. (1997) em jovens canadenses ( = 3,2), apesar de a idade daquela amostra ter variado entre 8 e 14 anos. Sabe-se que o maior decréscimo do nível de atividade física ocorre na adolescência, como observado por Kemper (1994). Este achado independe da metodologia utilizada para avaliação do nível de atividade física. A participação em atividades físicas diminui com a idade para todos os tipos de exercício: intenso e moderado, alongamento, e de resistência muscular, assim como a participação em esportes e programas de educação física (CDC, 1996). Logo, uma amostra mais jovem tende a apresentar maiores níveis de atividade física intensa e moderada, atividades que são avaliadas pelo PAQ-C. Por outro lado, os baixos níveis de atividade física (que determinam alta prevalência de sedentarismo) encontrados nesta amostra podem representar menor validade do questionário para a nossa cultura, já que o contexto sócio-cultural influencia a percepção e o hábito da atividade física. Essa hipótese não pode ser descartada, sobretudo pela ausência de dados comparativos para essa faixa etária. No entanto, as diferenças encontradas entre os níveis de atividade física, consoante as Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 112 categorias do nível comparado de atividade física, indicam que a utilização do questionário de Crocker et al. (1997) manteve seu poder discriminatório quanto à atividade física regular dos adolescentes estudados (Tabela 3). Esse poder discriminatório é ainda demonstrado pelo coeficiente de correlação de Spearman entre os níveis de atividade física e os níveis comparados de atividade física. Nesta amostra, o coeficiente é de 0,41 (p < 0,001); valor mais baixo, mas comparável ao de 0,63 relatado por Kowalski et al. (1997). De qualquer forma, estudos que utilizem medidas diretas da atividade física, como a do acelerômetro Caltrac, são necessários para a validação do instrumento em amostras brasileiras. Apesar das questões de validade do PAQ-C levantadas acima e ainda da composição não aleatória da amostra, a alta prevalência do sedentarismo entre os adolescentes merece atenção. Os níveis de atividade física diminuem da adolescência para a vida adulta (Kemper, 1994). Os coeficientes de correlação entre o nível de atividade física na adolescência e na vida adulta variam de baixos a moderados, mas indicam que indivíduos ativos quando jovens tendem a ser ativos na vida adulta (Malina, 1993; Raitakari et al., 1994; Mechelen & Kemper, 1995). Uma vez que os adolescentes da amostra praticam pouca atividade física, há maior probabilidade de permanecerem sedentários na vida adulta, não usufruindo assim dos efeitos benéficos da atividade regular sobre a saúde. Vários estudos sobre os níveis de atividade física em diversas idades mostram que os homens tendem a ser mais ativos do que as mulheres. Sallis (1993) relatou que a diferença entre sexos varia de 15 a 25% na idade escolar. Os resultados desse estudo corroboram os dados encontrados na literatura, em que os meninos mostraram-se mais ativos do que as meninas, com uma diferença de 15%. A atividade física mais praticada entre os adolescentes do sexo masculino foi o futebol, esporte que faz parte da cultura nacional. Entre as meninas a caminhada e a dança foram as atividades mais praticadas. O trote e a bicicleta entre os meninos e a bicicleta entre as meninas também foram bastante praticadas. Outros estudos também mostram que as atividades acima, exceto o futebol, são populares entre adolescentes de diferentes nacionalidades (Ross et al., 1985; Shephard, 1986; Huang, 1994; Myers et al., 1996). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 113 Os adolescentes foram mais ativos nos dias do final de semana em comparação com os dias da semana. Esse maior nível de atividade está relacionado com o maior tempo livre durante o final de semana, possibilitando a utilização desse tempo com atividades físicas. A média de horas de assistência à televisão foi superior aos valores encontrados na literatura internacional e brasileira. Pate et al. (1994) relataram que a média para os Estados Unidos é de 2 a 3 horas diárias. Meninos e meninas canadenses apresentaram valores de 2,3 h/dia e 2,1 h/dia, respectivamente (Kartzmarzyk et al., 1998). Os dados com amostras do Estado de São Paulo mostram que a média varia entre 3,6 h/dia e 3,9 h/dia entre meninos e meninas com média de idade de 13 anos (Andrade et al., 1996). Matsudo et al. (1997) mostraram média de 4,2 h de TV/dia para meninos de classe baixa de São Paulo, o que é comparável às médias obtidas no presente estudo. Os adolescentes da amostra de Niterói são provenientes das escolas da rede pública de ensino e a maioria pertence a famílias de menor poder aquisitivo. Assistir à televisão é um meio de lazer de baixo custo. Além disso, oferece a segurança nem sempre encontrada nas ruas das grandes cidades, onde os adolescentes poderiam praticar atividades físicas. Os ambientes inseguros são uma das barreiras à prática regular (Sallis & Owen, 1999). Conclusão O objetivo desse trabalho foi descrever os níveis de atividade física de adolescentes utilizando-se o PAQ-C. Foram encontrados baixos níveis de atividade física em ambos os sexos, embora os meninos tenham sido, em média, mais ativos que as meninas. A alta prevalência do sedentarismo pode estar relacionada à necessidade de validação do questionário em amostras brasileiras; contudo, a comparação do PAQ-C com o nível comparado de atividade física assim como a correlação entre essas suas variáveis indicam o poder discriminatório do questionário. A falta de dados comparativos é fator limitante nessa questão. Sendo assim, sugerem-se estudos de validação do PAQ-C com metodologia direta. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 114 Outra sugestão é a utilização de amostras representativas da população adolescente, incluindo aí uma faixa etária mais ampla para determinação da atividade física regular, assim como dos fatores que dificultam a sua prática. A promoção de programas de atividade física para adolescentes deve ser enfatizada a fim de aumentar a prática regular, notadamente a prática nos dias de semana, já que nos finais de semana os adolescentes tendem a ser mais ativos. Atividades como o futebol, a caminhada/ corrida e a dança devem ser incluídas, uma vez que são as mais populares entre os jovens, propiciando dessa forma, uma maior aderência aos programas. A promoção da prática regular possibilitará aos indivíduos o usufruto dos benefícios sobre a saúde, tanto a curto como a longo prazo. REFERÊNCIAS ANDRADE, D.; ARAÚJO, T.; FIGUEIRA, A. & MATSUDO, V. K., 1996. Comparison of physical activity involvement in Brazilian teenagers. In: Physical Activity, Sport, and Health (The 1996 International Pre-Olympic Scientific Congress, ed.), p. 99, Dallas: International Council of Sport Science and Physical Education/The Cooper Institute for Aerobic Research. [ Links ] ANDRADE, D.; ARAÚJO, T.; MATSUDO, S. M.; MATSUDO, V. K.; ANDRADE, E.; ROCHA, A. & ANDRADE, R., 1998. Physical activity patterns in female teenagers from different socioeconomic regions. In: Physical Activity and Health: Physiological, Behavioral and Epidemiological Aspects (G. Casagrande & F. Viviani, eds.), pp. 115122, Padova: UNIPRESS. [ Links ] BIJNEN, F.; CASPERSEN, C. & MOSTERD, W., 1994. Physical activity as risk factor for coronary heart disease: A WHO and International Society and Federation of Cardiology position statement. Bulletin of the World Health Organization, 72:1-4. [ Links ] BLOCH, K. V., 1998. Fatores de risco cardiovasculares e para o diabetes mellitus. In: O Adulto Brasileiro e as Doenças da Modernidade: Epidemiologia das Doenças Crônicas Não-transmissíveis (I. Lessa, org.), pp. 43-72, São Paulo: Editora Hucitec/Rio de Janeiro: ABRASCO. [ Links ] CDC (Centers for Disease Control and Prevention), 1996. Youth risk behavior surveillance - United States, 1995. MMWR, 45:1-90. [ Links ] CDC (Centers for Disease Control and Prevention)/ NATIONAL CENTER FOR CHRONIC DISEASE PREVENTION AND HEALTH PROMOTION, 1996. Physical Activity and Health. A Report of the Surgeon General. Atlanta: CDC. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 115 CROCKER, P. R.; BAILEY, D. A.; FAULKNER, R. A.; KOWALSKI, K. C. & McGRATH, R., 1997. Measuring general levels of physical activity: Preliminary evidence for the Physical Activity Questionnaire for Older Children. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29:1344-1349. [ Links ] DATASUS (Departamento de Informática do SUS), 1998. População Estimada de 14 e 15 Anos de Idade em Niterói, Rio de Janeiro - 1996. 13 junho 1998 < http://www.datasus.gov.br/cgi/ibge/pop map.htm>. [ Links ] FLETCHER, G. F.; BLAIR, S. N.; BLUMENTHAL, J.; CASPERSEN, C.; CHAITMAN, B.; EPSTEIN, S.; FALLS, H.; SIVARAJAN, E. S.; FROELICHER, V. F. & PINA, I. L., 1992. Statement on exercise. Benefits and recommendations for physical activity programs for all americans. Circulation, 86:341-344. [ Links ] FOX, K. R. & BIDDLE, S. J., 1988. The use of fitness tests. Educational and psychological considerations. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 59:47-53. [ Links ] HUANG, Y.-C., 1994. Relationship of Sociodemographic and Physical Activity Variables to Physical Fitness of Taiwanese Junior High School Students. Ph.D. Thesis, Austin: University of Texas at Austin. [ Links ] IBGE (Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 1998. PPV Aprofunda Investigação de Indicadores Sociais. 22 agosto < http://www.ibge.org/imprensa/noticias/ppv11.htm>. [ Links ] INTERNATIONAL FEDERATION OF SPORTS MEDICINE, 1990. Physical exercise: An important factor for health. Physician and Sports Medicine, 18: 155-156. [ Links ] KARTZMARZYK, P.; MALINA, R.; SONG, T. & BOUCHARD, C., 1998. Television viewing, physical activity, and health-related fitness of youth in the Québec Family Study. Journal of Adolescent Health, 23:318-325. [ Links ] KEMPER, H., 1994. The natural history of physical activity and aerobic fitness in teenagers. In: Advances in Exercise Adherence (R. Dishman, ed.), pp. 293-318, Champaign: Human Kinetics. [ Links ] KOWALSKI, K.; CROCKER, P. & FAULKNER, R., 1997. Validation of the physical activity questionnaire for older children. Pediatric Exercise Science, 9: 174-186. [ Links ] MAITINO, E. M., 1997. Aspectos de risco coronariano em casuística de crianças de escola pública de primeiro grau em Bauru, SP. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 2:37-52. [ Links ] MALINA, R. M., 1993. Longitudinal perspectives on physical fitness during childhood and youth. In: World-wide Variation in Physical Fitness (A. Claessens, J. Lefevre & B. Eynde, eds.), pp. 94-105, Leuven: Katholike Universiteit Leuven. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 116 MARQUES, R. M.; MARCONDES, E.; BERQUÓ, E.; PRANDI, R. & YUNES, J., 1982. Crescimento e Desenvolvimento Pubertário em Crianças e Adolescentes Brasileiros, II - Altura e Peso. São Paulo: Editora Brasileira de Ciências. [ Links ] MATSUDO, S. M.; MATSUDO, V. K.; ANDRADE, D. R. & ROCHA, J. R., 1997. Physical fitness and time spent watching TV in children from low socioeconomic region. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29:S237. [ Links ] MATSUDO, V. K.; MATSUDO, S. M.; ANDRADE, D. R.; ROCHA, A.; ANDRADE, E. & ANDRADE, R., 1998. Level of physical activity in boys and girls from low socioeconomic region. In: Physical Activity and Health: Physiological, Behavioral and Epidemiological Aspects (G. Casagrande & F. Viviani, eds.), pp. 115-122, Padova: UNIPRESS. [ Links ] MECHELEN, W. & KEMPER, H. C. G., 1995. Habitual physical activity in longitudinal perspective. In: The Amsterdam Growth Study. A Longitudinal Analysis of Health, Fitness, and Lifestyle (H. Kemper, ed.), pp. 135-158, Champaign: Human Kinetics. [ Links ] MELLO, M. T.; FERNANDEZ, A. C. & TUFIK, S., 1998. Epidemiological survey of the practice of physical exercise in the general population of São Paulo City - Brazil. Medicine and Science in Sports and Exercise, 30:S11. [ Links ] MORROW, J. R. & FREEDSON, P. S., 1994. Relationship between habitual physical activity and aerobic fitness in adolescents. Pediatric Exercise Science, 6:316-329. [ Links ] MYERS, L.; STRIKMILLER, P. K.; WEBBER, L. S. & BERENSON, G. S., 1996. Physical and sedentary activities in school children grades 5-8: The Bogalusa Heart Study. Medicine and Science in Sports and Exercise, 28:852-859. [ Links ] NAHAS, M. V.; PIRES, M. C.; WALTRICK, A. C. A. & BEM, M. F. L., 1995. Educação para a atividade física e saúde. Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde, 1:5765. [ Links ] PATE, R.; LONG, B. & HEATH, G., 1994. Descriptive epidemiology of physical activity in adolescents. Pediatric Exercise Science, 6:434-447. [ Links ] PATE, R.; PRATT, M.; BLAIR, S.; HASKELL, W.; MACERA, C.; BOUCHARD, C.; BUCHNER, D.; ETTINGER, W.; HEATH, G.; KING, A.; KRISKA, A.; LEON, A.; MARCUS, B.; MORRIS, J.; PAFFENBERGER Jr., R.; PATRICK, K.; POLLOCK, M.; RIPPE, J.; SALLIS, J. & WILMORE, J., 1995. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA, 273:402-407. [ Links ] PICCINI, R. X. & VICTORA, C. G., 1994. Hipertensão arterial sistêmica em área urbana no sul do Brasil: Prevalência e fatores de risco. Revista de Saúde Pública, 28:261-267. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 117 PMN/CECITEC (Prefeitura Municipal de Niterói/Consultoria Especial de Ciência e Tecnologia), 1996. Niterói em Dados. Niterói: PMN. [ Links ] RAITAKARI, O. T.; PORKKA, K. V. K.; TAIMELA, S.; RÄSÄNEN, L. & VIIKARI, J. S. A., 1994. Effects of persistent physical activity and inactivity on coronary risk factors in children and young adults. American Journal of Epidemiology, 140:195-205. [ Links ] ROSS, J. G.; DOTSON, C. O.; GILBERT, G. & KATZ, S. J., 1985. After physical education. Physical activity outside of school physical education programs. Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, 56:77-81. [ Links ] SALLIS, J., 1993. Epidemiology of physical activity and fitness in children and adolescents. Critical Review in Food Science and Nutrition, 33:403-408. [ Links ] SALLIS, J. F. & OWEN, N., 1999. Physical Activity & Behavioral Medicine. Thousand Oaks: Sage Publications. [ Links ] SHEPHARD, R. J., 1986. Fitness of a Nation. Lessons from the Canada Fitness Survey. Basel: Karger. [ Links ] SPSS Incorporation, 1997. Statistical Package for the Social Sciences - SPSS, Version 8.0.0. Chicago: SPSS Incorporation. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 118 Cadernos CEDES versão impressa ISSN 0101-3262 Cad. CEDES v.19 n.48 Campinas ago. 1999 doi: 10.1590/S0101-32621999000100003 INÍCIO E FIM DO SÉCULO XX: maneiras de fazer educação física na escola Tarcísio Mauro Vago* RESUMO Neste texto problematiza-se o enraizamento escolar da educação física, cotejandose dois momentos históricos importantes da educação: um em Minas Gerais (a reforma do ensino de 1906) e o outro no Brasil (os novos ordenamentos legais). Ancorado em procedimentos da história cultural da educação, indica-se que a educação física, no princípio do século XX, foi inicialmente representada como recurso de regeneração da raça e de preparação para o trabalho, contribuindo para o projeto social republicano. Ao final do século, novas maneiras de representar a educação e a sociedade colocam desafios para a permanência da educação física nas práticas escolares, e neste artigo defende-se sua inserção como área do conhecimento responsável pela escolarização da cultura corporal de movimento. Palavras-chave: Educação, escola, ensino, cultura escolar, educação física Aparecimento de uma cultura escolar e enraizamento da educação física A presença da educação física nas práticas escolares, no Brasil, remonta ao século XIX, e desde então ela experimenta um processo permanente de enraizamento escolar. Para discutir o momento inicial desse processo, tomarei como referência a reforma do ensino promovida no estado de Minas Gerais, em 1906 1, que repercutiu e ampliou um movimento de afirmação social da escola, levando à conformação e à organização de uma primeira cultura escolar na capital e em todo o estado de Minas Gerais. Essa nova cultura escolar substituiu paulatinamente o modelo escolar até então existente, baseado em escolas isoladas, de turma única, dirigidas por um professor remunerado pelo Estado ou por particulares, funcionando na sua própria casa, em igrejas ou em sala por ele alugada ou cedida pelos poderes públicos ou mesmo por Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 119 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] pessoa física. Com elas, não se pretendia mais que instruir as crianças pobres nas primeiras letras e nas quatro operações - ler, escrever e contar constituíam suas únicas finalidades. Nelas, a cultura escolar confundia-se com a cultura da população, e o conhecimento escolarizado era o conhecimento do próprio mestre, sem ambições de mudar hábitos, comportamentos e valores das crianças. 2 De fato, os muitos problemas vividos nas décadas seguintes à Proclamação da República fortaleceram a crença de intelectuais e políticos republicanos mineiros de que a construção de uma nação e um Estado prósperos dependia, em grande parte, da tríade "educação intellectual, moral e physica" do povo. As escolas isoladas foram criticadas como inoperantes, precárias, regidas por mestres ignorantes; sem controle do Estado, não estariam em condições de realizar essa tríade. Elas deveriam ser uma "excepção condenada ao desaparecimento". 3 Um novo modelo escolar deveria então ser implantado, com o qual pretendia-se muito mais que apenas instruir as crianças: era preciso educá-las nas boas maneiras e dar-lhes uma profissão. À escola, agora, caberia a missão de operar "uma verdadeira revolução nos costumes, sob o ponto de vista moral, attingindo os beneficios della a propria vida economica", pois, "teremos em vez de um exercito de analphabetos a povoarem as officinas, um pessoal operario sufficientemente preparado para exercitar os seus misteres com intelligencia e aptidão". Desejava-se que esse operariado alfabetizado oferecesse "garantias de economia e incremento" à indústria que se tentava organizar em Minas e no país.4 A escola, então, provocaria nas crianças uma mudança de sensibilidade, de linguagem, de comportamentos e mesmo de perspectivas pessoais. Ora, essa é uma nova representação que vai sendo consolidada em torno do lugar da escola nas práticas sociais. De fato, nesse momento, a escola é considerada um instrumento central para a superação da grave crise que o regime republicano experimentava e da qual Minas Gerais não escapara. A inserção do Brasil e do estado de Minas em um mundo moderno, que se tornava complexo e se industrializava, dependeria de instruir e educar o povo, tido e havido por analfabeto, doente e despreparado para as novas formas de trabalho industrial, organizado sob a lógica capitalista de produção. A afirmação dessa nova representação sobre a escola significou, ao mesmo tempo, uma tentativa de desqualificar ou, ainda, de subestimar o conhecimento e o saber de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 120 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] que as crianças eram portadoras, aprendidos em práticas culturais realizadas em outros tempos e espaços sociais, como a casa, a rua, a relação precoce com pequenos trabalhos. Com efeito, esse saber não interessava à escola e deveria ser substituído. Ela mesma seria o locus do saber legitimado e autorizado como necessário à prosperidade da nação, em face dos desafios postos pela complexidade social. Com essa reforma, o sistema público de educação primária de Minas Gerais experimenta então um processo de racionalização que visava dar conta de suas tarefas cada vez mais amplas e complexas, tendo "como finalidade última racionalizar o conjunto do social" (Faria Filho 1995, p. 96). O advento desse novo molde escolar tem em vista responder à expectativa de formar aqueles que seriam os cidadãos republicanos - civilizados, de maneiras amaciadas, disciplinados, sadios e trabalhadores ordeiros -, que assim poderiam contribuir para o desejado progresso social. No cerne, como alvo para o qual convergiriam os dispositivos dessa nova cultura escolar, estava o corpo das crianças: a organização da cultura escolar deveria cultivar um corpo belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, racional, em contraposição àquele considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso. Para essa "educação physica" das crianças, em sentido alargado, muitos dispositivos foram mobilizados. O primeiro deles foi a construção de prédios próprios para as escolas, imponentes, majestosos, higiênicos e assépticos — os grupos escolares, considerados templos do saber. Com tais monumentos e a organização de sua cultura, a escola passava gradativamente "dos pardieiros aos Palácios".5 Na cultura escolar que se afirmava, pretendia-se que o cultivo do corpo começasse já na arquitetura do prédio: os espaços deveriam ser eles mesmos educativos.6 Nesses templos, haveria uma organização minuciosa dos tempos 7 como garantia para a realização de vasto programa escolar capaz daquela "revolução de costumes". Os grupos escolares seriam providos de "livros didacticos, mobilia e todo Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 121 o material de ensino pratico e intuitivo", dispositivos constitutivos de uma cultura escolar até então inusitada. A propósito do programa para o ensino primário, dele faziam parte as cadeiras de "Leitura, Escripta, Lingua Patria, Arithmetica, Geographia, Historia do Brasil, Instrucção Moral e Civica, Geometria e Desenho, Historia Natural, Physica e Hygiene, Trabalhos Manuaes e Exercicios Physicos". Esses eram os saberes que aquela cultura escolar que se afirmava estava autorizada a praticar. De várias maneiras busca-se implantar uma racionalidade no corpo das crianças, para atingir o objetivo desejado de transmutar crianças indigentes em cidadãos republicanos. Um exemplo é a cadeira de "Hygiene". Para a execução de seu programa, o professorado era instruído a dar noções gerais que facilitassem "aos alumnos o conhecimento do corpo humano", aproveitando tudo que pudesse para "ministrar-lhes noções precisas para a conservação da saúde e seu bem estar physico, ensinando-lhes cuidar da sua própria pessoa". Dentre os temas previstos constavam tópicos como a necessidade do banho e do asseio do vestuário; necessidade da boa mastigação e regularidade das refeições; cuidados com os dentes, com os cabelos e as mãos; nutrição e respiração; asseio do corpo; saneamento das casas; alimentação, vestuário e higiene da habitação; efeitos do fumo e do álcool no organismo humano. A imposição do ensino da letra vertical à criança, na cadeira de "Escripta", com a qual pretendia-se educar as suas mãos, é outro exemplo. Esse tipo de letra foi considerado "facil, rapido, economico e hygienico", sendo que, para aprendê-la, os alunos deveriam ficar na seguinte posição: tronco erecto com o peito de frente para a carteira, sem tocal-a, e os pés bem assentados no soalho. — O assento deve ter altura de modo que ambos os antebraços fiquem em nivel, descançando metade do comprimento delles sobre a carteira. — O papel será collocado em posição vertical, formando angulo recto com a borda da carteira. Para educar as mãos, existia ainda a cadeira de "Trabalhos Manuaes", e nesse exemplo a seguir podem ser observadas significativas diferenças no tratamento Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 122 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] dado ao corpo dos meninos e ao corpo das meninas. Elas deveriam ser acostumadas "desde o primeiro dia, com os utensilios do trabalho domestico, ensinando-lhes sómente o que for util e pratico", ao passo que os meninos deveriam ser habituados "ao exercicio do trabalho methodico, familiarizando-os ainda com peças e instrumentos de que tenham de fazer uso". A cadeira de "Exercicios Physicos" foi mais um dos dispositivos para o cultivo do corpo na escola, isto é, para uma ampla e profunda "educação physica" das crianças. Com efeito, foi nessa cultura escolar que essa cadeira foi inserida pela primeira vez nos programas de ensino primário, em Minas Gerais - era o momento inicial de seu enraizamento escolar. A reforma de 1906 realmente obrigou a presença dos "Exercicios Physicos" no programa. Ela prescrevia: "Não se descuide desta parte da educação das creanças na escola". Passa a circular a representação de que a inserção dessa cadeira no programa da escola primária era necessária porque de tais exercícios dependia "o desenvolvimento physico dos futuros cidadãos". Observe-se que uma preocupação com o aperfeiçoamento e o fortalecimento físico racional e sistemático ficava evidente. Há, ainda, uma outra consideração de central importância: a de que muitas daquelas crianças não teriam "em suas casas os meios e a occasião dos exercícios que a escola lhes pode proporcionar". Afirmava-se assim a escola como o lugar por excelência para a realização das práticas corporais que concorreriam para o desenvolvimento físico das crianças. Somente a escola poderia lhes proporcionar tal desenvolvimento. Considerou-se que em suas casas, e certamente nas ruas, não havia "os meios e a occasião" para tanto. As práticas corporais que elas realizavam nesses lugares não podiam lhes garantir isso, e daí resulta a defesa de que o Estado deveria regular e manter na escola um programa racional de educação do corpo das crianças No texto da reforma de 1906 há indícios que permitem vincular o enraizamento escolar da cadeira de "Exercicios Physicos" nos programas escolares de Minas Gerais ao debate sobre a formação racial brasileira. Com efeito, naquele período, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 123 várias estratégias são defendidas (muitas postas em prática) para conseguir a desejada regeneração e o aperfeiçoamento da raça, como políticas de saneamento, de combate a epidemias tropicais, de higiene e do desenvolvimento de projetos eugênicos (inclusive a defesa da esterilização dos considerados não-regeneráveis, como os deficientes, loucos, epilépticos, delinqüentes, dentre outros). 8 Ora, se a desejada raça brasileira estava em estado de permanente formação como se acreditava, as estratégias para a sua regeneração deveriam se estender também às escolas, principalmente àquelas freqüentadas por crianças economicamente desfavorecidas. A escolarização dos "Exercicios Physicos", em Minas Gerais, naquele momento deu-se em grande medida sob o primado da regeneração da raça, que circulava no país. Os programas eram distintos para meninos e meninas. Para eles, a prática central eram as variações de marchas militares, que deveriam ser executadas observandose "estrictamente as regras militares." Já para as meninas, prescrevia-se brincar em liberdade no pátio e realizar exercícios de "extensão e flexão de musculos", executados metodicamente "à sombra".9 A diferenciação de práticas corporais para meninos e meninas expressa as representações sobre o corpo masculino e o feminino: para eles, exercícios viris, marchas militares; para elas, a delicadeza de exercícios de extensão e flexão; para ambos, uma educação racional de seus corpos, mas que deveria respeitar as diferenças entre eles. As próprias professoras de cada turma é que assumiriam a responsabilidade pela cadeira de "Exercicios Physicos". Era permitido, no entanto, que um instrutor militar fosse solicitado pela direção dos grupos para se encarregar da parte do programa relativa às evoluções militares para os meninos. Para viabilizar sua inserção no programa, foi prevista nas plantas dos grupos escolares a construção de "galpões que deveriam ser cobertos com telhas, sem forro de taboas e ter o chão ladrilhado ou cimentado sem asperezas". 10 Ou seja, todas as escolas deveriam "dispor sempre de uma área conveniente para recreio e exercicios physicos dos alumnos". Mais tarde, essa área foi planejada para ser Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 124 "nivelada, macadamisada, e, si possivel, asphaltada e coberta", e seria usada para "exercicios gymnasticos e evoluções militares".11 Como o programa, os espaços para a ginástica também eram, nas plantas dos prédios escolares, separados por sexo. Revelava-se a pretensão de que meninos e meninas não participassem juntos das mesmas aulas, o que levaria à "construção escolar das diferenças" (Louro 1997). Interditar legalmente o uso comum dos espaços e a prática dos mesmos exercícios é, de fato, um dispositivo que visava à constituição diferenciada de corpos masculinos e femininos. Resta ver se as crianças não faziam usos não-autorizados dos exercícios e do espaço previsto. Eram reservados 25 minutos diários (inclusive aos sábados) aos "Exercicios Physicos", sempre das 11h50 às 12h15 (o horário de funcionamento dos grupos escolares era, naquele momento, das 10 às 14 horas). Deveriam ser realizadas, portanto, seis lições semanais, que totalizariam 150 minutos, sem alterações para os quatro anos do ensino primário. A sua posição cuidadosamente intercalada às demais cadeiras, ao longo de toda a semana, é reveladora da pretensão de que a cadeira de "Exercicios Physicos" assumisse um caráter de recurso higiênico para combater a fadiga intelectual das crianças e o tédio das práticas escolares vigentes. As seis lições semanais indicam que ela ocupou uma posição de destaque na grade de distribuição de tempo para as cadeiras, sendo menor apenas que o de aritmética, igual ao destinado à leitura e maior que o de todas as demais cadeiras, se tomadas isoladamente (inclusive língua pátria e escrita). Ora, é importante registrar que a legislação que reforma o ensino em Minas autoriza a inclusão dessa cadeira nas práticas dos grupos escolares de maneira central, não secundária.12 Em síntese, o mesmo movimento de constituição de uma nova cultura escolar em Minas Gerais, no início do século XX, promoveu também a escolarização. De fato, a obrigatoriedade de seu ensino, a prescrição de um programa, o objetivo pretendido, a destinação do tempo e a previsão do espaço são indicadores da importância atribuída à cadeira de "Exercícios Physicos". São cuidados como esses que permitem e provocam o seu paulatino enraizamento escolar nas práticas dos grupos escolares em Minas Gerais, nas décadas seguintes à reforma de 1906. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 125 Retomar o momento inicial de enraizamento escolar da educação física em Minas Gerais tem em vista identificar aqui a sua fina sintonia com o projeto de sociedade que se queria implantar. Nesse projeto, os grupos escolares e a cadeira de "Exercicios Physicos" desempenhariam papéis preponderantes na formação dos cidadãos republicanos de corpos limpos e robustos. Era o início do século XX. Do início ao fim do século, um salto no tempo.13 Novos modelos escolares, novas práticas de educação física Inúmeras outras reformas do ensino foram promovidas em Minas Gerais nesses mais de 90 anos que nos separam daquela realizada em 1906. Mas o modelo escolar que foi então estruturado e legitimado manteve algumas de suas características básicas: o conhecimento continuou sendo repartido em disciplinas, dentre as quais algumas permaneceram, outras foram reorganizadas e mudaram de nome, outras foram desaparecendo;14 os tempos escolares permaneceram distribuídos em rígidas grades de horários, com uma visível hierarquia dos saberes escolares; muitos rituais escolares que instituem as relações de poder foram mantidos, ainda que mais sutis e dissimulados; a seriação anual com promoção mediante avaliação quantitativa também atravessou o século. Esses são alguns indicadores da solidez daquele modelo. Há também diferenças importantes, em Minas Gerais, das quais foram destacadas apenas duas para exemplificar: a política de construção de suntuosos prédios para as escolas públicas estaduais há muito desapareceu, e houve uma permanente precarização das condições de trabalho docente (que não se reduz aos aviltantes salários). No entanto, esse modelo escolar vem sendo questionado e novas maneiras de organizar a escola, novas estratégias de conformação do campo escolar estão sendo propostas e realizadas. Não por acaso, desde 1996 novos ordenamentos legais pretendem organizar o campo escolar. No plano nacional, tem-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) - Lei nº 9.394, de 20/12/1996;15 o Ministério da Educação promoveu a elaboração e a distribuição dos chamados Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o ensino fundamental, também em 1996; e em 1998 o Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 126 Nacionais para o ensino fundamental (e também as do ensino médio, que não serão tratadas aqui). A recepção e o uso desses ordenamentos nas práticas escolares certamente não são consensuais; ao contrário, são permeados por tensões e conflitos entre os diferentes (e muitas vezes opostos) interesses de ordens diversas colocados no campo da educação escolar - interesses econômicos, sociais, políticos, culturais. Isso certamente provoca o surgimento de modelos escolares diferentes, com projetos político-pedagógicos que se contrapõem. Aqui, duas perguntas são fundamentais. A primeira delas: se um novo modelo escolar foi instituído na reforma mineira de 1906 para viabilizar um determinado projeto de sociedade, que projeto(s) estaria(m) orientando novas maneiras de organizar a escola, ao final do século XX? E a segunda é derivada da primeira: a educação física permanecerá enraizada na cultura escolar? Quanto à primeira, há, com efeito, confrontos em torno da intervenção da escola nas práticas sociais, isto é, de sua contribuição para este ou aquele projeto de sociedade. Aqui será destacado, de forma sintética, aquele por mim considerado central e decisivo, que opõe dois primados de organização escolar que revelam também o projeto social a que se vinculam. O primeiro tem como orientação básica defender uma fina sintonia entre as práticas escolares e as necessidades e os interesses do "deus-mercado" e sua ordem econômica de matriz capitalista:16 o currículo, para ficar em apenas um exemplo, deve estar estruturado para obedecer às exigências do mercado, incluindo ou retirando disciplinas de acordo com elas. Preparar alunos(as) para sua futura inserção no mundo do trabalho é o propósito (logo, observa-se que é um discurso muito próximo daquele contido na reforma mineira de 1906). Os princípios que regem o mercado - eficácia, rendimento, seleção, resultado - devem também orientar as práticas escolares, habituando e conformando alunos(as) e professores(as) a eles. É o primado de uma "pedagogia da eficiência", a "qualidade total" em educação escolar. Legitima-se o "deus-mercado", agora mundializado, como centro das decisões de todas as naturezas (incluindo a educação escolar), submetendo o Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 127 Estado e as pessoas a seus interesses e a suas necessidades. Há que se considerar as repercussões desse confronto no corpo de crianças, adolescentes e professores(as). Oposto a esse, o segundo primado, ao qual me filio, representa e procura constituir e praticar a escola como lugar de transmissão e produção de cultura, tempo social para uma formação humana ampla, campo de construção de uma cidadania emancipada. Os seres humanos, com suas possibilidades e carências, seus desejos e sonhos, sujeitos produtores de cultura e capazes de intervenção individual e coletiva, é que devem estar no centro das práticas escolares e, assim, do conjunto das práticas sociais (como na definição das políticas econômicas e socioculturais do país). Os interesses em conflito na sociedade estão também presentes na escola. Ora, é justamente isso que a coloca como campo de intervenção social. A cultura escolar intervém em outras práticas culturais da sociedade da mesma forma em que sofre a sua intervenção: há entre as práticas escolares e as demais práticas sociais uma relação de tensão permanente - e não de submissão permanente.17 Certamente a problematização em torno das questões ligadas ao mundo do trabalho e ao próprio mercado é mais que necessária, não como obediência da escola a seus ditames, mas como possibilidade de intervenção social para contribuir em sua transformação. É o primado de uma "qualidade social" em educação 18 filiado a um projeto de sociedade sem relações de dominação de nenhuma natureza (seja de classe, de gênero, de etnia ou de raça, por exemplo). Novas maneiras de organizar a escola (e, nelas, o enraizamento do ensino de educação física) estão sendo instituídas em confrontos como esses. Aqui é fundamental destacar a intervenção possível dos(as) professores(as) nesse processo. Como sujeitos sociais praticantes, eles(as), de fato, participam também da instituição e da consolidação de novas práticas escolares. Podem aderir aos ordenamentos e modelos que estão circulando, como podem contestá-los; podem resistir e criar alternativas para eles, atuando diretamente na conformação de práticas escolares. O professorado não assiste (ou não deve assistir) passivamente à imposição de modelos escolares, que podem ser "recebidos, compreendidos e Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 128 manipulados de diversas maneiras" (Chartier 1995, p. 184); é preciso realçar a "pluralidade dos usos e dos entendimentos" (ibid., p. 184) que o professorado pode fazer deles. Com efeito, "a vontade de inculcação de modelos culturais nunca anula o espaço próprio da sua recepção, do seu uso e da sua interpretação" (ibid., p. 186). Esse espaço é um campo aberto de possibilidades de intervenção por parte do professorado, que, ao contrário de ser subestimado, deve ser ocupado e potencializado. O censo escolar brasileiro de 1998 apontou que se aproxima de 36 milhões o número de alunos e alunas matriculados em escolas de ensino fundamental, dos quais mais de 32 milhões estão em escolas públicas (há ainda quase 7 milhões de matrículas no ensino médio, sendo 5,7 milhões em escolas públicas). Esse dado confirma que, embora não seja o único, a escola é um lugar social privilegiado de (e para a) formação humana. Fazê-la diariamente tempo e lugar de produção de cultura - que problematiza e transforma o conhecimento já construído, produzindo novos conhecimentos; que quer a ciência, mas não abre mão da sabedoria; que é tempo de crítica, fruição, invenção e reinvenção das práticas culturais - é um desafio estimulante. Penso que nossas posições e práticas em relação à escola, e particularmente em relação ao ensino da educação física, devem estar orientadas por essa realidade. É nesse movimento de confrontos e tensões que discutirei a segunda pergunta: a educação física permanecerá enraizada nas novas maneiras de organização escolar que estão sendo praticadas? Depende. A LDB de 1996 estabelece a obrigatoriedade da presença da educação física nas práticas escolares na educação básica (educação infantil, ensino fundamental e médio), facultando sua presença na educação superior e nos cursos noturnos19 (restringir-me-ei ao nível ensino fundamental). Essa lei não definiu critérios para a organização do seu ensino, estabelecendo que a educação física deve estar "integrada à proposta pedagógica da escola", ajustandose às faixas etárias e às condições da população escolar (art. 26).20 Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 129 Sua entrada em vigor possibilitou o aparecimento de maneiras diferentes de realizar o ensino de educação física. A falta de critérios permitiu que se configurasse quase um "vale-tudo" em sua organização escolar. Interesses econômicos têm marcado interpretações da LDB sobre a educação física, sobressaindo-se a idéia de redução de despesas com professores e materiais. Mesmo com dados precários, já é possível dizer que sua presença nas práticas escolares, sobretudo em escolas particulares, tem sido reduzida ao mínimo indispensável para configurar obediência à lei.21 Também é possível, a meu juízo, identificar usos irresponsáveis da lei, como a descaracterização do ensino curricular de educação física, provocando o seu esvaziamento como disciplina do programa, no mesmo patamar que as demais. Exemplo disso é a sua transformação em lugar de treinamento esportivo, com desdobramentos que considero danosos a seu ensino e aos alunos, e por isso merecem atenciosa reflexão. A perda de sua identidade como disciplina curricular isto é, como portadora de um conhecimento a ser oferecido aos alunos - é o principal deles, do qual decorre seu alijamento das discussões que envolvem o conjunto das práticas escolares, que inviabiliza sua participação na formação dos alunos - torna-se um tempo à parte, um apêndice, ou um produto que a escola oferece aos alunos para atraí-los. A educação física continuaria figurando no currículo da escola, mas desfigurada de seu caráter de área do conhecimento. Figurar desfigurada nas práticas escolares traz ainda um dano ao potencial educativo que boa parte do professorado da área vem tentando imprimir ao ensino de educação física, em que prevalecem e são desenvolvidos princípios de respeito à participação de todos, à corporeidade singular dos alunos, à busca do lúdico, por exemplo. É preocupante a desqualificação de uma possível intervenção de caráter amplo e educativo do ensino de educação física sobre todos os(as) alunos(as) em favor de uma intervenção especializada e seletiva do treinamento esportivo na escola, em que se privilegia sobremaneira a seleção por habilidade (e conseqüente exclusão), o rendimento, a competição e o resultado, mesmo em escolas (e ainda mais fora delas).22 Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 130 Radicalizando esse mesmo movimento de descaracterização, há iniciativas no sentido de aceitar que práticas corporais realizadas fora do ambiente escolar (em academias e clubes, por exemplo) sejam consideradas substitutas do ensino de educação física realizado na escola. Nesse caso, as escolas estariam desobrigandose da tarefa de realizar o ensino de educação física, num movimento de terceirização de serviços. Ora, isso seria uma sentença de morte para o caráter educativo da educação física como prática escolar, que no limite provocaria o seu desenraizamento escolar, isto é, sua exclusão do ambiente escolar. Esses usos economicamente interessados e irresponsáveis da lei podem ser analisados à luz dos primados que orientam a organização da escola, antes expostos. Pode-se perceber que eles aderem fortemente ao primado que vincula e submete a escola ao mercado. E aqui há ao menos duas possibilidades de análise. Na primeira, mais afeita às escolas particulares, mas possível também em escolas públicas, a presença (descaracterizada) da educação física está garantida quando a escola, em vez de desenvolver e praticar uma linha de pensamento, oferece aos alunos uma linha de produtos - a educação física é organizada para ser um desses produtos, repartindo-se seu conhecimento em várias modalidades de subprodutos. Na segunda, a presença da educação física não está garantida, podendo mesmo ser excluída (desenraizada) das práticas escolares. Ora, em uma escola que se orienta pelas idéias de eficiência, eficácia, produtividade, utilidade, não há que se perder tempo com o ensino de práticas corporais da cultura, como os esportes, as danças, os jogos, a ginástica. Nada disso interessa quando se quer organizar uma escola na qual o conhecimento que importa transmitir aos alunos é aquele que se considera útil ao ingresso no mercado de trabalho. E, então, o conhecimento oferecido na educação física não teria muito a contribuir, tornando-se assim descartável. Movimento oposto ao que ocorreu nos momentos iniciais de seu enraizamento escolar, na Europa e no Brasil, quando a educação física foi representada como fundamental para a preparação da mão-de-obra para o trabalho (para a sua preparação, manutenção e recuperação física).23 Certamente, iniciativas bem distintas dessa também podem ser citadas. O exemplo da rede pública estadual de Santa Catarina é suficiente: lá, houve aumento da Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 131 participação do ensino de educação física na distribuição dos tempos escolares, passando de duas para três aulas semanais. Embora somente o aumento do número de aulas não seja garantia, ampliou-se a oportunidade de sua intervenção na formação dos alunos. Dois anos depois de promulgada a LDB, o Conselho Nacional de Educação, por intermédio de sua Câmara de Educação Básica, instituiu, em 1998, outro dispositivo legal, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental. 24 Elas contêm um "conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, procedimentos da educação também básica" que são fundamentos e obrigatórias para "fundamentar as práticas pedagógicas das escolas" de ensino fundamental. 25 Problematizar criticamente essas diretrizes pode contribuir para fazer avançar as práticas escolares de educação física, consolidando seu enraizamento escolar. As diretrizes confirmam a obrigatoriedade da educação física na educação básica, estabelecida pela LDB em 1996. O mais importante é que, a meu juízo, não dão margem para a descaracterização da educação física como disciplina escolar. Ao contrário, ela é definida como área do conhecimento26 que integra a Base Comum Nacional do Ensino Fundamental, que as escolas estão obrigadas a contemplar "em sua integridade".27 Creio, pois, que as Diretrizes constituem um contraponto legal aos usos interessados e irresponsáveis do ensino de educação física, praticados sob a LDB, podendo ser uma importante ferramenta contra a desfiguração, o esvaziamento e o desenraizamento escolar da educação física. 28 Minha interpretação é de que para obedecer ao conjunto de definições legais que emergem da LDB e das Diretrizes Curriculares Nacionais, respeitando-o e praticando-o, as escolas de ensino fundamental públicas e particulares, de todo o território nacional, estão obrigadas a incluir o ensino de educação física, oferecendolhe tratamento curricular sob os mesmos critérios respeitados para as demais áreas do conhecimento. Não parece ser outra a exigência da quarta diretriz aprovada: "Em todas as escolas, deverá ser garantida a igualdade de acesso dos alunos a uma Base Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional".29 Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 132 Ora, poderia essa diretriz ser respeitada e praticada com a educação física sendo realizada de maneira descaracterizada, desfigurada, ou terceirizada? Parece-me não haver dúvida quanto à exigência de ela ser tratada como área do conhecimento e, nessa condição, pertence ao ambiente escolar - a escola é o lugar de sua realização. Ademais, a mesma diretriz exige que todas (todas!) as áreas do conhecimento estejam articuladas em torno de um paradigma curricular estabelecido pelo Conselho Nacional de Educação para nortear o ensino fundamental - é o paradigma da "Vida Cidadã", com oito temáticas de referência: saúde, sexualidade, vida familiar e social, meio ambiente, trabalho, ciência e tecnologia, cultura e diferentes linguagens. Na organização e na realização de seu ensino, cada área do conhecimento (e também o diálogo entre elas) deve problematizar esses temas, para que "atendam ao direito de alunos e professores terem acesso a conteúdos mínimos de conhecimentos e valores". Assim também para a educação física. Isso é fundamental, segue prescrito na quarta Diretriz, para "a organização, o desenvolvimento e a avaliação das Propostas Pedagógicas das Escolas", como estabelecido na LDB, às quais a educação física deve estar integrada.30 Para retomar o confronto antes citado, é interessante como nas Diretrizes há uma crítica ao primado de organização escolar submetido aos ditames do mercado e, ao mesmo tempo, uma compreensão da presença da escola nas práticas sociais mais próxima do primado da qualidade social: O modelo que despreza as possibilidades afetivas, lúdicas e estéticas de entender o mundo tornou-se hegemônico, submergindo no utilitarismo que transforma tudo em mercadoria. Em nome da velocidade e do tipo de mercadoria, criaram-se critérios para eleger valores que devem ser aceitos como indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade. O ponto de encontro tem sido a acumulação e não a reflexão e a interação, visando à transformação da vida para melhor. O núcleo da aprendizagem terminaria sendo apenas a criação de rituais de passagem e de hierarquia, contrapondo-se, inclusive, à concepção abrangente de educação explicitada nos arts. 205 e 206 da Constituição Federal. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 133 As Diretrizes Curriculares Nacionais podem constituir uma possibilidade de ampliar o primado da educação voltado para as necessidades dos seres humanos, alargando trilhas que muitos já vinham explorando no ensino de educação física. O paradigma curricular da vida cidadã, que as Diretrizes indicam, certamente deve ser criticamente problematizado, e aqui recoloco perguntas já apresentadas em outro texto:31 O que seria uma "vida cidadã"? Que projeto histórico de organização social propõe condições socioculturais e econômicas para sustentá-la: aquele que se submete às leis do "deus-mercado" ou o que está sensível e aberto às demandas sociais dos seres humanos? Que políticas públicas podem favorecê-la? Quem está de fato interessado em construí-la em nosso país? No espaço próprio de nossa recepção, é fundamental debater perguntas como essas, para atribuir àquele paradigma os sentidos que julgamos necessários para tomá-lo como norteador das nossas práticas escolares. Se no início do século XX a educação física enraizou-se nas escolas de Minas Gerais como recurso higiênico, de regeneração da raça, de preparação para o trabalho, ao final do século e nas circunstâncias colocadas no presente, sua permanência nas práticas escolares ou, ao contrário, o seu desenraizamento estão visceralmente vinculados à idéia de ampliar ou reduzir a escola como lugar de (e para a) cidadania emancipada. Nesse movimento, políticas de educação e de educação física são formuladas, práticas escolares são construídas e realizadas, opções são feitas. Em todas, há possibilidades de intervenção. Então... Creio que em todos esses âmbitos devemos insistir na defesa (e na prática) de um enraizamento escolar da educação física na cultura escolar como uma área do conhecimento responsável pela problematização e pela prática da cultura corporal de movimentos produzida pelos seres humanos - e a escola foi e é um dos lugares dessa produção. No entanto, a cultura corporal não se esgota no já existente, aceito e praticado. E então a educação física pode ser também tempo e lugar de investigação e problematização da história de alunos e alunas encarnados e presentes na escola, que revela o conhecimento sobre as práticas corporais da Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 134 cultura de que são portadores(as); de invenção de outras maneiras de fazer os esportes, as danças, a ginástica, os jogos, as lutas, os brinquedos, as brincadeiras; de questionamento dos padrões éticos e estéticos construídos culturalmente para a realização dessas e de outras práticas corporais; de realização do princípio de que os alunos e as alunas podem (e devem) se colocar à disposição de si mesmos quando partilham, fruem, usufruem, criam e recriam as práticas corporais da cultura; de garantia do direito de todos(as) participarem, sem exclusão por nenhum motivo; de respeito à corporeidade singular a cada um, construída em sua história de vida. Enfim, mais do que nunca, é preciso praticar a educação física como tempo e lugar de afirmar e reafirmar a vida como ato de resistência e de criação. Notas 1. Os ordenamentos legais da reforma do ensino de 1906, promovida pelo governo de João Pinheiro (1906-1910), incluem a Lei nº 439, de 28 de setembro de 1906, o Decreto nº 1.947, de 30 de setembro de 1906, a Lei nº 1.960, de 16 de dezembro de 1906, o Decreto nº 1.969, de 3 de janeiro de 1907, consultados para redigir este texto. 2. Cf. Faria Filho 1996. 3. Cf. Arquivo Público Mineiro. Secretaria do Interior, Relatório do Secretário ao Presidente do Estado, 1907. 4. Relatório de José Rangel, inspetor escolar em Juiz de Fora (MG). Cf. Arquivo Público Mineiro. Secretaria do Interior, Relatórios dos Grupos Escolares, 1907. 5. Esse é o título da tese de doutorado de Luciano Mendes Faria Filho (1996). 6. Cf. mais a respeito em Vinão Frago 1998b. 7. Sobre a distribuição dos tempos escolares, buscou-se organizá-los para não causar fadiga escolar nas crianças, motivo de muitas preocupações na época. Com o desenvolvimento e a difusão de estudos sobre fadiga escolar, apresentados em congressos sobre higiene escolar, em diversos países europeus nas últimas décadas do século XIX, defendeu-se a necessidade de combinar e variar os exercícios de acordo com sua dificuldade, suas características e as faculdades requeridas, não permitindo que o cansaço e o tédio dominassem as crianças (Cf. Viñao Frago 1998a). 8. Cf. Schwarcz 1995. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 135 9. A professora Eustáquia Salvadora de Sousa sintetiza esse programa já no título de sua tese: "Meninos, à marcha! Meninas, à sombra!" (Cf. Sousa 1994). 10. Cf. Arquivo Público Mineiro. Secretaria do Interior. Relatório do Secretário do Interior ao Presidente do Estado, 1909. 11. Arquivo Público Mineiro. Coleção de Leis. Regulamento do Ensino Primário de Minas Gerais, 1911, art. 179. 12. Se é certamente necessário confrontar essa distribuição prevista em lei com a que era realizada nas práticas escolares, de toda forma não parece possível negligenciar a pretensão da lei na conformação do campo escolar, no tocante à cadeira de "Exercicios Physicos". 13. A educação física permaneceu enraizada nas diferentes culturas escolares que foram sendo organizadas desde a reforma de 1906, em Minas Gerais. Mas esse processo de enraizamento escolar não foi homogêneo, e múltiplas foram as representações produzidas acerca de sua intervenção na formação humana, aqui apenas citadas: educação física como domadora de corpos humanos; educação física como produtora de uma raça forte e enérgica; como celeiro de atletas; como terapia psicomotora; como aprendizagem motora; como promotora da saúde; como produtora e veiculadora da cultura corporal de movimentos socialmente criada. Algumas dessas maneiras de representar a educação física foram indicadas inicialmente em outro texto, escrito em parceria com a professora Eustáquia Salvadora de Sousa (cf. Sousa e Vago 1997a e também Vago 1997). Ao indicá-las, registro que considero necessário ampliar estudos que procurem pela materialidade dessas (e de outras) representações nas práticas escolares em instituições distintas, públicas e privadas, em todos os níveis do ensino, em vários estados e municípios. O enraizamento escolar de educação física é resultado do esforço de problematização de seu ensino que os estudantes e o professorado da área vêm realizando, como são indicativas a vasta produção de literatura acerca da educação física na escola; a organização política e científica de estudantes e professores(as); a qualificação acadêmica em programas de especialização, mestrado e doutorado; a publicação de periódicos; a realização de encontros, seminários e congressos, como os promovidos pelo Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE), exemplos de um intenso movimento para problematizar, produzir, ampliar e socializar o conhecimento da área. 14. Do já citado programa de ensino prescrito pela reforma de 1906, tem-se hoje, em Minas Gerais, no ensino fundamental, que as cadeiras de "Leitura" e "Escripta" compõem o chamado Ciclo Básico de Alfabetização; "Lingua Patria" é o português; "Arithmetica" é a matemática, incorporando a "geometria"; "Geographia e Historia do Brasil" permanecem, estando unidas nas séries inicias do ensino fundamental como Estudos Sociais, e separadas nas séries finais; "Historia Natural Physica e Hygiene" transformou-se na disciplina de ciências no ensino fundamental, que se desdobra em física, química e biologia no ensino médio. "Instrucção Moral e Civica", "Trabalhos Manuaes" e "Desenho" desapareceram como disciplinas obrigatórias. E "Exercicios Physicos" é a hoje chamada educação física (em Minas Gerais, essa Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 136 transição na denominação da área ocorreu a partir da reforma do ensino promovida pelo governo do estado, em 1927, consolidando-se na década de 1930). 15. Essa LDB substitui aquela que vigorou por 25 anos, a LDB nº 5.692, de 11/8/1971. 16. O eufemismo "neoliberalismo" é apenas um novo nome para definir o modelo capitalista de produção. 17. Cf. Chervel 1990, Nóvoa 1994, Vago 1996. 18. Os princípios de uma pedagogia de "qualidade social" foram debatidos nos dois Congressos Nacionais de Educação (Coned), realizados em 1996 e 1997, na cidade de Belo Horizonte (MG). O tema central deste último foi "Educação, democracia e qualidade social: Consolidando um Plano Nacional de Educação" (previsto, aliás, pelo art. 214 da Constituição de 1988). Confira o documento contendo as propostas desse II Coned, 1997. 19. Em uma interpretação possível das Diretrizes Curriculares Nacionais aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 1998, pode-se concluir que a Diretriz nº IV permite a reinclusão da educação física nos cursos noturnos de ensino fundamental: ora, se ela prescreve que "em todas as escolas" deve ser garantido aos alunos o acesso a uma Base Nacional Comum, que inclui a educação física, então isso vale também para o ensino noturno. Afinal, não há, nas Diretrizes, discriminação de acesso diferenciado a essa base nacional em virtude do turno em que o aluno estuda: o direito é igual para todos. Do contrário, os alunos que estudam à noite estarão sendo tratados como cidadãos menores, subtraídos em seu direito. 20. Sobre repercussões da LDB nº 9.394/96 no ensino de educação física, cf. Sousa e Vago 1997. 21. Por exemplo, uma interpretação economicamente interessada tem sido usada para inserir a educação física em apenas uma das três etapas da educação básica, argumentando-se que houve cumprimento da lei, que obriga sua presença nesse nível, mas não afirma que isso deve ser em todas as etapas. Isso já ocorre em escolas particulares de Belo Horizonte (MG). 22. Não se trata aqui de ser contra a organização de práticas esportivas no ambiente escolar. Na escola em que atuo há um projeto intitulado "Esporte na escola", aberto à participação de todos os interessados, sem obrigatoriedade, sem seleção por nenhum critério e realizado em tempos escolares próprios, diferentes dos tempos destinados ao ensino de educação física. O problema está na confusão entre ensino de educação física e treinamento esportivo, cujos princípios penso serem diferentes; exatamente por isso, não posso concordar com a simples substituição do primeiro pelo segundo. 23. Cf. Castellani Filho 1988, Soares 1990. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 137 24. Parecer nº 4, de 29/1/1998, e Resolução nº 2, de 7 de abril de 1998, que instituem as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, aprovadas pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. 25. Sobre as repercussões das Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental, estabelecidas em 1998 pelo Conselho Nacional de Educação, no ensino de educação física, cf. Sousa e Vago 1999. 26. Considero essa definição um avanço, porque, ao colocá-la na condição de área do conhecimento como as demais, o Conselho Nacional de Educação reconhece que a educação física tem um objeto de estudo e um conhecimento escolar próprio formulado ao redor desse objeto, alicerce de seu ensino na escola. Nas diretrizes consta que as áreas do conhecimento possuem conteúdos mínimos que se referem "às noções e conceitos essenciais sobre fenômenos, processos, sistemas e operações, que contribuem para a constituição de saberes, conhecimentos, valores e práticas sociais indispensáveis ao exercício de uma vida de cidadania plena". E assim deve ser com o conhecimento oferecido pela educação física. E ainda consta que os conteúdos mínimos de cada área já haviam sido divulgados inicialmente nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCNs específicos para a educação física estão circulando pelo Brasil em dois volumes publicados pelo MEC, um para as séries iniciais e outro para as séries finais do ensino fundamental. Para uma crítica dos PCNs de educação física, cf. CBCE 1997. Sua permanência no currículo do ensino fundamental foi tomada como reconhecimento de sua contribuição na formação humana dos alunos. 27. A quarta diretriz prescreve: "IV - Em todas as escolas, deverá ser garantida a igualdade de acesso dos alunos a uma Base Nacional Comum, de maneira a legitimar a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional; a Base Comum Nacional e sua Parte Diversificada deverão integrar-se em torno do paradigma curricular, que visa estabelecer a relação entre a Educação Fundamental e: a) a Vida Cidadã, através da articulação entre vários dos seus aspectos como 1. a saúde; 2. a sexualidade; 3. a vida familiar e social; 4. o meio ambiente; 5. o trabalho; 6. a ciência e a tecnologia; 7. a cultura; 8. as linguagens; e b) as Áreas do Conhecimento de: 1. Língua Portuguesa; 2. Língua Materna (para populações indígenas e migrantes); 3. Matemática; 4. Ciências; 5. Geografia; 6. História; 7. Língua Estrangeira; 8. Educação Artística; 9. Educação Física; 10. Educação Religiosa (na forma do art. 33 da LDB)." 28. Não estou aqui fazendo um discurso legalista em defesa da educação física, tampouco alimento ilusões de que basta ter uma lei para que a educação física esteja presente nas práticas escolares. No entanto, trato as leis como estratégias de conformação do campo escolar, e problematizá-las para identificar espaços de intervenção é uma tática que considero importante. Mas isso é apenas o começo. Nosso mais importante discurso é realizado nas e com as práticas escolares de educação física, no chão da escola. 29. Penso que essa mesma diretriz nº IV pode constituir base legal para a reinclusão da educação física nos cursos noturnos de ensino fundamental: ora, se ela prescreve que "em todas as escolas" deve ser garantido aos alunos o acesso a uma Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 138 Base Nacional Comum, que inclui a educação física, então isso vale também para o ensino noturno. 30. Nas Diretrizes faz-se referência explícita aos arts. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 e 33 da LDB. Recorde-se que é no art. 26 que está a exigência de obrigatoriedade da educação física na educação básica. 31. Cf. Sousa e Vago 1999. School roots of Physical Education ABSTRACT: This paper problematizes school roots of Physical Education contrasting two important historical events in education: educational reform in Minas Gerais in 1906 and the new legal regulations in Brasil. Deriving its procedures from cultural history of education, it shows that Physical Education in the beginning of the 20 th century was at first represented as a means of regenerating the race and preparing for work, cooperating, thus, on the republican social project. At the end of the century, new views on education and society challenge the continuance of Physical Education in school practices. This paper suggests that it is responsible for developing body movement culture. Bibliografia ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. Secretaria do Interior (1900-1912). Relatórios do Secretário ao Presidente do Estado. [ Links ] _______. Secretaria do Interior. Relatórios dos Grupos Escolares, SI 2829, 4ª Seção, 1907. [ Links ] _______. Coleção de Leis e Decretos. Regulamento do Ensino Primário de Minas Gerais, 1911. [ Links ] BRACHT, Valter. "Educação física: Conhecimento e especificidade". In: SOUSA, Eustáquia S. e VAGO, Tarcísio M. (orgs.). Trilhas e partilhas: Educação física na cultura escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Cultura, 1997. [ Links ] CAPARROZ, Francisco E. Entre a educação física da escola e a educação física na escola: A educação física como componente curricular. Vitória: Ufes, Centro de Educação Física e Desportos, 1997. [ Links ] CASTELLANI FILHO, Lino. Educação física no Brasil: A história que não se conta. Campinas: Papirus, 1988. [ Links ] CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. Petrópolis: Vozes, 1994. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 139 CHARTIER, Roger. A história cultural; entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. [ Links ] _______. "A história hoje: Dúvidas, desafios, propostas". Estudos Históricos, v. 7, no 13, Rio de Janeiro: FGV/CPDOC, 1994. [ Links ] CHERVEL, André. "História das disciplinas escolares: Reflexões sobre um campo de pesquisa". Teoria e Educação, no 2. Porto Alegre: Pannonica, 1990. [ Links ] CONEd. CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (II). "Educação, democracia e qualidade social: Consolidando um Plano Nacional de Educação". Belo Horizonte: APUBH, 1997. [ Links ] ESCOLANO, Augustín. "Arquitetura como programa: Espaço-escola e currículo". In: ESCOLANO, Augustín e VINÃO FRAGO, Antonio, Currículo, espaço e subjetividade: A arquitetura como programa. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. [ Links ] FARIA FILHO, Luciano Mendes de. "Conhecimento e cultura na escola: Uma abordagem histórica". In: DAYRELL, Juarez. Múltiplos olhares sobre educação e cultura. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 1995. [ Links ] _______. "Dos pardieiros aos palácios: Forma e cultura escolares em Belo Horizonte -1906/1918". Tese de doutorado em educação. São Paulo: FE/USP, 1996. (Digit.) [ Links ] FORQUIN, Jean-Claude. "Saberes escolares, imperativos didáticos e dinâmicas sociais". Teoria e Educação, no 5. Porto Alegre: Pannonica, 1992. [ Links ] LINHALES, Meily Assbú. "Políticas públicas para o esporte no Brasil: Interesses e necessidades". In: SOUSA, Eustáquia S. e VAGO, Tarcísio M. (orgs.), Trilhas e partilhas: Educação física na cultura escolar e nas práticas sociais. Belo Horizonte: Cultura, 1997. [ Links ] LOURO, Guacira L. Gênero, sexualidade e educação; uma perspectiva pósestruturalista. Petrópolis: Vozes, 1997. [ Links ] NÓVOA, António. "História da educação: Perspectivas atuais". 1994. (Mimeo.) [ Links ] SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: Cientistas, instituições e questão racial no Brasil - 1870-1930. São Paulo: Cia. das Letras, 1993. [ Links ] SOARES, Carmen Lucia. Educação Física: Raízes européias e Brasil. São Paulo: Autores Associados, 1994. [ Links ] SOUSA, Eustáquia Salvadora de. "Meninos, à marcha! Meninas, à sombra! A história da educação física em Belo Horizonte - 1897/1994". Tese de doutorado em educação. Campinas: FE/Unicamp, 1994. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 140 SOUSA, Eustáquia Salvadora e VAGO, Tarcísio Mauro. "O ensino de educação física em face da nova LDB". In: Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (org.). Educação física escolar frente à LDB e aos PCNs: Profissionais analisam renovações, modismos e interesses. Ijuí: Sedigraf, 1997. [ Links ] _______. "A educação física e as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental". Revista Presença Pedagógica, no 26. Belo Horizonte: Dimensão, 1999. [ Links ] VAGO, Tarcísio Mauro. "O 'esporte na escola' e o 'esporte da escola': Da negação radical para uma relação de tensão permanente. Um diálogo com Valter Bracht". Revista Movimento, ano III, no 5. Porto Alegre: Escola Superior de Educação Física, UFRGS, 1996. [ Links ] _______. "Rumos da educação física escolar: O que foi, o que é, o que poderia ser". In: Anais do II Encontro Fluminense de Educação Física Escolar. Niterói: Depto. de Educação Física e Desportos, Universidade Federal Fluminense, 1997. [ Links ] VIÑAO FRAGO, Antonio. Tiempos escolares, tiempos sociales. La distribución del tiempo y del trabajo en la enseñanza primaria en España (1838-1936). Barcelona: Anil, 1998a. [ Links ] _______. "Do espaço escolar e da escola como lugar: Propostas e questões". In: ESCOLANO, Augustín e VINÃO FRAGO, Antonio, Currículo, espaço e subjetividade: A arquitetura como programa. Trad. Alfredo Veiga-Neto. Rio de Janeiro: DP&A, 1998b. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 141 MÍDIA, CULTURA CORPORAL E INCLUSÃO: conteúdos da educação física escolar Cristina Borges de Oliveira RESUMO O presente texto pretende refletir sobre a Cultura Corporal e suas diferentes formas de manifestações e a ligação existente entre a educação física (EF) e a mídia. Adotamos como eixo norteador de discussão alguns elementos referentes ao papel da industria cultural e seus desdobramentos na EF o que vem interferir diretamente na práxis do educador dentro da área acadêmica em que atua. Dessa forma nosso objetivo, sem pretender esgotar o tema, é discorrer acerca das imbricações estabelecidas entre a Cultura corporal e suas distintas manifestações enquanto conteúdos válidos da área acadêmica EF e a mídia, destacando a perspectiva da celebração das diferenças e inclusão da diversidade humana. Neste sentido, esta perspectiva contempla as pessoas e grupos marginalizados como: homossexuais, deficientes, negros, pessoas portadoras de doenças degenerativas HIV, entre outros grupos, enquanto uma preocupação da Educação Física. Unitermos: Cultura Corporal. Mídia. Inclusão. Educação Física Escolar. Agosto de 2004! Ano de Olimpíadas e ParaOlimpíadas! O mundo inteiro se rende aos encantos e magia da dança de abertura, dos diferentes esportes, das ginásticas, das lutas, dos rompimentos de tempo, espaço, superação de limites. Verificamos também o enaltecimento de algumas modalidades e a não priorização de outras. A poderosa mídia tem grande parcela de responsabilidade nesse fato uma vez que por traz do momento mágico olímpico estão as redes midiáticas e seus patrocinadores exigindo reformas arquitetônicas, ditando regras, impondo horários, vestimenta, número de entrevistas dos atletas e a vitória a qualquer custo daqueles em quem investem. Mas o que se observa claramente é a tendência do ser humano em criar heróis, endeusar pessoas, mitificar nomes. Qual o papel da mídia nessa tarefa de criar e ditar padrões e modos de pensar, sentir e agir em variados níveis? Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 142 Recorro aqui a Ianni (1999), ao entender que na era da globalização, a rede midiática representa a articulação entre várias instâncias hegemônicas, assumindo o papel de príncipe eletrônico. O príncipe é o arquétipo que possui a capacidade de construir hegemonias, simultaneamente, a organização, consolidação e desenvolvimento de soberanias. Tipo ideal criado por Maquiavel O príncipe deveria ter uma tríplice missão: a) tomar o poder; b) assegurar a estabilidade política; c) construir a República unificada. Maquiavel viu em Lourenço Médici a figura desse príncipe. Deveria ser um herói trágico, impiedoso e astucioso, resoluto e frio, porque esta era a única maneira de controlar a instabilidade política e a perversão dos homens, a fim de que fosse instaurada a cidade justa. (JAPIASSÚ E MARCONDES 1996, pp 173). Como figura política, pessoa, o príncipe assume em Gramsci a identidade do partido político como intelectual orgânico à classe trabalhadora enquanto que atualmente a mídia assume a identidade de príncipe eletrônico - expressando segundo Ianni (1999: 9) "[...] a visão de mundo prevalecente nos blocos de poder predominantes, em escala nacional, regional e mundial, habilmente articuladas". Essas são as armas da globalização e, portanto, o papel da mídia é difundir essa visão em escalas cada vez maiores. Indiscutível é que aliados ou não, mas, - influenciados por uma poderosa mídia - as ginásticas, as danças os jogos, os esportes e as lutas enquanto conhecimento da cultura corporal construído e acumulado pela humanidade apresenta elementos populares históricos, e dessa maneira, se prestam a releituras, manipulações e adaptações regionais, locais, culturais econômicas, que atendam a todos os grupos, inclusive os marginalizados. Portanto, esses temas da cultura corporal - que estão sendo atualmente largamente difundidos pela mídia em função dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 e todo o interesse consumista e de valoração que se atrela ao esporte - se colocam como conteúdos válidos, contemporâneos da área acadêmica Educação Física escolar devendo ser refletidos/discutidos criticamente, sistematizados, apreendidos e, democratizado para o maior número de pessoas sem distinção de raça, orientação sexual, diferença biológica, classe social e religião. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 143 As diferentes e multifacetadas expressões da cultura corporal devem ser tratadas na escola como conteúdo importante, metodologicamente distribuído no tempo e adaptado às condições espaciais e materiais concretas de cada comunidade, e ainda avaliando-se se os conhecimentos referentes aos temas abordados foram realmente apreendidos em suas múltiplas possibilidades, a partir da perspectiva que contempla uma pedagogia crítica, criativa e emancipatória - que aponte os problemas, e coletivamente encontre soluções - construindo, assim, a possibilidade de um conhecimento contextualizado e transformador. Vale a pena destacar que as diferentes mídias se apresentam como importantes veículos de difusão das variadas formas e manifestação da cultura corporal o que não pode ser totalmente desprezado em termos de conhecimento. No entanto, devemos refletir que a industria cultural, as redes midiáticas, servem a interesses que não contemplam somente a perspectiva da transformação social em que estamos empenhados. De acordo com Brach (2003), o que se pode constatar, na disputa entre o impulso globalizante da doutrina neoliberal é o arrefecimento da regionalidade, da celebração e inclusão das diferenças culturais, do resgate histórico de uma comunidade "[...] de políticas cujo o alvo seja o social e presenciamos um deslocamento das atenções públicas para as exigências do mercado que se impõe como um valor quase sagrado, de força absoluta e sobrenatural" (BRACH, 2003, pp. 88). A definição de Inclusão que tem sido perspectivada e propagada nos Documento Oficiais é aquela que compreende - convidar a que se aproximem aqueles que estiveram historicamente excluídos ou deixados de lado -. Esta bem intencionada conceituação/perspectiva pode a princípio parecer um grande avanço, no entanto destacamos uma evidente fragilidade: Quem tem autoridade ou direito de convidar outros? Dialeticamente, quem está promovendo a exclusão? Já é tempo de nós reconhecermos e aceitarmos que, todos nós nascemos dentro de uma dada sociedade/comunidade. O sol brilha pra todos, portanto é complicado apenas convidar outros a se incluírem. Torna-se nossa responsabilidade enquanto sociedade civil mudarmos as atitudes e repensarmos valores a fim de removermos todas as barreiras que sustentam a exclusão de grupos marginalizados, conscientes Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 144 que não temos autoridade para convidar outros a se incluírem. Mas, todos somos responsáveis no processo de solidariedade e luta/pleito organizado em busca dos direitos sociais, culturais, educativos e econômicos, direitos de cidadão/ã brasileiro/a. Então é fundamental que os cursos de formação de professores, instituições de Educação superior e básica, entre outros, venham associar esforços para que se avance no processo de conhecimento da realidade social sob uma ótica crítica e totalizante. Não adianta mais - os profissionais de EF que atuam nas instituições superiores - apenas dominarem o discurso crítico e seus referenciais das ciências humanas e sociais. Faz-se mister interferir no contexto escolar concretamente tendo como ponto de partida os saberes acumulados tanto pelas universidades e seus centros de pesquisa e formação de professores quanto por aqueles professores que se encontram atuando nas redes públicas e privadas, mas que, de certa forma, não tem acesso à universidade. Essa tarefa de ensinar deve ser assumida se entendendo o sujeito do processo educativo aluno/aprendiz, concretamente, a partir de uma ótica totalizante, rompendo com a perspectiva que compreende o sujeito aluno/aprendiz de forma abstrata. É preciso que o conhecimento produzido nas universidades por seus intelectuais ultrapasse o encastelamento em que se encontra e dialogue com as escolas de educação básica e seus professores, para que dessa forma se inicie a diminuição do fosso existente entre universidade e sociedade, teoria e prática, entre a escola do futuro, os alunos do futuro e a realidade atual concreta e as necessidades específicas atuais do processo ensino-aprendizagem. Para tal, é urgente lançar sobre as multifacetas da cultura corporal e seus variados temas e modernizações, outros olhares perspectivando estabelecer inter-relações com o desenvolvimento da sociedade capitalista historicamente construída, ou seja, pensar no contexto amplo onde as relações, educativas, esportivas, sociais, econômicas e culturais ocorrem, onde a mídia e suas distintas formas atuam como formadores de idéias e opiniões influenciando toda uma cultura. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 145 Não podemos apenas reproduzir os modelos ditados pela mídia que advoga, equivocadamente, que o esporte de alto rendimento é sinônimo de Educação Física correspondendo assim a todos os conteúdos que compõe a Cultura Corporal. Vale a pena aqui destacar Brach (2003, p. 88) quando aponta que: "As relações entre educação física e esporte são geradoras de tensões já que se constituem em dois universos simbólicos, distintos, nem sempre compatíveis". Contextualizar os temas da cultura corporal enquanto conteúdo válido e fundamentalmente necessário para a formação do indivíduo nos obriga, também, destacar à sua atualidade expressa nas inúmeras variações que atendem a objetivos diversos, diferentes pessoas em distintos ambientes considerando a inegável quantidade de praticantes. Por sua vez, - as temáticas recorrentes da cultura corporal - devem ser tratados na escola como conteúdos curriculares e não puramente enquanto atividades práticas sem nenhum tipo de reflexão requerendo uma metodologia motivadora e criativa ao contrário do modelo punitivo como tradicionalmente é desenvolvido quando surgem apenas como reflexo da esportivização excessiva da Educação Física. Desmistificar a utilização de tais temas ginástica, esportes individuais e coletivos, dança, lutas e enfim suas variações mais modernas, adaptando o conhecimento à realidade local, social, econômica, individual e coletiva, aponta para uma possibilidade contra-hegemônica em torno da temática Cultura Corporal e seus distintos temas enquanto conhecimento válido e coerente da Educação Física escolar, evidenciando o sentido e o significado de objetivar a conquista de um trabalho educativo de qualidade social que inclua a diversidade humana celebrando suas diferenças e democratizando o conhecimento. Importante entender porque as modernas variações de distintos temas da cultura corporal podem ou devem ser praticados somente em espaços requintados, seletivos, envoltos em uma áurea de sofisticação que torna tal prática como privilegio de poucos e, sendo, os conteúdos tratados de forma a-crítica e descontextualizada da realidade, praticados por corpos aparentemente saudáveis, eficientes e normais onde se exclui a diferença e a diversidade humana. Importante Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 146 também identificar o caráter excludente que tais temas podem exercer dependendo da perspectiva em que se trabalha. Por que não investir na Educação Física escolar sem a pretensão de formar atletas, mas de possibilitar para muitos alunos/aprendizes o conhecimento de diferentes temáticas da Cultura corporal apresentando seus limites e possibilidades, a sua contemporaneidade enquanto conteúdo eminentemente válido, contextual, portanto, que deve estar presente nas propostas curricular da Educação Física Escolar. REFERENCIAS BRACH, V. & ALMEIDA, F. Q de. Política de Esporte Escolar no Brasil: A pseudovalorização da Educação Física. In Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas/SP, v. 24, n.3, maio 2003. pp 87-101. GRAMSCI, A. Concepção dialética da história. Rio de janeiro/RJ: Civilização Brasileira. 1995 10a ed. IANNI, O. O príncipe eletrônico. In: Revista Cultura Vozes, São Paulo/SP, 1999, pp. 05-29. JAPIASSÚ H. & M. DANILO. Dicionário Básico de Filosofia. 3a. ed revista ampliada. Jorge Zahar. RJ 1996. OLIVEIRA, C. B. Semana de Ginástica: um olhar superador. In Revista Pensar a Prática 2, n. 1e 2, FEF/UFG Goiânia, jun/jun 1998/1999. pp 179-186 ______. Aproximações exploratórias sobre educação, educação física e sociedade: adversidades de um currículo. In Revista Pensar a Prática vol.4, FEF/UGF, jul/jun. 2000/2001. pp 99-114 ______. Inclusão educacional: intenções de um projeto em curso. In: Revista Brasileira de Ciências do Esporte, vol.23, no. 02 Campinas/SP, 2002, pp. 31-42. ______.Políticas Educacionais Inclusivas para criança deficiente: Concepções e veiculações no Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. 1978/1999. Faculdade de Educação Física - Universidade Estadual de Campinas/SP -UNICAMP, 2003 (Dissertação de Mestrado). SOARES, Carmen Lúcia, et al. Metodologia do ensino da Educação Física. São Paulo: Ed Cortez, 1992. VYGOTSKY, L. S A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos superiores. 4a. edição, São Paulo, Martins Fontes, 1991. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 147 SOBRE TEORIA E PRÁTICA: manifesto pela redescoberta da educação física Prof. Dr. Mauro Betti Resumo O método científico proporcionou à Educação Física um poderoso instrumento para produzir conhecimentos, mas levou à perda dos vínculos com suas origens. Este artigo propõe-se a explicitar, sob inspiração da filosofia fenomenológica, um projeto de Educação Física que a redescubra na vida como elemento dinâmico da cultura. Sob essa perspectiva, são apresentadas implicações para as relações entre a teoria e prática, o ensino e pesquisa na Educação Física escolar. Por fim, a pesquisa-ação é apresentada como alternativa metodológica para a superação do distanciamento entre teoria e prática. Unitermos: Fenomenologia. Cultura corporal de movimento. Teoria. Prática. Pesquisa-ação. Educação Física escolar. SOBRE A NECESSIDADE DE REDESCOBRIR A EDUCAÇÃO FÍSICA Em várias universidades, no Brasil e ao redor do mundo, a Educação Física constituiu uma "massa crítica" (de cuja ausência muito se falava no contexto brasileiro da década de 1980), com de alta qualidade acadêmica. É nelas que se poderá gestar algo novo, desde que nos engajemos em um projeto de Educação Física e para a Educação Física. "Projeto" é a intenção de fazer ou realizar algo no futuro; provém etimologicamente do latim: pro- ( a favor de), jectus (lançar para a frente), segundo Houaiss (2001). Implica, portanto, em lançar-se a favor de algo, tomar posição. Podemos agora ter a nosso favor um instrumental poderoso, de que não puderam dispor as gerações que nos antecederam: o método científico. Mas desde que a Ciência moderna pôs-se em marcha, não cessa de a tudo ob-jetivar (do latim obdiante de; jact- lançar, colocar), quer dizer, distanciar-se dos fenômenos, colocá-los diante de si, para analisá-los e explicá-los. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 148 Para nosso desespero, começamos a perceber que as chamadas Ciências Humanas/Sociais também o fazem, e ao fazê-lo, os historiadores, sociólogos e antropólogos da Educação Física retiram-se do interior do seu próprio projeto e limitam-se a examiná-lo com as lentes dos modelos teóricos gestados em outras áreas. A tal ponto chegou esta retirada que alguns jovens doutores, embora docentes em curso de graduação em Educação Física, gabam-se por publicar e participar de sociedades científicas de outras áreas, para as quais o esporte, o jogo ou a ginástica são apenas detalhes, circunstâncias. E, ao abandoná-la, vêem nisso um sinal de avanço da Educação Física, porque reconhecida por áreas academicamente mais legitimadas. Quem se atreve a apontar-lhes essas contradições é imediatamente tachado de "corporativista". Daí também decorre a sensação de que apenas os biólogos/fisiólogos de fato produzem pesquisas em Educação Física, porque utilizam a categoria do exercício - ledo engano, porque também a objetivaram, e tanto faz que se apresentem nos Congressos de Biologia Experimental ou nos da Educação Física. No mesmo contexto poderemos entender o apelo desesperado dos professores de Educação Física escolar que, maltratados e acuados por todos os lados, não se reconhecem nos conhecimentos produzidos na Academia, mas, pressentindo que há algo importante neles, pedem ajuda. Já disse Merleau Ponty (1999) que estar vivo é empenhar-se continuamente em projetos no mundo, é confundir-se com eles - e temos que admitir que as duas gerações de professores de Educação Física que nos antecederam1 tinham um projeto de Educação Física, empenharam-se nele, con-fundiram-se com ele. Realizavam, em ato, a "formação integral do indivíduo (bio-psico-social)", que agora buscamos exasperadamente apreender por meio das representações lingüísticas dos discursos científico e filosófico. Um exemplo? O francês Auguste Listello, idealizador do conhecido "Método Desportivo Generalizado" na década de 1950, que buscava manter o esporte, que então galgava crescente autonomia e importância social, sob o "domínio" pedagógico da Educação Física (BETTI, 1991). Ele e outros de sua geração sabiam do que tratava a Educação Física, porque a viviam, só talvez não o conseguissem exprimir em palavras científica e filosoficamente fundamentadas, à luz do que sabemos hoje. É portanto cômodo exercitar nossa Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 149 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] atual capacidade de reflexão crítica e apontar-lhes as limitações, pois, afinal, toda experiência humana singular é histórica. Mas de que serve o que sabemos se não o retornamos à Educação Física viva? Incomodados, em crise e cheios de dúvidas, fomos às diversas disciplinas científicas e à filosofia, em um primeiro movimento, para melhor compreender a Educação Física, e depois, realimentar o nosso projeto de Educação Física. Mas a maioria de nós, fascinados pelas respostas encontradas (às vezes de modo muito fácil e rápido), passamos a acreditar demasiadamente nelas, e estamos sendo incapazes de concretizar este segundo movimento, de retorno ao interior da Educação Física viva, para re-interrogar nossas dúvidas e a cada momento nos remetermos ao projeto inicial que nos impulsionou. Só para isso nos poderá servir o método científico (e não "a Ciência", entidade abstrata): para abalar nossas crenças, para que a tradição não nos imobilize, para que possamos sempre renová-la. Mas também é necessário admitir que ciência alguma esgotará completamente a complexidade, ambigüidade e originalidade da vida, em cujo fluxo se inserem as vivências humanas compartilhadas no jogo, no esporte, nas ginásticas... Caso contrário, mataremos a Educação Física, ao transformá-la em objeto de análise fragmentária de cada uma das diferentes teorias científicas que elegemos. Porque "por mais que o mundo das ciências se desenvolva indefinidamente para frente, o objeto cujo sentido ele explicita está sempre atrás, como esse mundo da experiência primordial do qual a ciência não terá jamais acabado de falar" (DARTIGUES, 2003, p. 80). E onde está essa "experiência primordial" da Educação Física, sua vida viva? Está nas escolas, clubes, academias, quadras, ginásios, piscinas, ruas, favelas, praias, parques públicos, terrenos baldios e onde quer que crianças, jovens, adultos, alunos, professores, atletas, técnicos, clientes ou profissionais - não importa os rótulos - exercitem suas motricidades, relacionem-se e comuniquem-se com o meio e com as pessoas, ensinem e aprendam algo. Cumpre-nos participar dessa vida, e não apenas observá-la com as lentes de teorias pré-fabricadas, sob pena de nos desligarmos da nossa própria origem. É só lá que a Educação Física poderá Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 150 encontrar problemáticas significativas (porque originais) que re-alimentem a vida da Educação Física, e não a matem em objetivações pseudo-científicas. Desse modo, se quisermos ser honestos conosco mesmos e com a comunidade da Educação Física, devemos apontar qual é o nosso projeto de Educação Física, e como o vivenciamos e perseguimos no ensino, na pesquisa e na extensão. Mas se continuarmos a negar a possibilidade de redescoberta do projeto da Educação Física a partir do seu próprio interior, condenamo-nos a realizar os projetos dos outros: descobrir os futuros "craques" do esporte (o projeto das mídias), compensar as mazelas de uma sociedade violenta e desigual (o projeto dos políticos profissionais), ou produzir conhecimentos abstratos para a "Ciência" (o projeto ainda hegemônico na comunidade científica). Esboço de um projeto de inspiração fenomenológica para a educação física 2 Somos seres cuja relação original com o mundo e com os outros é corporal-motora (MERLEAU-PONTY, 1999). Possuímos uma infinita capacidade de "movimento para...", quer dizer, nossa motricidade é regida por intencionalidades. Santin (1987) destaca que os elementos fundantes da Educação Física são: o ser humano (uma totalidade indivisível) e o movimento, o qual possui componentes/elementos intencionais internos e externos. Dentre outros, são componentes intencionais internos do movimento humano: o prazer intrínseco à execução dos próprios movimentos, a superação de si próprio e a fruição estética; elementos externos seriam aqueles que provém de fora do campo do próprio movimento, como troféus, recompensas financeiras, bem como a busca de valores extrínsecos ao movimento em si, como a saúde. E tais componentes intencionais internos e externos podem ser articulados de diferentes modos, a partir de diferentes valores - entendendo valor como uma possibilidade de escolha (ABBAGNANO, 2000). Por exemplo, a saúde pode ser promovida ou prejudicada, dependendo da articulação que se faz entre os componentes intencionais do movimento, já que ela não é, em si, um componente intencional interno do movimento humano. É a exercitação intencionada, e em geral sistemática, da motricidade humana (que dizer, nossa capacidade de movimento para... ) que foi construindo, ao longo da Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 151 história, as formas culturalmente codificadas que hoje conhecemos como esporte, ginásticas, dança etc., as quais constituem os meios e conteúdos que a Educação Física (que não surgiu previamente a estas formas) articula a partir de diferentes intencionalidades pedagógicas. É a este processo e produto que denominamos "cultura corporal de movimento" (BETTI, 2003a, 2005), já que não existe movimento sem um corpo que se movimente (DARTIGUES, 2003). São estas também as formas culturais que interessam às mídias, aos empresários, aos políticos, cada qual buscando extrair delas diferentes valores, de acordo com suas intencionalidades. Contudo, é importante explicar que o termo "intencionalidade" não é usado aqui apenas com um conotação utilitarista no sentido de obter, de modo consciente e previamente planejado, alguma vantagem de ordem "prática" com alguma ação. Vamos a um exemplo. Didi, um dos maiores jogadores de futebol que o Brasil já conheceu, atuante até início da década de 1960, descreveu, em entrevista à televisão, a que eu tive a oportunidade de assistir, como inventou a "folha seca", um chute de longa distância no qual a bola se elevava muito e, já próxima à meta adversária, descia rapidamente, enganando o goleiro. Pois bem, tal modo de chutar a bola não foi fruto de um processo de "treino", de experimentação controlada com o propósito de criar um novo tipo de chute mais eficiente para atingir o objetivo do futebol ("fazer gols"), mas decorreu do fato de estar com o calcanhar machucado, o que o obrigou a chutar apoiado na ponta dos pés, criando involuntariamente uma nova mecânica do chute. Quer dizer, ele não "pensou", não refletiu antecipadamente sobre como chutar a bola nessa nova situação corporal que a contusão lhe impôs, mas o corpo organizou a ação motora espontaneamente, intuitivamente - isto é exatamente o que se chama intencionalidade operante, que tem a ver com os meios que o corpo oferece naturalmente, atualizando hábitos na percepção, em proveito de uma nova significação (MERLEAU-PONTY, 1999). É claro que a biomecânica poderá explicar a "folha seca" nos termos da Física, assim como professores de Educação Física e treinadores esportivos poderão apropriar-se desse movimento e inseri-lo em uma pedagogia de ensino/treinamento do futebol - estaríamos aí, então, no âmbito da cultura. Mas tais procedimentos são posteriores, assim como, a posteriori, o próprio Didi pode compreender racionalmente o que fez, e pode explicálo em palavras. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 152 O depoimento de Didi, então, além de nos servir para exemplificar o conceito de "intencionalidade operante", também serve para nos mostrar de onde vem o novo, onde está a fonte na qual a cultura corporal de movimento "bebe" a matéria prima do seu dinamismo, pois, afinal, a cultura não é estática, ela não apenas reproduz os jogos, os esportes, as danças, mas os produz, os transforma, os cria e re-cria. Observemos as crianças em suas brincadeiras; os jovens pobres nas periferias e favelas improvisando jogos e danças; famílias nos parques públicos rebatendo uma bola por sobre uma corda amarrada entre duas árvores; nas praias, meninos e meninas fazendo malabarismos com uma bola nos pés, ou deslizando por dunas de areia com pedaços de tábua encerada. Aí encontraremos a exercitação mais original da motricidade humana, e original em dois sentidos: como origem das formas que adquirirão posteriormente codificação cultural, e original porque inovadoras, nãocodificadas, transgressoras em certa medida. "Brincar" de rebater uma bola de plástico por sobre uma corda amarrada entre duas árvores é, nesse sentido, mais original que o volibol regulamentado como esporte formal-federativo. Nessa mesma direção, Baitello Jr. (1999) evidenciou como, para os teóricos da semiótica da cultura, o jogo/brinquedo, na qualidade de atividade não direcionada a um fim utilitário, é um dos nascedouros da cultura humana e alimento para sua ampliação, ao lado do sonho, dos desvios psicopatológicos e das situações de êxtase/euforia Se a televisão faz crianças tomarem contato precoce com as formas codificadas do esporte, se para uma garota jogar volibol é sacar "viagem" e "cortar" contra um bloqueio triplo, e se no imaginário de um garoto ele é o Ronaldinho quando chuta uma bola, mesmo que velha e esgarçada num chão de terra, o professor/profissional de Educação Física que os recebe deve considerar isso, e trabalhar a partir disso. Mas não pode confundir este ponto de partida com o ponto de chegada, assim como deve saber que esse simbolismo presente na atividade esportiva de uma criança, para cuja constituição as mídias são decisivas, não pode confundir-se com a forma desta atividade (BETTI, 2001); quer dizer, o professor/profissional deve adaptar a forma de jogar futebol e volibol para que não haja discrepância entre o que a criança/aluno espera e o que lhes é oferecido. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 153 Como? Por exemplo, resgatando o que é originalmente o volibol: um jogo de rebater a bola por sobre um obstáculo (que pode ser uma rede oficial ou uma corda), cuja dinâmica deve ser preservada. Ora, se não é possível a uma criança realizar o saque "por cima" com uma bola e altura da rede oficiais, talvez ela poderá fazê-lo com a rede mais baixa, com uma bola maior e mais leve. Nada há de errado em que um garoto vista a "camisa 9" da seleção brasileira e "sinta-se" o Ronaldinho (de fato, ele o "é" nesse momento), o que importa é que lhe seja dada a oportunidade de participar plena e ativamente do jogo de futebol, chutando, passando e fazendo gols, e não apenas fique correndo de um lado para outro, sem receber a bola, monopolizada pelos mais hábeis, como sempre se vê nas "escolinhas" de futebol por aí. Para isso, é necessário à Educação Física investir em uma pedagogia do esporte na qual o esporte não seja um fim em si mesmo, e que, sem ignorar suas influências, não se submeta contudo aos interesses das mídias e das grandes corporações econômicas. Da mesma forma, o profissional da Educação Física que atua nas academias deve considerar a busca pela beleza corporal como uma motivação aparente, por trás da qual se escondem desejos mais profundos desse ser (humano) complexo e ambíguo. Mas deve, sem dúvida, partir desta motivação aparente (afinal, não há nada de errado com ela, pois não se trata de fazer um juízo de valor) para revelar ao cliente/aluno como o exercício físico (assim como o jogo, o esporte, a dança...) pelas suas propriedades intrínsecas, pode propiciar uma experiência existencial gratificante, porque não há como exercitar apenas o físico. Lembremo-nos aqui de Santin (1987): os componentes intencionais externos do movimento (no caso, obter emagrecimento, definição muscular etc.) não podem ser desarticulados dos componentes intencionais internos (por exemplo, o prazer inerente ao próprio fato de movimentar-se). Só assim a Educação Física poderá redescobrir sua tarefa educativa. Só assim a Educação Física, sob um fundo de natureza, poderá, conforme expressão colhida em Carmo Júnior (1988) tornar-se elemento dinâmico da cultura, e não mera técnica de intervenção sobre o físico. Só assim ela será tanto educação como física. Implicações para a pesquisa: o exemplo da educação física escolar Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 154 Foi a perda dos vínculos da pesquisa científica e da teoria com a vida viva da Educação Física que fez com as relações teoria-prática permaneçam como o problema principal na Educação Física. Por exemplo, já é claro para muitos de nós que o formidável avanço teórico que se obteve na Educação Física brasileira, nas últimas duas décadas, não se reverteu em melhorias na prática da Educação Física escolar. Tal contradição é facilmente identificável, até por estudantes em seu primeiro ano de graduação. Uma vez que se aceite este diagnóstico problemático, a resposta mais equivocada que se pode dar é culpar os professores por isso; ou propor que, na formação dos professores, se tenha mais teoria. Contudo, como afirmou Elliott (1993), o problema para os professores não é a teoria, mas a relação teoria-prática. Em nosso entendimento, tais relações podem ser consideradas nas perspectivas: (i) tradicional-técnica; (ii) legitimadora e/ou crítica; e (iii) reflexiva. Tradicional-técnica A pesquisa científica produz abstrações e generalizações a partir da prática - ou seja, teorias - as quais se pretende sejam aplicáveis de modo direto a todos os contextos da prática. Tende-se assim a ignorar as contingências que operam nos ambientes escolares concretos (por exemplo, turmas heterogêneas), assim como não facilitam indicações sobre como atuar para implantar o modelo ideal preconizado pela teoria. A relação teoria-prática torna-se, então, uma ameaça para o professor, na medida em que a teoria supõe um alijamento do conhecimento prático das contingências da vida em aula, de seu conhecimento e experiências profissionais, e imputa ao professor a responsabilidade pela diferença entre a teoria e a prática. Em síntese, na perspectiva tradicional-técnica, embora exista uma referência inicial à prática, a relação teoria-prática finda por dar-se dá em "mão única", sem qualquer mediação, fluindo da teoria para a prática. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 155 Legitimadora e/ou crítica Segundo Carr e Kemis (1988, p. 30), nas décadas de 1960 e 1970, disciplinas como a psicologia, sociologia, história etc, as quais passaram a fornecer as sínteses teóricas, estratégias conceituais e critérios de validação para a teoria educacional, "como se tal desenvolvimento não fosse possível por conta própria". Em decorrência, os princípios educativos passaram a ser justificados independentemente das práticas educativas (pelo recurso aos conhecimentos psicológicos, sociológicos etc.) e estas, por sua vez, se distanciaram das teorias. Para Stenhouse (apud DICKEL, 1998), por meio das teorias psicológicas, sociológicas, etc., é possível ter acesso a teorias sobre o conteúdo e as condições da ação educativas, mas não ao estudo da ação educativa em si mesma, já aquelas teorias preocupam-se mais em conduzir a pesquisa que guiar o ensino. Então, nessa perspectiva, teorias levam a teorias, pela necessidade que tem qualquer teoria, ao buscar legitimar ou criticar práticas, de melhor fundamentar seus argumentos, dentre outros motivos, pela concorrência de teorias rivais. Nessa dinâmica, a relação inicial com a prática se esvaece. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 156 A frase que se segue, pronunciada por uma professora de ensino fundamental de uma escola pública, ao ser a mim apresentada, resume bem as dificuldades a que levaram estas duas perspectivas: "Você é um daqueles que fica na sua sala estudando para dizer como NÓS devemos trabalhar ?" Reflexiva Propõe a reconstrução e transformação da prática. Em contraposição às perspectivas anteriores, Stenhouse (apud DICKEL, 1998) propõe que os problemas delimitados pela pesquisa em educação sejam selecionados em função de sua importância para a compreensão da ação educativa. Tratar-se-ia de uma pesquisa realizada no interior do empreendimento educativo, e que pudesse contribuir para o seu enriquecimento. Para Elliott (1993), a pesquisa não deve separar-se da prática; a prática mesma é a forma de investigação, pois nessa situação desconhecida são levantadas hipóteses para além da atual compreensão do professor. As ações são avaliadas de forma retrospectiva como meio de ampliação do problema prático (reflexão sobre a ação). Essa compreensão se desenvolve por meio da modificação da prática, e não antes (PEREIRA, 1998). Nesse sentido, a produção teórica deriva das tentativas de mudar as práticas, e estas são o meio pelo qual se elaboram e comprovam as suas Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 157 próprias teorias, ou seja, as práticas constituem-se em categorias de hipóteses a comprovar. A teoria adquire um sentido de unidade com a prática, não no sentido estático de dar explicações às questões práticas, mas no sentido dinâmico de auxiliar o encaminhamento, a direção refletida, crítica e criativa da situação. A teoria é vista como reveladora de várias alternativas e, pela análise e diálogo com a situação, contribui para fazer avançar o conhecimento sobre a validade de cada uma delas, e assim são geradas relações de interrogações mútuas entre a teoria e a prática, em decorrência do que ambas se transformam. Conclusão: alternativas metodológicas para a superação do distanciamento entre teoria e prática na educação física escolar Não é pacífico o entendimento de que o método fenomenológico possa ser transportado da Filosofia para a pesquisa empírica, como propõe, por exemplo, Moreira (2002), o que permitiria tomar em conta as "coisas mesmas", dando destaque às experiências vividas pelos sujeitos, e, portanto, permitiria acessar a vida viva da Educação Física, sem intermediários. Enquanto isso, metodologias de pesquisa cujas origens não são estranhas à Fenomenologia colocam-se hoje, mesmo que precária e timidamente, como Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 158 alternativas para quem se coloca na perspectiva reflexiva antes aludida: a pesquisa de tipo etnográfico em educação (ANDRÉ, 1995, 1997) e, principalmente, a pesquisa-ação, em especial tal como concebida por Stenhouse (1996) e Elliott (1990, 1993). A pesquisa-ação ou investigação-ação na educação, segundo Pereira (1998), surgiu nos anos 1960 como uma tentativa (dos acadêmicos) de superar as lacunas existentes entre o ensino e a pesquisa, e de resolver o problema da relação entre teoria e prática. Com diferentes ênfases, pretende ao mesmo tempo conhecer (pesquisa) e atuar (ensino) e, portanto, superar a diferença entre pesquisador e professor, pois o professor é visto como produtor de conhecimentos a partir de sua prática, e o pesquisador "externo" (um professor universitário, por exemplo) atua como facilitador e colaborador. No Brasil, poucos trabalhos têm feito uso da pesquisa-ação na Educação Física escolar; dentre eles destacam-se Bracht (2002) e Betti (2003b, 2005). Apesar das possíveis limitações presentes no uso da pesquisa-ação, dentre as quais destacamos a necessidade de melhor integrar os alunos nessa dinâmica metodológica, trata-se de uma possibilidade viável de evitar o distanciamento, na Educação Física Escolar, entre teoria e prática, pesquisa e ensino, "sujeitopesquisador" e "sujeito-pesquisado". Enfim, é possibilidade para quem deseja redescobrir a Educação Física escolar em seu contexto vivo, onde professores e alunos compartilham uma experiência humana. Mas aprofundar essas questões é assunto para outro momento... Notas 1. Por "nós" entenda-se aí os graduados em Educação Física na década de 1970 e início da seguinte, que hoje encontram-se em plena maturidade intelectual e profissional. 2. Não é nosso objetivo aqui apresentar os fundamentos da Fenomenologia, para o que recomendamos as obras "Fenomenologia da Percepção"(MERLEAU-PONTY, 1999) e "O que é a Fenomenologia" (DARTIGUES, 2003). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 159 REFERÊNCIAS ANDRÉ, M. Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus, 1995. ANDRÉ, M. Avanços no conhecimento etnográfico da escola. In: FAZENDA, I. (Org.). A pesquisa em educação e as transformações do conhecimento. 2ª ed. Campinas: Papirus, 1997. p. 99-110. ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. BAITELLO Jr, N. O animal que parou os relógios: ensaios sobre comunicação, cultura e mídia. 2a ed. São Paulo: Annablume, 1999. (Coleção E) BETTI, M. Educação física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991. BETTI, M. Educação física e sociologia: novas e velhas questões no contexto brasileiro. In: CARVALHO, Y.M. de; RUBIO, K. (Org.). Educação física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec, 2001. p. 155-169. BETTI, M. Educação física escolar: do idealismo à pesquisa-ação. 2002. 336 f. Tese (Livre-Docência em Métodos e Técnicas de Pesquisa em Educação Física e Motricidade Humana) - Faculdade de Ciências, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2003a. BETTI, M. Imagem e ação: a televisão e a educação física escolar. In:______ (Org.). Mídia e educação física: novos olhares, outras práticas. São Paulo: Hucitec, 2003b. p. 91-137. BETTI, M. Educação física. In: GONZÁLEZ, F. J; FENSTERSEIFER, P.E. Dicionário crítico de educação física. (Org.). Ijuí: Editora Unijuí, 2005. p. 144-150. BETTI, M. Imagem em ação: a televisão e a educação física escolar. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 8, 2005, São Paulo. Anais... São Paulo: Universidade de São Paulo, Escola de Educação Física e Esporte, 2005. 1 CDROM. BRACHT, V. et al. A prática pedagógica em educação física: a mudança a partir da pesquisa-ação. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v.23, n.2, p. 9-29, 2002. CARMO JÚNIOR, W. A cultura e a educação física. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, v. 19, n.3, p.106-111, 1998. CARR, W; KEMMIS, S. Teoría crítica de la enseñanza: la investigación-acción en la formación del profesorado. Barcelona: Martínez Roca, 1988. DARTIGUES, A. O que é a fenomenologia. 8a ed. São Paulo: Centauro, 2003. DICKEL, A. Que sentido há sem se falar em professor-pesquisador no contexto atual? Contribuições para o debate. In: SERALDI, C.M.G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA,E.M. de A. (Org.). Cartografias do trabalho docente: professor(a)pesquisador(a). Campinas: Mercado das Letras, ALB, 1998. p. 33-72. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 160 ELLIOTT, J. La investigación-acción en educación. Madri: Morata, 1990. ELLIOTT, J. El cambio educativo desde la investigación-acción. Madri: Morata, 1993. HOUAISS, A. Dicionário eletrônico Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Objetiva, 2001. 1 CD-ROM. MERLEAU-PONTY, M. Fenomenologia da percepção. 2a ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. MOREIRA, D. A. O método fenomenológico na pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson, 2002. PEREIRA, E. M. de A. Professor como pesquisador: o enfoque da pesquisa-ação na prática docente. In: SERALDI, C.M.G.; FIORENTINI, D.; PEREIRA,E.M. de A. (Org.). Cartografias do trabalho docente: professor(a)-pesquisador(a). Campinas: Mercado das Letras, ALB, 1998. p. 153-182. SANTIN, S. Reflexões antropológicas sobre a educação física e o esporte escolar. In:_______. Educação física: uma abordagem filosófica da corporeidade. Ijuí: Unijuí Editora, 1987. p. 37-44. STENHOUSE, L. La investigación como base de la enseñanza. 3ª ed. Madri: Morata, 1966. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 161 A CULTURA DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR Jocimar Daolio RESUMO A partir de referenciais das ciências humanas, especificamente da antropologia social, este trabalho discute o conceito de ―cultura‖ e algumas de suas implicações para a área de educação física, com ênfase em sua atuação escolar. Discute a questão do corpo como expressão cultural; a prática escolar de educação física como eminentemente simbólica e contextual; o trato dos conteúdos escolares e a necessária mediação por parte do professor. Conclui afirmando que a educação física trata da cultura relacionada aos aspectos corporais, negando a exclusividade das explicações biológicas na área. Assim, a educação física pode ser considerada como a área que estuda e atua sobre a cultura corporal de movimento. Palavras-chave: Educação física escolar, cultura corporal de movimento, educação física, cultura. Pensar a educação física a partir de referenciais das ciências humanas, e em particular da antropologia social, traz necessariamente a discussão do conceito de ―cultura‖ para uma área em que isso era até há pouco tempo inexistente. Os currículos dos cursos de graduação em educação física somente há poucos anos vêm incluindo disciplinas próprias das ciências humanas e isso parece estar sendo útil para a ampliação da discussão cultural na área. As publicações que utilizam como base de análise da educação física conhecimentos das ciências humanas têm aumentado nos últimos vinte anos. Não causa mais polêmica afirmar que a educação física lida com conteúdos culturais. Evidentemente ainda se vê muita confusão no uso da expressão ―cultura‖ na educação física. O termo ainda é confundido com conhecimento formal, ou utilizado de forma preconceituosa quantificando-se o grau de cultura, ou como sinônimo de classe social mais elevada, ou ainda como indicador de bom gosto. Ouve-se com freqüência afirmações de ―mais ou menos cultura,‖ ―ter ou não ter cultura,‖ ―cultura refinada ou desqualificada‖ e assim por diante. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 162 Enfim, pode-se falar atualmente em cultura da educação física e creio que a contribuição das ciências humanas, em geral, e da antropologia social, especificamente, foram importantes. Uma contribuição importante dos estudos antropológicos para a área de educação física parece ter sido a revisão e ampliação do conceito de corpo. É por demais sabido que a educação física no Brasil, originária dos conhecimentos médicos higienistas do século XIX, foi influenciada de forma determinante por uma visão de corpo biológica, médica, higiênica e eugênica. Essa concepção naturalista atravessou praticamente todo o século XX - com variações específicas em cada momento histórico - , estando ainda hoje presente em currículos de faculdades, publicações e no próprio imaginário social da área. A conseqüência dessa exclusividade biológica na consideração do corpo pela educação física parece ter sido a construção de um conceito de intervenção pedagógica como um processo somente de fora para dentro do indivíduo, que atingisse apenas sua dimensão física, como se ela existisse independentemente de uma totalidade, desconsiderando, portanto, o contexto sócio-cultural onde esse homem está inserido. As concepções de educação física como sinônimas de aptidão física, a opção por metodologias tecnicistas, o conceito biológico de saúde utilizado pela área durante décadas, apenas refletem a noção mais geral de ser humano como entidade exclusivamente biológica, noção essa que somente nesses últimos anos começa a ser ampliada. Essas concepções parecem ter sido determinantes para a tendência à padronização da prática de educação física, sobretudo a escolar. Segundo essa lógica, se todos os seres humanos possuem o mesmo corpo - visto exclusivamente como biológico composto pelos mesmos elementos, ossos, músculos, articulações, tendões, então a mesma atividade proposta em aula servirá para todos os alunos, causando neles os mesmos efeitos - tomados como benefícios. Isso talvez explique a tendência da educação física em padronizar procedimentos, tais como voltas na quadra, metragens, marcação de tempo, repetição exaustiva de gestos esportivos, coreografias rígidas, ordem unida etc. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 163 É óbvio que a partir dessa concepção de corpo e de educação física não havia espaço nem interesse em aspectos estéticos, expressivos ou subjetivos. A tendência era de uma ação sobre a dimensão física, passível de treinamento visando à repetição de técnicas de movimento, sejam as esportivas, de ginástica ou de atividades rítmicas. Era como se a educação física fosse responsável pela intervenção sobre um corpo tido como natural e sem técnica, a fim de dar a ele padrões mínimos de funcionamento para a vida em sociedade. Se se falava na consideração dos aspectos psicológicos individuais ou na dimensão estética dos gestos, isso era desvinculado da dimensão física, como se o corpo fosse a expressão mecânica de uma superioridade psíquica ou mental. A educação física, a partir da revisão do conceito de corpo e considerando a dimensão cultural simbólica a ele inerente, pode ampliar seus horizontes, abandonando a idéia de área que estuda movimento humano, o corpo físico ou o esporte na sua dimensão técnica, para vir a ser uma área que considera o homem eminentemente cultural, contínuo construtor de sua cultura relacionada aos aspectos corporais. Assim, a educação física pode, de fato, ser considerada como a área que estuda e atua sobre a cultura corporal de movimento. Em relação à educação física escolar, a discussão cultural oriunda da antropologia social também contribuiu de forma significativa para aprofundamento e qualificação dos debates. Primeiramente porque o ser humano passou a ser considerado além de sua dimensão biológica. Sendo um indivíduo que se localiza num determinado contexto e num determinado momento histórico, qualquer intervenção pedagógica sobre ele deve levar em conta esses aspectos. Em segundo lugar, porque a própria dinâmica escolar passou a ser considerada como prática cultural, sugerindo que a educação física não deveria mais ser vista como componente isolado das outras disciplinas, nem sua prática como meramente técnica. Em outro trabalho afirmei que considerar a prática escolar de educação física a partir de referencial oriundo da antropologia social implica ir além de uma visão determinista de instituição escolar, para a qual cada componente curricular apenas reproduz o que a escola prega como princípio. Implica também superar a idéia de que os professores apenas reproduzem o que aprenderam em sua formação Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 164 universitária. Implica ainda ampliar a idéia de que a qualificação profissional dos professores depende unicamente de melhoria salarial ou de valorização por parte do governo. Todos esses pontos são importantes e sua discussão necessária para a educação física escolar, mas, isolados, não permitem a consideração da área como fenômeno social, historicamente situado, culturalmente localizado e constantemente atualizado por meio de práticas significativas. Não permitem olhar para a educação física na escola como prática dinâmica, dotada, inclusive, de alta eficácia simbólica. Se, por um lado, a educação física escolar, nas discussões acadêmicas, vem sendo criticada por ser vazia de conteúdo, por ainda se caracterizar pelo tecnicismo, por não possuir especificidade pedagógica, pelo fato de seus profissionais preferirem atuar com as atividades extra-curriculares ao invés de se preocuparem com as curriculares, por outro, a educação física responde de forma eficaz à demanda colocada pela própria comunidade escolar, incluindo aí, pais, alunos, diretoras, coordenadoras pedagógicas, professores de outras disciplinas e os próprios professores da área. Eficácia essa que parece estar diretamente proporcional ao caráter repetitivo, monótono e pouco útil atribuído pelos alunos às outras disciplinas escolares e à escola como um todo. Essa eficácia simbólica foi sendo construída ao longo do tempo e pode ser comprovada no relato de muitos alunos, para quem as aulas de educação física, apesar de tudo, são as mais interessantes da escola. Pode também ser observada no relato de professores da área, para os quais sua disciplina é gratificante na medida em que alcança aprovação por parte dos alunos. Em pesquisa realizada pude observar entre professores de educação física a distância entre aquilo que as discussões teóricas dos últimos vinte anos esperam deles e aquilo que realmente eles fazem e por meio do qual se justificam na dinâmica escolar. A consideração de que a educação física escolar é dotada de eficácia simbólica é importante para revalorizar a figura do professor, muitas vezes criticado por sua prática alienada e acrítica, consoante ao quadro político ditatorial e militar brasileiro dos anos 70 e início dos anos 80. Segundo essa lógica de raciocínio, bastava conscientizar os professores para que a educação física viesse a se tornar uma Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 165 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] disciplina transformadora da sociedade brasileira. Entretanto, se a conscientização do professor de educação física era condição necessária para a melhoria de sua prática, não era suficiente para a transformação de suas ações. Isso porque o conjunto de fazeres do professor de educação física está imbricado com as representações sociais que ele possui, muitas delas inconscientes. O professor que atua na escola, além de um conjunto de conhecimentos técnicos provindos de sua formação acadêmica, lida com um conjunto de valores, hábitos, com uma tradição, com um determinado contexto, enfim, atualiza significados continuamente. É um ator encenando uma trama, juntamente com outros atores, num determinado cenário, sob uma direção. Possui uma história de vida, que o fez escolher a educação física em detrimento de outras carreiras profissionais; possui um jeito de dar aulas; relaciona-se com professores de outros componentes curriculares; lida com uma expectativa que sobre ele é colocada pela direção da escola e pela coordenação pedagógica; lida cotidianamente com os alunos e suas motivações e interesses; é influenciado pela mídia; participa da dinâmica sócio-política cotidiana. Possui, enfim, um imaginário social que orienta e dá sentido aquilo que faz. É nesse sentido que se pode considerar a cultura escolar da educação física como processo dinâmico, repleto de nuanças, sutilezas e representações sociais. Não considerar esses aspectos da educação física é correr o risco de se perder, ou numa discussão reducionista de competência técnica, ou num idealismo teórico e dogmático. Essa discussão sugere também que a deseja da transformação da prática precisa considerar o nível das representações sociais ancoradas nas ações dos professores. A abordagem cultural na discussão da educação física escolar permite também, questionando a ênfase ao caráter exclusivamente biológico humano, pensar uma intervenção que se paute pelas diferenças presentes no grupo de alunos. Como vimos, se a educação física considerar outros aspectos além da dimensão física do homem, terá que criar condições metodológicas para trabalhar com todos os alunos. O princípio da alteridade, conceito usual e fundante da antropologia social contemporânea, mostra-se determinante para a revisão do papel da educação física. Colocar-se no lugar do outro implica considerar que o outro pode ser diferente e que as relações humanas - incluindo as pedagógicas - devem se pautar pelas diferenças. Se a educação física priorizar a dimensão exclusivamente física do Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 166 homem, ela continuará a objetivar em suas aulas padrões atléticos, visando a homogeneizar todos os alunos. E aqueles que não conseguirem atingir tais padrões, serão considerados menos aptos ou sem talento ou congenitamente incapazes. Por outro lado, se a educação física considerar toda e qualquer diferença humana, terá que reavaliar seu papel pedagógico, seus objetivos e estratégias de ensino. Terá que fazer a aula atingir todos os alunos. Foi nesse sentido que em alguns trabalhos utilizei a expressão educação física plural, procurando enfatizar a necessidade de inclusão de todos os alunos na prática escolar de educação física, por meio da revisão de determinados princípios tradicionais da área. Em trabalho anterior afirmei que a educação física plural parte da consideração de que os alunos são diferentes e que a aula, para alcançar todos os alunos, deve levar em conta essas diferenças. Pois, a pluralidade de ações implica aceitar que o que torna os alunos iguais é justamente sua capacidade de se expressarem diferentemente. A discussão cultural na educação física, por levar em conta as diferenças manifestas pelos alunos e pregar a pluralidade de ações, sugere também a relativização da noção de desenvolvimento dos mesmos conteúdos da mesma forma em todos os contextos. Entendo que a educação física escolar deva tratar pedagogicamente de conteúdos culturais relacionados à dimensão corporal. Porque o ser humano, desde o início de sua evolução, foi construindo certos conhecimentos ligados ao uso do corpo, aos conceitos de higiene, de saúde, formas lúdicas, sempre estimulado pelo meio e pela necessidade de sobrevivência, por vezes, em condições adversas. É nesse sentido que se afirma que a educação física trata da cultura relacionada aos aspectos corporais, expressas nos jogos, nas formas de ginástica, nas danças, nas lutas e, mais recentemente, nos esportes. Ora, se pensarmos a escola como uma instituição que deve, explicitamente e de forma valorativa, discutir, sistematizar, aprofundar e transformar os conhecimentos da chamada cultura popular, no caso da educação física isso também seria possível. Como a matemática deve aprofundar o conhecimento popular sobre os números e operações, chegando ao desenvolvimento da lógica e do raciocínio matemáticos... como a educação artística deve organizar e ampliar o conhecimento popular sobre as expressões artísticas... como a língua portuguesa deve partir dos conhecimentos de senso comum sobre os usos das formas lingüísticas para atingir a chamada Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 167 linguagem elaborada... a educação física também deveria partir do riquíssimo e variado conhecimento popular sobre as manifestações corporais humanas em seus diversos contextos para propiciar um maior conhecimento que leve a melhores oportunidades de prática corporal e possibilidades concretas de crítica, transformação e ampliação desse patrimônio humano relacionado à dimensão corporal. Porém, se assumimos que o conhecimento popular corporal ocorre diferentemente em função do contexto, possuindo significados específicos, não é possível defender o desenvolvimento dos conteúdos da educação física de forma unilateral, centralizada e universal. Entendo que a educação física escolar deva trabalhar com grandes blocos de conteúdo, resumidos no jogo, ginástica, dança, luta e esporte. Isso parece consensual devido ao fato de que qualquer manisfestação corporal humana traduz-se num ou mais de um desses cinco grandes temas da cultura corporal. A própria tradição da educação física escolar mostra a presença desses conteúdos - ou, pelo menos, de parte deles - em todos os programas escolares. Isso valeria para todas as séries e para todas as escolas. Entretanto, há que se levar em conta as características e os significados inerentes à cada manifestação de cada bloco de conteúdo nos variados locais e contextos onde será trabalhado. Em outras palavras, o momento de aplicação, a forma de desenvolvimento e o sentido de cada bloco de conteúdo serão variados, fato que transforma o professor, de um mero executor de um programa escolar para uma determinada série numa determinada escola, em mediador de conhecimentos. E quando me refiro à mediação de conhecimentos, incluo necessariamente a dimensão dos significados desses conhecimentos para o público específico e a representação social dos atores em questão em relação a esses conhecimentos. A mesma modalidade esportiva, como o basquetebol, por exemplo, adquire matizes diferentes em função da dinâmica cultural específica de determinado contexto. Um programa de aulas que imponha que o basquetebol deva ser ensinado a partir da quinta série, no segundo bimestre do ano, seguindo a mesma estrutura pedagógica tida como universal, estará, no mínimo, desconsiderando as especificidades locais. Não estará respeitando a tradição histórica e a dinâmica cultural do grupo. Nesse sentido, há várias formas de praticar o basquetebol, assim como há várias formas culturalmente determinadas de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 168 compreender e praticar a dança, o jogo, a ginástica, a luta. O conhecimento de uma modalidade esportiva não deve ser tomado como rígido objetivo das aulas de educação física, mas como ilustração de uma manifestação cultural específica de um bloco de conteúdo, no caso o esporte. Em outros termos, o que deve necessariamente estar presente em todos os programas escolares de educação física são os blocos de conteúdo. Nas minhas aulas no curso de graduação em educação física da UNICAMP, a fim de justificar para os alunos o sentido de uma disciplina sobre antropologia social no currículo, costumo ilustrar essa questão dizendo que um professor formado em educação física na cidade de Campinas teria condições de trabalhar em qualquer região brasileira, desde que fosse capaz de fazer as leituras de significados dos conteúdos (jogo, ginástica, esporte, dança, luta) da região específica, a fim de fazer as mediações necessárias entre o conhecimento popular específico e o conhecimento elaborado. Essa questão da mediação necessária de conhecimentos tem me tornado avesso à elaboração e utilização de rígidos programas e planejamentos, pois um empreendimento desse tipo, além de não contemplar todas as realidades, poderia ser utilizado como modelo estanque para o desenvolvimento de aulas, negando todos os pressupostos que a discussão cultural da educação física defende. Não que os planejamentos não sejam importantes. Defendo que são necessários quando tomados como referência, atualizados constantemente, construídos e debatidos com os próprios alunos, compartilhados com o projeto escolar, enfim, dinâmicos e mutantes, considerando os contextos onde serão aplicados. Para isso, os professores devem assumir outra característica para o desenvolvimento de suas aulas que não a ordem, a rigidez de comportamentos, a padronização de corpos e de atitudes e a expectativa que todos os alunos, ao final do processo, conheçam os conteúdos desenvolvidos e os pratiquem da mesma maneira. Devo ressaltar que boa parte dessas afirmações serve também para os professores de outras disciplinas escolares que, talvez mais que os professores de educação física, vêem-se reféns de cartilhas, livros-texto e manuais que desconsideram a cultura de cada grupo e impedem o desenvolvimento da criatividade dos alunos, tornando a escola monótona, desagradável e, por vezes, inútil. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 169 Acredito que a área de educação física brasileira, sobretudo nos últimos vinte anos, já formulou críticas contra a chamada prática escolar tradicional, além de, nos últimos dez anos, vir apresentando proposições interessantes e originais. Resta, agora, a proliferação de pesquisas de aplicação, nas quais as propostas deixem os laboratórios, os livros e as teses e sejam testadas em realidades concretas. Diferentemente dos ratos brancos, os homens agem de forma diferente das simulações em laboratório e, muitas vezes, de forma inesperada. Entretanto, não basta somente afirmar que os professores em atuação devem ser treinados ou estimulados a estudar a fim de que sua prática se qualifique. A partir das pesquisas oriundas da antropologia, e utilizando a prática etnográfica, vejo a possibilidade de melhor compreender esse ―nativo‖ da educação física em atuação na dinâmica de sua ―tribo.‖ Talvez, assim, possa se compreender de forma mais clara a dificuldade do profissional de educação física em transformar sua prática. Isso porque, para interpretar a lógica de significados que dá sentido à qualquer prática, deve-se tomar como pressuposto o caráter cultural de toda ação humana e o caráter por vezes inconsciente de determinadas ações. Talvez, a partir da etnografia se possa chegar mais próximo do nível das representações sociais que oferecem suporte, dão sentido e orientam a prática do profissional de educação física. Uma ação transformadora na educação física escolar só será efetiva se conseguir penetrar o universo de representações dos professores, decifrar os significados de sua prática, entender a mediação com os fatores institucionais até chegar ao nível dos seus comportamentos corporais. Em resumo, entendo que a educação física - quer como área acadêmica, quer como prática pedagógica escolar - trata da cultura, não de toda e qualquer cultura, mas da parte dela relacionada aos aspectos corporais, aos cuidados com a saúde, às formas lúdicas. Com freqüência tenho observado manifestações de que o objeto de estudo da educação física é o movimento humano. Algumas pessoas reconhecem a cultura como o meio onde o movimento se expressa, mas insistem nele como sendo o principal conceito da área. Creio não ser essa apenas uma questão terminológica diletante, como se as expressões ―cultura‖ e ―movimento‖ pudessem ser intercambiáveis. Afirmar que a Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 170 educação física trata da cultura implica negar a exclusividade do componente biológico na explicação das condutas humanas afetas à educação física e fincar a raiz da área nas ciências humanas. Por outro lado, aceitar que a educação física trata do movimento humano consiste em secundarizar a dimensão cultural em relação ao aspecto biofísico humano, afirmando a base biológica como primordial para a compreensão da área, como se a cultura fosse conseqüência ou produção das atividades cerebrais. Enfim, insistir que a educação física trata da cultura corporal faz com que priorizemos a dinâmica sócio-cultural na explicação das ações humanas. Concluindo, procurei nesse trabalho, ainda que rapidamente, discutir o corpo como componente e expressão culturais, podendo ampliar a visão tradicional e o uso que a educação física faz desse conceito. Em seguida, pude discutir a atuação da educação física escolar como prática cultural, compreendendo seu caráter simbólico, dinâmico e contextual. Discuti também a questão do trato dos conteúdos escolares pela educação física e sua necessária atualização e mediação em relação aos contextos específicos onde ela se realiza. Citei também a abordagem etnográfica, característica e originária da antropologia, como importante e necessária atualmente nas pesquisas em educação física, objetivando a análise dos significados de atuação dos profissionais da área. Compreender a atuação dos profissionais ―por dentro‖ parece fundamental para uma área que vem propondo nos últimos anos a revisão de sua ação tradicional, mas que não pode mais acreditar que a transformação da prática ocorrerá apenas com proposições teóricas. Há que se compreender o caráter cultural - e, por vezes, inconsciente - de atuação dos profissionais de educação física, procurando alcançar o nível das representações sociais que orientam sua prática. Acredito que a abordagem antropológica tem contribuído e pode ainda muito contribuir para uma revisão da educação física, tornando-a uma área mais dinâmica, mais original, mais plural. A análise cultural tem procurado compreender a imensa e rica tradição da área que, durante anos, a definiu como ela se apresenta hoje e, ao mesmo tempo, tem procurado entender suas várias manifestações como expressões de contextos específicos. Além disso, a perspectiva cultural faz avançar na educação física a consideração de aspectos simbólicos, estimulando estudos e Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 171 reflexões sobre a estética, a beleza, a subjetividade, a expressividade, a relação com a arte, enfim, o significado. Afirmei em outro texto: Qualquer abordagem de Educação Física que negue esta dinâmica cultural inerente à condição humana, correrá o risco de se distanciar do seu objetivo último: o homem como fruto e agente de cultura. Correrá o risco de se desumanizar. REFERÊNCIAS 1) André, M.E.D.A.de.(1995). Etnografia da prática escolar. Campinas: Papirus. 2) Betti, M. (1994). Valores e finalidades na educação física escolar: uma concepção sistêmica. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 16 (1), 14-21. 3) Betti, M. (1994). O que a semiótica inspira ao ensino da educação física. Discorpo. (3), 25-45. 4) Betti, M. (1999). Educação física, esporte e cidadania. Revista Brasileira de Ciências do Esporte. 20 (2/3), 84-92. 5) Bracht, V. (1999). Educação física & ciência: cenas de um casamento (in)feliz. Ijuí: Unijuí. 6) Carvalho, Y. M.de & Rubio, K. (2001). Educação física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec. 7) Chauí, M. (1994). Convite à filosofia. São Paulo: Ática. 8) Daolio, J. (1995). Da cultura do corpo. Campinas: Papirus. 9) Daolio, J. (1997). Cultura: educação física e futebol. Campinas: Unicamp. 10) Daolio, J. (1998). Educação física e cultura. Corpoconsciência. (1), 11-28. 11) Daolio, J. (2001). A antropologia social e a educação física: possibilidades de encontro. Em Carvalho, Y.M.de & Rubio, K. (2001). Educação física e ciências humanas. São Paulo: Hucitec. 12) Geertz, C. (1989). A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. (Trabalho original publicado em 1973). 13) Laplantine, F. (1988). Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense. (Trabalho original publicado em 1987). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 172 Revista Brasileira de Medicina do Esporte Print version ISSN 1517-8692 Rev Bras Med Esporte vol.7 no.6 Niterói Nov./Dec. 2001 doi: 10.1590/S1517-86922001000600002 NÍVEIS DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL EM ADOLESCENTES Dartagnan Pinto Guedes; Joana Elisabete Ribeiro Pinto Guedes; Decio Sabbatini Barbosa; Jair Aparecido de Oliveira Universidade Estadual de Londrina RESUMO Benefícios da prática de atividade física e riscos do sedentarismo associados à saúde e ao bem-estar são amplamente documentados na literatura. No entanto, maior número de estudos procura envolver sujeitos adultos. Pouco se conhece com relação aos hábitos de prática de atividade física de adolescentes. O objetivo do estudo foi analisar níveis de prática de atividade física habitual em amostra representativa de adolescentes matriculados em escola de ensino médio do município de Londrina, Paraná. A amostra foi constituída por 281 adolescentes (157 moças e 124 rapazes) com idade entre 15 e 18 anos. Informações acerca da atividade física habitualmente realizada foram obtidas mediante instrumento retrospectivo de auto-recordação das atividades diárias. Estabeleceram-se estimativas quanto à demanda energética (kcal/kg/dia) com base no custo calórico associado ao tipo e à duração das atividades registradas pelos adolescentes. Os resultados revelam que rapazes foram consistentemente mais ativos fisicamente que moças. Por volta de 54% dos rapazes envolvidos no estudo foram classificados como ativos ou moderadamente ativos, enquanto aproximadamente 65% das moças analisadas mostraram ser inativas ou muito inativas. Os rapazes demonstraram significativamente maior envolvimento na prática de exercícios físicos e de esportes que moças (3:20 vs. 0:48 horas/semana). Os níveis de prática de atividade física habitual tenderam a reduzir-se com a idade, sobretudo entre moças. As moças permaneceram menor tempo em frente da TV e do vídeo que rapazes (3:30 vs. 4:00 Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 173 horas/dia). Rapazes, porém não moças, pertencentes a classe socioeconômica familiar mais baixa mostraram ser menos ativos fisicamente que seus pares de classe socioeconômica familiar mais privilegiada. A maioria dos adolescentes (97% das moças e 74% dos rapazes) não atende às recomendações quanto à prática de atividade física que possa alcançar impacto satisfatório à saúde. Como conclusão, a elevada incidência de sedentarismo observada na amostra analisada sugere ações intervencionistas que venham incentivar a prática adequada de atividade física na população jovem. Palavras-chave: Atividade física. Estilo de vida. Promoção da saúde. Adolescência. INTRODUÇÃO Benefícios da prática de atividade física associados à saúde e ao bem-estar, assim como riscos predisponentes ao aparecimento e ao desenvolvimento de disfunções orgânicas relacionados ao sedentarismo, são amplamente apresentados e discutidos na literatura1,2. Apesar de o maior número de estudos envolver adultos, parece não haver dificuldade em selecionar evidências de cunho biológico 3-7 e psicoemocionais8 quanto às vantagens de os adolescentes tornarem-se adequadamente ativos fisicamente. Importantes estudos têm procurado destacar que hábitos de prática da atividade física, incorporados na infância e na adolescência, possivelmente possam transferirse para idades adultas9-11. Acompanhamentos longitudinais sugerem que adolescentes menos ativos fisicamente apresentam maior predisposição a tornaremse adultos sedentários12,13. A despeito de sua importância na proposição de programas de saúde pública, caracterizando-se como elemento essencial no estabelecimento de situação ideal de saúde, pouco se conhece com relação aos níveis de prática de atividade física habitual de adolescentes. No contexto brasileiro, os raros estudos localizados procuraram envolver amostras pouco representativas do segmento populacional envolvido, além do que, em seus delineamentos, optou-se por estabelecer níveis de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 174 prática de atividade física mediante estratégias comparativas entre os pares e por intermédio de autoclassificação14. Apesar da contribuição para a área de estudo, em razão dos problemas metodológicos apresentados, inferências provenientes de seus resultados podem ficar comprometidas. Não foi possível localizar nenhum outro estudo que procurasse abordar aspectos comportamentais associados ao tipo, à intensidade, à duração e à freqüência das atividades físicas habitualmente realizadas e estimativas quanto à demanda energética/dia. O objetivo do estudo foi analisar níveis de prática de atividade física habitual, mediante registro de informações relacionadas às atividades do cotidiano e estimativas da demanda energética/dia, de adolescentes matriculados em escola da rede estadual de ensino médio do município de Londrina, Paraná. MATERIAIS E MÉTODOS Para elaboração do estudo foram utilizadas informações contidas no banco de dados construído a partir do projeto de pesquisa Atividade Física, Composição da Dieta e Fatores de Risco Predisponentes às Doenças Cardiovasculares em Adolescentes, desenvolvido entre agosto e novembro/1998, que inclui adolescentes entre 15 e 18 anos de idade de ambos os sexos. O projeto de pesquisa teve como alvo escolares regularmente matriculados no ensino médio do Colégio de Aplicação ligado à Universidade Estadual de Londrina. Optou-se por envolver sujeitos que freqüentavam unicamente essa escola, por conta das características longitudinais do estudo (experimentação de programas de educação para saúde mediante intervenções dietéticas e de prática de exercícios físicos) e por sua representatividade no universo de escolares de ensino médio do município de Londrina, Paraná. Os protocolos de intervenção no estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Londrina e acompanham normas da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa envolvendo seres humanos. A inclusão dos sujeitos no estudo ocorreu por desejo em participar do experimento e mediante autorização dos pais ou responsáveis. Para tanto, todos os escolares matriculados no ano letivo de 1998, juntamente com seus pais ou Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 175 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] responsáveis, foram contatados e informados quanto à natureza e aos objetivos do estudo. Dos 313 escolares matriculados, 281 (90%) concordaram em participar do estudo (tabela 1). Além das variáveis de controle sexo e idade cronológica, para o presente estudo, houve preocupação em reunir informações quanto à classificação socioeconômica das famílias dos escolares envolvidos no projeto de pesquisa. Para tanto, recorreuse às diretrizes propostas pela Abipemi, com base no nível de escolaridade do chefe da família, condições de moradia, posse de utensílios domésticos, automóveis e número de empregados domésticos15. Mediante pontuações computadas em cada um dos itens considerados foi definida classe socioeconômica familiar categorizada do menor nível (classe A) para o maior nível (classe C). Informações acerca dos níveis de prática de atividade física habitual foram obtidas por intermédio de instrumento retrospectivo de auto-recordação das atividades diárias, preconizado por Bouchard et al16. Nesse caso, as atividades do cotidiano são classificadas em um continuum envolvendo nove categorias, de acordo com estimativas quanto ao custo calórico médio das atividades realizadas por humanos. Em um extremo do continuum, a categoria 1 abriga atividades de menor custo calórico, como sono e repouso na cama, e, no outro extremo, a categoria 9 reúne atividades de mais elevado custo calórico, como trabalho manual intenso e prática de esportes competitivos. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 176 Participantes do estudo receberam instrumento com instruções e recomendações no sentido de identificar o tipo de atividade realizada em cada período de 15 minutos ao longo das 24 horas do dia. Registro das informações foi realizado pelos adolescentes em quatro dias da mesma semana, dois no meio (entre segunda e sexta-feira) e dois no final de semana (sábado e domingo). De posse dessas informações, estabeleceu-se tempo despendido nas diferentes categorias de atividade física e estimativas quanto à demanda energética, por quilograma de peso corporal, das atividades realizadas ao longo de cada dia (kcal/kg/dia). Para efeito de cálculo, utilizou-se média ponderada envolvendo os dois dias do meio e do final de semana. Com relação à qualidade dos dados, réplicas quanto ao registro das informações com intervalo de duas semanas foram realizadas em 36 sujeitos que participaram da amostra definitiva do estudo. Coeficientes de correlação momento-produto de Pearson apresentaram valores entre 0,74 e 0,79. Esses achados estão de acordo com resultados encontrados em estudos anteriores17,18 e confirmam evidências no sentido de que instrumentos de auto-recordação das atividades do cotidiano podem produzir informações, quanto ao nível habitual de prática da atividade física em adolescentes, com reprodutibilidade aceitável. Na tentativa de estabelecer classificações com relação ao nível de prática de atividade física habitual recorreu-se à proposta idealizada por Cale19: a) ativo: 40kcal/kg/dia; b) moderadamente ativo: 37 a 39,9kcal/kg/dia; c) inativo: 33 a 36,9kcal/kg/dia; e d) muito inativo: < 32,9kcal/kg/dia. A presente classificação originou-se de estudos desenvolvidos inicialmente por Blair20 e mais recentemente vem sendo empregada por outros pesquisadores21,22. O tratamento estatístico das informações foi realizado mediante o pacote computadorizado Statistical Package for the Social Science (SPSS), versão 7.51. Para análise das variáveis quantitativas recorreu-se aos procedimentos da estatística descritiva e, posteriormente, à análise de variância do tipo two-way com interação envolvendo três critérios de classificação: sexo, idade e classe socioeconômica. Empregou-se teste de comparações múltiplas de Scheffe para Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 177 identificação de eventuais diferenças específicas. As variáveis qualitativas foram analisadas mediante tabelas de contingência, envolvendo testes de qui-quadrado (2) para identificação de diferenças estatísticas entre os critérios de classificação. RESULTADOS Informações estatísticas quanto às estimativas de demanda energética por quilograma de peso corporal, equivalente às atividades do cotidiano, são mostradas na tabela 2. Ao estudar valores de F, produzidos pela análise de variância envolvendo ambos os sexos, verificam-se diferenças estatísticas favoráveis aos rapazes. Em média, moças e rapazes apresentaram estimativas de demanda energética entre 35 e 40kcal/kg/dia. Quando das comparações entre idade e classe socioeconômica familiar, não se encontraram diferenças estatística importantes. Em vista disso, a fim de elevar o poder de interpretação estatística das informações, para análise das classificações quanto ao nível de prática de atividade física habitual, optou-se por considerar um único grupo para cada sexo, independente da idade e da classe socioeconômica familiar. Resultados encontrados com relação aos níveis de prática de atividade física habitual revelam que 54% dos rapazes envolvidos no estudo são classificados como ativos ou moderadamente ativos. Entre as moças, apenas 35% delas são classificadas como tais. A proporção de adolescentes classificados como inativos ou muito inativos foi de 65% entre moças e de 46% entre rapazes (figura 1). Com base nessas informações, comprova-se que os rapazes demonstraram ser consistentemente mais ativos que as moças, independentemente da idade e da classe socioeconômica familiar considerada (2 = 8,796; p = 0,034). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 178 Na tabela 3 são apresentadas informações quanto ao tempo médio de envolvimento dos adolescentes selecionados para estudo nas diferentes categorias de atividades do cotidiano. Mediante análise dos resultados verifica-se que, em atividades que solicitam menor demanda energética, ambos os sexos apresentaram comportamentos bastante similares. Em média, por volta de 20 horas/dia, os adolescentes desempenharam atividades em posição deitada e sentada. Em atividades de maior exigência quanto à demanda energética, constatam-se diferenças significativas em linguagem estatística entre os dois sexos. Moças e rapazes participaram de atividades envolvendo esforços físicos mais intensos em aproximadamente 8 e 41 minutos/dia, respectivamente. Em ambos os sexos, tempo médio de envolvimento em atividades de maior ou menor demanda energética apresenta modificações significativas com a idade. Moças e rapazes mais jovens tenderam a permanecer significativamente menos tempo em posição deitada/sentada e mais tempo em atividades envolvendo esforços físicos mais intensos, em comparação com seus pares de mais idade. Ao levar em conta informações associadas à classe socioeconômica familiar, percebem-se comportamentos diferenciados entre ambos os sexos. Moças pertencentes à classe socioeconômica familiar menos abastada, em todas as idades consideradas, demonstraram dedicar maior tempo ao longo do dia a atividades mais Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 179 intensas que seus pares privilegiados no campo socioeconômico. Entre rapazes, constata-se tendência inversa. Rapazes pertencentes à classe socioeconômica familiar mais elevada demonstraram envolver-se maior tempo em atividades mais intensas que rapazes de classe socioeconômica familiar mais baixa. Esses resultados sugerem que, apesar das similaridades observadas entre idade e classe socioeconômica familiar quanto às estimativas de demanda energética por quilograma de peso corporal, ao considerar categorias particulares de atividades do cotidiano, entre as moças, verificam-se tendências de modificações com a idade no tipo de atividade física realizada, sobretudo ao considerar a classe socioeconômica mais privilegiada. Com alguma freqüência, estudos na área têm procurado utilizar o tempo de assistência à TV e ao vídeo e a prática de exercícios físicos e de esportes em crianças e adolescentes como indicadores do nível de inatividade e de atividade física, respectivamente23-26. Resultados encontrados entre adolescentes analisados no estudo acerca do tempo de assistência à TV e ao vídeo e da prática de exercícios físicos e de esportes são apresentados na tabela 4. Em média, rapazes permaneceram tempo significativamente maior em frente da TV e do vídeo que moças (4,06 versus 3,25 horas/dia). No entanto, à medida que os adolescentes apresentavam idade mais avançada, o tempo médio de assistência à TV e ao vídeo diminuiu de maneira significativa em ambos os sexos. Ao estabelecer comparações em relação à classe socioeconômica familiar, moças e rapazes pertencentes à classe menos privilegiada dedicaram tempo significativamente maior em frente da TV e do vídeo que seus pares melhor classificados socioeconomicamente. Com relação à participação dos adolescentes na prática de exercícios físicos e de esportes, verificou-se que não mais de 13,4% das moças e 36,3% dos rapazes se identificaram com essas atividades. Com o avanço da idade, as moças que optaram pela prática de exercícios físicos e de esportes apresentaram redução significativa no tempo médio dedicado a essa prática. Aos 15 anos de idade, em média, as moças dedicaram 1,28 horas/semana à prática de exercícios físicos e de esportes. Aos 18 anos, o tempo médio se reduziu a 30 minutos/semana (tabela 4). Entre rapazes, além de o tempo de prática de exercícios físicos e de esportes ser Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 180 significativamente maior em comparação com o das moças, não se constataram variações entre as idades analisadas que se possam apontar em linguagem estatística. Em média, os rapazes dedicaram-se à prática de exercícios físicos e de esportes 3,20 horas/semana, comparativamente com os 48 minutos/semana observados entre moças. Em ambos os sexos, o tempo de participação em prática de exercícios físicos e de esportes entre as classes socioeconômicas familiares apresentou diferença estatisticamente significante. Adolescentes pertencentes à classe socioeconômica familiar intermediária foram os que demonstraram maior envolvimento com a prática de exercícios físicos e de esportes. Fato que chama atenção: nenhuma das moças analisadas no estudo pertencente à classe socioeconômica familiar mais elevada se envolveu com prática de exercícios físicos e de esportes. DISCUSSÃO Níveis de prática de atividade física habitual em segmentos da população jovem têm-se tornado importante tema de interesse e preocupação constante entre especialistas da área, em razão de sua estreita associação com aspectos relacionados à saúde. Apesar da disponibilidade de vários indicadores voltados à monitoração da prática de atividade física – calorimetria, água duplamente marcada, sensores de movimentos, freqüência cardíaca, observação direta e registros de auto-recordação – a opção pela utilização de um deles deverá estar relacionada às vantagens e às limitações de cada método diante do delineamento do estudo27. Por conta do baixo custo e da possibilidade de analisar maior número de sujeitos em curto espaço de tempo, instrumentos de auto-recordação têm sido o método mais comumente utilizado como indicador dos níveis de atividade física habitual. Contudo, informações produzidas por esse método podem ser contaminadas pela capacidade dos sujeitos em recordar os eventos realizados no período 28. Na tentativa de minimizar essa limitação, recomenda-se que o instrumento seja estruturado para prover tempo relativamente curto de recordação29. No presente estudo, o instrumento de auto-recordação das atividades do cotidiano acompanhou procedimentos de dia segmentado, ou seja, os adolescentes foram instruídos a registrar os eventos realizados a cada período de oito horas. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 181 A principal vantagem dos instrumentos de auto-recordação das atividades do cotidiano, como indicador dos níveis de prática de atividade física habitual, refere-se ao fato de ser possível identificar o contexto em que o evento foi realizado. Alguns estudos têm procurado demonstrar elevada associação entre atributos socioculturais e ambientais na prática habitual de atividade física 30,31. Assim, instrumentos de autorecordação tornam-se especialmente úteis à medida que procuram identificar em que condições os eventos de atividade física foram realizados. Outra vantagem dos instrumentos de auto-recordação é sua capacidade de estabelecer tipo, intensidade, duração e freqüência de cada evento específico de atividade física. Outros métodos apresentam dificuldades na identificação simultânea desses quatro indicadores da atividade física. Por exemplo, sensores de movimento podem ser utilizados para oferecer informações quanto à intensidade das atividades físicas, porém desconsideram informações quanto à duração. Monitores de freqüência cardíaca, por outro lado, podem ser empregados para estabelecer duração e intensidade das atividades físicas; no entanto, não apresentam informações quanto ao tipo de evento que induziu as respostas fisiológicas32. Portanto, estudiosos da área reconhecem que instrumentos de auto-recordação podem oferecer informações seguras quanto aos níveis de prática de atividade física habitual, mediante indicações com relação ao tipo, à intensidade, à duração e à freqüência das atividades do cotidiano28. Ao analisar informações relacionadas às estimativas da demanda energética por quilograma do peso corporal, resultados encontrados na amostra de adolescentes do município de Londrina-PR corroboram dados apresentados em outros estudos22,33-35, apontando rapazes como sendo habitualmente mais ativos que moças. Segundo indicações sugeridas na literatura quanto à classificação do nível de prática de atividade física habitual19,20, aproximadamente metade dos rapazes (46%) e dois terços das moças (65%) analisados no presente estudo são considerados como inativos ou muito inativos fisicamente. Levantamentos realizados envolvendo amostras provenientes de outros países também revelam importantes níveis de inatividade física em adolescentes, sobretudo entre moças33,34. Comparativamente com estudos europeus, se, por um lado, menor proporção de rapazes londrinenses foram classificados como inativos ou muito inativos, por outro, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 182 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] as moças de Londrina-PR foram as que apresentaram maior comprometimento quanto aos níveis habituais de prática de atividade física21,35. Apesar de alguns estudos apontarem tendência de decréscimo nos níveis de prática de atividade física habitual durante a adolescência 36,37, resultados encontrados no presente estudo sugerem que tanto as moças como os rapazes apresentaram estimativas quanto à demanda energética por quilograma de peso corporal similares dos 15 aos 18 anos de idade. Nesse particular, convém destacar que os estudos disponíveis na literatura que observaram reduções significativas em indicadores de prática da atividade física procuraram recorrer apenas às informações quanto ao tempo dedicado ao lazer ativo e à prática de esportes, ao passo que, no presente estudo, estimativas quanto à demanda energética por quilograma de peso corporal envolveram todas as atividades do cotidiano realizadas pelos adolescentes. Dessa forma, neste momento, comparações quanto aos níveis de prática de atividade física habitual entre esses estudos ficam prejudicadas. Ao analisar o envolvimento dos adolescentes considerados no presente estudo nas diferentes categorias de atividades do cotidiano, constata-se que moças e rapazes com mais idade apresentaram reduções quanto ao tempo de participação naqueles envolvendo esforços físicos mais intensos, como lazer ativo, prática de esportes e trabalho manual moderado, compensando com maior tempo de participação em atividades realizadas em posição sentada. A esse respeito, estudos sugerem que, com o avanço da idade, pelas circunstâncias socioculturais impostas aos adolescentes, estes tendem a substituir atividades do cotidiano mais vigorosas por atividades menos intensas fisicamente, como maior quantidade de horas de estudo, convívio social com amigos e entrada no mercado de trabalho envolvendo menor participação de esforços físicos30,31,38. No que se refere à classe socioeconômica familiar, idêntico aos resultados apresentados por alguns estudos39,40, e diferentemente do que foi observado por outros17, foram identificadas participações significativas desse componente na variação dos níveis de prática de atividade física habitual dos adolescentes selecionados no estudo. Provavelmente, divergências quanto à metodologia adotada na classificação socioeconômica familiar e nos indicadores associados à Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 183 identificação dos níveis de prática de atividade física possam contribuir para os desencontros observados nos resultados dos estudos considerados. Atenção especial deve ser direcionada às diferenças de comportamento entre ambos os sexos. Se, por um lado, moças pertencentes à classe socioeconômica familiar menos privilegiada demonstraram maior envolvimento em atividades físicas mais intensas, por outro, rapazes pertencentes à classe socioeconômica familiar mais elevada foram os que se envolveram mais proximamente com atividades de maior demanda energética. Nesse caso, intuitivamente, pode-se especular que rapazes de classe socioeconômica familiar mais baixa são levados ao mercado de trabalho mais precocemente, mediante atividades laborais que envolvem menor esforço físico, reduzindo, portanto, disponibilidade de tempo para atividades direcionadas ao lazer ativo e à prática de esportes. Pelo contrário, mais elevada proporção de rapazes pertencentes à classe socioeconômica familiar privilegiada, em regra, freqüentam clubes esportivos e academias de ginástica, o que permite maior participação em atividades fisicamente mais intensas. Entre moças, aquelas pertencentes à classe socioeconômica familiar mais baixa são levadas freqüentemente a assumir tarefas domésticas que envolvem por vezes trabalho manual de moderada intensidade, enquanto moças pertencentes à classe socioeconômica familiar mais elevada estariam desobrigadas dessas atividades. Tempo médio de assistência à TV e ao vídeo observado na amostra de adolescentes londrinenses foi aproximadamente o mesmo dedicado à escola, 3:30 e 4:00 horas/dia, para moças e rapazes, respectivamente. Em jovens norteamericanos e europeus, estudos relatam tempo médio por volta de 2-3 horas/dia24,33. Comparações com dados de jovens brasileiros ficam prejudicadas por conta das diferenças quanto à faixa etária considerada. Não foi possível localizar outros estudos envolvendo adolescentes brasileiros entre 15 e 18 anos de idade. Contudo, em amostras de moças e rapazes da Grande São Paulo, com 13 anos de idade, tempo médio de assistência à TV também se aproximou de 3-4 horas/dia41. O fato de os aparelhos de TV serem um bem de consumo presente na maioria dos lares das famílias brasileiras, constituirem opção de lazer de baixíssimo custo e que Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 184 oferece segurança que nem sempre pode ser encontrada em atividades fora de casa, talvez possa justificar significativo maior tempo de assistência à televisão e ao vídeo entre adolescentes mais jovens e de classe socioeconômica familiar menos privilegiada. Nessa idade, as opções de lazer oferecidas aos adolescentes apresentam custo financeiro que nem sempre pode ser atendido pelas famílias de menor poder aquisitivo; ainda, para os mais jovens, são disponibilizadas menores oportunidades de lazer, além da TV e do vídeo. No caso das moças, provável justificativa para menor período de assistência à TV e ao vídeo possa estar associado às limitações de tempo por conta das obrigações domésticas tipicamente atribuídas ao sexo feminino. Mediante evidências apresentadas por outros estudos, excessivo tempo de assistência à TV e ao vídeo pode contribuir para que os jovens venham a incorporar comportamentos indesejáveis, reduzindo a prática de outras atividades que envolvem maior participação física24,33. No presente estudo, rapazes e moças dedicaram, respectivamente, 8 e 30 vezes mais tempo em frente da TV e do vídeo que a prática de exercícios físicos e esportes. Além de outras considerações de cunho psicossocial, existem fortes evidências no sentido de que algum tempo em frente da TV e do vídeo condiciona hábitos dietéticos e adaptações biológicas que podem induzir o aparecimento e o desenvolvimento de fatores de risco predisponentes a inúmeras disfunções metabólicas42. Parece existir relação significativa entre tempo de assistência à TV e ao vídeo e utilização de guloseimas entre refeições, propiciando consumo excessivo de produtos açucarados e de maior aporte calórico, o que favorece a aquisição de hábitos alimentares direcionados ao desenvolvimento da obesidade43. Além disso, longo período em frente da TV e do vídeo implica permanecer em estado de repouso por mais tempo, reduzindo a síntese energética proveniente dos alimentos ingeridos em excesso e conduzindo os jovens à redução na prática de atividades mais intensas fisicamente44. Estudos envolvendo jovens entre 6 e 17 anos de idade sugerem que cada hora por dia de assistência à TV e ao vídeo pode explicar variações por volta de 2% na quantidade de gordura corporal a médio prazo45. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 185 Maior tempo dedicado pelos rapazes à prática de exercícios físicos e de esportes pode explicar-se pela distribuição de papéis na sociedade, tradicionalmente atribuídos a um e outro sexo. Entre moças, parece existir menor reforço social para a prática de exercícios físicos e de esportes e maior dependência para atividades menos intensas fisicamente vinculadas às tarefas domésticas46. Essa situação implica que moças e rapazes devem ser direcionados a assumir diferentes funções e, desde muito jovens, a participação dos rapazes em atividades esportivas e em esforços físicos mais intensos é valorizada mais positivamente que a das moças. Ainda, na adolescência, por conta de valores sociais deturpados, algumas moças podem adotar postura de que a prática de exercícios físicos e de esportes é proibitiva à sua condição de mulher. Esse estereótipo social, claramente identificado na sociedade atual, vem apresentando enorme resistência a mudanças. No campo biológico, a prática de exercícios físicos e de esportes entre os rapazes pode ser facilitada por adaptações morfológicas e fisiológicas com predomínio dos sistemas músculo-esquelético e de fornecimento de energia para trabalho muscular. A biologia feminina na adolescência parece ser mais adaptada a esforços físicos menos intensos47. A prática habitual de atividades físicas caracteriza-se como componente essencial para o estabelecimento de situação ideal de saúde. Em adultos, observam-se claras indicações no sentido de que menores níveis de prática de atividade física estão diretamente associados à elevada incidência de cardiopatias, diabetes, hipertensão, obesidade, osteoporose e alguns tipos de câncer1,2. Metanálise envolvendo mais de 40 estudos sugere que as doenças cardiovasculares são 1,9 vez mais provavelmente desenvolvidas em sujeitos menos ativos que nos mais ativos fisicamente48. Entre portadores de fatores de risco predisponentes às disfunções crônico-degenerativas, a proporção de sujeitos classificados habitualmente como sedentários é significativamente maior que a de sujeitos ativos fisicamente49. Embora menor número de adolescentes possa vir a apresentar disfunções crônicodegenerativas, estudos recentes apontam comprometimentos em indicadores de pressão arterial3, lipídio-lipoproteínas plasmáticas4 e gordura corporal5 nessa idade, em conseqüência de menores níveis de prática de atividade física, e que, na Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 186 seqüência, induzem importantes limitações metabólicas e funcionais na idade adulta47,50. No campo psicoemocional, níveis mais elevados de prática de atividade física habitual estão associados à conservação da auto-estima e do autoconceito e melhoria do relacionamento interpessoal que pode ser projetado para a idade adulta31,38. Por outro lado, mesmo admitindo que a potencial contribuição da prática de atividade física habitual em relação à proteção e à melhoria do estado de saúde é extremamente mais difícil de identificar durante a adolescência, existem fortes suspeitas de que comportamentos indesejáveis que podem afetar melhor estado de saúde na idade adulta, como uso abusivo de bebidas alcoólicas, consumo de tabaco, hábitos alimentares e prática inadequada de atividade física, podem ser estabelecidos em idades jovens46,50. Provavelmente, em razão das dificuldades no estabelecimento de delineamentos de pesquisa seguros e confiáveis, estudos definitivos quanto à transferência desses comportamentos indesejáveis da adolescência para a idade adulta ainda não estão disponíveis na literatura. Porém, evidências de que experiências bem-sucedidas com relação à prática de atividade física em idades jovens podem contribuir para uma vida adulta mais ativa fisicamente tornam-se cada vez mais claras9,30,46. Estudos longitudinais, envolvendo amostras representativas da população adulta na Inglaterra, mostraram que 25% dos sujeitos considerados ativos fisicamente dos 14 aos 19 anos de idade foram classificados como muito ativos na idade adulta, comparados com somente 2% dos classificados como ativos na idade adulta que eram inativos na adolescência. Por volta de 30% dos sujeitos analisados na adolescência, ao ser observados novamente aos 35-39 anos, foram consistentemente classificados em idêntico nível habitual de prática de atividade física, o que reforça hipótese no sentido de que hábitos associados à prática da atividade física podem ter origem em comportamentos vivenciados e incorporados na adolescência37. Dessa forma, parece ser possível assumir que possam existir evidências suficientemente convincentes no sentido de que a prática de atividade física habitual Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 187 deve ser incentivada na adolescência, não apenas por conta da busca de melhor estado de saúde no presente, mas também na tentativa de preparar os jovens para a prática regular de atividade física na idade adulta. Conseqüência a longo prazo da prática de atividade física habitual na adolescência potencializa sua importância no campo da saúde pública. Em idades infantis parece que a prática de atividades físicas caracteriza-se como tendência inata. Contudo, na seqüência, pode tornar-se suscetível a modificações de acordo com os estímulos recebidos durante o processo de desenvolvimento 51. O meio sociocultural em que a criança se desenvolve nem sempre fomenta suficiente e adequadamente a prática de atividades físicas, de tal maneira que esta passa a identificar-se com atitudes sedentárias. Por exemplo, longo tempo de assistência à TV e ao vídeo, por não serem apresentadas outras opções de lazer, brinquedos eletrônicos em substituição a outros que exigem esforços físicos mais intensos e prática esportiva excessivamente formal em prejuízo do caráter lúdico das atividades recreativas. Nessa linha de raciocínio, estudos mostram que, em idades jovens, a motivação para a prática de atividade física está orientada para aspectos intrínsecos do próprio desfrute da atividade, evoluindo com o passar dos anos para aspectos mais proximamente relacionados à saúde e ao bem-estar52. Considerando o processo de aprendizagem como capaz de gerar atitudes positivas nos jovens, pode-se supor que, na escola e, mais diretamente, nas aulas de educação física, os adolescentes escolares tenham oportunidades de modificar e consolidar suas atitudes diante da prática de atividade física habitual. Logo, destacam-se os programas de educação física escolar como sendo de extrema importância no estabelecimento dos níveis habituais de prática de atividade física para toda a vida. Essa posição encontra-se em consonância com resultados encontrados nos estudos desenvolvidos por Garcia Montes53, segundo os quais existe estreita relação positiva entre prática de lazer ativo durante o tempo livre na idade adulta e percepção favorável quanto às aulas de educação física recebidas nos anos de escolarização. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 188 No que se refere aos fatores que podem atuar como mediadores nos níveis de prática de atividade física habitual, destacam-se aspectos associados aos atributos pessoais, sociais e ambientais. Quanto aos atributos pessoais, quantidades de gordura corporal vêm merecendo maior atenção dos estudiosos da área. Embora possam existir indicações contraditórias, jovens com excesso de gordura corporal tendem a envolver-se mais tempo do cotidiano em atividades físicas de menor intensidade que seus pares magros30. Nesse particular, especula-se que a relação atividade física habitual-excesso de gordura corporal possa assumir posição de reciprocidade: menores níveis de prática de atividade física induzem aumento da gordura corporal e, à medida que se eleva a quantidade de gordura corporal, deverá ocorrer menor participação em eventos de atividades físicas. Sobre informações associadas à aptidão física, às atitudes e às percepções que podem apresentar relação com níveis de prática de atividade física habitual entre jovens, estudos mostram que melhores índices de aptidão física apresentam relação de causa-efeito com a prática de atividades físicas, sobretudo naquelas que envolvem esforços físicos mais intensos23,30. Contudo, não é o caso das atitudes e percepções para a prática de atividade física e o próprio conhecimento de seus benefícios54. Nesse particular, argumenta-se que conhecimento associado a como ser fisicamente ativo talvez seja mais importante que conhecimento referente ao por que ser ativo55. Reforçando essa hipótese, Sallis56 apresenta quatro razões que podem favorecer a participação dos jovens quanto à prática de atividade física: a) conhecimento prático referente à prática regular de atividades físicas; b) disponibilidade de espaço físico; c) intenção de praticar; e d) capacidade percebida pelo próprio jovem para realizar as atividades físicas. Aspectos que se identificam com componentes genéticos também podem apresentar influência no nível de prática de atividade física habitual. Estudos nessa direção apontam que por volta de 29% da variabilidade de indicadores associados aos níveis de prática de atividade física habitual podem ser devidos aos componentes genéticos. Ainda, os 71% restantes tornam-se resultantes da interação entre características apresentadas pelo sujeito e elementos do meio externo 57. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 189 Tipo de personalidade supõe questão que, apesar de eventualmente vir a interferir nos níveis de prática de atividade física habitual, não tem sido investigado entre jovens. De qualquer forma, em adultos, parecem existir indícios no sentido de que sujeitos que demonstram traços de personalidade que os tornam excessivamente perfeccionistas, exigentes, competitivos e agressivos ficam menos ativos fisicamente no cotidiano que sujeitos com padrão de comportamento menos obsessivo 58. Com relação aos atributos sociais, assume-se que níveis de prática de atividade física habitual podem sofrer interferência de condutas e valores demonstrados pelas pessoas que participam do universo social do jovem, como membros da família, amigos e, possivelmente, professores. No que se refere à participação dos membros da família, evidências sugerem que os pais podem atuar como importante modelo a ser imitado pelos filhos57,59. Nesse particular, consideram-se os níveis de prática de atividade física habitual das mães como uma das variáveis preditoras com maior incidência sobre o perfil de prática de atividade física dos filhos, independentemente do sexo60. Considerando a preferência dos jovens em participar de atividades em grupo, especula-se que esses deverão ser influenciados por aquilo que realizam os amigos. Mediante estudos que procuraram enfocar o envolvimento de jovens na prática regular de exercícios físicos e de esportes, observou-se que maior aderência aos programas apresenta estreita relação com número de amigos que também estão envolvidos nos programas61. Com relação à eventual influência que os professores, especialmente os da disciplina de educação física, possam exercer na prática de atividade física habitual dos jovens, pouco tem sido estudado sobre o assunto. Contudo, considerando sua identificação com o tema, parece que os professores de educação física possam vir a constituir modelo extremamente importante para os jovens na aquisição e na permanência dos hábitos de prática de atividade física. Quanto aos atributos ambientais com possíveis incidências negativas sobre os níveis de prática de atividade física habitual dos jovens, estudos procuram destacar dificuldades de acesso a espaços físicos apropriados, como parques, praças e Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 190 instalações esportivas, falta de segurança em determinadas circunstâncias para atividades ao ar livre e condições climáticas adversas55. Com relação aos pressupostos associados à prática de atividade física que possa conferir algum benefício à saúde do adolescente ou do adulto, a abordagem tradicional de que são necessários esforços físicos contínuos, vigorosos e que repercutam em ganhos significativos nos componentes da aptidão física vem sendo modificada62-64. Participação regular em esforços físicos moderados pode oferecer muitos dos benefícios à saúde que advêm de esforços físicos mais vigorosos. Ainda, no caso dos adolescentes, existem fortes indícios de que programas de exercícios físicos que envolvem esforços físicos moderados têm maior probabilidade de ser adotados e mantidos ao longo de toda a vida que exercícios físicos que solicitam esforços físicos vigorosos65. Em vista disso, supõe-se que a participação dos jovens em determinados tipos de esportes, mediante níveis de exigências quanto à realização de esforços físicos mais elevados, não garante necessariamente substancial contribuição para o desenvolvimento de hábitos direcionados à prática permanente de atividade física voltada à saúde. Com base nos novos paradigmas associados às características dos esforços físicos e seus benefícios à saúde, grupos de pesquisadores, juntamente com instituições voltadas à saúde pública, têm procurado idealizar recomendações básicas para a prática da atividade física62,63. Essas recomendações procuram oferecer indicações norteadoras quanto à prática de atividade física considerada suficiente para alcançar benefícios à saúde. No caso de adolescentes, referência especial vem sendo apresentada às recomendações propostas por ocasião da realização da International Consensus for Conference on Physical Activity Guidelines 62 Adolescents : Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 191 Em se tratando de recomendações direcionadas à prescrição e à orientação de programas de exercícios físicos, evidências apontam que a realização de esforços físicos está relacionada com melhor estado de saúde, independentemente dos componentes: tipo, intensidade, duração e freqüência. Portanto, em assim sendo, para estabelecer efeitos positivos para a saúde, o que importa é a demanda energética proveniente dos esforços físicos induzidos pela prática de exercícios físicos64. A esse respeito, Blair e Connelly66 sugerem que equivalência energética por volta de 3kcal/kg/dia parece ser suficiente para alcançar benefícios à saúde tanto em adultos como em adolescentes. Na amostra analisada no presente estudo, constatou-se que não mais de 3,2% das moças e 25,8% dos rapazes atenderam a essa proposição, confirmando indícios quanto à significativa proporção de adolescentes que apresentaram envolvimento insuficiente em programas de exercícios físicos orientados para a saúde. CONCLUSÕES O presente estudo procurou analisar níveis de prática de atividade física habitual em amostra representativa de escolares adolescentes, entre 15 e 18 anos de idade, do município de Londrina, Paraná. Mediante resultados encontrados, pode-se inferir que rapazes demonstraram ser fisicamente mais ativos que moças, sobretudo em eventos associados à prática de exercícios físicos e de esportes. Com a idade, níveis de prática de atividade física habitual tenderam a reduzir-se, de forma mais Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 192 expressiva, entre moças. Rapazes de mais elevada classe socioeconômica familiar mostraram ser mais ativos fisicamente, ao passo que, entre moças, observa-se situação inversa: as mais ativas fisicamente pertenciam à classe socioeconômica menos privilegiada. Baseando-se nas estimativas de demanda energética (kcal/kg/dia) e nas recomendações apresentadas na literatura quanto à prática de atividade física, constatou-se preocupante incidência de sedentarismo. Acentuada proporção dos adolescentes analisados no estudo não apresentou níveis suficientes de prática de atividade física que possam alcançar maior impacto à saúde. Moças demonstraram mais elevado comprometimento que rapazes. Embora possam apresentar limitações por tratar-se de amostragem regional, evidências acumuladas mediante desenvolvimento do presente estudo sugerem que os adolescentes não estão sendo estimulados de maneira adequada quanto à prática de atividade física que venha a repercutir favoravelmente na saúde. Ainda, considerando a possibilidade de transferência de hábitos incorporados na adolescência para a idade adulta, parece, também, que os adolescentes não estão sendo preparados para assumir atitudes que lhes permitam no futuro adotar estilo de vida ativo fisicamente. REFERÊNCIAS 1. Bouchard C, Shephard RJ, Stephns T. Physical activity, fitness and health: International Proceedings and Consensus Statement. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1994. [ Links ] 2. US Department of Health and Human Services. Physical Activity and Health: A Report of the Surgeon General. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, 1996. [ Links ] 3. Alpert BS, Wilmore JH. Physical activity and blood pressure in adolescents. Pediatric Exercise Science 1994;6:361-80. [ Links ] 4. Armstrong N, Simons-Morton B. Physical activity and blood lipids in adolescents. Pediatric Exercise Science 1994;6:381-405. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 193 5. Bar-Or O, Baranowski T. Physical activity, adiposity and obesity among adolescents. Pediatric Exercise Science 1994;6:348-60. [ Links ] 6. Bailey DA, Martin AD. Physical activity and skeletal health in adolescents. Pediatric Exercise Science 1994;6:330-47. [ Links ] 7. Marrow JR Jr, Freedson PS. Relationship between habitual physical activity and aerobic fitness in adolescents. Pediatric Exercise Science 1994; 6:315-29. [ Links ] 8. Calfas KJ, Taylor WC. Effects of physical activity on psychological variables in adolescents. Pediatric Exercise Science 1994;6:406-23. [ Links ] 9. Laakso L, Viikari J. Physical activity in childhood and adolescence as predictor of physical activity in young adulthood. Am J Prev Med 1997;13:317-23. [ Links ] 10. Taylor WC, Blair SN, Cummings SS, Wun CC, Malina RM. Childhood and adolescent physical activity patterns and adult physical activity. Med Sci Sports Exerc 1999;31:118-23. [ Links ] 11. Barnekow-Bergkvist M, Hedberg G, Janlert U, Jansson E. Physical activity pattern in men and women at the ages of 16 and 34 and development of physical activity from adolescence to adulthood. Scand J Med Sci Sports 1996;6:359-70. 12. Glenmark B, Hedberg G, Jansson E. Prediction of physical activity level in adulthood by physical characteristics, physical performance and physical activity in adolescence: an 11-year follow-up study. Eur J Appl Physiol 1994;69:530-8. 13. Raitakari OT, Porkka KVK, Taimela S, Telama R, Rasanen L, Viikari JSA. Effects of persistent physical activity and inactivity on coronary risk factors in children and young adults. Am J Epidemiol 1994;140: 195-205. [ Links ] 14. Matsudo VKR, Matsudo SMM, Andrade EL, Andrade DR, Araújo T, Rocha A, et al. Physical activities levels in children from a low socioeconomic region. In: Welsman J, Armstrong N, Kirby B, editors. Children and exercise XIX. Exeter: Washington Singer Press, 1997:113-8. [ Links ] 15. Almeida H, Wicherhauser PM. O critério ABA/Abipemi: em busca de uma atualização. São Paulo: Abipemi, 1991. [ Links ] 16. Bouchard C, Tremblay A, LeBlanc C, Lortie G, Sauard R, Therialt G. A method to assess energy expenditure in children and adults. Am J Clin Nutr 1983;37:461-7. 17. Mota J, Silva G. Adolescent's physical activity: association with socioeconomic status and parental participation among a Portuguese sample. Sport Education and Society 1999;4:193-9. [ Links ] 18. Sallis JF, Zakarian JM, Hovell MF, Hofstetter CR. Ethnic, socioeconomic, and sex differences in physical activity among adolescents. J Clin Epidemiol 1996;49:125-34. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 194 19. Cale L. Self-report measures of children's physical activity: recommendations for future development and a new alternative measure. Health Education Journal 1994;53:439-53. [ Links ] 20. Blair SN. How to assess exercise habits and physical fitness. In: Matarazzo JD, Miller NE, Weiss SM, Herd JA, editors. Behavioural health: a handbook of health enhancement and disease prevention. New York: John Wiley and Sons,1984:424-47. 21. Cale L, Almond L. The physical activity levels of English adolescent boys. European Journal of Physical Education 1997;2:74-82. [ Links ] 22. Cantera-Garde MA, Devís-Devís J. Physical activity levels of secondary school Spanish adolescents. European Journal of Physical Education 2000;5:28-44. 23. Pate RR, Trost SG, Dowda M, Ott AE, Ward DS, Saunders R, et al. Tracking of physical activity, physical inactivity and health-related physical fitness in rural youth. Pediatric Exercise Science 1999;11:364-76. [ Links ] 24. Gordon-Larsen P, McMurray RG, Popkin BM. Adolescent physical activity and inactivity vary by ethnicity: The National Longitudinal Study of Adolescent Health. J Pediatr 1999;135:301-6. [ Links ] 25. Lindquist CH, Reynolds KD, Goran MI. Sociocultural determinants of physical activity among children. Prev Med 1999;29:305-12. [ Links ] 26. Janz KF, Dawson JD, Mahoney LT. Tracking physical fitness and physical activity from childhood to adolescence: the muscatine study. Med Sci Sports Exerc 2000;32:1250-7. [ Links ] 27. Montoye HJ, Kemper HCG, Saris WHM, Washburn RA. Measuring physical activity and energy expenditure. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1996. 28. Sallis JF, Saelens BE. Assessment of physical activity by self-report: status, limitations, and future directions. Res Q Exerc Sport 2000;71:1-14. [ Links ] 29. Baranowski T. Validity of self report of physical activity: an information processing approach. Res Q Exerc Sport 1988; 59:314-7. [ Links ] 30. Sallis JF, Simons-Morton BG, Stone EJ, Corbin CB, Epstein LH, Faucette N, et al. Determinants of physical activity and interventions in youth. Med Sci Sports Exerc 1992;24:S248-57. [ Links ] 31. Raudsepp L, Viira R. Sociocultural correlates of activity in adolescents. Pediatric Exercise Science 2000;12:51-60. [ Links ] 32. Freedson PS, Miller K. Objective monitoring of physical activity using motion sensors and heart rate. Res Q Exerc Sport 2000;71:21-9. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 195 33. Pate RR, Long B, Health G. Descriptive epidemiology of physical activity in adolescents. Pediatric Exercise Science 1994;6:434-47. [ Links ] 34. Sallis JF. Epidemiology of physical activity and fitness in children and adolescents. Crit Rev Food Sci Nutr 1993;33:403-8. [ Links ] 35. Cale L. An assessment of the physical activity levels of adolescent girls — Implications for physical education. European Journal of Physical Education 1996;1:46-55. [ Links ] 36. Kemper HCG. The natural history of physical activity and aerobic fitness in teenagers. In: Dishman R, editor. Advances in exercise adherence. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1994:293-318. [ Links ] 37. Armstrong N. The challenge of promoting physical activity. J R Soc Health 1995;115:186-92. [ Links ] 38. Douthitt VL. Psychological determinants of adolescent exercise adherence. Adolescence 1994;29:711-22. [ Links ] 39. Gordon-Larsen P. Adolescent physical activity and inactivity vary byethnicity: The National Longitudinal Study of Adolescents Health. J Pediatr 1999;135:301-6. 40. Kemper HCG. Physical activity in prepubescent children: relationship with residential attitude and socioeconomic status. Pediatric Exercise Science 1996;8:5768. [ Links ] 41. Matsudo SMM, Matsudo VKR, Andrade DR, Rocha JR. Physical fitness and time spent watching TV in children from low socioeconomic region. Med Sci Sports Exerc Suppl 1997; 20:237. [ Links ] 42. Robinson T, Hammer L, Killen J, Kraemer H, Wilson D, Hayward CH, Taylor. Does television viewing increase obesity and reduce physical activity? Crosssectional and longitudinal analysis among adolescent girls. Pediatrics 1993;91:27380. [ Links ] 43. Dietz WH, Stransburger V. Children, adolescents, and television. Curr Probl Pediatr 1991;21:8-31. [ Links ] 44. Klesges R, Shelton M, Klesges L. Effects of television on metabolic rate: potential implications for childhood obesity. Pediatrics 1993;91:281-6. [ Links ] 45. Dietz WH, Gortmaker SL. Do we fatten our children at television set? Obesity and television viewing in children and adolescents. Pediatrics 1985;75:807-12. 46. Taylor WC, Yancey AK, Leslie J, Murray NG, Cummings SS, Sharkey SA, et al. Physical activity among African American and Latino middle school girls: consistent beliefs, expectations, and experiences across two sites. Women Health 1999;30:6782. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 196 47. Riddoch C, Savage M, Murphy N, Cran W, Boreham C. Long term health implications of fitness and physical activity patterns. Arch Dis Child 1991;66:1426-33. 48. Berlin JA, Colditz GA. A meta-analysis of physical activity in the prevention of coronary heart disease. Am J Epidemiol 1990;132:612-28. [ Links ] 49. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of sedentary lifestyle: behavioral risk factor surveillance system, United States, 1991. Morb Mort Wkly Rep 1993;42:576-9. [ Links ] 50. Baranowski T, Bouchard C, Bar-Or O. Assessment, prevalence and cardiovascular benefits of physical activity and fitness in youth. Med Sci Sports Exerc 1992;24:237-41. [ Links ] 51. Malina RM. Physical activity and fitness of children and youth: questions and implications. Medicine, Exercise, Nutrition and Health 1995; 4:123-35. [ Links ] 52. Garcia AW, Norton-Broda MA, Frenn M, Coviak C, Pender NJ, Ronis DL. Gender and developmental differences in exercises believe among youth and prediction of their exercise behavior. J Sch Health 1995;65:213-9. [ Links ] 53. Garcia Montes ME. Actitudes y comportamientos de la mujer granadina ante la práctica física de tiempo libre [Tesis Doctoral]. Universidad de Granada, 1997. 54. Ferguson KJ, Yesalis CE, Pomrehn PR, Kirkpatrick MB. Attitudes, knowledge, and beliefs as predictors of exercise intent and behavior in school children. J Sch Health 1988;59:112-5. [ Links ] 55. Desmond SM, Price JH, Lock RS, Smith D, Stewart PW. Urban black and white adolescent's physical fitness status and perceptions of exercise. J Sch Health 1990;60:220-6. [ Links ] 56. Sallis JF. Determinants of physical activity behavior in children. In: Pate RR, Hohn RC, editors. Health and fitness through physical education. Champaign, Illinois: Human Kinetics, 1994:31-44. [ Links ] 57. Perusse L, Tremblay A, Leblanc C, Bouchard C. Genetic and environmental influences on level of habitual physical activity and exercise participation. Am J Epidemiol 1989;129:1012-22. [ Links ] 58. Dishman RK, Sallis JF, Orenstein DR. The determinants of physical activity and exercise. Public Health Rep 1985;100:158-71. [ Links ] 59. Freedson PS, Evenson S. Familial aggregation in physical activity. Res Q Exerc Sport 1991;62:384-9. [ Links ] 60. Brustad RJ. Who will go out and play? Parental and psychological influences on children's attraction to physical activity. Pediatric Exercise Science 1993;5:210-23. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 197 61. Sallis JF, Hovell MF, Hofstetter CR, Faucher P, Elder JP, Blanchard J, et al. A multivariate study of exercise determinants in a community sample. Prev Med 1989;18:20-34. [ Links ] 62. Sallis JF, Patrick K. Physical activity guidelines for adolescents: consensus statement. Pediatric Exercise Science 1994;6:302-14. [ Links ] 63. Pate RR, Pratt M, Steven SN, Haskell CA, Macera CA, Bouchard C, et al. Physical activity and the public health: a recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995; 273:402-7. [ Links ] 64. Riddoch CJ, Boreham CAG. The health-related physical activity of children. Sports Med 1995;19:86-102. [ Links ] 65. Powell KE, Dysinger W. Childhood participation in organized school sports and physical education as precursor of adult physical activity. Am J Prev Med 1987;3:276-81. [ Links ] 66. Blair S, Connelly JC. How much physical activity should we do? The case for moderate amounts and intensities of physical activity. Res Q Exerc Sport 1996;67:193-205. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 198 Revista Brasileira de Educação Física e Esporte versão impressa ISSN 1807-5509 Rev. bras. Educ. Fís. Esp. v.18 n.1 São Paulo mar. 2004 A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA E O PROCESSO DE FORMAÇÃO DOS NÃO PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA1 Suraya Cristina Darido Departamento de Educação Física, Universidade Estadual Paulista - Rio Claro RESUMO O objetivo do presente estudo foi verificar as origens e as razões pelas quais os alunos se afastam da prática da atividade física regular analisando o universo da Educação Física na escola. Especificamente procurou-se: a) levantar o número de dispensados das aulas de Educação Física na escola; b) investigar as opiniões dos alunos a respeito das aulas de Educação Física e como elas se modificam ao longo dos ciclos escolares; c) verificar quando os alunos iniciam o afastamento das aulas de Educação Física escolar e da prática da atividade física fora da escola; e d) levantar informações do porque ocorre o afastamento dos alunos nas aulas de Educação Física. Os dados foram coletados a partir da aplicação de um questionário contendo 14 questões a 1.172 alunos divididos entre a 5a. e 7a. série do Ensino Fundamental e 1o. ano do Ensino Médio da rede pública estadual de Rio Claro. Os resultados indicaram que há um progressivo afastamento dos alunos das aulas de Educação Física e da prática da atividade física fora da escola, além de um aumento do número de alunos que não freqüentam/participam/apreciam as aulas regularmente Unitermos: Educação Física na escola; Aderência; Evasão das aulas. Introdução A questão que se coloca neste trabalho é a seguinte: por quê tão poucas pessoas estão engajadas em práticas regulares de atividade física, mesmo, em alguns casos, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 199 conhecendo e reconhecendo os seus benefícios? Qual é o papel das aulas de Educação Física na escola neste contexto? O que pensam os alunos de suas aulas? Entendemos, que uma grande parcela da popula ção não chega a ter acesso, à educação, e também não possuem as condições mínimas satisfeitas, o que seriam, por si só, fatores relevantes para o afastamento da prática da atividade física regular. Há, contudo, um grande número de indivíduos que embora tenham as condições mínimas satisfeitas para a prática da atividade física não a realizam. Uma das hipóteses possíveis para o número reduzido de aderentes à prática da atividade física pode residir nas experiências anteriores vivenciadas nas aulas regulares de Educação Física. Muitos alunos acabam não encontrando prazer e conhecimento nas aulas de Educação Física e se afastam da prática na idade adulta. Atualmente entende-se a Educação Física na escola com uma área que trata da cultura corporal e que tem como finalidade introduzir e integrar o aluno nessa esfera, formando o cidadão que vai produzi-la, reproduzi-la e também transformá-la. Nesse sentido, o aluno deverá ser instrumentalizado para usufruir dos jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida, (BETTI, 1992). A Educação Física na escola deveria propiciar condi ções para que os alunos obtivessem autonomia em relação à prática da atividade física, ou seja, após o período formal de aulas os alunos deveriam manter uma prática de atividade regular, sem o auxílio de especialistas, se assim desejarem. Este objetivo é enormemente facilitado se os alunos encontram prazer nas aulas de Educação Física, pois, apreciando determinada atividade é mais provável desejar continua-la, caracterizando uma ligação de prazer. Um outro aspecto aponta para o caminho do domínio cognitivo, ou seja, o conhecimento e o reconhecimento da importância da atividade física, que significa, entender, compreender o porquê realizar atividade física, como realizá-la, quais os efeitos, além de outros (DARIDO, RANGEL-BETTI, RAMOS, GALVÃO, FERREIRA, SILVA, RODRIGUES, SANCHES, PONTES & CUNHA, 2001). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 200 O prazer e o conhecimento sobre a prática da atividade física teriam um valor bastante limitado se os alunos não vivenciassem ou aprendessem os aspectos vinculados ao corpo/movimento. Por isso, a importância da Educação Física na escola é tamb ém garantir a aprendizagem das atividades corporais produzidas pela cultura. É preciso reconhecer que crianças até determinada fase da adolescência mantêmse razoavelmente ativas. Contudo, nota-se um grande afastamento da atividade física logo após esse período. De acordo com DISHMAN (1994) faz-se necessário compreender quais são os fatores responsáveis pela diminuição da atividade física na passagem da infância para a adolescência, e desta, para a idade adulta. Evidentemente, muitas mudanças nos domínios do comportamento ocorrem nesta transição. Contudo, a hipótese levantada pelo autor refere-se às experiências dos alunos durante o ciclo escolar, principalmente durante os anos referentes ao Ensino Médio. O que observamos nas aulas de Educação Física é que apenas uma parcela dos alunos, em geral os mais habilidosos, estão efetivamente engajados nas atividades propostas pelos professores. Esses, por seu lado, ainda influenciados pela perspectiva esportivista, continuam a valorizar apenas os alunos que apresentam maior nível de habilidade, o que acaba afastando os que mais necessitam de est ímulos para a atividade física. Os resultados imediatos destes procedimentos são; um grande número de alunos dispensados das aulas e muitos que simplesmente não participam dela, e que provavelmente não irão aderir aos programas sistematizados de atividade física. Objetivo O objetivo do presente estudo foi verificar as origens e as razões pelas quais os alunos se afastam da prática da atividade física regular. Mais especificamente, procurou-se: a) levantar o número de dispensados das aulas de Educação Física na escola; Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 201 b) verificar como as opiniões dos alunos a respeito das aulas de Educação Física se modificam ao longo dos ciclos escolares; c) verificar quando os alunos iniciam o afastamento das aulas de Educação Física escolar e da prá- tica da atividade física fora da escola; d) levantar informações do porque ocorre o afastamento dos alunos nas aulas de Educação Física. Revisão bibliográfica Educação Física na escola e a perspectiva discente Alguns estudos procuraram verificar a opinião dos alunos sobre a prática regular da Educação Física na escola abordando diferentes questões que compõem o contexto pedagógico. Entre eles; CAVIGLIOLI (1976), RANGEL-BETTI (1992), GALVÃO (1993), DUMAZEDIER (1994), LOVISOLO (1995), GAMBINI (1995), DE ÁVILA (1995) SANTOS (1996) e FIORIN (1997), para citar alguns. CAVIGLIOLI (1976) procurou investigar qual a imagem da Educação Física na opinião dos escolares de 106 turmas. Os resultados indicaram que o aluno tem uma imagem fortemente valorizada da disciplina relacionando-a com liberdade, alegria, interesse, beleza e prazer, e ainda, com distração e não ao trabalho. Além disso, os resultados mostraram que as opiniões dos alunos se modificam ao longo das séries em função da faixa etária; dos 11 aos 13 anos os pré-adolescentes manifestam, em relação ao esporte, uma grande espontaneidade e entusiasmo; dos 14 aos 16 anos é um período em que há grandes variações individuais, os ritmos tornam-se mais variados, os alunos mais reservados e menos ativos. Dos 11 aos 14 anos 90% dos alunos participam regularmente das atividades corporais na escola, dos 15 aos 16 anos este número caí para 83%. RANGEL-BETTI (1992) também procurou analisar as expectativas dos alunos em relação à disciplina de Educação Física na escola. Os resultados mostraram que os alunos identificam o professor como o principal responsável pelo gostar ou não da Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 202 disciplina. Os escolares questionam os conteúdos e as estratégias empregadas pelos seus professores. A autora, na discussão dos resultados destaca que é mais simples incentivar as crianças a praticar atividade física do que aos adultos e por isso o professor deveria estar atento para fazer de suas aulas um momento saudável e prazeroso para os alunos. O trabalho conduzido por GALVÃO (1993) procurou analisar a opinião apenas dos alunos que haviam solicitado dispensa (trabalho e saúde) das aulas de Educação Física (N = 110). Os resultados indicaram que a maioria dos alunos (78%) entrevistados acredita que a Educação Física na escola não cumpre o seu papel porque transmite pouco ou nenhum conhecimento. GAMBINI (1995) também procurou verificar a opinião dos alunos dispensados sobre a prática da Educação Física na escola. Os resultados mostraram que a maioria dos alunos não participa das aulas e pede dispensa por motivos de trabalho; em seguida, os alunos apontam para a falta de material e o desinteresse dos professores; a minoria afirma se afastar das aulas por problemas de saúde. Entre estes alunos (dispensados) 37,5% realizam atividade física em clubes ou academias. São dados alarmantes que mostram a ineficiência do ensino formal em manter a motivação dos alunos. O descontentamento pelas aulas ocorre na opinião dos alunos porque elas deveriam ser diferentes e necessitam de variações (música, outros esportes, etc.). LOVISOLO (1995) procurou levantar informações sobre os pontos de vista e opiniões formuladas por alunos e seus responsáveis. Porque o autor acredita que a partir da experiência escolar, e de representações elaboradas estes pontos de vista devem ser levados em alta consideração se pretendemos alcançar algum grau de consenso em termos de projetos ou de propostas para a ação educacional. A amostra desta pesquisa foi formada por 703 informantes alunos e 432 informantes responsáveis por estes alunos de seis escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro. No tocante às questões relacionadas à Educação Física os principais resultados desta pesquisa mostraram que as disciplinas mais valorizadas pelos alunos são Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 203 português e matemática e a Educação Física representa a disciplina que os alunos mais apreciam. SANTOS (1996) procurou conhecer as razões pelas quais alguns alunos do curso de graduação em Educação Física, paradoxalmente, pediram dispensa das aulas de Educação Física durante o Ensino Médio (antigo 2o. grau). Os resultados mostraram que estes alunos requisitavam dispensa por diferentes razões; participavam de equipes de treinamento, não gostavam da aula e do professor, pela distância da escola e outros. DUMAZEDIER (1994) importante sociólogo do lazer, procurou identificar a opinião dos alunos em relação à aprendizagem de alguns objetivos educativos como: saber utilizar o tempo livre, "saber se virar na vida", ser capaz de criar no plano artístico, estar em boa condição física, etc. Ele constatou que os alunos consideram a via extra-escolar a mais favorável para a realização dos objetivos relacionados à Educação Física, e não através do trabalho realizado na escola. Mesmo que grande parte dos alunos prefira conte údos esportivos, e estes sejam amplamente reforçados pela mídia existem outras atividades corporais que podem ser apresentadas aos alunos. Nesta linha de pensamento, DE ÁVILA (1995) procurou introduzir um programa de atividades expressivas no segundo grau. Os resultados mostraram que houve uma grande aceitação deste conteúdo por parte dos alunos. Do mesmo modo, FIORIN (1997) analisou a opinião dos alunos ao final de um programa de atividade física para além dos conteúdos exclusivamente esportivos. Os resultados atestaram que apesar dos alunos ainda vincularem a Educação Física com a prática de esportes eles aprovam outras práticas corporais. Para compreender as razões que levam os alunos a se afastarem das aulas de Educação Física na escola, ou não, e/ou se aproximarem de práticas de atividades físicas extra-curriculares, sentimos a necessidade de recorrermos aos estudos relativos à ader ência, pois entendemos que um dos objetivos da disciplina dentro da escola é oferecer condições para que o aluno seja crítico em aspectos relacionados à cultura corporal e oferecer condições para que ele possa manter uma prática Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 204 regular de atividades física após o término formal de ensino, beneficiando-se dos efeitos positivos da atividade física. Aderência A pesquisa do Datafolha sobre aderência2 O jornal a Folha de S. Paulo (60% DOS BRASILEIROS..., 1997), em levantamento do Datafolha procurou identificar o número de aderentes à atividade física, as razões porque isto ocorre, e quais as variáveis que interferem no processo de aderência. Os números são contundentes e revelam algumas questões importantes sobre a atividade física no país. A pesquisa do Datafolha (60% DOS BRASILEIROS..., 1997) identificou que 40% dos brasileiros realizam algum tipo de atividade física. Entre esses, 62,5% são de homens e 37,5% de mulheres. É importante ressaltar que esta pesquisa ouviu 2.000 pessoas de todo território nacional e que considerou como prática da atividade física, inclusive aquelas realizadas uma vez por mês ou aquelas com objetivos de trabalho. A diferença entre a participação feminina e masculina é bastante alta, indicando a necessidade de maiores reflexões sobre as razões destas diferenças. De acordo com os resultados da mesma pesquisa, entre os 60% que não praticam atividade física, 65% alegam falta de tempo ou excesso de trabalho. Neste sentido, embora não tenha sido objeto espec ífico da pesquisa do Datafolha (60% DOS BRASILEIROS...., 1997), sabe-se que a mulher enfrenta, em muitos casos, a jornada dupla de trabalho, ou seja, trabalho profissional e trabalho dentro de casa, além dos cuidados com os filhos, levando-a, em conseq üência, a ter menos tempo disponível para as prá- ticas esportivas ou de lazer. A pesquisa do Datafolha (60% DOS BRASILEIROS...., 1997) procurou também identificar algumas variá- veis que interferem na aderência, como a renda, a escolaridade e a faixa etária. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 205 De acordo com estes resultados o perfil dos praticantes de atividade física assim se coloca; 62% têm curso superior, 58% têm renda superior a 20 salários mínimos e 47% mora na região sul, enquanto que os não praticantes têm 69% até o 1o. grau, 65% moram na região nordeste e 64% têm renda mínima de 10 salários. Os resultados das pesquisas realizadas por STEPHENS e CASPERSEN (1994), citados por IAOCHITE, (1999) e DISHMAN (1993), identificaram o mesmo fenômeno em outros países. O primeiro autor relata que o grupo de maior nível de escolaridade é nos EUA, de 1,5 a três vezes mais ativo do que o grupo com menor escolaridade. No Brasil os dados mostram que 46% dos indiv íduos que praticam algum tipo de atividade física têm entre 18 e 24 anos e no grupo que não pratica 66% estão na faixa etária de 45 e 60 anos. WANKEL (1988) afirma que embora os mais jovens ainda sejam o grupo mais numeroso de aderentes à prática da atividade física, parece haver uma tendência dos mais velhos também aderiram à pratica. No Brasil, observando o aumento pelo interesse da atividade física em grupos da 3a. idade, pode estar ocorrendo fenômeno similar. Embora tenhamos ainda um longo caminho a percorrer no sentido da inclusão das faixas etárias e, sobretudo, das classes de baixa renda. Os dados do Datafolha (60% DOS BRASILEIROS..., 1997) revelam também que a maioria dos brasileiros entrevistados, em torno de 53%, pratica atividade fí- sica para emagrecer/manter a forma, denotando o valor que permeia toda sociedade voltada para questões estéticas. Outros 36% realizam atividade física por julgarem que ela é importante para a saúde, 20% por hábito, 16% por ordem médica, 13% voltados para o lazer, 10% para combater o estresse e 5% como forma/ meio de transporte. Estes motivos se modificam ao longo do ciclo de vida do indivíduo, enquanto as crianças e jovens são atraídos pelo divertimento, prazer, melhoria das habilidades, possibilidades de vivenciar sucesso e vitória, estar com amigos, na idade adulta é atribuído um peso maior à estética e na terceira idade uma preocupação maior pela saúde (BIDDLE, 1992). Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 206 Os motivos mais citados na pesquisa do Datafolha (60% DOS BRASILEIROS...., 1997) para a não aderência à atividade física foram os seguintes: falta de tempo 65%, não gostar de esporte - 18%, preguiça - 10%, falta de dinheiro -10%, problemas de saúde - 7%. WANKEL (1988) considera que os praticantes de atividade física, na sua maioria, não dispõem de mais tempo do que os não praticantes de atividade física, o que pesa para o autor é a prioridade e a maneira como organizam o tempo disponível. Não é possível a generalização desta consideração para o nosso país, uma vez que grande parte da população brasileira não dispõe de condições mínimas de sobrevivência, o que seria um real impedimento para as práticas corporais sistematizadas. As atividades físicas mais praticadas pelos brasileiros segundo a mesma pesquisa são as seguintes: futebol - 14%, caminhada - 14%, ciclismo - 5%, ginástica - 4%, natação - 3%, corrida - 2%, musculação - 2% e voleibol - 2%. Estes resultados mostram a importância do futebol no país, o que não é novidade, porém, indicam novas tendências, como por exemplo, o aumento dos indivíduos que praticam a caminhada ou mesmo a exclusão do basquetebol entre os esportes mais praticados pelos brasileiros. Fatores que interferem na aderência De acordo com OKUMA (1997) fatores que afetam a aderência podem ser classificados em atributos pessoais presentes e passados, em ambiente presente e passados, e em aspectos da atividade física em si. Como determinantes pessoais podem ser incluídas as características dos praticantes, tais como; faixa etária, sexo, nível de escolaridade e renda, as razões que tornam os indivíduos praticantes, suas motivações e interesses, bem como suas condições de saúde. Os determinantes ambientais são: a disponibilidade de tempo para a prática da atividade física, o local em que ocorre. Os determinantes da atividade física em si são considerados as características do programa, como a sua periodicidade, distância, rela ção professor-aluno, etc. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 207 Embora estes determinantes estejam relacionados, e são múltiplos fatores responsáveis pela aderência aos programas de atividade física, OKUMA (1997) considera que é necessário analisar a questão da aderência, da não aderência e da desistência dos programas de atividade física separadamente, pois há diferenças substanciais entre os determinantes. Nas últimas duas décadas, observa-se um grande aumento de parte da população praticante de algum tipo de exercício físico. Nota-se ainda que este índice de novos aderentes continua crescendo. Certamente, o conhecimento dos benefícios proporcionados pela realização do exercício, aliado a busca de uma manuten ção ou melhora da saúde e a prática pela diversão em si, são motivos que tem contribuído para um aumento no número de pessoas que iniciam um programa de exercícios físicos. Contudo, a maioria dos aderentes procura no exercício, uma forma de melhorar a estética corporal. Seria prematuro falar da adesão inicial, sem considerar brevemente a insatisfação das pessoas com a auto-imagem frente ao modelo de corpo que vigora nas sociedades contemporâneas. Nela, o corpo definido como esteticamente perfeito é bem mais leve do que o preconizado pelos cientistas como ideal de saúde. Em pesquisa realizada pelo Instituto Jaime Troiano, citada pela revista Veja, com mulheres entre 20 e 45 anos das classes A e B de São Paulo, comprovou que 90% estão profundamente insatisfeita com o próprio corpo, sendo que mais de 50% delas gostariam de "afinar a silhueta", tornando-se mais magra. Embora, a maioria delas não seja obesa, 25% já se submeteram a intervenções cirúrgicas com o objetivo de melhorar a estética e 60% faz dieta para perder peso. Evidentemente outros fatores mostram-se importantes para a adesão inicial ao exercício, como por exemplo, maior grau de escolaridade, maior nível sócioeconômico, pais ou amigos praticantes e experiências passadas positivas ou vivenciadas com sucesso. Até alguns anos atrás, entre os mais jovens, o fator divertimento e prazer, aprendizado e melhora de habilidades, estar com amigos e busca pelo sucesso eram os motivos principais que levavam à adesão. Mais recentemente, a aquisição Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 208 de força muscular, a aparência, o vigor e o controle de peso tornaram-se motivos que vêm substituindo os anteriores (BIDDLE, 1992). Uma vez iniciada a prática de exercícios físicos, torna-se importante à manutenção da atividade como um hábito incorporado à vida. Contudo, mais de 50% das pessoas que começam a prática, desistem antes de completar um ano de exercícios (DISHMAN & SALLIS, 1994). Uma das maneiras mais rápidas de destruir o entusiasmo pelo exercício, reside em prescrever exerc ício demais e/ou demasiadamente cedo, explicam os autores. Nesta fase, tanto as características ambientais, como pessoais, ou da própria prática de exercício irão determinar a manutenção a curto ou em longo prazo. Algumas características que podem contribuir com a manutenção em longo prazo deveriam ser conhecidas por todos os profissionais da área da Educação Física. Estas teriam que ser incluídas em todo o programa de exercício físico. São elas: a) Proporcionar momentos de sucesso e prazer aos alunos, tornando a atividade o mais agradável possível; b) Proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento da amizade, através do trabalho em grupo; c) Procurar desenvolver atividades recreacionais alterando, na medida do possível, o local da prática; d) Variar sempre as atividades, enfatizando a criatividade durante o planejamento do programa, uma vez que as pessoas reclamam da elevada repetição das atividades; e) Proporcionar desafios adequados às habilidades motoras individuais; f) Manter uma relação positiva entre professor-aluno e os próprios alunos; g) Procurar adequar as habilidades ao nível do grupo; h) Desenvolver atividades de intensidade leve à moderada, pois programas que exigem alta intensidade ou muita técnica e habilidade colaboram para a desistência; i) Evitar atividades que enfatizem demasiadamente a vitória; j) Incentivar a participação do cônjuge ou namorado/a na mesma atividade do praticante. Somados a esses fatores em que o professor de Educação Física poderá estar intervindo, outros também se mostram capazes de definir o tempo de manutenção na atividade, como: Auto-motivação, boa percepção do tempo disponível, experi ências positivas marcadas por sucesso e alegria na infância e adolescência e estado Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 209 de fluxo durante a atividade. Este último, pode ser compreendido como o sentimento durante a atividade em que há um desligamento do ambiente, muita concentração, percepção alterada do tempo de atividade. De acordo com CSIKSZENTMIHALYI (1992), estas pessoas sentem-se saudáveis e totalmente imersas na atividade que estão fazendo. Este estado tem sido apontado como um dos principais motivos que levam as pessoas à prática permanente do exercício físico por toda a vida. Paralelo a esses numerosos fatores, que enfatizaram as caraterísticas da atividade e do próprio praticante, há também outros que se mostram importantes para a manutenção, como, a proximidade do local da prática e o apoio dos familiares. Embora estes sejam importantes na manutenção, freqüentemente são relatados somente como um fator determinante na fase de desistência da prática de exercícios físicos (OKUMA, 1997). Em um estudo longitudinal, com 236 homens e idade entre 12 e 35 anos, realizado por VANREUSEL, RENSON, BEUNEN, CLAESSENS, LEFEVRE, LYSENS e VANDEN-EYNDE (1997), mostrou que pessoas que na adolescência praticavam uma atividade de forma recreativa, na idade adulta eram, após os 28 anos de idade, quase duas vezes mais numerosos do que os indivíduos que praticavam uma atividade de forma competitiva. Um outro fator a ser considerado ao iniciar a prática de exercícios está relacionado aos objetivos pessoais dos praticantes. Segundo WANKEL (1993), os objetivos que não privilegiem a saúde como meta principal, podem ser mais úteis e atingíveis, facilitando a manuten ção a longo prazo. O autor explica que quando o objetivo é a diversão, a aderência pode persistir durante muitos anos ou até mesmo durante toda a vida. Segundo OKUMA (1997), a desistência é decorrente da influência de diversos fatores que estão relacionados aos determinantes pessoais e ambientais. Dentre os determinantes pessoais, são encontrados com muita freqüência, os seguintes fatores para a desistência: a) falta de tempo; b) pouco apoio familiar; c) autopercepção de baixa habilidade; d) dificuldades de relacionamento com os colegas de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 210 equipe e/ou também com o professor ou o técnico, no caso de atividades coletivas e individuais supervisionadas. Em trabalho realizado nos EUA por VANREUSEL et al. (1997), foram investigados os motivos que levam os alunos a se afastarem das aulas de Educação Física no ensino médio (antigo segundo grau). Os resultados mostraram que 73% dos 1.438 alunos, não participavam das aulas, devido à percepção de baixa qualidade dessas, sendo que eram sempre iguais, sem criatividade, além de enfatizar sempre o papel do vencedor. Não bastasse isso, segundo os autores, um estilo de vida inativo durante a adolescência tende a ser mantido na idade adulta. Metodologia A presente pesquisa é de natureza qualitativa e do tipo descritiva. Através desta abordagem procurou-se registrar, descrever, analisar e interpretar as opiniões dos alunos a respeito da disciplina de Educação Física e as suas implicações sobre o afastamento dos alunos da prática da atividade física. Pesquisas deste tipo não admitem visões parceladas ou isoladas, desenvolvendo-se numa interação dinâmica com o processo histó- rico social que vivenciam os sujeitos. Sujeitos Participaram deste estudo alunos das 5as. e 7as. séries do Ensino Fundamental e do 1o. ano do Ensino Médio, todos estudantes de escolas públicas localizadas na cidade de Rio Claro. A cidade conta com 13 escolas que trabalham especificamente com o segundo segmento do Ensino Fundamental e três escolas dentro do próprio município que atendem os alunos do Ensino Médio, perfazendo um total de aproximadamente 15 mil alunos. Nas 5as., 7as. e nos 1os. anos do Ensino Médio este número é próximo de sete mil alunos. Para fins deste estudo foram sorteados aleatoriamente 20% do total dos sete mil alunos. Portanto, foram distribuídos aproximadamente 1.400 questionários e retornaram para a análise 1.172. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 211 A opção pelas 5as. e 7as. séries do segundo segmento do Ensino Fundamental e 1o. ano do Ensino Médio (EM) deveu-se às características de desenvolvimento destas faixas etárias. Na 5a. série é a primeira vez, dentro do ensino formal, que os adolescentes tem aulas com professores especialistas em Educação Física, e é nesta série que ocorre os primeiros contatos dos alunos com a disciplina. Esta fase é fundamental porque deve indicar, como foi atestado nos trabalhos realizados anteriormente por CAVIGLIOLI (1976), RANGELBETTI (1992), DARIDO (1999) que os alunos nesta faixa etária apresentam grande interesse pelas aulas de Educação Física, e que esta motivação vai diminuindo conforme o avanço nos ciclos escolares. É preciso lembrar que a maioria das crianças na faixa etária de 10-11 anos ainda não passaram pelo estirão de crescimento. Na 7a. série, ao contrário, a maioria dos alunos, especialmente as meninas já passaram por este período e apresentam como conseq üência deste processo uma diminuição dos níveis de habilidades motoras. Material As questões contidas no questionário procuraram abordar os seguintes temas: a) preferências pelas disciplinas escolares; b) a importância das disciplinas dentro do currículo escolar; c) a participação dos alunos nas aulas de Educação Física; e d) a prática da atividade física fora da escola. Desta forma, procurou-se abranger um amplo espectro de questões relacionadas à prática da Educação Física na escola. É importante frisar que, nas respostas obtidas através dos questionários, avalia-se a representação que os alunos têm a respeito dos seus valores e procedimentos e não propriamente o que eles fazem ou pensam de fato. Procedimentos Primeiramente a pesquisadora e os bolsistas entraram em contato com a delegada de ensino para informá-la sobre os objetivos do estudo e solicitar autorização para realizar a coleta dos dados junto às escolas sorteadas. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 212 Foi solicitada às direções das escolas incluídas na amostra, após contatos telefônicos, autorização para aplicar os questionários em datas que foram posteriormente agendadas. Os questionários foram aplicados pelos bolsistas durante as aulas que ocorrem nas salas. Os alunos gastaram em torno de 10 minutos para responderem as questões e o devolveram em seguida, sem necessidade de levarem para a casa. Assim, procurou-se obter um retorno maior no número de respostas. A elaboração final do roteiro de entrevistas foi precedida por uma aplicação piloto com um sala de aula. O objetivo do piloto foi o de adequar ou buscar maior coerência entre a intenção do estudo e o instrumento utilizado. Após a coleta dos dados referentes à aplicação dos questionários com os alunos as informações foram organizadas e analisadas. Em seguida, as informações obtidas através da observação foram transcritas, categorizadas e interpretadas. Resultados e discussão A seguir serão apresentados os resultados da coleta de dados realizada com 1.172 alunos das escolas públicas de Rio Claro, sendo 382 alunos da 5a. série, 417 alunos da 7a. série, e 373 alunos do 1o. ano do Ensino Médio, que responderam a um question ário contendo 14 questões. É importante lembrar que os dados foram coletados em meados do ano de 2.000, e que a distribui ção dos alunos quanto à variável sexo foi a seguinte: Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 213 1 - Coloque números de 1 a 3, sendo o número 1 na frente da matéria que você mais gosta, o no. 2 para a segunda matéria que você mais gosta e o no. 3 para a terceira matéria que você mais gosta 5a. série De acordo com os dados coletados pode-se observar que a matéria preferida dos alunos é a disciplina de Educação Física, a qual obteve 48,1% das indicações. Em segundo lugar apareceu Português com 14,2% de indicação, seguida pela disciplina de Ciências com 10,3%, Educação Artística com 10%, Matemática com 7,2%, Geografia com 5,6%, Inglês com 3% e História com 1,6% de indicação. 7a. série De acordo com os dados coletados pode-se observar que a matéria preferida dos alunos é a disciplina de Educação Física, a qual obteve 49,7% das indicações. Em segundo lugar apareceu Ciências com 13,5% de indicação, seguida pela disciplina da Matemática com 11,6%, Educação Artística com 7,4%, Geografia com 6%, Português com 5,4%, Inglês com 3,4% e História com 3% de indicação. 1o. ano EM De acordo com os dados coletados pode-se observar que a matéria preferida dos alunos é a disciplina de Educação Física, a qual obteve 44% das indicações. Em segundo lugar apareceu Matemática com 14,8% de indicação, seguida pela disciplina de Ciências com 11,4%, Educação Artística com 8,3%, Inglês como 8,1%, Português com 7,6%, História com 4,3% e Geografia com 1,5% de indicação. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 214 O total de indicações para a Educação Física, somadas as três primeiras opções foi de 81,1%, 73,4%, 72,6% para a 5a., 7a., e 1o. ano EM, respectivamente. A partir dos resultados pode-se depreender que a Educação Física é a disciplina que os alunos mais apreciam, embora haja um ligeiro decréscimo no total de indicações na passagem da 7a. para o 1o. ano do EM, tal como foi apontado por CAVIGLIOLI (1976), em estudo realizado na França na década de 70. Outro resultado que chama a atenção é grande diferença entre a primeira opção na 5a.; 7a. série e no 1o. EM a favor da Educação Física perante as segundas opções. Estes resultados mostram que a Educação Física é disparadamente a disciplina preferida dos alunos e a partir disso pode cumprir um papel importante na identificação necessária de uma escola prazerosa e atraente para os alunos. LOVISOLO (1998) é um dos que afirmam que a disciplina de Educação Física não pode se furtar a este objetivo devendo chamar para si a tarefa de transformar a escola num lugar atraente, excitante, emocionante. De acordo com CAVIGLIOLI (1976) os alunos têm tendência a apreciar disciplinas relacionadas à liberdade, alegria, interesse, beleza e prazer, e ainda com distra ção e que não sejam relacionadas com trabalho. Os resultados indicam também que parte dos alunos aprecia a disciplina de Matemática. Historicamente nem sempre foi assim, esta disciplina vem conseguindo bons resultados a partir da implementação de novas metodologias de ensino, baseadas principalmente na solução de problemas. Os dados mostram também que as disciplinas de História, Geografia e Inglês ainda têm dificuldades de atrair a atenção e o prazer dos alunos, necessitando rever suas ações pedagógicas. 2 - Coloque o no. 1 na frente de somente uma matéria que você acha mais importante 5a. série De acordo com os resultados sobre as matérias que os alunos consideram mais importantes, os resultados indicaram Português em primeiro lugar com 37,2% das Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 215 escolhas, seguido por Matemática com 25,4%, Ciências com 11,8%, Inglês com 10,1%, Educação Física com 8,2%, Geografia com 4,6%, História com 2% e Educação Artística com 0,7% de indicação. 7a. série De acordo com os resultados sobre as matérias que os alunos consideram mais importantes, os resultados indicaram Português em primeiro lugar com 36,2% das escolhas, seguido por Matemática com 29,8%, Inglês com 10,3%, Educação Física com 10%, Ciências com 5,7%, História com 3,4%, Geografia com 2,8%, e Educação Artística com 1,8% de indicação. 1o. ano EM De acordo com os resultados sobre as matérias que os alunos consideram mais importantes, os resultados indicaram Português em primeiro lugar com 45,4% das escolhas, seguido por Matemática com 31,3%, Educação Física com 8,7%, Inglês com 5,9%, Ciências com 3,8%, História com 3%, Geografia com 1%, e Educação Artística com 0,9% de indicação. 3 - Coloque o no. 1 na frente de somente uma matéria que você acha menos importante 5a. série Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 216 Dentre as matérias menos importantes na opinião dos alunos, aparece a Educação Artística em primeiro lugar com 35% das escolhas, seguida da Educação Física com 19,7%, Inglês com 17,7%, Português 9%, História com 8,1%, Matemática com 4,9%, Geografia com 3,9% e Ciências com 1,7% de indicação. 7a. série Dentre as matérias menos importantes na opinião dos alunos, aparece a Educação Artística em primeiro lugar com 43,8% das escolhas, seguida por Inglês com 18,4%, Educação Física com 13,4%, História com 7,4%, Matemática com 6,8%, Português 5,2%, Geografia com 3,1% e Ciênciascom1,9% de indicação. 1o. ano EM Dentre as matérias menos importantes na opinião dos alunos, aparece a Educação Artística em primeiro lugar com 50,3% das escolhas, seguida da Educação Física com 16,9%, Inglês com 9,8%, História com 8,8%, Português 4,6%, Geografia com 3,7%, Matemática com 3,2%, e Ciências com 2,7% de indicação. As disciplinas mais importantes na opinião dos alunos de todas as séries são: Português e Matemática. Estes resultados não chegam a surpreender já que a própria escola, na maioria dos casos, impõe um currículo com maior quantidade de aulas destas duas disciplinas, valorizando-as no interior da escola. Não se discute, porém, a importância destes conhecimentos, o que se pode questionar seria a sua supremacia diante dos demais conteúdos. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 217 Estes resultados corroboram aqueles verificados por LOVISOLO (1995), ou seja, as disciplinas mais valorizadas na opinião dos alunos e da sociedade são Português e Matemática, advinda, em parte, da concepção racionalista e funcionalista do ensino escolar. O que pode ser confirmado principalmente no fato da disciplina de Educação Artística ter sido considerada por mais da metade dos alunos a menos importante. Outro fato que chama a atenção é o aumento das indicações para as disciplinas de Português no Ensino Médio, passando de 37,2% na 5a. série para 45,4% no 1o. ano do EM, e o aumento de 25,4% na escolha da Matemática para 31,3% no 1o. ano do EM. Um dado que causa surpresa é a passagem da Educa ção Física de quinta disciplina mais importante na 5a. série, para quarta na 7a. série e terceira no 1o. ano do EM. Ou seja, na opinião dos alunos conforme eles envelhecem, a disciplina de Educação Física passa a ter maior importância. É um dado curioso porque os conhecimentos da Educação Física não são cobrados nos vestibulares, que é, em muitos casos, o objetivo principal dos alunos do Ensino Médio. Uma interpretação possível destes resultados aponta para um reconhecimento da importância da saúde e da estética no universo dos alunos mais velhos. Talvez isso possa justificar a Educação Física na terceira escolha dos alunos. A disciplina menos importante na opinião dos alunos, com larga margem perante as demais, é Educação Artística, que obteve 35% das indicações na 5a. série, 43,8% na 7a. série e 50% no EM. Não há grande variação do número de alunos que consideram a Educação Física a disciplina mais importante, em torno dos 8 a 10%, provavelmente os que mais participam das aulas. 4 - Você participa das aulas de Educação Física em sua escola? 5a. série Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 218 Oitenta e nove e meio por cento dos alunos afirmaram que participam "sempre" das aulas de Educação Física, 10,2% responderam que participam "às vezes" das aulas e 0,3% dos mesmos "nunca" participam das aulas de Educação Física. 7a. série Oitenta e seis vírgula dois por cento dos alunos afirmaram que participam "sempre" das aulas de Educação Física, 13,1% responderam que participam "às vezes" das aulas e 0,7% dos mesmos "nunca" participam das aulas de Educação Física. 1o. ano EM Cinqüenta e sete vírgula um por cento dos alunos afirmaram que participam "sempre" das aulas de Educação Física, 23,9% responderam que participam "às vezes" das aulas e 19% dos mesmos "nunca" participam das aulas de Educação Física. Estes resultados nos auxiliam na resposta a duas questões colocadas inicialmente neste trabalho, que são as seguintes: "Verificar como as opiniões dos alunos a respeito das aulas de Educação Física se modificam ao longo dos ciclos escolares" e "Verificar quando os alunos iniciam o afastamento das aulas de Educação Física escolar e da prática da atividade física fora da escola". Os resultados mostraram que os alunos são bastante participantes na 5a. série, com quase 90% de presença às aulas, passando para 57,7% no 1o. ano do EM. Do mesmo modo pode-se observar uma diminuição do número de alunos que afirmam participar "as vezes" da aula da 5a. para 7a. série, e da 7a. série para 1o. ano EM. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 219 Um dado contundente é a passagem quase inexpressiva do total de alunos "que nunca participam das aulas", menos de 1% na 5a. e 7a. séries para quase 20% dos alunos do 1o. ano do EM. Pode-se afirmar analisando os dados desta questão que há de fato um afastamento gradativo da participação dos alunos da prática da Educação Física na escola, sobretudo no EM, mas que se inicia antes, tal como foi verificado por CAVIGLIOLI (1976). 5 - O que você aprende em suas aulas de Educação Física? (Pode-se marcar mais de uma resposta) 5a. série De acordo com os dados obtidos, o que os alunos mais aprendem nas aulas de Educação Física são práticas de esportes com 79% de indicações, seguidos de brincadeiras com 48,3%, importância e benefícios da Educação Física para a saúde com 37,8%, teoria sobre os esportes com 31,3%, "outros" (xadrez) com 6% e 2,3% dos alunos responderam que não aprendem nada. 7a. série De acordo com os dados obtidos, o que os alunos mais aprendem nas aulas de Educação Física são práticas de esportes com 72,7% de indicações, seguidos de brincadeiras com 29%, importância e benefícios da Educação Física para a saúde com 28%, teoria sobre os esportes com 24,7%, a alternativa nada recebeu 9% das indicações e alternativa outros 2,5%. 1o. ano EM De acordo com os dados obtidos, o que os alunos mais aprendem nas aulas de Educação Física são práticas de esportes com 57,8% de indicações, seguidos da importância e benefícios da Educação Física para a saúde com 27,2%, teoria sobre os esportes com 16,8%, 13,7% dos alunos responderam que não aprendem nada Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 220 nas aulas de Educação Física, a alternativa brincadeiras recebeu 7,2% e a alternativa outros 4,7%. Os conteúdos esportivos são predominantes nas aulas de Educação Física, segundo as respostas dos alunos em todas as séries, embora haja uma diminuição nas indicações conforme os alunos caminham na escola, passando de 79% de indicações na 5a. série para 57% dos alunos do EM. Tal fato não chega a ser surpresa uma vez que a disciplina de Educação Física recebeu a partir dos anos 60 forte impulso no sentido de substituir a ginástica pelo esporte enquanto conteúdo hegemônico das aulas de Educação Física (BETTI, 1991; CASTELLANI FILHO, 1989). Além disso, a predominância do conteúdo esportivo pode ser decorrente do amplo reforço oferecido pela mídia ao esporte e que acaba se refletindo nas posições assumidas e muitas vezes cobradas pelos alunos quanto ao papel da Educação Física na escola (DARIDO, 1995). Era esperado, em função das novas proposições para a Educação Física (BRASIL, 1999; GUEDES & GUEDES, 1996; NAHAS, 1997, para citar alguns), que houvesse um investimento nos conteúdos que pudessem esclarecer os benefícios e a importância da prática da atividade física, sobretudo no Ensino Médio. Tais conteúdos foram indicados por apenas 37,8% dos alunos da 5a. série e 27,2% dos alunos do EM, ou seja, é possível que esses conteúdos apare çam eventualmente em apenas algumas escolas. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 221 Outro dado que mostra as dificuldades enfrentadas pela disciplina no interior da escola é o número de alunos que indicaram que não aprendem nada na disciplina. Este número aumenta gradativamente da 5a. série para o 1o. ano do EM. Pode-se depreender destes dados, ou que a percepção dos alunos se torna mais crítica ou há mesmo uma deficiência das escolas em lidar com os novos interesses do jovem, ou ambos. 6 - O que você acha das suas aulas de Educação Física? (Pode-se marcar mais de uma resposta) 5a. série Os resultados indicam que os alunos consideram as aulas de Educação Física "legais" com 86,5% das indicações, animadas com 74%, muito fáceis com 30,6%, sem importância 3%, difíceis com 2,1% e chatas com 1,7% de indicação por parte dos alunos. 7a. série Os resultados indicam que os alunos consideram as aulas de Educação Física "legais" com 80,7% das indicações, animadas com 46,9%, muito fáceis com 18,8%, chatas com 2,6% e as alternativas sem importância e difíceis receberam 1,4% das indicações cada uma. 1o. ano EM Os resultados indicam que os alunos consideram as aulas de Educação Física "legais" com 67,4% das indicações, animadas com 37%, muito fáceis com 11%, sem importância 5,7%, chatas com 5,1% e dif íceis com 0,3% de indicação por parte dos alunos. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 222 Tais resultados mostram que os alunos, em sua grande maioria, apreciam as aulas de Educação Física, pois as consideram "legais" e "animadas", o que pode estar relacionado com a manifestação do estado de fluxo conforme assinalou CSIKSZENTMIHALYI (1992). No entanto, observa-se mais uma vez uma diminui ção destas experiências positivas na opinião dos alunos conforme se caminha para o Ensino Médio, por exemplo, a aula é animada para 74% dos alunos da 5a. série e no Ensino Médio este número é exatamente a metade, ou seja, para 37% dos alunos. Além disso, no Ensino Médio é maior o número de alunos que consideram a disciplina sem importância e chata e, ao mesmo tempo, diminui o número de alunos que a consideram uma disciplina fácil. É provável que as atividades propostas nas aulas de Educação Física se tornem na opinião dos alunos, mais exigentes quanto ao nível de habilidade, ou a auto-exigência. Estes resultados estão de acordo com aqueles verificados por VANREUSEL et al. (1997) segundo a qual os alunos do Ensino Médio, não participam das aulas devido à percepção de baixa qualidade delas. 7 - Como você se sente ao fazer as aulas de Educação Física? 5a. série Oitenta e oito e meio por cento dos alunos responderam que se sentem bem ao realizar as aulas, 10,4% indicaram que às vezes se sentem bem e 1,1% dos alunos não se sentem bem ao realizar as aulas de Educação Física. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 223 7a. série Oitenta e seis vírgula sete por cento dos alunos responderam que se sentem bem ao realizar as aulas, 13,1% indicaram que às vezes se sentem bem e 0,2% dos alunos não se sentem bem ao realizar as aulas de Educação Física. 1o. ano EM Setenta e sete vírgula oito por cento dos alunos responderam que se sentem bem ao realizar as aulas, 17,7% indicaram que às vezes se sentem bem e 4,5% dos alunos não se sentem bem ao realizar as aulas de Educação Física. Novamente, estes dados apontam para o progressivo aumento de sentimentos nem sempre positivos em relação à disciplina no interior da escola, pois há um decréscimo de alunos que afirmam que se sentem bem nas aulas e um aumento do número dos que não se sentem bem. 8- Atualmente você participa ou é dispensado das aulas de Educação Física? 5a. série Os resultados mostram que atualmente 99,7% dos alunos participam das aulas de Educação Física e 0,3% não participam das aulas. 7a. série Os resultados mostram que atualmente 98,9% dos alunos participam das aulas de Educação Física e 1,1% não participam das aulas. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 224 1o. ano EM Os resultados mostram que atualmente 79,7% dos alunos participam das aulas de Educação Física e 20,3% não participam das aulas. Essa questão nos permite responder a mais uma de nossas indagações a respeito da Educação Física na escola, qual seja "Levantar o número de dispensados das aulas de Educação Física na escola". Os resultados mostram que apesar de todos os alunos consultados estudarem no período diurno e a Educação Física ser obrigatória para estes alunos tal como preconiza a LDB/96 artigo 26, em torno de 20% dos alunos do Ensino Médio obtêm dispensa das aulas. Por outro lado, é preciso considerar que muitas escolas oferecem a disciplina de Educação Física em período contrário ao das demais disciplinas, prejudicando os alunos que não têm condições de voltar à escola ou aos alunos trabalhadores (DARIDO, GALVÃO, FERREIRA & FIORIN, 1999). Algo que infelizmente ainda ocorre, embora não haja mais amparo legal que justifique tais procedimentos. Pode-se especular que esses 20% dos alunos perderiam ótimas oportunidades de terem acesso aos conhecimentos da cultura corporal, o que aumentaria as chances de se tornarem não aderentes à atividade física. No Ensino Fundamental o número de pedidos de dispensa é bastante reduzido, 0,3% na 5a. série e 1,1% na 7a. série. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 225 9 - Por quê você participa das aulas de Educação Física ou pratica alguma atividade física? 5a. série Os resultados apontam que os motivos pelos quais os alunos participam das aulas de Educação Física ou da prática de atividades físicas são: melhorar a saúde com 52,6% de indicações, para se divertir com 16,6%, para emagrecer ou ficar mais forte com 13,1%, para ficar mais habilidoso com 12,6%, treinamento para competição com 3,3%, por ordem médica com 0,8% e as alternativas "porque é obrigado a participar" e "outros" não receberam indicações. Os resultados apontam que os motivos pelos quais os alunos participam das aulas de Educação Física ou da prática de atividades físicas são: para melhorar a saúde com 44,4% de indicações, para se divertir com 20,1%, para emagrecer ou ficar mais forte com 15,9%, para ficar mais habilidoso com 8,9%, treinamento para competição com 3,5%, "porque é obrigado a participar" recebeu 3,3%, para ocupar o tempo livre 3,1% e a alternativa "outros" 0,8%, por ordem médica com 0,3%. 1o. ano EM Os resultados apontam que os motivos pelos quais os alunos participam das aulas de Educação Física ou da prática de atividades físicas são: melhorar a saúde com 46,1% de indicações, para se divertir com 13,8%, para emagrecer ou ficar mais forte com 12,7%, para ficar mais habilidoso com 8,5%, "outros" recebeu 5,8% das indicações, "porque é obrigado a participar" 4,4%, treinamento para competição com 3,6%, as alternativas para ocupar o tempo livre ficaram com 3,1%, por ordem médica com 2%. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 226 Os resultados mostram claramente a identificação da disciplina com a dimensão da saúde, pois quase metade dos alunos a entendem nesta perspectiva, diferentemente dos respondentes adultos (maiores de 18 anos) da pesquisa do Datafolha (60% DOS BRASILEIROS..., 1997), que afirmaram buscar a atividade física por razões estéticas. BIDDLE (1992) já alertara para o fato de que os objetivos dos praticantes se modificam ao longo das faixas etárias. Na verdade, o percurso da disciplina ao longo da história esteve atrelado ao higienismo (CASTELLANI FILHO, 1991). Tal vínculo é reforçado nos meios de comunicação e também nos cursos de formação de professores de Educação Física (DARIDO, 1999). Não se trata de negar o papel da saúde no campo da Educação Física, apenas considerar que esta perspectiva exclusiva da saúde não permite vislumbrar uma contribuição importante da Educação Física que é a integração do aluno na esfera da cultura corporal, para que ele possa usufruir, partilhar e transformar as formas da atividade física (BETTI, 1992), o que seria um objetivo mais abrangente, mas que inclui também a discussão destes aspectos. 10 - Com relação ao professor atual de Educação Física, você acha que 5a. série Os dados obtidos com relação ao atual professor de Educação Física mostram que este motiva os alunos a participar das aulas com 77,8% das indicações, não exige nada com 14% de indicação, xinga os alunos que erram durante a aula com 6% e pune os alunos com alguns castigos com 2,2% de indicação Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 227 7a. série Os dados obtidos com relação ao atual professor de Educação Física mostram que este motiva os alunos a participar das aulas com 67,7% de indicação pelos mesmos, não exige nada com 27,7% de indicação, xinga os alunos que erram durante a aula com 3,9% e pune os alunos com alguns castigos com 0,7% de indicação 1o. ano EM Os dados obtidos com relação ao atual professor de Educação Física mostram que este motiva os alunos a participar das aulas com 64,2% de indicação pelos mesmos, não exige nada com 33,9% de indicação, xinga os alunos que erram durante a aula com 1,3% e pune os alunos com alguns castigos com 0,6% de indicação. A conduta do professor e seu estímulo aos alunos facilita o processo de autonomia dos mesmos em relação à prática de atividade física, para que futuramente eles possam manter uma prática regular sem o auxílio de um especialista, se assim desejarem (RANGEL-BETTI, 1992). Pelas respostas obtidas depreende-se que a maioria dos alunos entende que os professores os motivam, mas este número também decai conforme os alunos envelhecem, provavelmente porque eles se tornam mais críticos e com outras experiências que permitem uma comparação mais apurada. Por outro lado, os dados permitem afirmar que os professores de uma maneira geral e particularmente os de Educação Física, vem deixando de ter uma posição autoritária. Poucos alunos fizeram referências às punições e xingamentos que eram Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 228 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] práticas bastante freqüentes dos professores de Educação Física, conforme assinalou MOREIRA (1991). Embora, não tenha sido objeto desta pesquisa, pode-se sugerir que esteja havendo uma inversão, qual seja, de professores rígidos para aqueles que se aproximam mais do perfil "acomodado", também não apropriado aos desejos de uma Educação de qualidade, pois mais de 30% dos alunos consultados do Ensino Médio afirmaram que os professores não exigem nada deles. 11 - Seu professor de Educação Física trata melhor os alunos que jogam melhor? 5a. série Setenta e quatro vírgula oito por cento dos alunos afirmaram que seu professor de Educação Física não trata melhor os alunos que se destacam nos esportes, 12,5% dos alunos lembraram que seu professor trata melhor aqueles alunos que se destacam e 12,7% relataram que apenas, às vezes, o professor trata com diferença seus alunos. 7a. série Sessenta vírgula sete por cento dos alunos afirmaram que seu professor de Educação Física não trata melhor os alunos que se destacam nos esportes, 18% dos alunos lembraram que seu professor trata melhor aqueles alunos que se destacam e 21,3% relataram que apenas, às vezes, o professor trata com diferença seus alunos. 1o. ano EM Sessenta e cinco vírgula um por cento dos alunos afirmaram que seu professor de Educação Física não trata melhor os alunos que se destacam nos esportes, 10,1% dos alunos lembraram que seu professor trata melhor aqueles alunos que se destacam e 24,8% relataram que apenas, às vezes, o professor trata com diferença seus alunos. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 229 O histórico da disciplina de Educação Física no interior da escola aponta para uma prática que tradicionalmente excluiu parte dos alunos das suas atividades, tal como relata BETTI (1991), PCNs (BRASIL, 1998) e CENP (SÃO PAULO, 1990), para citar alguns. Essa exclusão pode ocorrer porque os alunos são menos habilidosos, obesos, portadores de necessidades especiais, tímidos etc, o que pode ser o caso dos 10 a 18% dos alunos que responderam que em todas as ocasiões os seus professores tratam melhor alguns alunos e para as vezes entre 12 a 14%. Na verdade, deve-se buscar superar totalmente esta visão de exclusão proporcionando uma Educação Física para todos. Embora o professor seja em parte responsável pela manutenção destes procedimentos porque não adverte os alunos, é preciso ressaltar que os próprios alunos também praticam a exclusão. 12 - O que você mais gosta de fazer? Escolha duas opções abaixo 5a. série Os resultados indicam que a prática de esportes é a atividade mais realizada pêlos alunos, pois obteve 31,9% de escolha, assistir televisão aparece em segundo lugar com 25%, logo em seguida está conversar com os amigos com 14,3%, jogar videogame com 9,6%, estudar obteve 6,5%, computador com 5,5%, ajudar pai e mãe com 4,7%, ler jornais e revistas com 2% e trabalhar com 0,5% de indicações. 7a. série Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 230 Os resultados nos indicam que a prática de esportes é a atividade mais realizada pelos alunos, pois obteve 29,2% de escolha, assistir televisão aparece em segundo lugar com 28%, logo em seguida está conversar com os amigos com 21,8%, jogar videogame com 8,1%, computador com 4,8%, ajudar pai e mãe com 6,3%, ler jornais e revistas com 0,7% e estudar 0,6% e trabalhar com 0,5% de indicações. 1o. ano EM Os resultados nos indicam que conversar com os amigos com 26,6% e a prática de esportes com 26,2% são as atividades mais realizadas pelos alunos, assistir televisão com 24,4%, estudar obteve 6,5%, ajudar pai e mãe com 4,6%, ler jornais e revistas com 3,4%, computador com 3,2%, jogar videogame com 2,6%, e trabalhar com 0,5% de indicações. A partir dos resultados obtidos, observa-se que a prática de esportes é a atividade preferida pelos alunos em todas as faixas etárias. No entanto, há uma ligeira diminuição desse interesse. Percebe-se também que as demais atividades escolhidas, tais como; assistir TV, conversar com amigos, jogar videogame, e ficar no computador são atividades predominantemente sedentárias, e todas com exceção de conversar com amigos, estão relacionadas às novas tecnologias e a práticas individuais. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 231 Na verdade, se por um lado o avanço tecnológico tem contribuído para disponibilizar um maior número de informações e para oferecer um maior conforto à população, através de máquinas, equipamentos eletr ônicos e meios de locomoção, pôr outro lado esse fenômeno é responsável pôr um estilo de vida menos ativo e mais sedentário. Tais características marcantes da modernidade têm sido apontadas como as principais responsáveis pelo aumento dos riscos de diversas doenças crônicas. Estudos mostram que essas doenças são quase duas vezes mais comuns em pessoas inativas do que naquelas que se exercitam. Neste contexto cabe às aulas de Educação Física discutir as mudanças no comportamento corporal decorrentes do avanço tecnológico e analisar o impacto delas na vida do cidadão. Os alunos deveriam compreender estas transformações, bem como analisar as relações que se estabelecem com o presente. As práticas da cultura corporal podem constituir-se em objetos de estudo e pesquisa sobre o ser humano e sua produção cultural. A aula de Educação Física, além de ser um momento de fruição corporal, pode configurar-se num momento de reflexão sobre o corpo, a sociedade, a ética, a estética e as relações inter e intrapessoais. Além disso, tal como propõe BETTI (1998), a Educação Física na escola não pode ignorar a mídia e as práticas corporais que ela retrata, bem como o imaginário que ela ajuda a criar. As aulas de Educação Física na escola devem fornecer informações relevantes e contextualizadas sobre os diferentes temas da cultura corporal, pois caberá à disciplina manter um permanente diálogo crítico com a mídia, trazendo-a para reflexão no contexto escolar. 13 - Você pratica algum esporte ou atividade física fora da escola? 5a. série Os resultados obtidos mostram que 70,6% dos alunos, ou seja, a maioria pratica algum esporte ou atividade física fora da escola, 18% informaram que realizam esta prática apenas às vezes, e 11,4% dos alunos relataram que não praticam esporte ou atividade física fora da escola. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 232 7a. série Os resultados obtidos mostram que 56,5% dos alunos, ou seja, a maioria pratica algum esporte ou atividade física fora da escola, 20,3% informaram que realizam esta prática apenas às vezes, e 23,2% dos alunos relataram que não praticam esporte ou atividade física fora da escola. 1o. ano EM Os resultados obtidos mostram que 48,2% dos alunos, ou seja, a maioria pratica algum esporte ou atividade física fora da escola, 24,3% informaram que realizam esta prática apenas às vezes, e 27,5% dos alunos relataram que não praticam esporte ou atividade física fora da escola. A grande participação dos alunos em práticas de atividades físicas fora da escola pode ser analisada através de diferentes pontos de vista. Num deles, pode indicar que os alunos por gostarem muito da atividade física procuram algo mais do que apenas as aulas de Educação Física. Por outro lado, tal fato pode ocorrer pela falta de capacidade das escolas em absorver os interesses dos alunos, ou seja, dar aos alunos outras opções de atividades extra curriculares como, por exemplo: turmas de treinamento, danças, lutas, tardes esportivas, etc. É preciso lembrar que os alunos que participaram desta pesquisa são todos de escola pública e por isso deve haver entre eles alguns alunos com dificuldades financeiras para participarem de atividade física/esportes fora do ambiente escolar. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 233 Os resultados indicam também um aumento considerável ao longo das séries do número de alunos que não praticam esportes ou atividade física, que passa de 11,4% na 5a. série para 27,5% no Ensino Médio. 14 - Quais os esportes ou atividades que você mais pratica? 5a. série Podemos observar que dentre as atividades mais praticadas pelos alunos, as mais citadas foram: futebol, seguido pela natação, basquetebol, voleibol, dança, capoeira e tênis de mesa. 7a. série Podemos observar que dentre as atividades mais praticadas pelos alunos, as mais citadas foram: futebol, seguido por andar de bicicleta, natação, basquetebol, voleibol, dança, tênis de mesa. 1o. ano EM Podemos observar que dentre as atividades mais praticadas pelos alunos, as mais citadas foram: o futebol, seguido pela natação, basquetebol, voleibol, andar de bicicleta, dança. Estes resultados representam, em grande medida, tendências da prática da atividade física do brasileiro. Os resultados da pesquisa do Datafolha (60% DOS Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 234 BRASILEIROS..., 1997) mostram que metade da população brasileira masculina que é aderente à atividade física prefere a prática do futebol. Além disso, culturalmente, o Brasil é o país do futebol e é por isso o esporte mais exposto na mídia, ocorrendo os maiores investimentos financeiros nessa modalidade. A natação acabou surpreendendo ficando em segundo lugar na preferência dos alunos, isto pode ser explicado pelo prazer que a água proporciona aos seus praticantes, levando ao desejo de se aprender e praticar esta atividade, por razões de sobrevivência e porque esta atividade é uma das mais indicadas pela classe médica (DARIDO & FARINHA, 1995). O bom posicionamento da modalidade basquetebol pode ser explicado pela tradição que está modalidade tem na cidade, que já teve equipes de alto nível. Isto deve explicar o seu lugar à frente do voleibol na escolha dos alunos, indicando a importância da cultura local. Considerações finais Procurou-se neste estudo investigar como e porque ocorre o afastamento dos alunos da prática da atividade física e o papel da disciplina de Educação Física neste processo. Os resultados em relação a estas questões mostraram que em torno de 20% dos alunos do 1o. ano do Ensino Médio são dispensados das aulas de Educação Física na escola, um número bastante expressivo, considerando que todos os indivíduos devem ter acesso à cultura corporal e beneficiar-se de suas práticas. Um outro aspecto das dispensas no interior da escola, é que ela é, no mínimo discutível, do ponto de vista legal, dentro do que está disposto na LDB/ 96. Este é um fato que precisa ser mais discutido pela categoria de professores, no sentido de esclarecer aos membros da comunidade escolar, sobre os aspectos que dizem respeito à ilegalidade das solicitações de dispensas e, sobretudo sua ilegitimidade. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 235 Os resultados deste estudo mostram que quase metade dos alunos do Ensino Médio consideram a Educação Física como sua matéria preferida, mas ao mesmo tempo 20% solicitam dispensas. É possível que as solicitações de dispensa ocorram principalmente nas escolas que oferecem a disciplina fora do período das demais disciplinas. É preciso lembrar que muitas escolas brasileiras, em função de vários fatores (condições climáticas, organiza ção curricular, condições de espaço, material e outros) optam por oferecer a disciplina em período alternado ao das demais disciplinas. Para o aluno retornar a escola, muitas vezes distante de sua casa, ou para o aluno trabalhador, a Educação Física fora do período se constitui numa dificuldade extra o que gera, como conseqüência, um aumento do número de alunos afastados da cultura corporal. Cabe à escola e ao professor de Educação Física, de acordo com a sua realidade, ponderar sobre as melhores condições para oferecimento da disciplina. Os resultados mostraram que há de fato um progressivo afastamento dos alunos da Educação Física na escola e também da atividade física realizada fora da escola. As aulas de Educação Física no Ensino Médio são quase sempre uma repetição dos programas de Educação Física do Ensino Fundamental, ou seja, se resumem às práticas dos fundamentos e a execução dos gestos técnicos esportivos. É como se a Educação Física se restringisse a essas práticas (COSTA, 1997). Não se trata, evidentemente de desprezá-las no contexto escolar, mas sim de ressignificá-las. Na verdade, tendo em vista a formação que se pretende, há nas novas proposições para a Educação Física no Ensino Médio uma variedade enorme de aprendizagens a serem conquistada, bem como das diferentes formas de atuação do professor na condução do ensino (DARIDO, 2002). Os alunos possuem, na maioria das vezes, opinião formada sobre a Educação Física baseados em suas experiências pessoais anteriores. Se elas foram marcadas por sucesso e prazer, o aluno terá, provavelmente, uma opinião favorável quanto a freqüentar as aulas. Ao contrário, quando o aluno registrou várias situações de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 236 insucesso, e de alguma forma se excluiu ou foi excluído, sua opção será pelo afastamento das aulas ou a passividade perante as atividades, COSTA (1997). Transformar essas opiniões constitui um enorme desafio para os professores de Educação Física. Adotar a concepção de um ensino inclusivo pode amenizar este afastamento. É preciso superar o histórico da disciplina, que em muitos momentos resultou numa seleção entre indivíduos aptos e inaptos. A Educação Física na escola deve oferecer oportunidades para que todos os alunos tenham acesso ao conhecimento da cultura corporal, como um conjunto articulado de informações necessárias à formação do cidadão, de forma democrática e não seletiva. Nesse contexto, também os alunos portadores de necessidades especiais não podem ser privados das aulas de Educação Física. Muitos professores, mesmo quando alertados para a exclusão de grande parte dos alunos, em virtude do enraizamento de determinadas atividades excludentes, apresentam dificuldades em refletir e modificar tais procedimentos e atividades. A Educação Física, em função da ênfase esportiva, tem deixado de lado importantes conhecimentos produzidos ao longo da história da humanidade, como as danças, as lutas, os esportes ligados à natureza, os jogos, bem como o conhecimento sobre o próprio corpo, e que podem se constituir em objeto de ensino e aprendizagem. As danças podem comparecer com maior freqüência nas aulas de Educação Física na escola. Diferentes experiências têm mostrado que este trabalho pode ser realizado, e é bem sucedido especialmente quando se considera o conhecimento e os interesses que o jovem traz consigo a respeito dos diferentes ritmos e danças. Na verdade, os professores podem, em conjunto com os alunos, construir outros conhecimentos que avancem e aprofundem no conhecimento relativo à cultura corporal, com auxílio de pesquisas, pessoas da comunidade e a experiência dos próprios alunos da escola. Como este conhecimento poderia ser aprofundado? De acordo com as PCN (BRASIL, 1999), o tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado permite que, ao longo da transposição Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 237 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] didática, o conteúdo do ensino provoque aprendizagens significativas que mobilizem o aluno e estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de reciprocidade. É possível generalizar a contextualização como recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com experiências da vida cotidiana ou com conhecimentos adquiridos espontaneamente. São preocupações comuns na vida de todo jovem, a aparência, a sexualidade e reprodução, hábitos de alimentação, limites, capacidade física, papel do esporte, repouso, atividade e lazer, padrões de beleza e saúde corporal e outros temas. Caberá ao professor de Educação Física reconhecer e estar atento a esses temas e tratá-los pedagogicamente em suas aulas, de tal modo que a aprendizagem se torne mais significativa para os seus alunos. Por exemplo, em anos de Olimpíadas e de Copas do Mundo de Futebol os alunos são submetidos a um bombardeio de informações sobre os jogos e os seus resultados. O professor poderia aproveitar estes ricos momentos e aprofundar o conhecimento dos alunos nos temas relacionados ao fenômeno esportivo. Outra alternativa para tornar o ensino mais significativo é possibilitar aos alunos conhecerem o corpo humano e quais as conseqüências que isso exerce em decisões pessoais da maior importância tais como fazer dieta, utilizar anabolizantes e praticar exercícios físicos. Em outras palavras: a atividade deve adequar-se ao aluno e não o aluno à atividade. O professor que se mantiver rígido em atividades que não despertem qualquer interesse dos alunos termina por afastá-los da disciplina e auxiliando a formação dos não praticantes de atividade física. Agradecimentos Agradeço imensamente aos ex-bolsistas do CNPq e ex-alunos do curso de Educação Física Unesp/Rio Claro, que auxiliaram na coleta dos dados desta pesquisa. São eles: Marcelo Ortiz, Gustavo Isler, Marcio Pimenta, Oraci de Almeida Junior, Fernanda Moreto Impolcetto e Flavio Lico. Agradeço também ao aluno do Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 238 Programa de Pós-graduação em Motricidade Luiz Sanches pelo auxílio na elaboração do abstract e pela leitura cuidadosa do trabalho. REFERÊNCIAS BETTI, M. Educação física e sociedade. São Paulo: Movimento, 1991. [ Links ] _____. Ensino de primeiro e segundo graus: educação física para quê? Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v.13, n.2, p.282-7, 1992. [ Links ] _____. A janela de vidro: esporte, televisão e educação física. Campinas: Papirus, 1998. BIDDLE, S. Sport and exercise motivation: a brief review of antecedent factors and psychological outcomes of participation. Physical Education Review, Manchester, v.15, n.2, p. 98-110, 1992. [ Links ] [ Links ] BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros curriculares nacionais: educação física. Brasília: Secretaria de Educação Média e Tecnológica, 1999. [ Links ] BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Ensino Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: educação física. Brasília: Secretaria de Ensino Fundamental, 1998. v.7. [ Links ] CASTELLANI FILHO, L. Educação física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: Papirus, 1989. [ Links ] CAVIGLIOLI, B. Esporte e adolescentes. Paris: J. Vrin, 1976. [ Links ] COSTA, C.M. Educação física diversificada, uma proposta de participação. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 4., São Paulo, 1997. Anais... São Paulo: Escola de Educação Física e Esporte, 1997. p. 47. [ Links ] CSIKSZENTMIHALYI, M. A psicologia da felicidade. São Paulo: Saraiva, 1992. [ Links ] DARIDO, S.C. Teoria, prática e reflexão na formação profissional em Educação Física. Motriz, Rio Claro, v.1, n.2, p.124-8, 1995. [ Links ] _____. Educação física na escola: questões e reflexões. Araras: Topázio, 1999. [ Links ] _____. Educação física. In: FARACO, C. (Org.). Parâmetros curriculares + ensino médio: orientações educacionais complementares aos parâmetros curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEMTEC, 2002. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 239 DARIDO, S.C.; FARINHA, F.K. Especialização precoce na natação e seus efeitos na idade adulta. Motriz, Rio Claro, v.1, n.1, p.59-70, 1995. [ Links ] DARIDO, S.C.; GALVÃO, Z.; FERREIRA, L.A.; FIORIN, G. Educação física no ensino médio: reflexões e ações. Motriz, Rio Claro, v.5, n.2, p.138-45, 1999. DARIDO, S.C.; RANGEL-BETTI, I.; RAMOS, G.N.; GALVÃO, Z.; FERREIRA, L.A.; SILVA, E.V.M.; RODRIGUES, L.H.; SANCHES, L.; PONTES, G.; CUNHA, F. Educação física, a formação do cidadão e os parâmetros curriculares nacionais. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v.15, n.1, p.17-32, 2001. De ÁVILA, A.C.V. Para além do esporte: a expressão corporal nas aulas de educação física do segundo grau. 1995. Monografia (Graduação) - Departamento de Educação Física, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. DISHMAN, R.K. Exercise adherence. In: SINGER, R.N.; MURPHEY, M.; TENNANT, L.K. (Eds.). Handbook of research on sport psychology. New York: McMillan, 1993. p.779-98. [ Links ] _____. Advances in exercise adherence. Champaign: Human Kinetics, 1994. DISHMAN, R.K.; SALLIS, J. Determinants and interventions for physical activity and exercise. In: BOUCHARD, C. et alii (Eds.). Physical activity, fitness, and health: international proceedings and consensus statement. Champaign: Human Kinetics, 1994. p.214-38. [ Links ] [ Links ] DUMAZEDIER, J. A revolução cultural do tempo livre. São Paulo: SESC/Studio Nobel, 1994. [ Links ] FIORIN, G.S. Uma proposta para além do esporte na educação física escolar: as expectativas e a avaliação dos alunos. 1997. Monografia (Especialização) Departamento de Educação Física, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. [ Links ] GALVÃO, Z. Educação física escolar: razões das dispensas e visão dos alunos por ela contemplados. Campinas: 1993. Monografia (Especialização) - Faculdade de Educação Física, Universidade de Campinas, Campinas. [ Links ] GAMBINI, W.J.J. Motivos da desistência em aulas de educação física no segundo grau. 1995. Monografia (Graduação) - Departamento de Educação Física, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. [ Links ] GUEDES, D.P.; GUEDES, J.E.R.P. Associação entre variáveis do aspecto morfológico e desempenho motor em crianças e adolescentes. Revista Paulista de Educação Física, São Paulo, v.10, n.2, p.99-112, 1996. [ Links ] IAOCHITE, R. A prática de atividade física e o estado de fluxo: implicações para a formação do futuro profissional em educação física. 1999. Dissertação (Mestrado) Departamento de Educação Física, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 240 LOVISOLO, H. Educação física: a arte da mediação. Rio de Janeiro: Sprint, 1995. _____. Pós-graduações e educação física: paradoxos, tensões e diálogos. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v.20, n.1, p.11-21, 1998. [ Links ] MOREIRA, W.W. Educação física escolar: uma abordagem fenomenológica. Campinas: UNICAMP, 1991. [ Links ] NAHAS, M.V. Educação física no ensino médio: educação para um estilo de vida ativo no terceiro milênio. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR, 4., São Paulo, 1997. Anais... São Paulo: Escola de Educação Física e Esporte, 1997. p.17-20. [ Links ] OKUMA, S.S. O significado da atividade física para o idoso: um estudo fenomenológico. 1997. Tese (Doutorado) - Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. [ Links ] RANGEL-BETTI, I.C.R. O prazer em aulas de educação física escolar: a perspectiva discente. 1992. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Educação Física, Universidade de Campinas, Campinas. [ Links ] SANTOS, S.B.R. Educação física: o paradoxo da sua negação. 1996. Monografia (Graduação) - Departamento de Educação Física, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro. [ Links ] SÃO PAULO (Estado) Secretaria da Educação. Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas. Proposta curricular para o ensino de educação física no 1o. grau. São Paulo: CENP, 1990. [ Links ] 60% DOS BRASILEIROS estão parados. Folha de S. Paulo, São Paulo, 27 nov. 1997. Datafolha, p. 12. [ Links ] VANREUSEL, B.; RENSON, R.; BEUNEN, G.; CLAUSSENS, A.L.; LEFEVRE, J.; LYSENS, R.; VANDEN-EYNDE, B. A longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in adulthood. International Review for the Sociology of Sport, London, v.32, n.4, p.373-87, 1997. [ Links ] WANKEL, L.M. Exercise adherence and leisure activity: patterns of involvement and interventions to facilitate regular activity. In: DISHMAN, R.J. (Ed.). Exercise adherence: its impact on public health. Champaign: Human Kinetics, 1988. p.369-96. _____. The importance of enjoyment to adherence and psychological benefits from physical activity. International Journal of Sport Psychology, Rome, v.24, p.151-69, 1993. [ Links ] Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 241 O CONTEÚDO “DANÇA” EM AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: temos o que ensinar?* LÍVIA TENÓRIO BRASILEIRO ** RESUMO Analisamos a dança como conteúdo nas aulas de Educação Física escolar por reconhecermos a ausência de discussões sobre o assunto. Apesar de a dança estar presente na escola, seja na Educação Física, seja na Educação Artística/Arte Educação, ela é descontextualizada da discussão sobre seleção cultural, realizada pelos currículos escolares. PALAVRAS-CHAVE: Dança - Educação Física - Prática pedagógica. INTRODUÇÃO O presente estudo aborda a questão do conteúdo ―dança‖ no ensino da Educação Física escolar. Consideram-se aqui as possibilidades, os limites e as exigências da referência da Teoria Crítica. Nossa discussão está inserida no Capítulo I da dissertação que lhe deu origem, ―Uma caminhada em construção‖, em que apresentamos as dimensões da problemática do tema. Nesse capítulo explicitamos as categorias que permitiram a reflexão articulada acerca da formação, do currículo, da Educação Física e da dança e acerca do reconhecimento desta última como conteúdo escolar. A discussão da dança como conteúdo nas aulas de Educação Física nos fez refletir sobre como ela se insere no espaço escolar e como os profissionais da área vêm assumindo esse conteúdo. A DANÇA FAZ PARTE DO UNIVERSO ESCOLAR? Delimitamos o conteúdo ―dança‖, em nossa pesquisa, por reconhecer a ausência de discussões sobre o tema no espaço escolar. Apesar de sua presença na escola, seja na Educação Física, seja na Educação Artística/Arte Educação, a dança é descontextualizada da discussão acerca da seleção cultural, realizada pelos currículos escolares. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 242 A escolha desse tema para nosso dado empírico de pesquisa deve-se ainda ao nosso reconhecimento de que a dança vem sendo marginalizada nas aulas de Educação Física escolar. Acompanhamos, como observadora participante, as atividades da disciplina Prática de Ensino II - 1998, da licenciatura em Educação Física/ UFPE. A disciplina incluía um espaço de intervenção em uma es-cola da rede pública estadual de Pernambuco. A pesquisa, intitulada A Prática Pedagógica e a Política Educacional na Formação Humana e na Produção do Conhecimento, teve como intenção o estudo dos fatores externos e internos à escola. A dança constituiu o conteúdo privilegiado desse estudo nas intervenções junto aos escolares. Nesse processo pudemos reconhecer a ausência desse conhecimento como prática pedagógica sistematizada no espaço escolar, bem como a não-apropriação do mesmo, por parte dos acadêmicos em formação. Somente em recentes processos de discussão, para além da Educação Física, é que a dança veio inserir-se como conteúdo nos currículos escolares, como prática pedagógica sistematizada. E é esse movimento recente que nos faz refletir sobre sua posição como conhecimento a ser tratado nos espaços escolares. Gehres (1997, p. 36) descreve a situação da dança nas escolas estatais das redes de ensino fundamental e médio do Brasil, apresentando dados que apontam para: • a predominância da dança no ensino fundamental do Brasil como uma atividade extracurricular, estabelecida de forma diversificada, com maior incidência dos centros de arte para escolares da rede municipal ou estadual e dos grupos de dança com apoio estrutural e pedagógico; • do ponto de vista curricular, a predominância da dança como conteúdo da disciplina Educação Física e sua introdução incipiente como conteúdo da disciplina Educação Artística. Contudo, a observação da história dessas duas disciplinas nas escolas brasileiras (Barbosa, 1978) revela a hegemonia da ginástica e do desporto como conteúdos da Educação Física e a do desenho geométrico como conteúdo privilegiado pela Educação Artística. O que vamos observar é que, apesar de a dança estar situada, desde 1971, como unidade da disciplina Educação Física, a prerrogativa concedida aos demais Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 243 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] conteúdos da Educação Física escolar, destacada acima, é facilmente observada no dia-a-dia das escolas do Estado de Pernambuco. A dança é minimamente tratada como componente folclórico no interior das escolas, seja pela Educação Física ou pela Educação Artística/Arte Educação; raramente é valorizada por ter um conhecimento próprio e uma linguagem expressiva específica. Ela é reconhecida como atividade extra-escolar, extracurricular etc. Ao consultar os professores de Educação Física da rede estadual de ensino, pudemos reconhecer elementos já apresentados na literatura específica sobre a dança, que já conta com um pequeno acervo bibliográfico no espaço escolar, especialmente na Educação Física. As respostas obtidas do questionário evidenciaram que nenhum dos que retornaram esse instrumento de coleta trata o conteúdo ―dança‖ nas aulas de Educação Física e apenas um indica recorrer à dança em festividades e datas comemorativas. Dentre os questionários devolvidos com as respostas, tivemos apenas um professor cuja carga horária incluía treinamento de alguma modalidade esportiva; os demais exerciam toda a sua carga horária em aulas de Educação Física com o alunado. Esse é um dado interessante quando reconhecemos o grande número de professores com carga horária em disponibilidade para atender a grupos de treinamento, sendo identificado um grande privilégio a essas atividades, em detrimento das aulas de regime curricular obrigatório. E mesmo quando esse treinamento pode adotar o conteúdo ―dança‖, a grande prerrogativa é para as modalidades esportivas, visto que o projeto de grupos de treinamento dá base, na escola, à seleção das equipes para os jogos escolares. Essa centralidade está refletida em toda a discussão histórica da área, e decorre do privilégio, desde a década de 1960, às modalidades esportivas. Mesmo com a discussão ampliada acerca dos conhecimentos que perpassam as aulas de Educação Física, esse ainda é um forte aspecto delimitador da área. Essa consulta aos professores da área permitiu-nos dialogar com a literatura existente, bem como formular a proposta de trabalho da nossa intervenção em campo. As respostas obtidas possibilitaram-nos conhecer as referências acerca da Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 244 temática ―dança‖ no espaço escolar, as quais podem ser exemplificadas nestes fragmentos: – Você trata o conteúdo ―dança‖ na sua escola? – Infelizmente não foi possível vivenciar o conteúdo dança na escola, por muitos motivos: 1º) espaço físico: o salão existente na escola passou a funcionar como sala de aula para o primeiro grau menor; 2º) material humano: turmas mistas, faixa etária bastante diferenciada; enfim no início do ano, ao apresentar os conteúdos, não houve boa aceitação da dança, principalmente, pelos alunos de idade mais elevada. (Profª A-Q) – Sim [... mas] devido ao espaço físico esse conteúdo fica muito limitado (ocasiões de festas e datas comemorativas). (Profª B-Q) – Não. Quando trabalhava na escola, a mesma não oferecia local adequado, nem tampouco materiais para poder implantar essa modalidade [...]. (Profª C-Q) – Não: falta de conhecimento; espaço; dificuldades com turmas mistas (preconceito). (Profª. D-Q) Se recorrermos à literatura existente, vamos observar que um dos fortes argumentos para a inexistência do conteúdo ―dança‖ nas aulas de Educação Física são as questões estruturais, de conhecimento e de aceitação por parte dos alunos, especialmente do sexo masculino. Essas alusões, portanto, estão em consonância com as respostas obtidas. No que se refere à questão estrutural, quando pensamos em dança, automaticamente, imaginamos uma sala ampla, com piso liso e espelhos por todos os lados, e acompanhada de um som de qualidade – da mesma forma que, tratando-se de esportes, pensamos em quadras sem buracos, com cobertura e demarcação de todas as modalidades esportivas. Essa, sem sombra de dúvidas, não é a realidade das escolas públicas estaduais. O interessante, porém, é que, apesar da estrutura indesejada das quadras, continuamos a tratar o conteúdo esportivo, com seus limites, é claro, e o mais intrigante é que a quadra virou Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 245 sinônimo de aula de Educação Física. É importante reconhecer ainda que, em muitas escolas, nem quadra existe, ficando as aulas restritas a espaços como pátio, ruas ou praças. Podemos, portanto, perguntar: Não é mais fácil conseguir uma sala do que uma quadra, desde que a estrutura da sala seja menos exigente que a da quadra? E por que não ampliarmos nossa estrutura física para além da quadra, com salas de dança e ginástica? Não queremos aqui fazer uma elucubração e sim mostrar que o espaço físico deve ser pensado como um desafio constante para se obter uma Educação Física que amplie suas referências de conhecimento. O espaço físico/arquitetônico das escolas é estruturado com base nas proposições pedagógicas; logo faz-se necessário uma reflexão ampliada da escola e, especificamente, da Educação Física, a fim de redimensionar esse espaço. Quanto ao conhecimento ―dança‖ nos cursos de formação em Educação Física, podemos observar um avanço significativo nos currículos. A disciplina Rítmica, anteriormente apresentada por eles, nem sempre era obrigatória para os homens. Hoje, no entanto, existem cursos que possuem tanto a disciplina Dança quanto o futebol para alunos/as. Se considerarmos que o futebol, também, não era obrigatório para mulheres – e, por incrível que pareça, ainda existem cursos que mantêm essa referência –, a diferenciação se tornará ainda mais clara: o futebol está marcadamente nas aulas, seja de professores ou de professoras, mas a dança não. Apesar de reconhecer nesse fato uma conseqüência da questão cultural, temos de confrontá-la. Se admitirmos a dança como conteúdo, teremos de recorrer a ela, assim como recorremos aos demais conteúdos como sendo importantes para a formação das crianças e adolescentes. Existe uma discussão sobre as aulas orientadas por profissionais com formação não-específica em dança. Esse aspecto precisa ser mais bem discutido no interior dos cursos de formação, porque a não-apropriação do conhecimento sobre a dança tem sido um forte argumento dos profissionais. Questiona-se, também, a metodologia usada por esses profissionais no processo de ensino– aprendizagem. Não fazemos o mesmo percurso dessa discussão, pois, dessa forma teríamos de defender que só os profissionais licenciados em Dança, poucos em nosso país, estariam aptos a oferecer aulas desse conteúdo no espaço escolar. O que nos Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 246 preocupa é reconhecer com que elementos os profissionais de Educação Física estão se aproximando do trato da Dança nesse espaço! Entendemos, como Barbosa (1991, p. 6), que "assim como a matemática, a história e as ciências, a arte tem um domínio, uma linguagem, uma história. Se constitui portanto, num campo de estudos específicos e não apenas em mera atividade", sendo a dança uma das formas da cultura corporal de diversos povos inseridas nesse universo da cultura/arte. Se tomarmos como referência o Brasil, concluiremos que são poucos os cursos de graduação, licenciatura ou bacharelado em Dança, e que eles configuram uma nova demanda nas faculdades de Artes. Porém, desde 1971, a legislação prevê o trato com esse conhecimento em aulas de Educação Física e Educação Artística/ Arte Educação, o que fica explicitado, mais recentemente, nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Não pretendemos aqui entrar numa discussão corporativista para saber a quem pertence esse espaço de intervenção, e sim discutir sobre as possibilidades, já historicamente em construção, de qualificação profissional. A rediscussão acerca da formação profissional em Educação Física deve recuperar as demandas que a área não conseguiu tratar com qualidade e fomentar novas possibilidades. No que se refere à presença dos homens – turmas mistas – temos uma longa discussão acumulada sobre o assunto. Que importância pode ter a divisão das turmas por sexo, quando, em todo o seu processo escolar e de vida cotidiana, os alunos estão juntos? Isso representa um retrocesso que não se justifica por questões fisiológicas, muito menos psicológicas. A co-educação e a questão de gênero vêm sendo discutidas nas produções acadêmicas da área, podendo ser consultados estudos atualizados, apresentados nos eventos do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, nos seus Grupos de Trabalhos Temáticos. Saraiva Kunz et al. (1998, p. 27) explicitam essa discussão afirmando que a E.F., tradicionalmente, encontrou (e isto ocorre vivamente ainda hoje) uma separação de práticas/vivências entre os sexos opostos, que se estabeleceu baseada no preconceito da desigualdade, e mais do que tudo, no da inferioridade feminina. Isto Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 247 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] quer dizer que, quando uma diferença entre sexos justifica a (não) participação/vivência de um ou outro sexo em vivências de movimento que lhes proporcionariam descoberta de potencial, estabelece-se a discriminação e não o atendimento à individualidade/ singularidade, como sempre foi reivindicado pelos professores, ou por preconceito, ou por incapacidade de lidar com as diferenças de sexo e/ou de gênero. Um outro dado interessante exposto por uma das professoras consultadas é a utilização que ela faz da dança, unicamente nos eventos. Isso é curioso, mesmo diante de suas alusões aos limites de trato com esse conteúdo, devido aos espaços físicos da escola. Essa questão é amplamente reconhecida, pois é de conhecimento público o papel das danças nas festividades escolares, incluindo todas as séries. As danças, nesses eventos, são, normalmente, orientadas por professores de Educação Física, o que nos permite afirmar que, apesar de a dança estar presente no espaço escolar, ela é apenas um elemento decorativo. Não se reflete sobre a importância de seu conhecimento para a formação dos alunos. Apresentamos esse confronto por entendermos que muitos dos problemas que limitam o trato com o conhecimento ―dança‖ ultrapassam a relação específica de conteúdo. Além disso, poucos são os estudos em que se procura analisar as possibilidades de materialização de propostas de ensino, e, mesmo os existentes, apresentam-se sob a referência de modelo. MAS, AFINAL, O QUE É DANÇA? Tomando como referência a nossa consulta aos professores, podemos perceber que somente um deles não aponta a dança como um conhecimento a ser tratado nas aulas de Educação Física. Os demais, ao serem questionados a respeito de seu entendimento sobre a dança e do trato com esse conhecimento em aulas de Educação Física, apontam: Dança são passos cadenciados e subordinados ao mesmo ritmo e compasso de uma música. (Profª A-Q) Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 248 Dança: forma de expressão da cultura de um povo, de uma raça, de um determinado lugar, em relação às suas crenças, seus valores, seus medos etc. Nas aulas de E.F. esse conteúdo deve ser tratado de acordo com os interesses e as necessidades dos alunos, levando-se em conta a realidade em que eles se inserem. Deve ter um sentido e um significado, a fim de que o aluno possa fazer uma reflexão crítica e promova mudanças. (Profª B-Q) A dança traz, nos seus movimentos, fortalecimento muscular, harmonia, habilidade, graciosidade, integridade, ritmo, coordenação, ajudando em todas as atividades de Física e esportes. (Profª C-Q) As conceituações apresentam diferenciações no que tange ao significado da dança na Educação Física. Neste estudo não fizemos opção por recuperar a história da dança, por entendermos que existem trabalhos de cunho histórico já publicados no Brasil que apresentam uma reflexão mais aprofundada sobre o percurso da dança e sobre os seus diferentes papéis, ao longo da história da humanidade. Porém, quando se trata da dança como componente do currículo escolar, e especificamente da Educação Física, verificamos uma parca existência de trabalhos publicados no nosso país. Fizemos então um breve levantamento das publicações em livros, revistas e anais de eventos, incluindo monografias, dissertações e teses que vêm contribuindo para as discussões na área. Apresentamos algumas dessas produções sem fazer distinção de suas aproximações e distanciamentos conosco, porém, reconhecendo-as no processo de discussões da área. Recuperando as falas dos professores, podemos destacar dois conceitos. O primeiro apresenta a dança como movimento que fortalece, que coordena etc., e, com isso, ajuda a todas as atividades da Educação Física; o segundo, por sua vez, fala da dança como expressão cultural de um povo. Ao analisar o primeiro conceito, percebemos o reducionismo com que a Educação Física trata desse conhecimento, considerando apenas as suas possibilidades de auxiliar nas habilidades motoras ou de integrar – palavra usual: socializar. Isso Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 249 significa distanciar a dança de seu universo de conhecimento próprio e retirar dela o seu sentido/significado para atribuir-lhe somente possibilidades de movimento. É fácil comprovar esse reducionismo também pela centralidade, na história da dança, do repertório clássico, que codificou todo o seu movimento. Vale lembrar que a dança clássica é considerada como 'A dança'. O segundo conceito permite aproximarmo-nos dos estudos que reconhecem a dança como possuidora de uma linguagem própria e expressiva, e como representativa de um conhecimento que conta/representa a história da humanidade. Temos buscado, ao longo das relações estabelecidas com o universo da dança, confrontar essas discussões reducionistas com aquelas que se ampliam no universo da Arte, tendo o cuidado de não nos distanciarmos do papel do espaço escolar, ou seja, dialogando a partir da Educação com a Arte. Defendemos o conhecimento ―dança‖ dentro da discussão ampliada da Arte, e compreendemos a dança como algo que excede o dizer em palavras, ou seja, localiza-se no universo da lingua-gem corpórea do homem, que possui códigos universais. Reconhecemos que o universo artístico, de uma forma geral, toma uma reorientação conceitual mundial em que não existe mais uma única referência estética. Essa mudança pode ser observada em diversas ações/significações relativas às produções artísticas. Não vamos mais a museus simplesmente para 'prestar homenagem' à Arte ou ao Artista, como se estivéssemos participando de um culto. Muito pelo contrário, gostamos daqueles trabalhos que podemos tocar, mexer, apertar; nos quais podemos entrar, ou mesmo escalar. Tampouco assistimos a espetáculos de dança sem que nos envolvamos de alguma maneira. Os melhores são aqueles em que podemos 'entrar na dança', juntamente com os artistas. (Marques,1996, p. 18) Apesar dessa mudança, Marques assinala que, com relação ao ensino da dança, ainda se valorizam aspectos próprios do século XVIII, como, por exemplo, o destaque à espetacularização e ao aprimoramento técnico. A autora ressalta que repensar a educação e a dança no mundo contemporâneo, quer no âmbito artístico profissional, quer na escola básica, significa também repen-sar todo este sistema de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 250 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] valores e de idéias concebidos desde o século XVIII e que foram incorporados ao pensamento educacional ocidental. (Marques, 1999, p. 48) Aulas de dança podem ser observadas em diferentes espaços: academias, estúdios, clubes, escolas etc., e nesses o professor, que ora é bailarino/professor, ora coreógrafo/professor, é a grande referência a ser imitada, tendo no domínio da técnica e de habilidades a sua metodologia, e no repertório clássico o seu privilégio. Embora se observe o crescimento de outros repertórios, esses também têm privilegiado, na sua abordagem metodológica, o ensino de técnicas, a exemplo das danças de salão. Nas aulas de Educação Física, especificamente, temos observado, pelas poucas experiências relatadas/sistematizadas, o privilégio das danças do universo popular como forma de resgatar a cultura de cada região. Acreditamos na importância de recuperar danças que configurem a história da nossa região e nos permitam uma localização como produtores de nossa cultura. Porém constatamos a necessidade de conhecer um universo mais amplo de referências sobre a dança e seus diferentes repertórios, bem como as possibilidades de improvisação e reconstrução coreográfica dos repertórios já construídos. Saraiva Kunz et al. (1998, p. 19) corroboram o nosso entendimento de que, através da dança, se procede ao resgate/produção da cultura, sendo esse o objeto da Educação: [a dança] possibilita a compreensão/apresentação das práticas culturais de movimento dos povos, tendo em vista uma forma de auto-afirmação de quem fomos e do que somos; ela proporciona o encontro do homem com a sua história, seu presente, passado e futuro e através dela o homem resgata o sentido e atribui novos sentidos à sua vida. Temos nos aproximado também das discussões apresentadas por Marques (1996 e 1999), quando formula a proposta de uma articulação múltipla entre o contexto vivido, percebido e imaginado pelos alunos e os subtextos, textos e contextos da própria dança. O contexto aqui é entendido não como objetivo, mas, sim, como um interlocutor da nossa prática educativa, e a escolha dele não deve estar baseada Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 251 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] apenas no interesse motivacional; é preciso que ele exponha significados que elucidem a nossa sociedade, iniciando um processo de problematização. Esse contexto é base para as formulações dos textos, subtextos e contextos da dança. Os subtextos são os aspectos coreológicos, ou seja, os elementos estruturais e socioafetivo-culturais da dança. Os textos são ampliados, indo do universo dos repertórios ao reconhecimento da importância das composições e das improvisações. No contexto da dança estão os seus elementos históricos, culturais e sociais, como o trato com a história, música, antropologia, estética, apreciação, crítica etc. Em Pernambuco a proposta de ensino da Educação Física desenvolvida pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes-PE, 1987-1991 e recuperada nas gestões posteriores apresenta a dança como uma das formas de atividades expressivas corporais do homem. Junto com outras atividades, ela configura o conhecimento da cultura corporal, e é reconhecida como uma das formas de linguagem do homem, linguagem esta expressiva e representativa de diversos aspectos de sua vida, privilegiadamente de seus momentos festivos. Ao conhecer, interpretar e compreender os sentidos e significados da dança, temos a oportunidade de perceber, através dela, o desenvolvimento cultural de diferentes civilizações. Faz-se necessário, portanto, o acesso ao universo da dança e a desmitificação de sua imagem apenas como elemento/espetáculo folclórico, normalmente de caráter contemplativo. É preciso passar a entendê-la como conhecimento significativo para as nossas ações corpóreas, que podem ser exploradas pelo universo de repertórios popular, folclórico, clássico, contemporâneo etc., bem como pela improvisação e pela composição coreográfica. CONCLUSÕES Ao refletirmos sobre as possibilidades de mudança no trato com o conhecimento nas práticas pedagógicas da Educação Física no espaço escolar, reconhecemos que há muito o que superar na concepção de formação humana e de currículo, pontos discutidos mais amplamente na dissertação. Mas, entrando na nossa especificidade, Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 252 nos questionamos: Como superar o fato de a Educação Física continuar reforçando práticas pedagógicas assistemáticas? Os dados apresentados pelas crianças e adolescentes na escola pesquisada permitem-nos pontuar a ausência de aulas dessa disciplina ou a sua assistematicidade. Embora ela seja um componente curricular e apresente-se no interior do projeto escolar, sua existência não está sendo garantida em sua função mínima. A história da área demonstra os seus avanços e os novos processos de discussão, porém a realidade educacional não nos permitiu ver além do que já se conhece no senso comum: a ausência de aulas ou a aula restrita, no que se refere a conhecimento. O conteúdo se limita ao futebol, queimado, corridas e exercícios, velhos amigos da Educação Física. Adentrando novamente no nosso conteúdo específico de estudo, voltamos a nos questionar: Como superar o fato de que a dança, quando tratada por profissionais da Educação Física, normal-mente, limita-se a reconhecimento de movimentos? Retirase dela o seu sentido/significado ou a possibilidade de construí-los, e apegase unicamente às suas possibilidades de movimento, aos seus códigos. Esse é, sem dúvida, um limite explícito na área da Educação Física, que, também, tem sido tratada como um fazer destituído de saber. A questão comprova a necessidade de uma discussão mais aprofundada acerca do trato com o conhecimento ―dança‖ nos cursos de formação de professores de Educação Física. Reafirmamos, assim, a importância de apreender e vivenciar nossa cultura corpórea através da dança, uma linguagem que o homem construiu e reconstrói/constrói ao longo da sua história. Ao refletirmos sobre a relação do homem com o mundo, percebemos em Vasquez (1999, p. 73) que "os homens mantiveram e mantêm diferentes relações com [ele]. Diversas são também nelas sua atitude para com a realidade, as necessidades que tentam satisfazer e o modo de satisfazê-las". Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 253 Entre essas relações, o autor destaca: a relação teóricocognoscitiva (que permite compreender a realidade); a relação prático-produtiva (através da qual o homem intervém materialmente na natureza); e a relação prático-utilitária (por meio da qual ele con-some os bens produzidos). Dessa forma, entendemos que a dança é uma produção do homem em suas relações com o mundo e que explicita diferentes relações na sua constituição. Vazquez (1999, p. 47) ainda contribui para a discussão sobre a estética, sendo essa "a ciência de um modo específico de apropriação da realidade, vinculado a outros modos de apropriação humana do mundo e com as condições históricas, sociais e culturais em que ocorre". É preciso que se explicite que todos vivemos situações estéticas nas nossas vidas, por mais ingênuas ou espontâneas que pareçam, a exemplo da nossa relação com a música, a imagem corporal etc. Vivemos, portanto, sob forte influência ideológica estética, sendo a Educação Física e a dança um campo muito profícuo para essas apropriações estéticas. Dessa forma, reafirmamos a necessidade de se discutir a educação no interior da escola, compreendendo como ela constrói a concepção de homem e de mundo, que é refletida nos projetos científicos, políticos, pedagógicos, éticos e estéticos. Acreditamos também na importância de se criarem novas possibilidades para facilitar a expressão original de cada aluno e dar a eles o sentido de grupo social, à medida que lhes permitam reconhecer-se como agentes que vivenciam, refletem e reelaboram sua cultura. Essa é, sem dúvida, uma discussão a ser ampliada, pois, ao refletir sobre a questão ―Temos o que Ensinar‖, teremos de fazê-lo para além dos limites das quadras da Educação Física. NOTAS * Texto baseado na dissertação O conhecimento no currículo escolar: o conteúdo ―dança" em aulas de Educação Física na perspectiva crítica, defendida na Universidade Federal de Pernambuco. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 254 ** Professora da Universidade Estadual da Paraíba, membro do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte e mestre em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. REFERÊNCIAS BARBOSA, Ana Mae. A imagem no ensino da arte: anos oitenta e novos tempos. São Paulo: Perspectiva, 1991. BRASILEIRO, Lívia Tenório. O conhecimento no currículo escolar: o conteúdo dança em aulas de Educação Física na perspectiva crítica. 2001. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2001. GEHRES, Adriana de F. Dançar nas escolas apesar das escolas: projeto em andamento. In: CONBRACE, 10., 1997, Goiânia. Anais... Goiânia, GO, 1997. MARQUES, Isabel A. Ensino de dança hoje: textos e contextos. São Paulo: Cortez, 1999. PERNAMBUCO. Secretaria de Educação, Cultura e Esportes. Contribuição ao debate do currículo em Educação Física: uma proposta para a escola pública. Recife, 1990. SARAIVA KUNZ, Maria do Carmo et al. Improvisação & Dança. Florianópolis: Ed. UFSC, 1998. VAZQUEZ, Adolfo Sánchez. Convite à estética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 255 SITES E LIVROS PARA CONSULTAS [HTML] Educação Fisica Escolar [HTML] de ebah.com.brACEF Escolar - ebah.com.br A partir de referenciais das ciências humanas, especificamente da antropologia social, este trabalho discute o conceito de cultura e algumas de suas implicações para a área de educação física, com ênfase em sua atuação escolar. Discute a questão do corpo como expressão ... Artigos relacionados - Em cache [LIVRO] Política educacional e educação física L Castellani Filho - 2002 - books.google.com ... FHC NA EDUCAÇÃO FÍSICA BRASILEIRA 3 Antecedentes 3 Novos Tempos, Velhas Concepções 9 A Educação Física no Ensino Superior: o fim da Obrigatoriedade Anacrónica 25 Em Conclusão 34 Bibliografia 36 CAPÍTULO Dois EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: TEMOS o ... Citado por 96 - Artigos relacionados Educaçäo física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista; Physical education for school children: foundations of a developmental approach EJ Manoel, E Kokubun, G Tani… - 1988 - bases.bireme.br ... Autor: Manoel, Edison de Jesus; Kokubun, Eduardo; Tani, Go; Proença, José Elias de. Título: Educaçäo física escolar: fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista / Physical education for school children: foundations of a developmental approach. Fonte: sl; EPU; 1988. ... Citado por 254 - Artigos relacionados - Em cache - Todas as 2 versões [HTML] Educação Física escolar: conhecimento e especificidade [HTML] de cev.org.brCL Soares - Revista Paulista de Educação Física, supl, 1996 cev.org.br Deixo registrado também nesta breve introdução que minhas aspirações acadêmicas hoje, estão mais no terreno da concordância do que naquele da discordância. São os pontos convergentes apresentados pelo meu interlocutor que se constituem em ponto de partida e não os ... Citado por 64 - Artigos relacionados - Em cache - Todas as 8 versões [CITAÇÃO] Aprendizagem e desenvolvimento motor; Esportes: Conceitos relacionados à Iniciação Esportiva Universal; Jogos, lutas e brincadeiras; Regulamento dos … TPEF Escolar - Conhecimentos Específicos da Área: Regras e … Citado por 10 - Artigos relacionados Educação Física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas [PDF] de mackenzie.brM Betti… - … -Revista Mackenzie de Educação Física e …, 2009 - mackenzie.br Resumo: Inicialmente, apresenta-se um entendimento de Educação Física e sua finalidade no contexto escolar, relacionada ao conceito de cultura corporal de Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 256 movimento. Propõe-se conteúdos, metodologias e estratégias adequados aos diferentes níveis de ensino. ... Citado por 75 - Artigos relacionados - Todas as 10 versões [LIVRO] Educação Física-raízes européias e Brasil CL Soares - 2007 - books.google.com ... Educação Física. A própria Carminha vem realizando pesquisa para a sua tese de doutora- do, sob a minha orientação, acerca do "Método Francês", que muito in- fluenciou a Educação Física Escolar no Brasil. Outro mérito ... Citado por 318 - Artigos relacionados - Todas as 2 versões [PDF] Meninos e meninas: expectativas corporais e implicações na educação física escolar [PDF] de scielo.brES de Sousa… - Cadernos Cedes, ano XIX, 1999 - SciELO Brasil RESUMO: Neste texto discute-se o gênero como construção soci- al que uma dada cultura estabelece em relação a homens e mulheres, mostrando que essa construção é relacional, tanto no que se refere ao outro sexo quanto a outras categorias, tais como raça, idade, classe social e ... Citado por 62 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 11 versões [LIVRO] Educação Física no Brasil: a história que não se conta L Castellani Filho - 1988 - books.google.com Page 1. EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL A HISTÓRIA QUE NÃO SE CONTA Page 2. Page 3. Outros ... Page 4. Page 5. EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL A HISTÓRIA QUE NÃO SE CONTA This One :AP-DCBO QX90- Page 6. Page 7. LINO ... Citado por 349 - Artigos relacionados [PDF] Educação Física escolar: em busca da pluralidade [PDF] de usp.brJ Daolio - Revista Paulista de Educação Física, 1996 citrus.uspnet.usp.br Temos discutido nos últimos anos a Educação Física Escolar numa perspectiva cultural, e é a partir deste referencial que consideramos a Educação Física como parte da cultura humana. Ou seja, ela se constitui numa área de conhecimento que estuda e atua sobre ... Citado por 37 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 3 versões Desenvolvimento motor: implicaçöes para a educaçäo física escolar I; Motor development: implications for school physical education I EJ Manoel - Rev. paul. educ. fís, 1994 - bases.bireme.br ... Fonte: Rev. paul. educ. fís;8(1):82-97, jan.-jun. 1994. ilus. Idioma: Pt. Resumo: Este ensaio apresenta conceitos básicos de desenvolvimento motor e suas implicações para a educaçao física escolar. A partir da discussao do ... Citado por 55 - Artigos relacionados - Em cache [PDF] Características dos programas de educação física escolar [PDF] de usp.brJ Guedes… - Revista Paulista de Educação Física, 1997 citrus.uspnet.usp.br O propósito do estudo foi desenvolver uma análise quanto ao tipo das atividades e ao nível de intensidade dos esforços físicos oferecidos aos escolares durante as Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 257 aulas de educação física, numa tentativa de estabelecer relações com os objetivos direcionados à promoção ... Citado por 42 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 6 versões [LIVRO] Educação Física eo conceito de cultura [HTML] de issuu.comJ Daolio - 2007 - books.google.com ... Devo ressaltar que minha análise se restringirá a al- guns autores e alguns livros que inauguraram abordagens de educação física escolar, produzidos no final da década de 1980 e início de 1990, e vistos como clássicos na área. ... Citado por 106 - Artigos relacionados - Todas as 2 versões [PDF] A constituição das teorias pedagógicas da educação física [PDF] de scielo.brV Bracht - Cadernos Cedes, 1999 - SciELO Brasil ... Da origem médica e militar à esportivização A constituição da educação física, ou seja, a instalação dessa prática pedagógica na instituição escolar emergente dos séculos XVIII e XIX, foi fortemente influenciada pela instituição militar e pela medicina. A instituição Page 5. ... Citado por 161 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 8 versões [PDF] Cultura escolar, cultivo de corpos: educação physica e gymnastica como práticas constitutivas dos corpos de crianças no ensino público primário de Belo … [PDF] de sbhe.org.brTM Vago - HISTÓRIA, 2002 - sbhe.org.br ... Pensa-se que a obra traz contribuições ao estudo e debate da educação física escolar, fundamentalmente, por que explicita a for- mação histórica daquele componente curricular, ajudando a entendê-lo na atual condição escolar. ... Citado por 40 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 7 versões [CITAÇÃO] Cinesiologia, educação física e esporte: ordem emanente do caos na estrutura acadêmica GO Tani - Motus corporis, 1996 Citado por 66 - Artigos relacionados Rompendo fronteiras de gênero: Marias (e) homens na educação física H Altmann, ES de Sousa… - dspace.lcc.ufmg.br ... Resumo: Com o objetivo de compreender como meninas e meninos constroem as relações de gênero na Educação Física, foram observadas aulas desta disciplina de quatro turmas de 5ª série, recreios e Jogos Olímpicos Escolares em uma escola municipal de Belo ... Citado por 24 - Artigos relacionados - Em cache Educação Física escolar e ditadura militar no Brasil (1968-1984): entre a adesão ea resistência [PDF] de tempsite.wsMA Taborda de Oliveira - Revista Brasileira de Ciências do …, 2008 - cbce.tempsite.ws O trabalho procura deslindar representações da comunidade acadêmica brasileira acerca das relações entre educação física escolar e ditadura militar no Brasil (1964-1985). Tal intento se realizou a partir de um diálogo com a historiografia das Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 258 áreas de educação e educação ... Citado por 34 - Artigos relacionados - Todas as 5 versões [CITAÇÃO] Perspectivas para a educação física escolar G Tani - Revista Paulista de Educação Física, 1991 Citado por 37 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Educação física escolar: uma abordagem fenomenológica WW Moreira - Campinas: Unicamp, 1991 Citado por 41 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Os conteúdos da educação física escolar: influências, tendências, dificuldades e possibilidades SC Darido - Perspectivas em Educação Física Escolar, Niterói Citado por 34 - Artigos relacionados [HTML] Educação física escolar: conhecimento e especificidade, a questão da préescola [HTML] de efmuzambinho.org.brOL FERRAZ - Revista Paulista de Educação Física, 1996 - efmuzambinho.org.br Desde que a escola existe como instituição, vários programas pedagógicos têm sido propostos. Apesar da variedade de programas encontrados, que refletiram diferentes funções da escola ao longo de sua história, atualmente, é reconhecido que: a) a escola tem papel ... Citado por 29 - Artigos relacionados - Em cache - Todas as 4 versões [CITAÇÃO] Valores e finalidades na educação física escolar: uma concepção sistêmica M BETTI - Revista Brasileira de ciências do esporte, 1994 Citado por 38 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Educação Física escolar: o esporte como conteúdo pedagógico do ensino fundamental RR PAES - Canoas: Ulbra, 2001 Citado por 36 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Educação Física para o pré-escolar CJ Borges - Sprint Citado por 36 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Imagem e ação: a televisão ea educação física escolar M Betti - Educação Física e mídia: novos olhares, outras …, 2003 Citado por 29 - Artigos relacionados Desenvolvimento humano, lazer e educação fisica escolar: o papel do componente ludico da cultura MT De Souza - 1994 - en.scientificcommons.org Publikationsansicht. 50627188. Desenvolvimento humano, lazer e educação fisica escolar : o papel do componente ludico da cultura (1994). Mauricio Teododoro De Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 259 Souza. Abstract. This study had as aim analizing the relation ... Citado por 4 - Artigos relacionados - Em cache [CITAÇÃO] Avaliação do rendimento escolar CP de Sousa - 1994 - Papirus Citado por 85 - Artigos relacionados - Todas as 2 versões [CITAÇÃO] A Educação Física Escolar na perspectiva do século XXI CL SOARES, CNZ Taffarel… - MOREIRA (org.). Educação Física & …, 1992 Citado por 28 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Ginástica geral e educação física escolar E AYOUB - Campinas: Editora da Unicamp, 2003 Citado por 30 - Artigos relacionados [LIVRO] Educação física progressista P GHIRALDELLI - 1988 - books.google.com ... que chega às mãos dos leitores, além de ser uma importante contribuição para o estudo da Educação Física escolar, surge num momento muito oportuno. ... A leitura do texto me sugere duas ideias sobre as relações entre a pedagogia escolar ea Educação Física. ... Citado por 66 - Artigos relacionados [PDF] Fatores associados à obesidade em escolares [PDF] de scielo.brR Giugliano… - J Pediatr, 2004 - SciELO Brasil ... Biomed Environ Sci. 2002;15:291-7. 10. Pimenta APA, Palma A. Perfil epidemiológico da obesidade em crianças: relação entre televisão, atividade física e obesidade. Rev Bras Ciência Movimento. 2001;9:19-24. ... Ministério da Educação. Censo Escolar 2000 [site na internet]. ... Citado por 107 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 9 versões Aptidão física e saúde na educação física escolar: Ampliando o enfoque [PDF] de rbceonline.org.brM Santos Ferreira - Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 2009 - rbceonline.org.br A prática regular e bem orientada do exercício físico pode ser vista como uma contribuição importante para a saúde. Com base nessa relação positiva entre exercício e saúde surge, em meados da década de 80, o movimento da ―'Aptidão Física Relacionada à Saúde‖ ... Citado por 24 - Artigos relacionados - Todas as 4 versões [CITAÇÃO] Educação física escolar CA BARBOSA - Petrópolis, RJ: Vozes, 1999 Citado por 30 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Educação física escolar: ser--ou não ter? VLN Piccolo - 1993 - Editora da Unicamp Citado por 28 - Artigos relacionados A política de esporte escolar no Brasil: a pseudovalorização da educação física Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 260 [PDF] de rbceonline.org.brV Bracht… - Revista brasileira de ciências do esporte, 2010 - rbceonline.org.br A discussão que diz respeito às relações assumidas entre a educação física (EF) e o esporte suscita instigantes debates em nossa área. Nesse sentido, nosso objetivo com este artigo, sem pretender esgotar o tema, é discorrer acerca das ligações estabelecidas entre a educa- ... Citado por 24 - Artigos relacionados - Todas as 4 versões [CITAÇÃO] Educação física escolar: uma abordagem cultural J Daolio - … (Org.) Educação Física Escolar: Ser… ou não Ter Citado por 25 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Educação física escolar R SOLER - Rio de janeiro: Sprint, 2003 Citado por 26 - Artigos relacionados [PDF] Educação para a saúde mediante programas de Educação Física escolar [PDF] de sp.gov.brDP Guedes - Motriz, 1999 - crmariocovas.sp.gov.br A Educação Física continua sendo disciplina do componente curricular no sistema educacional brasileiro. Historicamente, sua permanência no currículo escolar tem sido justificada com base na abrangência e pseudo efetividade da prática esportiva no desenvolvimento ... Citado por 20 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 9 versões [CITAÇÃO] Apresentação e análise das principais abordagens da educação física escolar SC DARIDO - Revista brasileira de ciências do esporte, 1998 Citado por 25 - Artigos relacionados [LIVRO] Psicomotricidade, educação física e jogos infantis AM Mello - 1989 - books.google.com ... Esse aspecto levantado por Le Boulch, ele próprio um pro- fessor de Educação Física, tem-se modificado nesses últimos anos. ... e procurando a melhoria qualitativa do seu trabalho, especialmente no que se refere ao atendimento de crianças em idade pré-escolar e do ... Citado por 52 - Artigos relacionados [PDF] Esforços físicos nos programas de educação física escolar [PDF] de portalsaudebrasil.comDP Guedes… - … Paulista de Educação Física, 2001 - portalsaudebrasil.com Os programas de educação física escolar têm procurado desenvolver conteúdos que possam levar os jovens a se tornarem ativos fisicamente no presente e ao longo de toda a vida. Para tanto, durante as aulas de educação física torna-se necessário estimular regularmente os ... Citado por 21 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 9 versões [PDF] Atividade física, aptidão física e educação para a saúde: estudos na área pedagógica em Portugal e no Brasil Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 261 [PDF] de hd1.com.brAT Marques… - … Paulista de Educação Física, 1999 bmesportes.hd1.com.br ... Sallis & McKenzie (1991), reportando-se a declarações da Academia Americana de Educação Física (1987), da Academia Americana de Comitês Pediátricos em Medicina do Desporto e Saúde Escolar (1987) e do American College of Sport Medicine referem a acentuação ... Citado por 30 - Artigos relacionados - Ver em HTML - Todas as 6 versões [CITAÇÃO] Fundamentos da educação física escolar CL Soares - Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, 1990 Citado por 17 - Artigos relacionados [LIVRO] Entre a educação física na escola ea educação física da escola: a educação física como componente curricular FE Caparroz - 2007 - books.google.com ... FÍSICA 17 1. A caracterização da educação física: entre campo de conhecimento e prática social 19 2. O conceito de educação física escolar 52 CAPÍTULO TRÊS ENTRE A EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA EA EDUCAÇÃO FÍSICA DA ESCOLA 75 1. A incorporação da ... Citado por 69 - Artigos relacionados A ginastica geral na sociedade contemporanea: perspectivas para a educacao fisica escolar. E Ayoub - 2002 - bv.fapesp.br ... A ginastica geral na sociedade contemporanea: perspectivas para a educacao fisica escolar. Linha de fomento: Auxílio à Pesquisa - Publicações científicas - Livro. Pesquisador responsável: Eliana Ayoub. Instituição: Fac Educacao/Unicamp. Processo: 02/04374-8. ... Citado por 7 - Em cache [HTML] Início e fim do século XX: maneiras de fazer educação física na escola [HTML] de scielo.brTM Vago - Cadernos Cedes, 1999 - SciELO Brasil ... Educação física escolar frente à LDB e aos PCNs: Profissionais analisam renovações, modismos e interesses. Ijuí: Sedigraf, 1997. ... "Rumos da educação física escolar: O que foi, o que é, o que poderia ser". In: Anais do II Encontro Fluminense de Educação Física Escolar. ... Citado por 29 - Artigos relacionados - Em cache - Todas as 5 versões [CITAÇÃO] Educação física brasileira: autores e atores da década de 1980 J Daolio - 1998 - Papirus Editora Citado por 48 - Artigos relacionados [CITAÇÃO] Reflexões sobre o circo e a educação física MAC BORTOLETO… - Revista Corpoconsciência, Santo André, 2003 Citado por 20 - Artigos relacionados Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 262 ORIENTAÇÕES PARA BUSCA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS NO SCIELO Após a escolha do tema do TCC, pertinente ao seu curso de Pós-graduação, você deverá fazer a busca por artigos científicos da área, em sites especializados, para a redação do seu próprio artigo científico. O suporte bibliográfico se faz necessário porque toda informação fornecida no seu artigo deverá ser retirada de outras obras já publicadas anteriormente. Para isso, deve-se observar os tipos de citações (indiretas e diretas) descritas nesta apostila e a maneira como elas devem ser indicadas no seu texto. Lembre-se que os artigos que devem ser consultados são artigos científicos, publicados em revistas científicas. Sendo assim, as consultas em revistas de ampla circulação (compradas em bancas) não são permitidas, mesmo se ela estiver relatando resultados de estudos publicados como artigos científicos sobre aquele assunto. Revistas como: Veja, Isto é, Época, etc., são meios de comunicação jornalísticos e não científicos. Os artigos científicos são publicados em revistas que circulam apenas no meio acadêmico (Instituições de Ensino Superior). Essas revistas são denominadas periódicos. Cada periódico têm sua circulação própria, isto é, alguns são publicados impressos mensalmente, outros trimestralmente e assim por diante. Alguns periódicos também podem ser encontrados facilmente na internet e os artigos neles contidos estão disponíveis para consulta e/ou download. Os principais sites de buscas por artigos são, entre outros: SciELO: www.scielo.org Periódicos Capes: www.periodicos.capes.gov.br Bireme: www.bireme.br PubMed: www.pubmed.com.br A seguir, temos um exemplo de busca por artigos no site do SciELO. Lembrando que em todos os sites, embora eles sejam diferentes, o método de busca não difere muito. Deve-se ter em mente o assunto e as palavras-chave que o levarão à procura pelos artigos. Bons estudos! Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 263 Siga os passos indicados: Para iniciar sua pesquisa, digite o site do SciELO no campo endereço da internet e, depois de aberta a página, observe os principais pontos de pesquisa: por artigos; por periódicos e periódicos por assunto (marcações em círculo). Ao optar pela pesquisa por artigos, no campo método (indicado abaixo), escolha se a busca será feita por palavra-chave, por palavras próximas à forma que você escreveu, pelo site Google Acadêmico ou por relevância das palavras. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 264 Em seguida, deve-se escolher onde será feita a procura e quais as palavraschave deverão ser procuradas, de acordo com assunto do seu TCC (não utilizar ―e‖, ―ou‖, ―de‖, ―a‖, pois ele procurará por estas palavras também). Clicar em pesquisar. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 265 Lembre-se de que as palavras-chave dirigirão a pesquisa, portanto, escolhaas com atenção. Várias podem ser testadas. Quanto mais próximas ao tema escolhido, mais refinada será sua busca. Por exemplo, se o tema escolhido for relacionado à degradação ambiental na cidade de Ipatinga, as palavras-chave Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 266 poderiam ser: degradação; ambiental; Ipatinga. Ou algo mais detalhado. Se nada aparecer, tente outras palavras. Isso feito, uma nova página aparecerá, com os resultados da pesquisa para aquelas palavras que você forneceu. Observe o número de referências às palavras fornecidas e o número de páginas em que elas se encontram (indicado abaixo). A seguir, estará a lista com os títulos dos artigos encontrados, onde constam: nome dos autores (Sobrenome, nome), título, nome do periódico, ano de publicação, volume, número, páginas e número de indexação. Logo abaixo, têm-se as opções de visualização do resumo do artigo em português/inglês e do artigo na íntegra, em português. Avalie os títulos e leia o resumo primeiro, para ver se vale à pena ler todo o artigo. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 267 Ao abrir o resumo, tem-se o nome dos autores bem evidente, no início da página (indicado abaixo). No final, tem-se, ainda, a opção de obter o arquivo do artigo em PDF, que é um tipo de arquivo compactado e, por isso, mais leve, Caso queria, você pode fazer download e salvá-lo em seu computador. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 268 Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 269 Busca por periódicos Caso você já possua a referência de um artigo e quer achá-lo em um periódico, deve-se procurar na lista de periódicos, digitando-se o nome ou procurando na lista, por ordem alfabética ou assunto. Em seguida, é só procurar pelo autor, ano de publicação, volume e/ou número. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 270 É preciso ressaltar que você deve apenas consultar as bases de dados e os artigos, sendo proibida a cópia de trechos, sem a devida indicação do nome do autor do texto original (ver na apostila tipos de citação) e/ou o texto na íntegra. Tais atitudes podem ser facilmente verificadas por nossos professores, que farão a correção do artigo. Rua Dr. Moacir Birro, 663 – Centro – Cel. Fabriciano – MG CEP: 35.170-002 Site: www.ucamprominas.com.br e-mail: [email protected] 271
Download