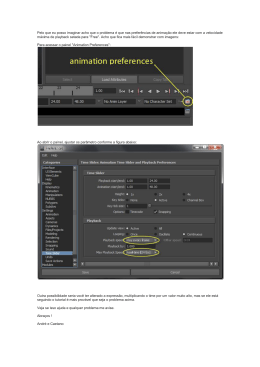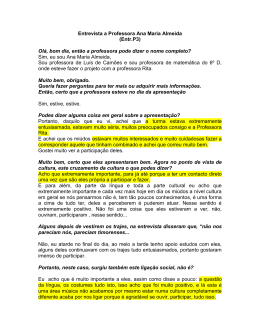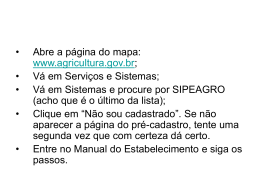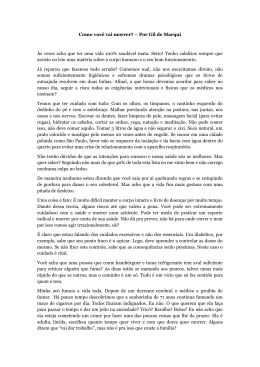RUTH CARDOSO Entrevista inédita por Antonio Prata, em 2003 Antonio Prata - Nos primeiros meses do mandato de FHC, o arquiteto Lúcio Costa fez o seguinte comentário: “Acho que isso é inédito, que essa é a primeira vez que o Brasil é governado por um casal.” O que você acha disso? Ruth Cardoso - Comentaram comigo isso. Eu não sei, eu sempre fiz uma força muito grande para não me confundir com o governo, para não aparecer como parte do governo, não me intrometer nas políticas do governo, tanto que tudo que eu fiz foi trabalhar com a sociedade civil e fazer essa relação que eu acho muito importante e acho que era esse o meu papel. É uma necessidade do Estado moderno ter essa parceria com a sociedade civil, de modo que eu nunca me senti como um casal no governo. De jeito nenhum. AP - Mas quando FHC ganhou o prêmio da ONU, disse à Folha de S. Paulo que muito do desenvolvimento social durante seus dois mandatos era mérito da Comunidade Solidária. Você não concorda? RC - Acho que sim. A gente faz as coisas porque acredita nelas, mas eu não gostaria que houvesse esse tom, a Comunidade Solidária (CS) fazendo aquilo que o governo não fez, ou... Eu acho que a CS pretendeu ser, primeiramente, uma coisa experimental, nós começamos com essa ideia, queremos mostrar e - isso sim - fizemos o que foi possível, em todos os níveis, para debater a ideia de que a relação entre a sociedade e o governo tem que modificar-se. Isso foi o nosso tema na CS. Por isso que não gosto dessa história de ficar dizendo que a C é um pedaço do governo que deu certo, não deu certo e tal, não interessa. Não é isso. Me incomoda barbaramente porque é exatamente o oposto daquilo que a gente tentou, o conselho e eu, insistentemente. A minha briga com a imprensa no começo era que eu dizia insistentemente “olha, eu não sou governo”. E o modelo da parceria Estado X sociedade é um modelo difícil de entrar na cabeça das pessoas, porque a visão é profundamente estatista, que tudo tem que vir do Estado etc. Então, eu brincava até. Eu não tenho holerite! O que eu estava tentando mostrar era que através da parceria se poderia enfrentar determinado tipo de problemas, que o Estado sozinho não pode. Exemplo: o UniSol não poderia ser feito pelo Ministério da Educação, fosse qual fosse o ministro, não mobilizaria as universidades pelo modo que nós mobilizamos, pelo lado que a gente mobilizou. Por quê? Porque nós trabalhamos com trabalho voluntário, quer dizer... E o Ministério da Educação é o administrador das universidades. Agora, trabalhando conosco, eles também eram parceiros do programa. Esse é um exemplo e todos os outros são iguais. AP - Como se passou de uma ideia do tipo “vamos unir diferentes setores” para programas concretos como Alfabetização Solidária e o UniSol? RC - Primeiro tivemos essa ideia de trabalhar com parcerias, e vamos mostrar que é possível. Quer dizer, a CS tinha a pretensão de ser inovadora e experimental exatamente porque tinha a pretensão de mostrar que isso era possível. Até já tinha outros programas, por exemplo, o programa de AIDS foi feito sempre com a colaboração da sociedade civil, mas isso não se transformava ainda num modelo de pensar as coisas, né? Tanto que é muito difícil. As pessoas agora já entendem, mas no começo foi muito difícil. Então nós sabíamos que queríamos programas com parcerias, isso foi uma decisão do Conselho, e que trabalhasse com os jovens, porque faltava muito para os jovens coisas inovadoras, e então nós quisemos dar prioridade a isso. E também porque eu, na verdade, antes de ir para lá, de 90 a 94 estava trabalhando com pesquisa com jovens. Então estava estudando o assunto, tinha um interesse especial nisso. Por exemplo, há certos atendimentos que você tem que dar pros jovens e tem que dar com uma certa urgência. Um jovem está com 15 anos hoje, daqui a dois anos com 17 e daqui a 4 com 19, então quer dizer que se ele é analfabeto e passam quatro anos ele já não é mais um jovem, já é um adulto analfabeto, o que complica mais, você perde a oportunidade de influenciar. O jovem estudante universitário tem uma disponibilidade enquanto é estudante, dali a quatro anos não é mais. Então esse trabalho necessita de uma certa urgência, e exatamente por isso a parceria é um instrumento importante. Porque o governo não pode pensar assim. O governo tem que fazer programas universais, para todo mundo. Também não é que a gente programa tudo, né? As coisas acontecem. Já existia na memória das pessoas o projeto Rondom, sobre o qual todos nós tínhamos muitas críticas, já tínhamos na época e que continuam válidas, porque era extremamente centralizado, todo governamental, enfim, não era um modelo de programa que a gente queria. Mas havia todo um depoimento de pessoas que tinham passado pelo projeto Rondom, com o maior entusiasmo. Então você pensa: bom, aqui tem a potencialidade. Nós sabíamos o jeito que queríamos fazer as coisas e de repente nós vimos que essa era uma possibilidade. Foi o primeiro programa, porque foi a primeira oportunidade. As forças armadas deram apoio, quer dizer, nós conseguimos apoio das universidades e das forças armadas, que permitiram ao programa que fosse o primeiro a ser feito. Era muito menor que hoje, o programa começou pequenininho, o primeiro programa mandou mil estudantes. O Capacitação Solidária é um programa que tem inspiração num programa chileno. Ele ficou muito diferente, no fundo, do programa chileno, porque as nossas condições são muito diferentes. Mas havia um programa no Chile de capacitação de jovens, muito mais institucionalizado que o nosso. Enquanto nós trabalhamos com ONGs, pequenas, eles lá trabalhavam com escolas, instituições formais de ensino e tal. Então foi um desenho diferente, adaptado às nossas situações aqui. A AlfaSol não tinha modelo. Da mesma maneira que o projeto Rondom tinha havido o Mobral, que também era uma coisa centralizada, uma fundação federal, com um monte de dinheiro e tal. Nós não tínhamos orçamento, nós nunca reivindicamos orçamento governamental, porque nós queríamos trabalhar com parcerias, quer dizer, o governo entra como um parceiro. Então nós sabíamos que não podia ser um programa centralizado, que não podia ser um programa controlado de dentro do governo. E aí começamos a desenhar esse programa da alfabetização, conversando com pessoas... AP - E as empresas, foi fácil conseguir a colaboração delas? RC - Olha, todas as vezes que eu comecei um programa, uma das críticas era essa, de que o empresário brasileiro não colabora, então que era um sonho essa parceria. Era um argumento contra a ideia central do que a gente procurava desenvolver. Já eu tinha uma impressão contrária, porque esse tempo todo trabalhando na universidade, me interessando pela coisa da sociedade civil, dos movimentos sociais, da participação, eu sentia que havia uma mudança na mentalidade empresarial, que inclusive nos procuravam para discutir esses temas, antes de eu ir para Brasília. Eu acho que na década de 90 começou a haver essa mudança. Pode ter sido basicamente por influência das multinacionais. Mas as empresas veem seu papel no mundo de uma maneira diferente, e acho que isso não estava sendo reconhecido. A empresa brasileira até hoje repete: o empresário brasileiro não participa, etc. etc. E isso não é verdade. Se você perceber, quando se comparam dados do balanço social das empresas, é sempre muito menos do que os EUA, mas por um lado nosso PIB é menor e por outro lado nós não temos isenção fiscal, então não é comparável a situação. E, sem incentivo fiscal, eu acho que há uma participação muito grande. A sociedade tem uma participação. Eu apostei nisso. E eu acho que a gente conseguiu um sucesso. Não é nunca fácil você conseguir financiamento para os programas sociais, mas depende também de certas condições. As empresas querem transparência nos resultados, querem avaliação dos resultados, e nós desde o início nos dispusemos a oferecer tudo isso. Eu, se faço um balanço hoje, acho que é bem positivo. AP - Todo mundo que eu entrevisto fala bem do UniSol. Os alunos, as pessoas das empresas, das cidades. Se é tão fácil e bom pra todos os lados, por que programas assim não brotam em todas as áreas? Se as empresas estão dispostas a entrar com o dinheiro, se a sociedade civil está disposta a dar o seu trabalho, por que tudo não junta e o mundo não dá certo? (risos) RC - Porque falta exatamente a articulação. O que são os programas? É você desenhar como é que se articula, isso é que nós fazemos. Você articula um número X de parceiros, não todos. Agora esse programa pode ser copiado, pode ser multiplicado. AP - Quer dizer, esses programas não nadam contra a corrente, só juntam as correntes que já estão nadando para o mesmo lado? RC - É, eu acho que é exatamente isso. Não nadam contra a corrente porque contra a corrente não dá certo. Se eu tivesse propondo programas desse tipo, de parceria, num momento que nem o Estado tivesse aberto a parcerias nem a sociedade civil, eu daria com os burros n’água, estaria sendo irrealista. Agora, quando a corrente já está por aí, a gente consegue articular. AP - Criar uma “rede” de solidariedade num país onde a lógica “cordial” é tão vigente, onde vale tanto a máxima de que “uma mão lava a outra”, foi difícil? Em outras palavras, você encontrou muita corrupção? Como fazer para lidar com programas tão amplos, que envolvem tantas pessoas e interesses, sem deixar o pessoal contaminar o privado? RC - Nós nunca tivemos esse tipo de problemas, a gente sempre teve uma postura muito clara, muito apolítica, nesse sentido, de não misturar nada. E se nós tivemos algum início de tentativa de uso clientelista do programa, isso ficou já no início. Isso nunca foi estimulado, e foi exatamente por isso que nós conseguimos mobilizar as universidades. Não se esqueça de que a gente trabalha com estudantes, e estudantes têm uma antena imensa para todas essas coisas e eles não querem ser usados. Se eles estão no município e existe qualquer tentativa de uso político, pelos políticos locais, por exemplo, eles sabem muito bem se defender, e sempre tiveram o apoio da gente, para manterem uma atitude absolutamente não partidária, não política, não religiosa, não ter nenhuma contaminação e garantir a independência. Eu acho que se nós não garantíssemos a dependência, nós não teríamos mobilizado todos os jovens, que são muito sensíveis a isso. AP - Li num texto seu na Internet que você acha que a sociedade brasileira está num momento muito rico, que vem tomando para si certas ações que antes esperava virem do governo. Você acha isso mesmo? RC - Acho, acho. Eu uma vez escrevi um artigo, um artigo ruim, eu não gosto dele, mas a ideia era boa, eu é que não tive tempo de fazê-la direito. Era um artigo sobre 80, a década perdida. Então eu digo lá que, do ponto de vista da mobilização social, a década não foi perdida. Pode ter sido uma década perdida do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista da mobilização da sociedade foi uma década em que toda a coisa dos anos 70, da luta contra a ditadura, que juntou muita gente, etcetera, floresceu, porque se a gente olhar por exemplo o que aconteceu na Constituinte, foi uma coisa impressionante. Toda a sociedade brasileira participou! As mulheres se mobilizaram, os índios se mobilizaram, os negros se mobilizaram, os velhos, depois da Constituinte saiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, quer dizer, houve uma imensa mobilização, na verdade já estava mobilizada a sociedade. Então acho que isso é uma mostra de que a sociedade brasileira, por baixo, começou com as comunidades de base, a luta contra a ditadura, pelos direitos humanos, e isso foi criando uma mobilização de base. Então a sociedade brasileira é bastante mobilizada, e principalmente é uma sociedade onde o trabalho voluntário existe, existe uma grande disponibilidade, só que nós não o reconhecemos. A gente precisava olhar o Brasil de outro jeito. Nós temos uma imprensa que não deixa olhar o Brasil de outro jeito, não deixa ver o Brasil do jeito que ele é, não vai procurar, investigar. Então nós temos uma porção de ideias feitas, essa por exemplo: brasileiro não faz trabalho voluntário. É tirada da onde essa ideia? Talvez a classe média não tenha essa tradição, mas a classe baixa tem uma imensa tradição de ajuda, solidariedade... Tem coisas no Brasil, os Vicentinhos, essas coisas religiosas que têm uma tradição enorme no Brasil de trabalho voluntário! Mas a gente parece que não incorpora muito isso, né? A ideia de trabalho voluntário é sempre a de umas senhoras, que fazem umas roupinhas para distribuir e tal - o que é ótimo, mas não é isso que é o universo... Quer dizer, o fato de a gente ter no Brasil a Pastoral da Criança, que tem mais de 100 mil pessoas mobilizadas no Brasil inteiro, é impressionante. Onde tem? Nos EUA não tem uma rede dessa! Tem milhares de pessoas fazendo trabalho voluntário, mas como uma rede nacional, não tem! AP - E por que isso não aparece? Por que a imprensa não mostra isso? RC - Eu acho que tem sempre uma visão estatista. Isto é, há uma crítica da esquerda, ou havia, ao trabalho voluntário, que isso é uma substituição do trabalho remunerado, que é um uso, quer dizer, sempre houve na visão de esquerda uma desconfiança e uma desqualificação. E como a tradição do trabalho voluntário está ligada à tradição etc. Acho que é um lado que não é valorizado, não é isso. AP - Você se considera de esquerda ou de direita, e acha que essa pergunta ainda faz sentido hoje? RC - Acho uma bobagem a gente ficar nessa discussão agora. Se alguém me disser o que é ser de esquerda talvez eu possa me definir. Se esquerda for propriedade estatal dos meios de produção, eu sou contra, afinal isso já deu no que deu, né? Eu acho que essa definição hoje está frouxa. Eu sou pela justiça social, isto sim, agora isso é tão amplo quanto qualquer coisa. AP - Numa pesquisa sobre você na internet, das dez primeiras páginas que apareceram, apenas uma era brasileira. A que você deve isso? Seu trabalho é mais conhecido fora do Brasil que aqui? Por quê? Além disso, a Universidade Solidária é pouco conhecida. Você acha que isso se deve a uma associação, pela imprensa, do programa ao governo, e o fato de a imprensa ser contra o governo prejudicou o programa? RC - É, eu acho que no começo foi muito difícil, porque realmente era muito complicado explicar e as pessoas quererem entender – porque a gente só entende o que a gente quer entender – essa ênfase que a gente dava em que era um trabalho de parceria entre governo e sociedade. E que exatamente era nesse trilho que tinha que ser entendido o programa Comunidade Solidária. Era muito complicado e era sempre tomado como se a gente estivesse sempre maquiando alguma coisa. Mas aí a gente foi insistindo, insistindo, insistindo. Nesse tempo eu era briguenta com a imprensa, ficava brava. Agora, eu acho que depois de certa altura, quando os programas começaram a aparecer e realmente ter coisa para a gente mostrar, acho que a imprensa até nos tratou bem e houve uma ampliação muito grande de noticiário. Claro, que uma vez é a favor, outra vez é crítica, um diz que a Alfabetização Solidária é ótimo e outro dia: temos 15 milhões de analfabetos então de que adianta dois milhões? Bom, por esse raciocínio a gente fica em casa, não faz nada, pois como o problema é grande... Eu acho que houve algum noticiário sobre os programas. Aí eu sou mais cética: hoje há tanta informação que você cria desinformação. Você transmite uma ideia nova, as pessoas leem no jornal e depois de dois ou três dias esquecem. Eu sou cética com a capacidade que a gente tem, com essa estrutura de meios de comunicação de massa de realmente informar. É o que você está dizendo, que entrevista as pessoas que realmente participam e elas têm o maior entusiasmo. Fora dali, quantas pessoas dentro de uma universidade participaram? 0,00 qualquer coisa. Nós temos muito mais gente que não sabe nada sobre o programa do que sabe. AP - Num discurso, em Harvard, se não me engano, você cita Margareth Tatcher, para opor-se a ela: não existe sociedade. Tatcher foi uma das pioneiras do desmonte do Estado do bem estar social (me corrija, se estiver errado) e podemos dizer que hoje vivemos num mundo onde as políticas estatais perdem cada vez mais espaço para o livre acesso do mercado a todas as camadas da vida. Pelo que você disse, no entanto, ao mesmo momento em que o governo se retirava, a sociedade foi se organizando, é isso? RC - Não, a sociedade começou a se organizar na década de 70. O sucesso não foi só no Brasil, também no México, Colômbia, em vários lugares, em situações diferentes. No Brasil um dos móveis dessa mobilização foi a ditadura, a luta contra a ditadura. Então a década de 80 foi um pouco o fim disso, e com a democratização essa coisa teve chance até de ter alguma institucionalização. Aqui em São Paulo, por exemplo, criaram-se conselho de saúde, conselho de escola, conselho de tudo. Por quê? Porque a população estava lá, pressionando. Não aconteceu igualmente em todos os estados do Brasil. É muito desigual esse processo de mobilização. Depende dos processos locais, políticas locais etc. Então eu acho que esse processo foi extremamente importante, e a redemocratização abriu uma janelinha para ele. Isso deu uma certa permanência para aquilo que era uma mobilização mais informal. Pelo lado das empresas, acho que o processo é um pouco diferente. Até numa modificação no sistema de produção, no sistema de comunicação da sociedade. Olha, eu para dizer a verdade, eu vou dizer aqui uma coisa que me passa pela cabeça: eu acho que a mudança da relação da empresa com o consumidor é que mudou a mentalidade da empresa também com relação à sua responsabilidade social. E não é por acaso que muitos empresários, quando falam da responsabilidade social, incluem a responsabilidade com o consumidor, de maior respeito, de legislação de direitos do consumidor. Quer dizer, a sociedade veio e criou essa ideia do consumidor e da mobilização, a ideia de que você tem que controlar a empresa e ela é responsável pelo produto que apresenta e que ela não pode explorar... Isso foi a sociedade que começou a dizer; por exemplo, que a Nike não pode usar trabalho infantil, porque ela é denunciada, se faz-se boicote etc. etc. Isso é uma relação muito diferente da sociedade com as empresas. É uma mudança global. Eu acho que essa mudança é que foi mal entendida aqui. Eu acho que houve uma grande mudança no sistema produtivo e, consequentemente, uma mudança na relação da sociedade com o Estado e com empresas, e das empresas com a sociedade. E aí isso foi se ampliando não só para os direitos do consumidor, mas para as necessidades da sociedade. Até porque a ideia do Estado do bem estar social estava fazendo água por todos os lados. Não é uma crítica teórica, é uma impossibilidade prática. Então essa relação da empresa com o Estado e com a sociedade teve que mudar também. Acho que é uma mudança global, que apareceu com um pouco mais de clareza nos anos 90. Eu acho que isso cria uma nova ideia de responsabilidade das empresas. Isso tudo isso começou pelo movimento dos consumidores, pela garantia do direito dos consumidores etc., mas se isso se amplia, a empresa se dá conta de que ela não pode viver num país sem fazer parte dos problemas do país. Quer dizer, a velha ideia do burguês, mau, que só quer ganhar dinheiro, hoje não é verdade, porque o cara não ganha dinheiro se ele for assim. E se você não abre o olho para ver o que está acontecendo, você começa a olhar tudo com um olhar antigo e um olhar estatista, como se fosse realmente um mau funcionamento do Estado ele não ser capaz mais de dar conta e atender a todas as capacidades do país, e não uma impossibilidade. AP - A pobreza é um defeito do capitalismo ou uma necessidade do capitalismo? Porque eu falo com as empresas, e elas me dizem que lhes interessa criar uma liderança crítica, criar discussões, que isso é bom para o banco... RC - Olha, eu acho que nem adianta colocar as coisas nesses termos. A opção socialista estatal está morta, morreu, suicidou. Não acho que haja essa opção. Depois na União Soviética, depois de Cuba, quem é que vai se engajar numa luta com aquele modelo na cabeça? AP - Mas dentro do nosso modelo, você acha que é possível criar uma sociedade justa? Quase uma Suécia? RC - Acho que no Brasil vai levar muitos anos porque nós criamos um peso de uma miséria muito grande e você sabe, isso implica em educação, saúde, coisas que são a longo prazo. Mas eu acho que é possível, é possível. Não uma Suécia, no sentido de que todo mundo tenha uma renda per capita extraordinária, nunca vai ter, mas realmente acho que nós temos todas as condições para aliviar essa pobreza, para melhorar o nível, mas isso implica em políticas a longo prazo e, principalmente, do meu ponto de vista, implica em políticas locais. Quer dizer, podem ter inspiração federal, mas tem que ser desenvolvidas no local. Esta é a grande discussão nesse momento, sabe? Este modelo de intervenção é que eu acho que tem que ser discutido. Quando a intervenção se dá desse jeito, mobilizando a pobreza, os pobres e fazendo uma intervenção local, você tem um resultado positivo. Mas aí é o contrário da ideia da indução da política, entende? Que você vem do centro para lá. Quer dizer, claro que há uma indução, a ideia vem do centro, mas a execução e o planejamento têm que ser dentro desse novo modelo. O que os estudantes fazem dentro desse projeto UniSol? Eles chegam ao local, mobilizam, descobrem lideranças e instrumentos de ação, fazem, desde teatro até, sei lá, arrumam uma feira ou fazem um lugar para lavar roupa, quer dizer, o mecanismo de trabalho não é nem porque a gente deu a fórmula. Mas qual foi a fórmula? Pegar estudantes daqui, botar numa realidade diferente e, sim, na relação com eles enfatizar que também estão lá para aprender, discutir. O segredo do UniSol é que ele cria uma relação igualitária com o estudante. Porque o estudante, por ser jovem, por ser disponível, por estar fazendo um trabalho voluntário, não é nada igual ao outro cara, ele vai lá porque ele tem o que ensinar. Mas a relação se torna igualitária. Este é o segredo. Se o Ministério da Assistência Social resolver fazer um programa num município e mandar para lá seu assistente social, essa relação nunca será definida como uma relação igualitária. Ela é uma relação desigual. Ele pode ser até bem democrata, mas não é uma relação de igualdade, e é uma relação de demanda de um lado e de oferta do outro. A relação dos estudantes não é essa. Os estudantes vão lá, se entusiasmam, cria-se uma relação de igualdade, uns aprendem com os outros. O que quer dizer isso? Isso tudo é bonito e tal, mas o que isso está traduzindo? Que também os estudantes descobrem aquilo que há como possibilidade no local, que é a base do desenvolvimento local. O que eles deixam lá? Deixam um germezinho de que as pessoas são capazes de conviver com pessoas de outro tipo, são capazes de executar uma tarefa, esse é o segredo do Mohamed Yunus com o Banco de Bangladesh, que no livro dele está claríssimo. Os pobres são muito criativos. Essa visão de que eles estão lá, coitados, são carentes – odeio essa palavra! Yunus diz exatamente o contrário, eles têm que se virar, que encontrar gente que ajude, que vender, que trocar coisas, eles têm essa possibilidade, o que não têm é a possibilidade de exercer isso de uma maneira continuada. Então esse é que é o apoio que a gente tem que dar. Acho que o UniSol é um belo exemplo de como você pode construir localmente uma relação positiva no sentido de criar confiança em certas pessoas, abrir as perspectivas, de que eles têm direitos, têm a possibilidade de algumas ações, de que se eles se juntarem eles são capazes. Acho que é isso. Acho que esse é um modelo que pode melhorar o país. Eu acredito que isso tem resultados positivos, e é por isso que eu trabalho para isso! Não de eliminar a miséria sim, mas a pobreza, vai levar muito tempo. Sempre haverá diferenças. Eu não vejo pela frente nenhum modelo que não seja o capitalista, e é evidente que o capitalismo cria desigualdade, mas desigualdade é uma coisa, pobreza é outra. A desigualdade extrema como nós temos no Brasil é uma injustiça inaceitável. Essa não precisa existir, é preciso que as pessoas tenham um mínimo de qualidade de vida. E se você usa esse recurso de ter trabalho voluntário, participação de todo mundo, crença naquilo que você faz, você supera mais rapidamente essa barreira. Eu acho que nós precisamos disso, porque nós temos pressa. Não dá para a gente esperar você qualificar todo mundo do posto de saúde lá de uma cidadezinha do norte do Amazonas, eu acho que é uma coisa de emergência. Acho que todos os programas da Comunidade Solidária são programas que não são eternos, que têm uma vida. AP - Quais foram as dificuldades? RC - É um programa difícil pela sua própria concepção. Um programa nacional, num país como o Brasil, a organização, o gerenciamento disso é realmente muito difícil. E a gente faz tudo isso com um custo mínimo porque eu acho até que isso é uma coisa importante de continuar. O terceiro setor tem que ser assim, tem que ter um custo realmente equilibrado com o benefício. Então é um programa que tem muita dificuldade com todo esse instrumental. A grande dificuldade que nós tivemos foi de conseguir, e só agora nós estamos conseguindo, equipamentos, para que essa comunicação de todos com todos pudesse se fazer; era muito difícil a comunicação da UniSol. Nós fazíamos tudo por correio e por telefone... A dificuldade foi conseguir criar um modelo de gerenciamento do programa, sem que nós tivéssemos acesso a recursos humanos e materiais para que pudéssemos montar um modelo de alto nível. Essa é a grande dificuldade para fazer funcionar. E acho que só conseguimos superar pelo entusiasmo das pessoas, pois ele gera um entusiasmo nas pessoas... O programa envolve todo mundo. Os problemas vão surgindo, a gente espera que surjam, e nós vamos monitorando, resolvendo, lidando com as dificuldades. Acho que esta é uma característica de programas de parcerias. Porque a relação entre parceiros é diferente da de quando você tem partes de um programa realizadas por diferentes atores. A nossa relação com as Universidades: nós não podemos fazer o que nós queremos e nem podemos deixar de incluir as universidades em todas as fases, em tudo o que a gente modifica e pensa sobre o programa. Eles trabalham e exigem ser parceiros mesmo. E também isso envolve mais. E torna mais difícil. E é um programa que exige uma capacidade logística! Tanto que no começo quem fazia isso para nós eram as forças armadas. Aos poucos fomos aprendendo, fomos fazendo. AP - Eu tenho umas perguntas aqui sobre a primeira-dama, mas acho que você não gosta de falar no assunto, né? RC - Eu não gosto. Acho que tem que separar essa coisa, essa figura, sabe? Complica muito o programa. AP - Mas também alavanca, não? RC - Claro! Imagina, eu tenho plena clareza que esse programa não poderia ser feito se eu não fosse a primeira-dama. Claro que não. Você acha que eu ia mobilizar o exército e todas as parcerias com o governo e tal? Eu tenho plena consciência de que isso facilitou. Agora, eu sempre fiz o possível para que isso que era um facilitador não fosse o tom do programa. Por quê? Por que eu sempre pretendi que ele continuasse. E se não fosse assim, se eu não tivesse feito essa briga, ele não tinha continuado. Ao fazer ongs, ao criar independência, fui criando outra base de sustentação. Eu acho que essa mistura dificulta muita coisa. AP - Mas o programa começa lá pelo começo do governo. Você já pensava em fazer um programa dessa magnitude antes do Fernando Henrique ser presidente? RC - Não! Nunca! E realmente acho que se tivesse tido a mera visão de que tudo isso iria ficar tão grande, eu teria tido medo e não teria feito. A minha ideia, que eu partilhei com algumas pessoas do Conselho, que me ajudaram a levar para a frente, era que a gente estava fazendo uma experiência. Que a gente estava mostrando para o governo e para a sociedade que a gente pode trabalhar juntos, que tem programas, quer dizer, nós não vamos competir com o governo, vamos fazer coisas naquelas áreas em que está faltando. E era muito claro que a gente estava experimentando algumas ideias. Eu agora quero ter tempo para escrever sobre isso porque eu acho importante, acho que a gente fez inovações. Eu devo ter dito algumas vezes, no começo: a Comunidade Solidária é um programa que nasceu para acabar. Não é uma coisa institucional. Tanto que os programas são todos programas que respondem a uma certa necessidade e que daqui a pouco podem não ser mais necessárias. Quer dizer, nunca foi na cabeça da gente uma coisa que fosse virar uma instituição, era mesmo uma coisa experimental. E deu certo. AP - Você já tinha um projeto assim e, quando seu marido foi eleito, percebeu que tinha ali uma oportunidade, mais visibilidade? Ou de repente você se viu... RC - Não, eu me vi numa situação. Foi terrível, dramática. Eu nunca pensei que um dia fosse primeira-dama, nunca mesmo, nem durante a campanha eleitoral. Nunca tinha pensado nisso. Quando, na campanha, eu tive que escrever o Mãos à Obra, que era um programa do governo, uma coisa estava clara, que tinham tentado inclusive implantar isso no governo Itamar, que era acabar com a LBA. Isso já era uma decisão política, acabar com isso. Mas bom, e aí? Como é que fica? Porque você tem que colocar alguma coisa no lugar, e certamente não iríamos trocar seis por meia dúzia. Aí a gente inventou esse nome e essas ideias, sabíamos que tínhamos que mudar a relação Estado X sociedade. Deparei com a coisa: e agora, o que eu, Ruth Cardoso, vou fazer, depois de ter a eleição ganha? Quer dizer, a gente tinha escrito lá algumas coisas, sobre mudar a relação Estado X sociedade, mas não era personalizado nem institucionalizado. Depois eu descobri que tinha que fazer alguma coisa, senão eu seria comida pelo papel tradicional, porque ele existe. Não é uma coisa assim, que você entra num vazio. Ou eu ia tomar chá, ou ia receber os políticos, eu tinha que exercitar uma parte. Claro que o papel cerimonial eu tinha que fazer, mas esse era o de menos. Todo mundo acha que esse que é o complicado, não é nada complicado. Todos nós temos suficiente educação, sabemos comer na mesa e tal, sem maiores problemas. AP - E existe um protocolo, escrito, de como se comportar. RC - Não recebi nada escrito, mas para cada evento você tem uma informação, do Chefe do Cerimonial, que vai avisar a roupa que você tem que usar, o comprimento da roupa ou até, sei lá, vem um muçulmano que não dá a mão para as mulheres, enfim. E é muito confortável, por isso o cerimonial é bom. Ele facilita a interação, a vida, a acabar logo. Esse dá certo, mas o que é que, eu me vi diante dessa história, quer dizer: eu não posso estar num vazio que daí eu vou ser comida pelo papel tradicional. Eles vão querer que eu vá em desfile de moda, inaugurações. Eu tinha que encontrar um nicho que tivesse a minha cara. E aí foi que nós inventamos a ideia do Conselho e de fazer esses programas. Eu estou aqui fazendo isso. Porque também no Brasil esse papel é muito pouco ritualizado. E ele tem várias fórmulas. Não tenho nada em comum com outras primeiras damas. Se você pegar Dona Sarah Kubitschek e comparar com Dona Sila Médici, que era uma sumida, e com a Dona Iolanda Costa e Silva, que pintava e bordava, cada uma era uma coisa, elas não tinham o mesmo ritual, atividades etc. Então isso não está muito codificado – o que foi a minha sorte e está sendo a sorte de muitas primeiras-damas mundo afora. Nos EUA é muito difícil. A Hillary penou muito. Eu aprendi muito com ela. Quando havia a campanha eleitoral aqui, foi o momento em que a Hillary tentou fazer aquele plano de saúde nos EUA. Eu falei isso para ela, pessoalmente. Disse, olha, você se estrepou, mas as dificuldades que você teve foram para mim muito importantes. Eu comecei a olhar para aquilo, e o que aquilo me mostrou? Que à medida que ela tentou entrar numa política pública e mobilizar os ministros, ela fazia reunião com políticos, foi aí que a reação política foi enorme, pintaram e bordaram, eu estava lá quando houve inquéritos dos republicanos na Câmara, enfim; resultado, perdeu a sociedade, o plano de saúde, que era bom, foi pro brejo, e ela ficou muito descriminada. Porque ela foi assumir uma liderança que ela tinha, efetivamente, mas entrou na área pública. Então eu disse: olha, esse negócio aí é complicado. O meu negócio tem que ser Estado e sociedade, mas do lado da sociedade. Não pode se meter com Ministério e tal. Mas o papel está em mudança no mundo. Antes as primeiras-damas tomavam chá. AP - Agora tomam iniciativas...
Download