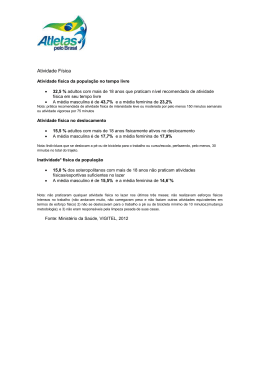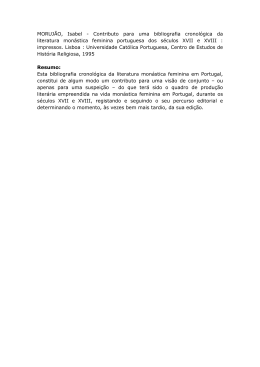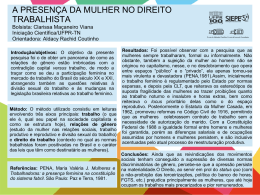PERETTI, Clélia (Org.) Congresso de Teologia da PUCPR, 10, 2011, Curitiba. Anais eletrônicos... Curitiba: Champagnat, 2011. Disponível em: http://www.pucpr.br/eventos/congressoteologia/2011/ 477 Razão e sensibilidade: a desconstrução do mito da fragilidade feminina Sense and sensibility: the deconstruction of the female fragility myth Antônio Lopes Ribeiro1 Resumo Em nossa cultura ocidental convencionou-se referir-se à mulher como „sexo frágil‟, que num sistema de organização social patriarcalista, implica uma relação de inferioridade em relação ao homem. Em questões de gênero, falar em fragilidade feminina não implica necessariamente referir-se à força física, em sentido biológico, mas em sentido simbólico. É nesse sentido que se analisa neste artigo a questão da fragilidade feminina, ligada duplamente às relações sociais e relações de poder, e enquanto tal, é um constructo cultural e não algo intrínseco à natureza da mulher. Assim, a fragilidade feminina se contrapõe à força simbólica masculina que nas relações de gênero se dá pela dominação sobre a mulher. Palavras-chave: Fragilidade feminina. Gênero. Dominação masculina. Força simbólica. Religião. Abstract In our Western culture it is conventionally refer to women as 'weaker sex', which in a patriarchal system of social organization, implies a relationship of inferiority to man. On gender issues, the female fragility does not necessarily refer to physical strength, in the biological sense, but figuratively. It is through this concept that in this article it is analyzed the issue of female fragility, doubly linked to social relations and power relations, and because of this it is a cultural construction and not something intrinsic to the nature of women. The fragility of women opposes to the masculine symbolic power that, in gender relations, is symbolized by the domination over women. Keywords: Female Fragility. Gender. Male domination. Symbolic power. Religion. Introdução Nos primórdios da existência humana, a mulher ocupava lugar de destaque na vida social. Era responsável pela organização, administração do clã, produção e distribuição de alimentos. Havia uma estrutura de trabalho em torno da caça, da pesca e coleta de alimentos, mas não era uma estrutura de poder, pois visava a própria sobrevivência coletiva. Por sua 1 Doutorando em Ciências da Religião na PUC-Goiás. Mestre em Ciências da Religião pela PUC-Goiás. Especialização em Diálogo Ecumênico e Inter-religioso pela FAJE/ITESC. Teólogo pela CST-BSB. Pedagogo pela UCB. E-mail: [email protected] 478 capacidade de gerar em si a vida a mulher pré-histórica era divinizada e representava as deusas na terra. Aliás, seu poder reprodutivo era ligado à fertilidade da terra e dos animais. Achados arqueológicos que remontam ao período paleolítico, em que mulheres foram esculpidas em formas de estatuetas, evidenciam o culto às deusas e o respeito que se tinha por elas, tidas como “guardiãs dos mistérios da vida”, o que reforça a existência de “uma sociedade de parceria [solidária] entre homens e mulheres” (LINS e BRAGA, 2005, p. 461). Com a superação do período matriarcalista pelo patriarcalismo, em torno do ano 9000 a.C., a mulher passa a ser dominada pelo homem. Enquanto a masculinidade é exaltada, a feminilidade é inferiorizada. Como o homem é um eterno criador de mitos, pois deles necessita para justificar a sua maneira de ser, julgar e agir, desta forma, em torno da mulher desamparada, subordinada e por ele dominada, cria-se o mito da fragilidade feminina, em que as mulheres passam a ser estigmatizadas como „escravas‟ do homem, sendo consideradas inferiores a eles. A nossa cultura ocidental, já num contexto patriarcalista, de bipolaridade entre o masculino e o feminino, inclusive com uma concepção hebraica de um Deus antropomorficamente masculino, desenvolveu uma sexualidade desfavorável à mulher. O próprio relato bíblico mostra alegoricamente que a mulher foi criada a partir da costela de Adão, tornando-se símbolo de dependência, numa inversão clara da realidade biológica, pois é o homem que sai da mulher e não o contrário. Estruturado a partir de três fontes fundamentais, o patriarcalismo ocidental é “grosso modo, a tradição religiosa e moral hebraica, a cosmovisão e estrutura social Greco-romana e as instituições familiares bárbaras medievais” (NUNES, 1987, p. 67). Uma vez sincronizadas entre si, essas três fontes servirão de estrutura para os ”elementos básicos da cosmovisão cristã, que sobre a sexualidade possui fortes características negativistas, estóicas e neoplatônicas” (NUNES, 1987, p. 67). Delineia-se desta forma, ao longo da história, um quadro de constante dominação masculina sobre a mulher que é coisificada, sendo reduzida a um simples objeto de desejo, de prazer, de serviço, de procriação. Soma-se a isso todo tipo de violência, física e/ou simbólica, tendo como elemento legitimador a própria religião que como veremos, desenvolveu uma teologia de exclusão e de incriminação em torno da cultura do pecado original, em que a mulher tornou-se símbolo da desobediência, sendo culpada por fazer com que o homem também desobedecesse a Deus, sendo por isso, expulsos do paraíso. Em nossa sociedade pós-moderna, em que, a exemplo do que aconteceu ao longo da história, a mulher é cada vez mais discriminada, subjugada, violentada e até morta, surgem alguns questionamentos: como explicar todo o sofrimento feminino perante a eterna bondade 479 de Deus? O que leva as pessoas a afirmarem que a mulher é mais sensível do que o homem? Porque remetem ao homem a idéia de que o mesmo age pela razão e a mulher pelo instinto? A noção de que a mulher seja sexo frágil se legitima por sua natureza biológica ou é um constructo sócio-cultural? Ou os dois? Estas dentre outras inquietações é o que nos motiva à busca por uma explicação plausível para as desigualdades existentes nas relações de gênero, em desfavor à mulher, com o conseqüente desvelamento do mito da fragilidade feminina. O mito da fragilidade feminina: um constructo sócio-cultural Em questões de gênero, falar em fragilidade não significa necessariamente referir-se à força física, num sentido biológico, mas a outro tipo de força, num sentido simbólico. É nesse sentido que se analisa aqui a questão da fragilidade feminina. Para entender isso, devemos recorrer ao conceito de gênero em Joan Scott (1995, p. 86): “o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e [...] é uma forma primária de dar significado às relações de poder”. Assim entendido a fragilidade feminina está duplamente ligada às relações sociais e relações de poder, e enquanto tal é um constructo sócio-cultural e não algo intrínseco à natureza da mulher. Nesse sentido, a fragilidade feminina se contrapõe à força simbólica2 masculina que nas relações de gênero se dá pela dominação sobre a mulher. Faz parte do imaginário coletivo do mundo ocidental a idéia de que o homem seja dotado de razão e a mulher, de sensibilidade. Certa vez ouvi alguém exaltando a capacidade sem limites, do amor incondicional da mãe por um filho, em detrimento do pai. A título de ilustração, delineio aqui, em duas cenas, o que ouvi. Cena 1 - A mãe está fazendo uma caminhada com o filho pequeno. De repente o filho se solta de sua mão e sai correndo, para atravessar a rua. A mãe age instintivamente, grita para o filho, que para no meio da rua. A mãe rapidamente vai até ele, sem olhar para qualquer lado. Nisso, vem um carro em alta velocidade e quase atropela os dois. Cena 2 – Inverte-se a situação. O pai está caminhando com o filho. Este se desprende de sua mão e sai correndo em direção ao outro lado da rua. O pai olha para um lado, olha para o outro e vê que um carro se aproxima. Sem gritar para o filho, sinaliza para o veículo diminuir a velocidade e deixa o filho atravessar a rua. 2 Pierre Bourdieu (2010, p. 50), define a força simbólica como “uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física; mas essa magia só atua com o apoio de predisposições colocadas, como molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos”. 480 Isso pode ser analisado da seguinte forma: enquanto a mãe age instintivamente, sem fazer uso da razão, ela coloca em risco a sua própria vida e a do filho, sendo que ambos poderiam ter sido atropelados pelo veículo e mortos. O pai, agindo pela razão, ao ver o filho correndo, sabe que se gritar ele pode parar no meio da rua. Deixa-o atravessar e apenas sinaliza para que o veículo diminua a velocidade. Desta forma, não coloca em risco a vida da criança e nem a sua própria vida. O instinto materno que leva a mãe a não medir riscos em função do filho, é algo natural da mulher? Ela ama o filho mais que o pai e por isso age assim? Carolina Teles Lemos (2009, p. 93) nos dá a resposta: “A convicção de que o amor materno é inato [...] é devido à imposição feita pela cultura, responsável pelo desenvolvimento do modelo de amor materno conhecido atualmente e com o qual temos convivido desde o séc. XIX”. A idéia de que o amor materno seja algo natural, inato, é um mito construído pelo patriarcalismo. Esse „mito do amor materno‟ como um constructo sóciocultural, segundo Lemos (2009, p. 100), está ligado a dois fatores: à “necessidade de assegurar a sobrevivência aos descendentes” e à “idealização da figura da mãe, a fim de que certa completude se fizesse sentir entre a mãe e a criança”. Desta forma, esse „mito do amor materno‟ não se confirma, pois não se trata de um “‟instinto‟, pois o afeto se formaria com a convivência e seria algo „conquistado‟, como é o caso da paternidade”. Fato é que se convencionou atribuir o uso da razão ao homem e os sentimentos ligados à sensibilidade, à mulher. Enquanto o homem age com a razão, com grande capacidade reflexiva, a mulher age instintivamente, com o coração, com grande capacidade sensitiva. Constroem-se assim os conceitos bipolares nas relações de gênero: homem x mulher, razão x sensibilidade, vigor reflexivo x vigor vivencial, intelecto x imaginação, força x fragilidade, dominação x submissão etc.. O mito da fragilidade feminina acabou por confinar as mulheres ao reduto do lar, privatizando-as em relação à vida pública, criando „estigmas‟ que passaram a compor sua feminilidade. Numa sociedade machista, espera-se da mulher, além da beleza, seja ela portadora, dentre outros estigmas, da docilidade, delicadeza, obediência, recato, honestidade, e infinita bondade. Nos contos de fadas, imortalizados na literatura infantil, como a Bela Adormecida e Cinderela, “a beleza era o maior „estigma‟ da feminilidade, se a mulher não fosse bela, não seria feminina. Era o primeiro dom com que se preocupavam as fadas, e era a razão da interferência do herói”, geralmente um príncipe, que “só salvava a jovem ameaçada ou atingida pelo mal depois de vê-la e encantar-se com sua infinita beleza” (MENDES, 2000, p. 130). Os outros personagens coadjutores desses contos, geralmente a irmã-malvada, a 481 rainha-bruxa “que não tinham esses atributos, e tentavam se impor pela inteligência, pela maldade, pela inveja ou pela indelicadeza, eram punidas, ou simplesmente esquecidas” (MENDES, 2000, p. 130). A religião como legitimadora do mito da fragilidade feminina Entendemos que o homem, por sua própria natureza, está em eterna busca de sentido para sua vida. Em sua ânsia por encontrar respostas às suas perguntas ontológicas sobre quem é, sua origem e para onde vai, acaba voltando-se para a religião. Esta como produtora e reprodutora de sentido, dentre outras instituições, postula explicações de ordem ética e moral para os principais questionamentos do ser humano acerca de si mesmo, do outro, da natureza e do transcendente. De acordo com Sandra Duarte (2009, p. 53), a organização social de gênero, se dá de forma hierarquicamente diferenciada sendo que a religião “é uma das responsáveis pela produção e reprodução dessa hierarquia dos sexos, sacralizando papéis socioculturalmente construídos”. Como constituidora do feminino e do masculino, no âmbito da construção simbólica, a religião “é uma das grandes responsáveis pela inferiorização e secundarização das mulheres em nossa sociedade”, chegando até mesmo a reproduzir e sacralizar a violência de gênero, ao adotar um discurso misógino que para o fiel passa a ter “status de coisa sagrada”. De acordo com Duarte (2009, p. 53), a plausibilidade da religião “repousa exatamente nisso. Dessa forma, o discurso religioso perde a sua condição de coisa construída e é entendido como verdade sagrada”. A idéia que se tem da mulher na Bíblia é de que a mesma deve ser submissa ao marido, pois dele necessita de proteção. Lourildo Costa (2010, p. 129), para quem a fragilidade feminina “não abrange somente a área física, mas sua necessidade de amparo alcança, ainda, sua área emocional, psicológica e espiritual”, afirma que “o propósito fundamental do estabelecimento do padrão divino da mulher visa, principalmente, à sua proteção espiritual”. Em contrapartida, a esposa deve, por obrigação, “ser submissa ao seu marido, cujo dever também está incluído o amor, o respeito mútuo, a pureza, a ajuda, a submissão, um espírito manso e quieto; como também ser boa mãe e rainha de seu próprio lar”. Essa submissão da mulher ao marido é vista na Bíblia em comparação com o relacionamento de Cristo com sua Igreja, em que a “noiva que rende fiel obediência ao seu noivo, „como ao Senhor‟” (COSTA, 2010, p. 129). 482 Na cultura judaico-cristã, construiu-se uma cultura do pecado original, ou da culpa, em que a imagem da mulher é “quase sempre associada ao pecado e, portanto, à tentação, à sedução e ao perigo, devido à tradição bíblica do livro do Gênesis, que dá à mulher a primazia na dinâmica da queda da humanidade e do chamado pecado original”. Isso fez com que a mulher, uma vez tida como “fator de ameaça e geradora de medo, foi sendo sempre mais confinada ao espaço privado doméstico e conventual, onde poderia ser mais facilmente controlada e silenciada” (BINGEMER, 2002, p. 12). Ao longo da história do cristianismo aos poucos foi sendo construída uma teologia desfavorável à mulher, reforçando e até legitimando a dominação masculina. Ao que chama de “uma verdadeira teologia da inferioridade feminina e da superioridade masculina”, Sandra Duarte (2009, p. 53-54), descreve que no contexto sócio-cultural em que surgiu o cristianismo, no qual se incluía as representações de gênero, diversos teólogos cristãos, duplamente influenciados por esse contexto e também pela fisolofia clássica, “afirmaram as mulheres como naturalmente inferiores aos homens, argumentando a partir de bases teológicas uma superioridade divina dos homens em relação às mulheres, logo, legitimando a dominação do masculino sobre o feminino”. A seguir, veremos o pensamento de dois dos maiores teólogos do cristianismo, a respeito da superioridade do homem em relação à mulher: Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Santo Agostinho (2005, p. 375), ao discorrer sobre a imagem e semelhança do homem com Deus, diz que a mulher só é considerada imagem de Deus, em completude com o homem: “a mulher é com seu marido a imagem de Deus, de modo que forma uma só imagem, a totalidade da natureza humana. Mas enquanto é considerada como auxiliar do homem, o que diz respeito somente a ela, não é imagem de Deus”. Em confissões, Agostinho (1997, p. 447), fala da submissão da mulher ao homem: “E como na alma do homem há uma parte que delibera, e por isso governa, e outra parte que é submissa pela obediência, assim vemos a mulher feita para o homem fisicamente”. Embora Agostinho (1997, p. 446-447) reconheça que a mulher possua uma natureza igual à do homem, no que se refere à inteligência racional, porém, quanto ao sexo, “é submissa ao sexo masculino, tal como o impulso para agir está subordinado à inteligência que concebe a norma de ação”. Desta forma, de acordo com Robin May Schott (1988, p. 74), mesmo sendo portadora de uma natureza racional igual à do homem, isso não diminui a função principal da mulher de submissão física ao homem de tal forma que seus impulsos naturais precisem ser controlados. Diz a autora que “a insistência de Agostinho na igualdade racional e subordinação física sugere que o ser físico das mulheres fica numa relação diferente com seu ser espiritual comparativamente com os homens”. 483 Tomás de Aquino, em suas considerações sobre a mulher, influenciado pelo pensamento de Aristóteles, que concebia a alma como forma do corpo, “se afastará em parte do caminho traçado por Agostinho, porém sem fazer com que a mulher entre no caminho da liberdade e da igualdade” (LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 53). Ao refutar a concepção agostiniana da alma e do corpo como dois níveis de criação, Tomás de Aquino considera que “alma e corpo, homem e mulher foram criados ao mesmo tempo. Assim, masculino e feminino são, ambos, a sede da alma divina. Entretanto, o homem dá provas de mais acuidade da razão” (LE GOFF; TRUONG, 2006, p. 53). A jusificativa que Tomás dá para essa assertiva é de que a semente do homem “é a única que, durante a copulação, eterniza o gênero humano e recebe a bênção divina”. Para ele, numa concepção presente também na obra de Aristóteles, o corpo da mulher é imperfeito, e essa imperfeição “explica as raízes ideológicas da inferioridade feminina, que, de original, se torna natural e corporal” (LE GOFF, TRUONG, 2006, p. 53). Embora Tomás de Aquino (2002, p. 613) considere que a mulher seja “por natureza, submetida ao homem, pois o homem possui, por natureza, maior discernimento de razão”, no entanto, reconhece a conveniência da mulher ter sido formada da costela do homem, por duas razões: primeiro, porque na relação entre o homem e a mulher “deve haver uma união de sociedade, pois nem a mulher deve dominar o homem, e por isso não foi formada da cabeça; nem deve ser desprezada pelo homem, como se lhe fosse servilmente submetida, e por isso não foi formada dos pés”; segundo, por indicar uma dimensão sacramental, pois “foi do lado de Cristo adormecido sobre a cruz que jorraram os sacramentos, a saber, o sangue e a água, pelos quais a Igreja foi instituída” (AQUINO, 2002, p. 616). A emancipação da mulher e o desvelamento final do mito De acordo com Hughes-Hallett (2005, p. 234), concomitantemente com a disseminação entusiástica do mito da fragilidade feminina, que acabou por confinar as mulheres à “chaisse longue e à saia-funil”, diversas mulheres “na verdade estavam provando ser intelectualmente vigorosas, competentes em assuntos práticos, habilidosas e corajosas”. Porém, muito embora se reconheça que ao longo da história do Ocidente se verifique que algumas mulheres vieram a ocupar o espaço público, exercendo seu poder de influência em questões ligadas ao estado, somente a partir da segunda metade do séc. XX, as mulheres ganharam forças para questionar e contestar os séculos de claustro doméstico e de sofrimento sob a dominação masculina. 484 Com o surgimento dos movimentos feministas, coloca-se em evidência a plausibilidade do mito da fragilidade feminina, que condiciona a mulher a um simples reduto sentimental desprovido de razão, em que a sensibilidade é tida como um elemento intrínseco que compõe sua própria natureza. Passa a haver um consenso entre aqueles que se dedicam ao estudo do Movimento Feminista, de que a afirmação da fragilidade feminina seja um constructo sócio-cultural e não algo inato à mulher e isso se torna evidente devido às conquistas das mulheres desde as três últimas décadas do século passado. Maria Clara Lucchetti Bingemer (2002, p. 10), ao se referir à emergência da mulher como um fenômeno, nas duas últimas décadas do século passado, “em todos os setores da vida social, política, cultural”, considera esse evento de emergência que se observa nos principais setores de nossa sociedade “como um dos fatores mais importantes e relevantes em termos da mutação de seu perfil contemporâneo”. Para essa teóloga que afirma que essa emergência significa que “a metade feminina da humanidade [...] vai saindo da sombra e da invisibilidade após tantos séculos”, chama a atenção para o interesse da tradição religiosa judaico-cristã para esse fenômeno religioso, porém, mantendo suas características particulares em sua forma de tratar “as mulheres e o feminino” (BINGEMER, 2002, p. 11). O quadro que Bingemer (2002, p. 11-12) descreve sobre o lugar da mulher no espaço judaico-cristão, deixa evidente a valorização de seu papel “sobretudo como esposa e mãe (judaísmo e cristianismo), ou em sua consagração virginal a Deus (cristianismo)”, restringindo, contudo, ao longo dos séculos, “sua atuação e sua mobilidade quase somente ao âmbito do doméstico e privado (a casa ou o convento)” (BINGEMER, 2002, p. 11-12). Segundo afirma Bingemer (2002, p. 12), a iniciativa da emancipação feminina no Ocidente cristão não teve como ponto de partida as Igrejas. Ao contrário, conforme ressalta foi [...] a partir do próprio processo de secularização e no interior de lutas muito concretas e profanas (voto, salário, jornada de trabalho, sexualidade, direitos do corpo) que a mulher foi fazendo sua „evasão‟ do espaço doméstico privado ao qual se achava limitada em direção ao espaço público, atuando nas estruturas sociais, na política, na produção econômica e cultural (BINGEMER, 2002, p. 12). A emancipação feminina no mundo cristão ganhou força principalmente com a realização do Concílio Vaticano II, em que a voz da mulher se faz ouvir cada vez mais reivindicando mais espaço na Igreja, assumindo cargos de coordenação nas comunidades, em diversos níveis, e questionando sobre “a impossibilidade de acesso ao ministério sacerdotal, reservado apenas aos homens, pela produção de uma reflexão teórica sobre a experiência 485 religiosa e os conteúdos doutrinários da fé cristã desde sua própria perspectiva de mulher” (BINGEMER, 2002, p. 12-13). O campo teológico, tradicionalmente reservado a homens, de repente, se vê invadido por mulheres teólogas que além de viverem sua fé comunitariamente, “sustentam – com seu trabalho anônimo, silencioso e muitas vezes heróico – diversas dimensões da vida eclesial, mas também, e não menos, refletem sobre a fé que é sua razão de viver e o sentido mais profundo de sua existência”. Muitas vezes no anonimato e de forma silenciosa “praticam aquilo que a teologia clássica chama a „inteligência da fé‟, o fazer teológico. E, rompendo um silêncio secular, invadem a praça pública da Igreja com um discurso surpreendentemente articulado, organizado e cheio de sentido” (BINGEMER, 2002, p. 13). À luz dos direitos humanos, a partir da década de 1970, as mulheres passaram a lutar por alguns direitos que apontam para uma tendência de rompimento com a tradição cristã ao apresentar em sua pauta de reivindicações questões como: legalização do aborto, direito à escolha para não ter filhos, direito à opção da livre da sexualidade, como premissas básicas, necessárias, de fundamental importância, entendidas como „direitos humanos da mulher‟. No fim da década de 1970, conforme observa Eleonora M. de Oliveira (2005, p. 132), o discurso das mulheres sobre seus direitos se vinculava à seguinte premissa: “Nosso corpo nos pertence”. Essa questão dos direitos humanos das mulheres foram trazidas para o Brasil, no final da década de 1970 e início da década de 1980, pelas feministas brasileiras, “nosotras, ex-exiladas, ex-presas políticas, viajantes”, cujas mobilizações demonstraram muita força e radicalidade “que está associada à luta pelo direito ao aborto, na medida em que essa questão relaciona-se à noção mais forte, mais reacionária, mais conservadora da maternidade compulsória, que é base da moral judaico-cristã” (OLIVEIRA, 2005, p. 132). Também faz parte da pauta de reivindicações feministas, num esforço para conquistar maior espaço em todos os setores de nossa sociedade, os mesmos direitos que os homens têm, nas diversas profissões, com paridade salarial, sem qualquer discriminação, o que significa um esforço pela superação das desigualdades de gênero. O maior exemplo do poder, da força feminina no Brasil é a recente eleição de uma mulher para ocupar a Presidência da República, além de outros cargos legislativos e executivos em que a mulher se faz presente ao lado dos homens. 486 Conclusão Torna-se cada vez mais caloroso o debate em torno das desigualdades de gênero em nossa sociedade e no mundo. As mulheres se organizam cada vez mais na tentativa de conquistar seus direitos num espaço predominantemente masculino. Certamente essas desigualdades permanecerão enquanto o sistema patriarcalista perdurar. Como parte do inconsciente coletivo, a tendência é que as gerações futuras venham a herdar a milenar dominação masculina sobre a mulher. Porém, como vimos, o mito da fragilidade feminina não se sustenta mais. Vemos a emergência do feminino com força total em suas reivindicações e conquistando cada vez mais espaço em nossa sociedade. A religião cristã, que por muitos séculos de certa forma legitimou o mito da fragilidade feminina, com a conseqüente dominação masculina, num contexto de pluralismo religioso, tende a reconhecer como justas muitas das reivindicações femininas, muito embora seja inflexível em questões ligadas ao direito à vida, e sobre a sexualidade. De qualquer forma, devido à secularização, a religião não é mais vista como um impasse a que seus fiéis se coloquem ao lado da luta feminina pela igualdade de gênero. Pelo contrário, até mesmo apóia, por meio de seus vários organismos pastorais. Entendemos que a luta das mulheres por um lugar na sociedade não significa que tenham de abrir mão dos valores ético-morais ensinados pela religião, nem de seu amor, de seu afeto, de sua dedicação, de sua sensibilidade no trato com os filhos e seus companheiros. Vemos como justa seu esforço no sentido de serem vistas não como objeto de desejo e de usufruto do homem, mas que seja reconhecida em sua toda sua dignidade de pessoa humana que tem tantos direitos quanto os homens. As diferenças entre homens e mulheres enquanto naturais (biológicas) sempre existirão e cada um tem seu papel a desempenhar para a perpetuação da espécie. Por outro lado, as desigualdades que se verificam em questões de gênero, como vimos, enquanto constructo sócio-cultural são passíveis a mudanças. Daí a importância da emergência dos movimentos feministas que se observa nos últimos tempos e que ganha força neste terceiro milênio. Prova disso são os cargos importantes que as mulheres passaram a ocupar, nos poderes Legislativo (senadoras, deputadas federais e estaduais, e vereadoras), Executivo (presidente, governadoras e prefeitas) e Judiciário (juízas, promotoras, ministras), a nível federal, estadual e municipal, bem como na iniciativa privada, em que, por fim, fazem valer sua competência profissional, no âmbito de todas as profissões, o que demonstra a incoerência de relacionar a fragilidade feminina à incapacidade intelectual e profissional. 487 Referências AGOSTINHO, S. A trindade. Tradução de Agustinho Belmonte. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2005. _________. S. Confissões. Tradução de Maria Luiza Jardim Amarante. 2. ed. São Paulo: Paulus, 1997. ALEXANDRE, M. Círculos na água: a vida alterada pela palavra. São Paulo: Loyola, 2001. AQUINO, T. Suma teológica. v. 2. q. 92: a produção da mulher. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2005. BINGEMER, M. Experiência de Deus em corpo de mulher. São Paulo: Loyola, 2002. BOURDIEU, P. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. COSTA, L. O padrão bíblico para a família. Rio de Janeiro: Livre Expressão, 2010. DUARTE, S. A casa, as mulheres e a igreja: violência doméstica e cristianismo. In: DUARTE, S.; LEMOS, C. A casa, as mulheres e a Igreja: relação de gênero e religião no contexto familiar. São Paulo: Fonte Editorial, 2000, p. 15-80. HUGHES-HALLETT, L. Cleópatra: histórias, sonhos e distorções. Rio de Janeiro: Record, 2005. LE GOFF, J. TRUONG, N. Uma história do corpo na Idade Média. Tradução de Marcos Flamínio Peres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. LEMOS, C. Maternidade e Religião: entre o ideal do altar-trono de Maria e o real da vida cotidiana das mulheres. In: DUARTE, S.; LEMOS, C. A casa, as mulheres e a Igreja: relação de gênero e religião no contexto familiar. São Paulo: Fonte Editorial, 2009. p. 81-180. LIMA, N. O adoecer feminino e a culpabilidade discursiva: considerações sobre a Incidência do lúpus em mulheres. In: STREY, C.; AZAMBUJA, M. (Org). Gênero & saúde: diálogos ibero-brasileiros. Porto Alegre: Edipucrs, 2010, p. 255-278. LINS, R.; BRAGA, F. O livro de ouro do sexo. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. MENDES, M. Em busca dos contos perdidos. O significado das funções femininas nos contos de Perrault. São Paulo: Editora UNESP/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2000. NUNES, C. Desvendando a sexualidade. Campinas: Papirus, 1987. OLIVEIRA, E. Os sujeitos da luta pela legalização do aborto. In: ÁVILA, M. et al. (Org). Novas legalidades e democratização da vida social: família, sexualidade e aborto. Rio de Janeiro: Garamond, 2005, p. 131. 488 SCHOTT, R. Eros e os processos cognitivos: uma crítica da objetividade em filosofia. Tradução de Nathanael, C. Rio de Janeiro: Record, 1996. SCOTT, J. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. In: Revista Educação & Realidade. v. 20(2), jul./dez. Porto Alegre: 1995, p. 71-99.
Download