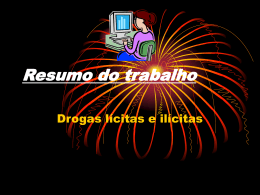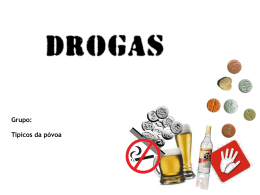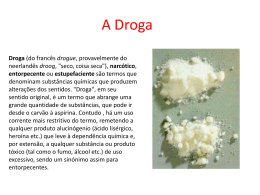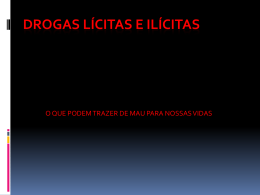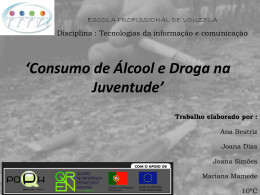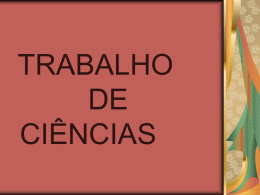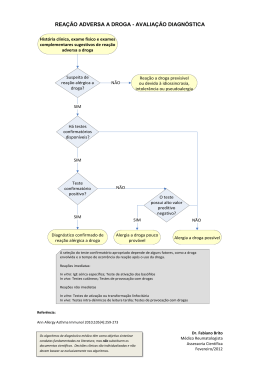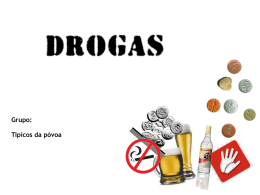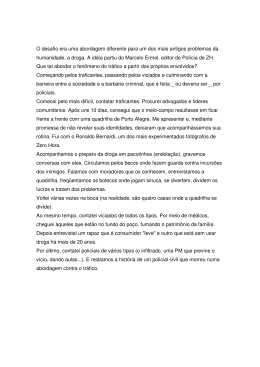A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR E DO GRUPO DE AMIGOS NA DEPENDÊNCIA DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES. RESUMO HERMIDA, Ana Paula Passarelli. A influência do ambiente familiar e do grupo de amigos na dependência de drogas entre adolescentes. 2007. 49p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia). Universidade Católica de Santos. O consumo de drogas entre a população jovem vem aumentando significativamente na Baixada Santista, seguindo o movimento nacional e mundial. A crescente banalização do uso de substâncias psicoativas, decorrente deste processo, aponta a necessidade de pesquisas para dar subsídios à implementação de programas eficazes de tratamento e prevenção. É fato bastante divulgado que a iniciação no uso de drogas ocorre preferencialmente na adolescência, em função da maior vulnerabilidade deste período de desenvolvimento. Entre os vários fatores sócio-culturais associados ao uso e dependência de drogas por adolescentes, os que mais se destacam são a influência do grupo de amigos e a dinâmica familiar. Com base nestas premissas, o presente trabalho propõe uma pesquisa qualitativa e exploratória, utilizando como instrumento a análise de discurso, com o objetivo de verificar se os problemas no ambiente familiar predominam sobre a influência do grupo de amigos, na iniciação do uso de substâncias psicotrópicas no período da adolescência. Os dados foram colhidos por meio de entrevistas individuais com usuários e seus familiares em clínicas de Santos e Guarujá, partindo-se da hipótese de que os problemas familiares prevalecem sobre a influência do grupo de amigos. Os resultados mostram a confirmação da hipótese inicial, uma vez que os sujeitos pesquisados interagiram desde a infância em um ambiente familiar disfuncional, o que acarretou prejuízo ao seu desenvolvimento psíquico, fazendo deles pessoas inseguras, com baixa auto-estima e deprimidas, e, por conseqüência, frágeis para enfrentar as adversidades da vida, encontrando nas drogas o caminho de fuga dos problemas. Com este estudo pretende-se fornecer subsídios para a implementação de políticas públicas eficazes ao enfrentamento do complexo problema de dependência de drogas entre adolescentes. Palavras chave: drogas psicotrópicas; família; grupo de amigos. 1 PARECER DE RECOMENDAÇÃO DE TRABALHO Orientadora: Profa. Ms. Maria Izabel Calil Stamato O presente Parecer tem por objetivo recomendar o Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia, por mim orientado, A influência do ambiente familiar e do grupo de amigos na dependência de drogas entre adolescentes, de autoria da aluna Ana Paula Passarelli Hermida, apresentado no ano de 2007, na Universidade Católica de Santos. Esta recomendação se justifica na medida em que o Trabalho traz uma contribuição significativa para a compreensão dos fatores determinantes da dependência de drogas entre adolescentes, a partir da análise dos sentidos subjetivos presentes no sub-texto do discurso de jovens internados em comunidades terapêuticas da Região Metropolitana da Baixada Santista, que iniciaram o uso de drogas na adolescência, numa perspectiva sócio-histórica. O estudo dos fatores sócio-culturais associados ao uso e dependência de drogas por adolescentes, com ênfase na influência da dinâmica familiar e do grupo de amigos, é de fundamental importância para a implementação de políticas públicas eficazes ao enfrentamento do complexo problema de dependência de drogas entre adolescentes e para o fortalecimento da importância do atendimento psicólogo nesta área, tendo em vista a relação entre interações sociais e constituição da subjetividade. Além disso, a compreensão do modo de ser do dependente químico ganha dimensão especial neste momento em que o aumento significativo de adolescentes nesta condição transforma a questão em problema social e de saúde, a demandar políticas eficazes de atendimento e prevenção. Iniciando com um breve olhar sobre a construção histórica do conceito de adolescência, o Trabalho mostra como os principais aspectos e características da adolescência são vistos por diferentes concepções teóricas, entre as quais a de sujeitos de direitos, preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, dando origem a diferenciados significados associados ao ser adolescente. Resgata ainda a construção histórica da família e sua importância no processo de constituição da subjetividade do adolescente, analisando também o papel do grupo de amigos neste processo. A articulação entre o papel que a droga desempenha na sociedade moderna, os diferentes tipos de substâncias psicoativas, as conseqüências que seu uso traz para o homem, a diferenciação entre uso, abuso e dependência, o trabalho desenvolvido no Programa de 2 Orientação e Atendimento a Dependentes (PROAD), serviço ligado ao Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), referência na área, a importância da prevenção e a proposta inovadora de redução de danos, atualmente utilizada pelo Ministério da Saúde, abre uma nova perspectiva de análise sobre a amplitude necessária para uma eficaz política de enfrentamento ao problema das drogas, rompendo com a visão repressiva e punitiva relacionada à questão. O estudo aprofundado da relação do adolescente com as drogas psicoativas, enfocando os principais fatores de risco associados ao seu uso, a influência da família e do grupo de amigos enriquece a compreensão sobre os motivos que levam o adolescente ao uso e à dependência das drogas, mostrando a necessidade de trabalhar seu mundo interno, suas interações sociais e suas condições de vida, de forma articulada e integrada, para resgatar o sujeito perdido no meio desta dependência. Referenciada na metodologia qualitativa, utilizando como instrumento o estudo de quatro casos de jovens internados em comunidade terapêutica, a autora se baseia no levantamento de dados existentes nas instituições sobre história de vida, entrevistas individuais semi-abertas com os sujeitos e familiares, para, por meio da análise do discurso, acessar sua subjetividade, identificando a causa originária da necessidade de uso de drogas. Nesse processo, identifica que a falha da família em seu papel de cuidado, educação, formação e continência foi mais significativo para levar o adolescente à dependência da droga do que os grupos de amigos, por ampliar o sofrimento psíquico e o grau de vulnerabilidade do jovem. O estudo se torna importante para reforçar a necessidade da Psicologia de considerar de forma articulada os vários fatores – subjetivos, sociais, e históricos -, cuja interação conduz o jovem ao uso e à dependência de substâncias psicoativas. Ao apontar o apoio à família e a valorização do grupo de amigos como fundamentais no enfrentamento ao problema da dependência de drogas, este Trabalho de Conclusão de Curso traz uma importante contribuição para a construção de políticas bem estruturadas a nível governamental, com ênfase não só no atendimento do dependente, mas principalmente na prevenção, reforçando a importância do investimento na educação, enquanto alicerce de uma sociedade sadia, onde relações humanas afetivas, solidárias e saudáveis representem a verdadeira forma de preencher o vazio existencial dos indivíduos. Profa. Ms. Maria Izabel Calil Stamato 3 UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS APLICADAS CURSO DE PSICOLOGIA ANA PAULA PASSARELLI HERMIDA A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR E DO GRUPO DE AMIGOS NA DEPENDÊNCIA DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Católica de Santos como exigência parcial para a obtenção do título do psicólogo. Orientadora: Profª. Ms. Maria Izabel Calil Stamato. SANTOS 2007 4 ANA PAULA PASSARELLI HERMIDA A INFLUÊNCIA DO AMBIENTE FAMILIAR E DO GRUPO DE AMIGOS NA DEPENDÊNCIA DE DROGAS ENTRE ADOLESCENTES Orientadora Profª. Ms. Maria Izabel Calil Stamato Banca Examinadora Profª. Ms. Maria Izabel Calil Stamato. Profº. Dr. Helio Alves. Profª. Coord. do TCC: Dra. Daisy Inocência Lemos. SANTOS 2007 5 Agradecimentos: À Ms. Maria Izabel Calil Stamato, minha orientadora e professora, que com seus ensinamentos, experiência e paciência contribuiu, decisivamente, para o desenvolvimento desta pesquisa. Sempre disponível para elucidar dúvidas e dar apoio nos momentos difíceis. Ao Dr. Hélio Alves, meu mestre e conselheiro, que em muitas ocasiões me orientou através dos complexos caminhos da psicologia. Aos meus pais, Lilian e Fernando, pelo incentivo e apoio aos meus estudos. Aos rapazes internados nas instituições que colaboraram com suas entrevistas, expondo de maneira franca e realista as singularidades de suas histórias de vida. E às instituições dedicadas ao tratamento de dependentes químicos que possibilitaram a realização da pesquisa, disponibilizando seus espaços, informações, seus profissionais e coordenadores para o bom andamento das entrevistas. 6 RESUMO HERMIDA, Ana Paula Passarelli. A influência do ambiente familiar e do grupo de amigos na dependência de drogas entre adolescentes. 2007. 49p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia). Universidade Católica de Santos. O consumo de drogas entre a população jovem vem aumentando significativamente na Baixada Santista, seguindo o movimento nacional e mundial. A crescente banalização do uso de substâncias psicoativas, decorrente deste processo, aponta a necessidade de pesquisas para dar subsídios à implementação de programas eficazes de tratamento e prevenção. É fato bastante divulgado que a iniciação no uso de drogas ocorre preferencialmente na adolescência, em função da maior vulnerabilidade deste período de desenvolvimento. Entre os vários fatores sócio-culturais associados ao uso e dependência de drogas por adolescentes, os que mais se destacam são a influência do grupo de amigos e a dinâmica familiar. Com base nestas premissas, o presente trabalho propõe uma pesquisa qualitativa e exploratória, utilizando como instrumento a análise de discurso, com o objetivo de verificar se os problemas no ambiente familiar predominam sobre a influência do grupo de amigos, na iniciação do uso de substâncias psicotrópicas no período da adolescência. Os dados foram colhidos por meio de entrevistas individuais com usuários e seus familiares em clínicas de Santos e Guarujá, partindo-se da hipótese de que os problemas familiares prevalecem sobre a influência do grupo de amigos. Os resultados mostram a confirmação da hipótese inicial, uma vez que os sujeitos pesquisados interagiram desde a infância em um ambiente familiar disfuncional, o que acarretou prejuízo ao seu desenvolvimento psíquico, fazendo deles pessoas inseguras, com baixa auto-estima e deprimidas, e, por conseqüência, frágeis para enfrentar as adversidades da vida, encontrando nas drogas o caminho de fuga dos problemas. Com este estudo pretende-se fornecer subsídios para a implementação de políticas públicas eficazes ao enfrentamento do complexo problema de dependência de drogas entre adolescentes. Palavras chave: drogas psicotrópicas; família; grupo de amigos. 7 SUMÁRIO INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA .................................................................... 9 1. PROBLEMA E OBJETIVO ............................................................................... 16 2. A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DOS AMIGOS NA DEPENDÊNCIA DE DROGAS ENTRE SUJEITOS ADOLESCENTES................................................................................................... 17 2.1. A escolha metodológica...................................................................................... 17 2.2. Sujeito................................................................................................................. 17 2.3. Procedimentos .................................................................................................... 18 2.4. Instrumento......................................................................................................... 20 2.4.1 Roteiro da entrevista com o terapeuta da instituição............................... 20 2.4.2 Roteiro da entrevista com os sujeitos ...................................................... 21 2.4.3 Roteiro da entrevista com os familiares .................................................. 22 2.5. Organização do discurso em núcleos de significação (resultados e discussão) .................................................................................... 23 2.5.1 Núcleos de significação dos sujeitos ....................................................... 23 2.5.2 Análise do discurso dos sujeitos.............................................................. 25 2.5.2.1 Família nuclear ............................................................................ 26 2.5.2.2 Família ampliada ......................................................................... 28 2.5.2.3 Relação com amigos.................................................................... 30 2.5.2.4 Relação com o trabalho ............................................................... 32 2.5.2.5 Relação com a escola................................................................... 32 2.5.2.6 Relação com a droga.................................................................... 33 2.5.2.7 Auto-imagem ............................................................................... 35 2.5.3 Núcleos de significação das famílias....................................................... 36 2.5.4 Análise do discurso dos familiares dos sujeitos ...................................... 37 2.5.4.1 Motivação do uso da droga.......................................................... 37 2.5.4.2 O uso da droga e a relação familiar ............................................. 38 2.5.4.3 Uso da droga................................................................................ 39 2.5.4.4 Significado da dependência para a família .................................. 39 CONCLUSÃO.......................................................................................................... 41 8 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 44 Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ........................................................ 49 9 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA O número de dependentes químicos vem aumentando significativamente na Baixada Santista, assim como no Brasil e no mundo, constituindo-se num grave problema social e de saúde. Pelo fato de ser estudante de Psicologia, não poderia deixar de me sensibilizar com a situação, e tentar contribuir para atenuar o problema e inspirar outras pesquisas sobre o assunto. Por isso, escolhi um tema relacionado com a dependência de drogas psicotrópicas para meu Trabalho de Conclusão de Curso. Entre os vários fatores sociais relacionados ao uso e abuso de substâncias psicotrópicas, elegi como objeto de estudo a influência do ambiente familiar e do grupo de amigos na fase da adolescência. O adolescente é suscetível à experimentação de drogas por viver em um período onde se consolida a formação de sua personalidade, período de incertezas, descobertas e inseguranças, em que procura, na estrutura familiar, um ambiente que o acolha e, no grupo de amigos, pessoas em que possa se espelhar e se identificar. O conceito de família modificou-se muito através dos tempos e, na atualidade, está muito distante do entendimento que lhe era dado na Idade Medieval. Segundo Ariès (1981), durante toda a Idade Média e até o início do século XVI a vida das pessoas se caracterizava por um convívio amplo e aberto, verdadeiras “multidões” de conhecidos, integrantes de comunidades superpovoadas, que se reunia em locais públicos, como ruas ou igrejas. Suas moradias eram abertas, devassadas de tal forma, que todos acabavam por conhecer alguma coisa de todos. As famílias - pai, mães e filhos - integravam esse amplo convívio. Quando falamos em “multidões” não devemos pensar nas grandes platéias dos megas shows ou de importantes jogos de futebol, onde ninguém se conhece. A multidão a que nos referimos são os grupos ou aglomerados que se formavam, sem convocação prévia, devido à proximidade física das pessoas, como se todas tivessem saído de casa ao mesmo tempo, exercitando uma grande sociabilidade para conversar, trocar idéias, opinar e até resolver sobre os mais variados assuntos individuais, familiares e da comunidade. Enfim, a vida era vivida em público. É raro encontrar documentos iconográficos de famílias (cenas da família e do interior de suas casas), pelo menos até o século XVI. Em contrapartida, encontra-se, com freqüência, imagens de “multidão”, reuniões na rua e nos lugares públicos, de homens, mulheres e crianças, uma mistura assemelhada às feiras populares onde se vende e troca de 10 tudo. A família não tinha lugar para a intimidade e as pessoas não tinham espaço para solidão. Não se está negando a existência da família, o que não existia era o sentimento de família e sua vida íntima. As crianças não contavam, não havia o sentimento da infância, nem preocupação com sua educação. As crianças misturavam-se com os adultos, a partir do momento em que eram consideradas capazes de dispensar ajuda da mãe ou ama (mais ou menos aos sete anos de idade), participando logo do mundo adulto (nos jogos, trabalhos, etc.). A família cumpria apenas as funções de transmissão da vida, dos bens e do nome. A partir de meados do século XV começou, muito lentamente, de forma quase imperceptível, uma transformação no sentimento de família, provocado pela extensão da freqüência escolar, que influenciou o relacionamento intra e extrafamiliar. A educação das crianças que, durante a Idade Média, era feita por meio da aprendizagem pelo trabalho, nas casas de outras famílias, aos poucos e cada vez mais, passou a ocorrer regularmente na escola. A escola deixou de ser um privilégio dos clérigos, passando a ser o meio de aprendizado e educação da classe média e promovendo a passagem da infância para a fase adulta. A substituição da aprendizagem por meio do trabalho pela educação escolar obrigou os pais a se aproximar e se preocupar com a educação dos filhos. As meninas, ao contrário dos meninos, demoraram muito mais para ser inseridas no contexto da educação escolar. A extensão da escolaridade às meninas só aconteceu no século XVIII e início do XIX. A partir do século XVIII, a sobrevivência da aprendizagem pelo trabalho nos extremos da classe social mais pobre sucumbiu à ação das escolas, que teve seu número de unidades aumentado e sua autoridade moral fortalecida, passando, com isso, a ter maior poder para modificar a consciência das pessoas e fortalecer o sentimento de família (ARIÈS, 1981). A família, na Idade Moderna, retirou da vida comum do adulto não só as crianças, mas uma grande parte do tempo e da preocupação destinada à antiga sociabilidade, que passaram a ser direcionadas para a satisfação da necessidade de intimidade e identidade familiar. Com isso, a antiga sociabilidade promíscua se tornou repulsiva. Essa ascendência moral da família ocorreu primeiro na burguesia, a nobreza e o povo conservaram-se por mais tempo dentro dos costumes e tradições herdadas. A família tornou-se uma comunidade unida que foi se estendendo à medida que a sociabilidade se retraía. Estendia-se congregando não só pai, mãe e filhos, como os parentes 11 consangüíneos, além de amigos próximos. É como se a família estivesse substituindo as antigas relações sociais, para evitar a solidão. Ainda de acordo com Ariès (1981), ao fim dessa evolução, a família tornou-se uma entidade fechada, onde seus integrantes gostam de permanecer, estabelecem um relacionamento fácil e confiável e se sentem protegidos em relação ao mundo exterior. Segundo Freitas (2002), a partir do final do século XVIII e início do século XIX, a família moderna passa a ter fundamentos muito diferentes daqueles que a caracterizavam até o século XVII, quando a criança não tinha infância e representava apenas uma fonte de diversão para os adultos. De acordo com Aberastury (1981), o ser humano inicia no nascimento um processo de desprendimento e liberação até se tornar adulto. Bock et al (2002) analisa que a família, em particular os pais, tem significativo papel no processo de socialização da criança, a partir de seu nascimento, sendo uma importante transmissora dos valores culturais e ideológicos. O grupo familiar é tão importante nos períodos da infância e da adolescência que, no caso de sua falta, a criança precisa de uma família substituta ou necessariamente deve ser encaminhada a uma instituição que cumpra as funções típicas dos pais. Para Aberastury (1981), o período mais crítico e complexo do ser humano, é a adolescência. É nesta fase que acontecem profundas mudanças psicológicas e corporais, que implicam em uma nova relação com os pais e com a sociedade. O adolescente passa por grandes conflitos internos e perdas (lutos), que o obrigam a reconstruir ou redefinir a imagem corporal, a relação com a família e com a sociedade e a sua subjetividade. O adolescente realiza três lutos básicos: a) luto pelo corpo infantil perdido (perdas das formas corporais infantis para assumir a base biológica da adolescência); b) luto pela identidade infantil (o indivíduo é obrigado a renunciar à confortável situação de dependência para assumir obrigações, responsabilidades e respeitar os limites que lhe são impostos); c) o luto pelos pais da infância (o adolescente tenta manter sua personalidade para continuar desfrutando do refúgio e da proteção, que tinha como criança). Estes lutos, verdadeiras perdas de personalidade, que acontecem ao longo da adolescência, são acompanhados das reações de tristeza e insegurança, e agravados, muitas vezes, pelo fato dos pais resistirem em perceber que o adolescente deixou de ser criança . É um processo lento e difícil, envolvendo o luto pelo corpo de criança, pela transformação da identidade infantil e da relação com os pais. Neste período, o adolescente 12 oscila entre a dependência, por medo de perder o conhecido, e uma independência exagerada, pois só o amadurecimento fará com que aceite uma independência com limites. “É um período de contradições, confuso, ambivalente, doloroso, caracterizado por fricções com o meio familiar e social. Este quadro é frequentemente confundido com crises e estados patológicos” (ABERASTURY, 1981, p. 13). Na abordagem sócio-histórica, a adolescência não é vista como um período natural do desenvolvimento, e sim como uma construção social, ou seja, é um momento significado, interpretado e construído pelos homens. Estão associados a esse período marcas do desenvolvimento do corpo, que constituem a adolescência, mas que são incorporadas ao contexto social e histórico, passando a ser significadas socialmente, não podendo, portanto ser simplesmente consideradas naturais. Assim, o jovem não é considerado algo por natureza, mas sem um parceiro social que incorpora significações sociais, adquirindo referência para a construção de sua identidade e os elementos necessários para a conversão do social em individual (BOCK, 2004). A pergunta básica da abordagem sócio-histórica não é O que é a adolescência, mas sim Como se formou historicamente esse período de desenvolvimento do homem, uma vez que os fatos só são compreendidos a partir da sua inserção na totalidade, que o constitui e lhe dá sentido. Portanto, para entender e definir a adolescência tem-se que entender seu desenvolvimento e sua gênese histórica, que se dá nas relações sociais e na vida material. Segundo Levisky (1995), a base da identidade da criança e do adolescente é construída através de um processo, que se inicia a partir de movimentos psíquicos existentes na relação pais e filho. Neste processo, o filho incorpora, desenvolve e se transforma, procurando chegar ao seu modo ser, de pensar e de viver, num contexto permeado pelos valores da cultura social, que facilita ou dificulta o surgimento dos movimentos pulsionais de vida e de morte. O adolescente, em busca de sua identidade e com um ego não consolidado, torna-se passível de receber sugestões e todo tipo de influências, bem como fica sujeito a satisfazer os desejos de grupos em prejuízo de um desenvolvimento sadio. Na adolescência ocorre um certo desgarramento do jovem em relação ao ambiente familiar e maior inserção na sociedade, principalmente pela adesão ao grupo de amigos, onde busca aceitação e compartilhamento de valores comuns. As atitudes e comportamentos são influenciados pelo grupo, que se torna uma importante referência neste estágio da vida. Este movimento é imprescindível ao desenvolvimento do jovem, pois nesta etapa intermediária de transição ao ingresso no mundo dos adultos (TOSCANO, 2001b). 13 O comportamento transgressivo é uma característica do adolescente, podendo, de certa maneira ser considerado normal, e neste se inclui o uso de drogas (GORGULHO, 1996). De acordo com Silveira e Moreira (2006), o número relativamente elevado de pessoas experimenta substâncias psicoativas, estimando que a grande maioria passa a fazer uso ocasional da droga, praticamente sem danos à saúde. Dos usuários ocasionais, apenas uma pequena parcela se torna dependente. Os padrões de consumo de substâncias psicoativas variam em uma ampla faixa, englobando diferentes níveis de risco e diversos graus de dano potencial ao usuário. O padrão de consumo é conseqüência da interação de diferentes fatores, dos quais podem ser destacados: características psicológicas e biológicas do usuário; contexto em que acontece o uso da droga e tipo de droga utilizada. Uma evidência de que o usuário se tornou dependente é a incapacidade de controlar o consumo da droga. Não existe um consenso sobre dependência química, alguns especialistas a consideram uma doença distinta e autônoma, outros a consideram como um sintoma de um desarranjo psíquico, geralmente relacionada a outras patologias, assim como ansiedade, depressão e transtornos de personalidade ou neuropsicológicos. O dependente químico pode ser descrito como um indivíduo que se encontra em uma situação vivencial insuportável, que ele não consegue resolver ou evitar, restando-lhe como única alternativa alterar a percepção desta realidade intolerável através da droga (SILVEIRA E MOREIRA, 2006, p. 5). Esta maneira de entender o dependente químico se ajusta a concepção de dependência como sintoma de um desarranjo psíquico. Alguns sintomas característicos da depressão, como baixa auto-estima, tristeza e incapacidade de sentir prazer com o viver, podem ser revertidos através do uso de substâncias psicoativas. Assim, sob o efeito da droga, o dependente se sente valorizado, alegre ou menos triste, e passa a sentir prazer em suas vivências do cotidiano. Assim, o dependente utiliza a substância psicoativa como um remédio, interpretando como resolvida sua situação angustiante de antes. Para Knobel (1981), o fenômeno grupal, longe de ser um problema, é absolutamente necessário ao processo de individualização e identificação adulta a ser alcançado pelo adolescente. Só após adquirir experiência no convívio com o grupo, o jovem poderá iniciar sua separação deste e assumir sua identidade de adulto. 14 Reforçando esta idéia, Erikson (1987) afirma que o adolescente procura, no grupo, obter a segurança e a confiança em si mesmo e, com isto, aliviar sua angústia e conflitos. É na adolescência que o indivíduo constrói os alicerces da auto-estima e da personalidade e, por isso, é talvez o período mais importante e crítico da vida. Conforme Freitas (2002), o grupo de amigos é para o adolescente um espaço de experimentação, sendo suas idéias mais aceitas que as recomendações da família. Para o adolescente, a experiência vivida no grupo pode ser muito útil, mas dependendo do ambiente familiar pode ser o caminho para o uso de drogas. De acordo com Toscano (2001b), os fatores de risco associados ao uso de drogas envolvem determinadas condições que aumentam a probabilidade do sujeito se iniciar no consumo. Ao contrário, os fatores de proteção são aqueles que diminuem esta probabilidade. Esses fatores aparecem freqüentemente associados ao uso e ao não uso de drogas. Entre os fatores com caráter individual, podem ser citados: carga genética, autonomia, autoestima, religiosidade, tolerância à frustração, resiliência e aspectos cognitivos (como habilidade intelectual e a capacidade de resolver problemas). Entre os fatores sociais podem ser citados: condição sócio-econômica, vínculo escolar, inserção cultural, vínculos familiares, estabelecimento de uma relação de cuidado com um adulto de referência, escolaridade dos pais, etc. (NOTO e MOREIRA, 2006). Entre outros, são considerados fatores associados ao risco: déficits neuropsicológicos, experimentação precoce de substâncias psicoativas (lícitas ou ilícitas), exclusão social, aculturação, famílias disfuncionais e pais com problemas relacionados ao abuso de substâncias (NOTO e MOREIRA, 2006, p. 314). Geralmente esses fatores interagem entre si, englobando características da droga, do meio, da família e do sujeito. Os fatores relativos ao sujeito e à droga são mais associados à repetição e manutenção do uso, enquanto os relativos ao meio tendem a ser mais relacionados à experimentação. De acordo com Freitas (2002), o aparecimento de um dependente de drogas numa família é conseqüência da problemática familiar. Este adicto geralmente é um adolescente, por ser este mais susceptível à utilização da droga por estar em um período que se caracteriza por crises, incertezas e inseguranças. Atrás de um quadro de drogadicção, quase sempre, estão presentes a falta de amor e abandono. O uso da droga é sempre um sintoma que acusa a dificuldade de lidar com a 15 frustração. O acúmulo de frustrações pode conduzir a pessoa a uma total falta de aceitação com sua maneira de viver. A vida indesejada é mitigada através do uso de uma droga. O efeito desejado é sempre de um anestésico para a frustração e a angústia (FREITAS, 2002). O aumento do consumo de drogas no mundo, com uma crescente banalização de seu uso, reforça a necessidade de programas preventivos, dedicados a evitar ou diminuir a utilização de drogas na comunidade escolar, por meio da atuação direta com os alunos, extensiva aos familiares e amigos, devido ao seu efeito multiplicador. E também que resgatem a escola como espaço privilegiado para o desenvolvimento de propostas pedagógicas que estimulem o pensamento crítico, os princípios éticos, a cidadania e a autonomia. Bastos e Mesquita (2001) analisam que se deve partir de fundamentos que não sejam pró ou antidrogas, mas que efetivamente consigam minimizar os danos provenientes do consumo em uma magnitude ampla. Nesse sentido, é necessário avaliar as diferentes políticas e estratégias implementadas ou propostas, desde o indivíduo singular até as comunidades onde ele vive, analisando e comparando efeitos contraditórios, paradoxais e imprevisíveis. Conforme este enfoque, as estratégias para enfrentamento do consumo de drogas perseguem um resultado que vai desde uma sociedade sem o uso de quaisquer substâncias psicoativas à possibilidade de coexistência de uma política de uso com base nas instâncias repressivas e no respeito aos direitos humanos dos usuários. De acordo com estes autores, é importante lembrar que as sociedades, desde os primórdios da humanidade, sempre conviveram com substâncias psicoativas de variadas naturezas em maior ou menor grau; e que também sempre existiram instituições e opiniões, com maior ou menor poder de abrangência, radicalmente contra qualquer uso de drogas ilícitas psicoativas. Em consonância com o enfoque descrito, resolvi pesquisar “A influência do ambiente familiar e do grupo de amigos na dependência de drogas entre adolescentes”. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utiliza o estudo de caso como procedimento metodológico, com o objetivo de verificar a hipótese de que a influência do ambiente familiar prepondera sobre a do grupo de amigos, no uso de substâncias psicotrópicas. Minha meta é que os resultados obtidos nesta pesquisa forneçam subsídios para o estabelecimento de programas primários, secundários e terciários de prevenção no ambiente familiar e escolar, ambiências predominantes do adolescente. 16 1. PROBLEMA E OBJETIVO Considerando o grupo de amigos e as relações familiares, como os fatores que mais atuam na formação da identidade do adolescente, qual prepondera no processo de conduzir o adolescente à dependência química? O objeto desta pesquisa é o uso de drogas psicoativas na adolescência e o principal objetivo é verificar se os problemas no ambiente familiar preponderam sobre a influência do grupo de amigos, na iniciação da dependência de substâncias psicotrópicas. 17 2. A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA E DOS AMIGOS NA DEPENDÊNCIA DE DROGAS ENTRE SUJEITOS ADOLESCENTES 2.1 A escolha metodológica A presente pesquisa, de caráter qualitativo e exploratório, utiliza como método a análise de discurso, por meio de estudos de casos de internos em instituições de recuperação para dependente químico. O estudo envolveu: o levantamento de dados existentes nas instituições sobre a história de vida dos adolescentes (sujeitos do estudo), entrevistas individuais semi-abertas com os adolescentes, entrevistas com os familiares sobre a história de vida da família e com os profissionais da instituição, responsáveis pelo tratamento. A opção pela pesquisa qualitativa se deve ao fato de ser um método mais adequado para estudar e analisar a subjetividade, presente de forma implícita no discurso dos sujeitos da situação estudada. A pesquisa qualitativa se fundamenta na obtenção de dados por meio do contato direto e interativo do pesquisador com o sujeito de estudo. Neste tipo de pesquisa é comum que o pesquisador procure analisar os fenômenos, de acordo com a ótica dos sujeitos do contexto estudado e, com base nisto, elabore suas conclusões (NEVES, 1996). O método de análise de discurso, a partir de estudos de casos, foi escolhido por permitir uma análise profunda do fenômeno estudado. De acordo com Neves (1996), este método é indicado para pesquisadores que querem saber como e por que certos fenômenos acontecem. Escolheu-se a entrevista como principal fonte de coleta de dados, por possibilitar um contato mais profundo com o entrevistado, permitindo interagir e observar comportamentos, expressões faciais, além das modificações de voz em função de questões emocionais. A entrevista semi-estruturada possibilita, conforme Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1998), que o entrevistado responda dissertando sobre perguntas abertas formuladas pelo entrevistador. As entrevistas sobre história de vida, ainda de acordo com este autor, são utilizadas quando o entrevistador está interessado na história de vida do entrevistado, para, a partir desta, estabelecer associações com o seu presente. 2.2 Sujeito 18 Os sujeitos da pesquisa são internos que se encontram em clínicas para tratamento da dependência química, que iniciaram o uso de substâncias psicotrópicas no período da adolescência. A escolha de dependentes que iniciaram o consumo na adolescência se deve ao fato de ser a adolescência o período focado neste estudo e o mais vulnerável à dependência. A opção por sujeitos em tratamento voluntário, em clínicas com internação, devese ao fato de obter-se uma entrevista mais consciente e mais próxima da realidade do dependente de drogas. Foram entrevistado quatro sujeitos usuários de drogas, que reuniram, entre si, circunstâncias diferentes de uso de drogas, entendidas como: características diferentes de uso, tipo de droga consumida, tempo de uso da droga, tempo estimado da dependência. O número de sujeitos utilizados na pesquisa (quatro) está subordinado a uma opção metodológica de aprofundar os dados qualitativos, dando menor prioridade aos dados quantitativos. 2.3 Procedimento Foram entrevistados 10 sujeitos, selecionados em Instituições da Região que promovem o tratamento para dependentes em regime de internação. Destes, seis foram descartados devido à impossibilidade de realização de entrevista com os familiares. Sendo um estudo qualitativo e exploratório sobre uma amostra intencional, formada por quatro sujeitos em tratamento clínico em regime de internação e seus familiares, esta pesquisa envolveu os seguintes passos: 1 - Análise dos prontuários: para seleção dos quatro sujeitos com perfil adequado ao estudo do caso, levou-se em consideração: • adesão ao tratamento inicial (aceitação das orientações terapêuticas iniciais); • aceitação do tratamento depois de resolvidas eventuais situações agudas desencadeadoras da internação (quadro agudo de síndrome de abstinência, intoxicação aguda mais grave etc.); • condição intelectual, emocional e física para participar da entrevista; • sujeitos que iniciaram o uso de drogas psicoativas na adolescência. 19 2 - Entrevista com o terapeuta da clínica: teve por escopo consolidar a seleção dos sujeitos escolhidos através dos prontuários e, em especial, confirmar que o sujeito iniciou o uso de drogas no período da adolescência. Deve ser ressaltado que as entrevistas com os profissionais não foram objeto de análise; 3 - Contato inicial com cada um dos sujeitos escolhidos, onde foi explicada a finalidade e a metodologia da pesquisa; após a concordância de participação, foi solicitada aos sujeitos a adesão formal por meio da assinatura do Termo de Compromisso e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A); 4 - Entrevistas semi-dirigidas com os sujeitos: com o objetivo de determinar os fatores associados à dependência química, cujo conteúdo foi gravado, transcrito e posteriormente analisado, a partir do referencial de análise de discurso. No sentido de maximizar a validade e a confiabilidade das entrevistas, como instrumento de coleta de dados, foram adotados os seguintes procedimentos básicos: • criação de condições para facilitar a comunicação do entrevistado, com ênfase no ambiente físico: todas as entrevistas foram realizadas em salas, que possibilitaram manter a privacidade da entrevista e o seu andamento, sem interrupções; • estabelecimento de um bom rapport entre entrevistado e entrevistador; • aplicação dos instrumentos pelo próprio pesquisador; • manutenção de um bom setting (clima) durante toda entrevista; • utilização do mesmo roteiro de entrevista com todos os entrevistados, assegurando-se que o tema e o objeto da pergunta fossem entendidos por todos. 5 – Desenhos sobre o tema a família antes e após a drogadição: o desenho foi solicitado logo após a entrevista, com a finalidade de complementar a fala do sujeito. Concluído o desenho com a representação da família, a pesquisadora pediu que cada um explicasse o seu significado. A fala da entrevista, suplementada pela expressão do desenho, compuseram o discurso, através do qual foram identificados os núcleos de significação. 6 - Entrevista com os familiares: teve o objetivo de levantar a história de vida da família para relacionar com a situação presente do dependente, sendo o conteúdo gravado, transcrito e posteriormente analisado. Nesta ocasião também foi solicitada 20 a adesão formal do familiar por meio da assinatura do Termo de Compromisso e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo A); 7 - Análise dos dados: a partir da fala que emergiu dos discursos do sujeito e de sua família, correlacionando-os com a teoria. 2.4 Instrumento Os instrumentos utilizados nesta pesquisa englobaram: • entrevista semi-estruturada com o terapeuta responsável pelo tratamento dos sujeitos, com a finalidade de consolidar o perfil dos sujeitos escolhidos para a pesquisa; • termo de consentimento livre e esclarecido; • entrevistas com os sujeitos em locais apropriados nas instituições, de maneira a realizar a coleta de dados necessários à pesquisa, precedidas de uma exposição, onde foi enfatizada a importância que cada pesquisado responder às perguntas com honestidade, impondo seu cunho pessoal e consciente do sigilo do anonimato; • entrevistas com os familiares sobre a história de vida de cada adolescente, obedecendo a mesma sistemática. 2.4.1 Roteiro da entrevista com o terapeuta da instituição. 1) Motivo e forma de procura pelo tratamento. 2) Início do uso de drogas pelo sujeito. 3) Reações à ausência da droga. 4) Características comportamentais do paciente (agressivo, calmo, comunicativo, depressivo, etc.). 5) Histórico de tratamentos anteriores. 6) Tipo de uso (experimentação, uso recreativo, habitual ou dependência) 7) Relação entre tempo de uso e dependência. 21 8) Fatores que influenciaram ou levaram ao uso da droga 9) Relação familiar do adolescente. 10) Envolvimento da família e dos amigos com o tratamento. 11) Observações relevantes. 2.4.2 Roteiro da entrevista com os sujeitos 1) Me fale sobre sua vida. 2) Tem alguma coisa que o preocupa? 3) Se você pudesse o que você gostaria de mudar na sua vida? 4) Me conte o que você costuma fazer nas horas livres. 5) Me conte se você se sente emocionalmente, como costuma se sentir na maior parte do tempo. 6) Me fale das suas diversões prediletas. 7) Me fale se você acha que tem alguma dificuldade, se algo te entristece, se tem alguma insatisfação. 8) O que te traz satisfação, deixa contente ou feliz? 9) Me fale alguma coisa legal que aconteceu com você. Conte como foi... 10) Me fale alguma coisa ruim que aconteceu com você. Conte como foi... 11) Quando você tem algum problema quem você procura? Fale mais sobre isso... 12) No passado, quem eram as pessoas mais importantes da sua vida? E agora? 13) Me fale se você já teve ou tem algum tipo de medo. 14) Me fale sobre sua família. 15) Como é o relacionamento com seus familiares? 16) Me fale alguma coisa legal que aconteceu com sua família. 17) Me fale alguma coisa ruim que aconteceu com sua família. 18) Você sente segurança e apoio na convivência com sua família? 22 19) Me fale sobre seus amigos. 20) Me fale sobre a sua vida escolar. 21) Me fale sobre seus colegas da escola. 22) Me fale sobre seu trabalho. 23) Você tem namorada (o)? Me fale sobre ela (e). 24) Por que você está aqui na Clínica? 25) Me fale sobre as drogas que você já utilizou. 26) Conte sua primeira experiência com drogas e o que levou você a experimentar. 27) Me conte um pouquinho mais sobre essa história de drogas. Como foi que você entrou. 28) Entre seus familiares há ou houve usuários de drogas? Fale sobre isso. 29) E os amigos? 30) Seus amigos apóiam seu tratamento? 2.4.3 Roteiro da entrevista com os familiares 1) Me fale como foi a vida escolar dele. 2) Me conte sobre os amigos de seu filho. Vocês os conheciam? E seus colegas? 3) Me conte como era o relacionamento de seu filho com os amigos e colegas? 4) Me fale sobre o trabalho que seu filho fazia. E os amigos de trabalho dele? 5) Me fale o que você acha dele usar drogas. 6) Me fale sobre sua família. 7) Me fale alguma coisa legal que aconteceu com sua família. 8) Me fale alguma coisa ruim que aconteceu com sua família. 9) Me conte como era o relacionamento de vocês antes dele usar drogas. E quando começou a usar drogas? E agora? 10) Seu filho tinha namorada? Me fale sobre ela. E o relacionamento entre eles? 23 11) Me conte de que forma o uso de drogas afetou a relação entre vocês. 12) Me fale do significado que esta dependência de drogas tem na família e para o jovem. 13) O que vocês acham que o levou a usar drogas? 14) Por que ele está aqui na Clínica? 15) Me fale se tem algo que te preocupa. 16) Me fale se você acha que tem algo te entristece, se tem alguma insatisfação. 17) Me fale alguma coisa legal que aconteceu com você. 18) Me fale alguma coisa ruim que aconteceu com você. 19) No passado, quem eram as pessoas mais importantes da sua vida? E agora? 20) Entre seus familiares há ou houve usuários de drogas? Como foi o tratamento? 2.5 Organização do discurso em Núcleos de Significação (resultados e discussão) As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas em inteiro teor. A partir da transcrição das entrevistas e das gravações, foram selecionados os pré-indicadores, que representam temas diversos, caracterizados pelas ambivalências, contradições, semelhanças e insinuações não completadas, considerando-se também a ênfase e a carga emocional na fala dos entrevistados (AGUIAR e OZELLA, 2006). Estabelecido o elenco de pré-indicadores, elaborou-se a aglutinação destes, com base na similaridade, na complementaridade ou na contraposição, e, através de um processo de articulação, foram organizados os núcleos de significação, devidamente nomeados (AGUIAR e OZELLA, 2006). 2.5.1 Núcleos de Significação dos sujeitos Sujeito 1 – “A”. Núcleos de Significação Família Nuclear Indicadores - recebe apoio da mãe e irmã - mãe e irmã sua única família - separação dos pais - apanhava muito do padrasto - dificuldade de relacionamento com a 24 Família ampliada Relação com os amigos Relação com o trabalho Relação com a escola Relação com a droga Auto-imagem madrasta - rejeição pelo pai - culpa o pai pelo uso da droga e desorientação - estímulo ao tratamento - isolamento - separação da mulher - medo de rejeição pela fila - pai e marido ausente - atualmente: filha, um sentido de vida - vínculo com a droga - ampliação da rede de amigos - busca de aceitação - consumo, tráfico e produção de drogas - experiência com trabalho regular - abandono - desejo de retorno - experimentou para se sentir igual - prazer e alegria, sem tristezas e medos. - prefere morrer a recair - duas overdoses - coisa ruim - ambos são destruidores: ele e o crack Sujeito 2 – “J”. Núcleos de Significação Família Nuclear Família ampliada Relação com os amigos Relação com o trabalho Relação com a escola Relação com a droga Indicadores - falecimento da mãe aos 15 anos - mãe dava todo apoio, pessoa mais importante - avó e tia importantes em sua vida - avó e tia deram apoio quando a mãe morreu - família muito unida - morte da mãe abalou a família - separação da esposa - maior preocupação: filha - tentou parar de usar droga quando a filha nasceu - filha: uma das pessoas mais importante em sua vida. - maioria dos amigos usava drogas - usava drogas com a turma do bairro - usava a droga sempre com os amigos - começou o uso pela cocaína - não sabem que está internado - sempre trabalhou - o fato de trabalhar à noite contribuiu para não parar se usar - nunca gostou de estudar, mas sabia que era importante - amigos o apresentaram à droga - se refugiava na droga por qualquer problema - começou a viver pela droga - recebeu uma boa pensão que ajudava a usar droga - maconha: ampliou sua rede de amigos 25 Sujeito 3 – “L”. Núcleos de Significação Família Nuclear Família ampliada Relação com os amigos Relação com o trabalho Relação com a escola Relação com a droga Auto-imagem Indicadores - pais brigavam - pai maltratava desde pequeno - pai não trabalhava, só a mãe - o irmão é diferente - mãe: única pessoa com quem pode contar - pai não aceita como ele é - pai se relaciona bem com o irmão - tipos a vós gostam dele - ficou chateado quando avó morreu - a maioria dos amigos era do crime - nunca trabalhou - quer arrumar um trabalho - quer terminar os estudos - quase terminou o ensino médio na FEBEM - não consegue se liberta da droga - se vê como terrível - se sente derrotado, triste, fracassado Sujeito 4 – “F”. Núcleos de Significação Família Nuclear Família ampliada Relação com os amigos Relação com o trabalho Relação com a escola Relação com a droga Auto-imagem Indicadores - pais separados - pai ausente - não gosta do pai - brigava com o padrasto por este maltratar a mãe - padrasto: alcoolista - avó: pessoa importante - tia: alcoolista - “tribos”: colegas de droga - espelhava-se em grupos de usuários de drogas - não se firmava em nenhum trabalho - se tornou dependente no trabalho - colegas de trabalho eram usuários de drogas - parou de gostar de estudar quando passou a consumir drogas - retorno à aprendizagem - primeira experiência: na praia com um grupo de amigos, gostou - sem auto-controle - acabando com os sonhos dele - fuga dos problemas pessoais - sente-se inferior 2.5.2 Análise do discurso dos sujeitos 26 2.5.2.1 Família Nuclear Os pais de “A”, quando ele estava com 5 anos, se separaram. A mãe, com dificuldades econômicas, casou-se novamente. O padrasto, usuário de maconha, batia muito em “A”, o que acabou provocando a separação do casal após cinco anos de convívio. A mãe pediu para “A” morar com o pai. Ele tentou conviver com este, mas não deu certo, o relacionamento foi prejudicado porque “A” usava drogas e pelo seu relacionamento negativo com a madrasta. O pai foi sempre ausente na educação do filho e por isso “A” o culpa por ser desorientado e usar drogas. Ah, minha família é boa, né, manu. Sempre me ajudou, sempre me deu a maior força, minha mãe sempre batalhou pra me dar o... tudo que eu queria..., mas sempre né manu, fazendo o possível e o impossível né, e eu sempre dando pontapé neles, né, cara. Meu pai nunca ligou muito pra mim, né manu, acho que é por isso sou um pouco, meio... desorientado né. Vou falar pra tu, eu sou muito arrogante, muito brigão, né, manu, acho que é por causa de que... sinto falta de um pai também [...] (Sujeito “A”) Ao contrário, a mãe e a irmã representaram para “A” a certeza de apoio, segurança e afeto. E, hoje em dia, representam a maior fonte de estímulo na luta deste para se livrar da dependência química. [...] a minha família hoje está me dando todo apoio que eu preciso, né, manu, isso que me dá satisfação mesmo, minha mãe, minha irmã sempre está comigo ai nessa luta ai, nessa caminhada. Acho que é por isso que estou afim de terminar esse tratamento, que estou fazendo, né, cara, e espero nunca mais usar droga, essa é a minha maior satisfação. (Sujeito “A”) “J” vivia só com a mãe, que faleceu quando este tinha 15 anos. Conforme a entrevista com a tia, os pais se separaram quando “J” tinha 6 anos. O pai nunca foi presente, mas até a separação o menino gostava do pai. Com a separação, este rejeitou o filho, e nem o visitava. Só tornou a vê-lo no funeral da ex-mulher. Face à ausência e menosprezo do pai, com base na entrevista da tia, “J” nem mesmo citou a palavra “pai” em sua entrevista, deixando transparecer a relação distante que existe entre eles. Os pais de “F” se separaram quando o filho tinha 8 anos. De acordo com o irmão, “F” ficou insatisfeito porque o pai não mais os visitou, após constituir uma nova família. A mãe casou-se novamente. O padrasto bebia muito e brigava com ela. Nessas ocasiões, “F” saia em defesa da mãe, chegando mesmo a agredir o padrasto. Porém, quando o padrasto estava sóbrio, se revelava um homem bom. Atualmente estão separados. A ausência e o desprezo do pai pelos filhos, resultaram em uma relação negativa entre pai e filho. 27 Os pais de “L” vivem juntos até hoje. De acordo com a mãe, “L” foi criado pela avó até os 9 meses. Então, passou a conviver com os pais até os 3 anos de idade. Após, “L” ficou sem conviver com o pai até os 8 anos. Então, o pai retornou ao convívio da família na condição de desempregado, ficando a responsabilidade de manter a família por conta exclusiva da mãe. Em sua entrevista, “L” afirmou não gostar do pai. Já a mãe, em sua entrevista colocou que o pai não gosta de “L”. “L” também demonstrou um certo ciúmes do irmão, ao afirmar que o pai gosta mais deste do que dele. [...] depois que nasceu meu irmão, ele dá mais atenção pro meu irmão, ele mesmo já falou da própria boca dele pra mim que gosta mais do meu irmão do que de mim... agora não sei porque né mano. (Sujeito “L”) Observando o contexto dos 4 sujeitos entrevistados verifica-se que em todos existe disfunção familiar. Em três casos, a disfunção é representada pela separação dos pais, acarretando uma relação negativa entre pai e filho. No quarto caso, mesmo não havendo separação do casal, a disfunção encontra-se no comportamento do pai, conforme caracterizado pelo contexto vivencial do casal e no discurso de “L”: Porque ele, tipo, ele não me aceita do jeito que eu sou, um usuário de droga e quando eu estava na Febem, aos 12 anos, ele não foi me visitar nem uma vez, me deixou lá abandonado... [...] minha mãe sempre ia, todo mês me visitar... sempre me levava uma palavra de conforto pra mim né, então... a única pessoa que eu tenho nesse mundo é minha mãe [...] [...] desde pequeno... quando minha mãe ia trabalhar eu não gostava de ficar com ele, não gostava, cho... chorava porque, tipo, ele me maltratava, né... qualquer coisinha que eu aprontava, ele vinha me agredir, vinha me bater... [...] vinha me batendo, aí eu fui crescendo, fui gerando ódio, ódio, e até agora eu não consigo perdoar ele, não gosto dele... é isso, mano. [...] minha mãe ficava chorando pelos cantos da casa, eles chegavam a brigar, ele espancava a minha mãe e eu ficava presenciando essas cenas, ficava, ficava guardando comigo... já com o coração cheio de maldade... ‘ah, quando eu crescer eu vou matar esse homem’, pensando comigo mesmo... [...] Portanto, existe semelhança disfuncional na família dos quatro sujeitos, representada por uma relação distante e negativa entre pai e filho. O adolescente, na busca de sua identidade de adulto, encontra dificuldade principalmente pela falta de referência do modelo masculino, o que pode impulsionar sua entrada na marginalidade (Toscano, 2001b). A análise do discurso dos quatro sujeitos revela que a mãe se constituiu como âncora da família e responsável pelo apoio, afeto e confiança transmitido ao filho. [...] as pessoas mais importantes da minha vida era minha mãe e minha irmã, né. Foram minha única família, pequenininha, mas uma família legal. Eu e minha irmã sempre fomos bastante unidos né manu, minha mãe sempre batalhou pra dar de comer pra nós, pra dar o melhor... as pessoas mais... que eu mais... se eu perder 28 algum dia isso vai, vai me tocar bastante, tá entendendo, as pessoas que eu mais confio mesmo, que... que eu vejo que com eles eu posso contar. (Sujeito “A”) Os meus problemas eu resolvia com minha mãe... eu conversava com ela, ela era minha inspetora no meu colégio, então eu ficava quase que o dia inteiro com ela né, estava sempre com ela... voltava junto, foi uma época legal... compartilhava com ela mesmo, a gente morava junto, morava eu e ela sozinho. Eu acho que eu tive uma educação legal... apesar de ter usado droga depois, minha mãe sempre foi uma mãe firmeza. (Sujeito “J”) No caso de “J”, além da disfunção familiar oriunda da relação pai e filho, e talvez mais do que esta, contribuiu para sua iniciação no consumo de drogas o falecimento de sua mãe, de forma inesperada e traumática em um momento muito crítico de sua vida. Considero um momento crítico por duas razões: a mãe era a âncora da família, nos aspectos financeiro, educacional, afetivo e de segurança, e “J” estava com 15 anos de idade, em pleno período da adolescência, sabidamente uma fase onde o adolescente busca sua identidade e desenvolve sua personalidade de adulto. A personalidade drogadictiva não suporta as perdas. Por isso, a droga é para ela imprescindível: com o tóxico consegue eliminar a ansiedade da espera e a angústia da frustração”. (KALINA, 1999, p.35) O farmacodependente não gosta da solidão porque seu ego sente falta de apoio, como na época em que era criança. Como a solidão representa a vivência da morte, ela assume o caráter de uma sensação através da qual o dependente percebe o vazio do seu ego, caracterizado por um sentimento de impotência, que faz com que o dependente não tenha quem ou a que recorrer para suportá-lo e, muito menos, para superá-lo (KALINA, 1999). [...] Eu comecei a usar drogas mais porque minha mãe faleceu quando eu tinha 15 anos. Aí passou, acho que um mês depois, e já comecei a usar droga. (Sujeito “J”) Foi porque eu estava triste, né, minha mãe tinha morrido... estava derrubado... e aí foi meio que uma fuga, né... [...] (Sujeito “J”) Eu morava com ela em Santos né e minha mãe tinha um emprego bom, trabalhava na nossa caixa... tinha dois serviços, né... era inspetora do meu próprio colégio também, tinha uma condição legal, morava eu e ela num apartamento... e, num belo dia a gente foi pra casa, eu lembro até onde que eu fui dormir, ela ficou na sala vendo televisão... no outro dia acordei, encontrei ela morta na sala... foi bem por ai... de um dia pro outro mudou tudo, né...[...] (Sujeito “J”) 2.5.2.2 Família ampliada 29 Neste núcleo é destacada a importância da avó e tia do sujeito “J”, principalmente após a morte da mãe, pois com a ausência do pai, as duas figuras se tornam as principais supridoras de afeto, segurança e orientação. Representa também um apoio significativo o fato de sua família ser muito unida. Hoje em dia, “J”, com 28 anos de idade, separado da esposa, lutando para se livrar da dependência de drogas, tem como mais importante estímulo proporcionar uma vida digna à sua filha. “A”, hoje em dia, com 23 anos de idade, separado da esposa, sem nunca ter sido um pai e um marido presente, também tem como principal estímulo a luta para livrar-se da dependência de drogas o desejo de proporcionar uma vida digna à sua filha de 3 anos. A filha é seu sentido de vida, mas seu grande receio é ser rejeitado por ela. [...] A única coisa legal que aconteceu comigo foi eu ter uma filha, né, mano... ter alguma coisa que vem de mim, um fruto meu, né, cara, apesar de toda dificuldade, mas... acho que ela pra sempre vai ser minha filha, né, mano, apesar de tudo, de tudo que eu fiz, mesmo se ela querendo ou não vou ser o pai dela, né, essa é a minha maior felicidade mesmo [...] (Sujeito “A”) Minha filha nasceu, eu estava preso está entendendo? Fiquei sabendo lá dentro que ela tinha nascido, na hora eu fiquei no mó ódio, né, meu, fiquei irado mesmo, mas depois também... a mãe dela levou ela pra me ver ainda eu estava preso... recém nascida, né, cara... olhei para ela, comecei a chorar, não estava acreditando, né, meu... que eu era o pai daquela criança, né... recebi o telefonema que ela tinha nascido... vixi... foi fogo, né, meu. (Sujeito “A”) “L”, no passado, contava com o apoio e a confiança de seus avós e tios. Em função de sua dependência das drogas, cometeu vários atos de delinqüência e até criminosos, como o furto e o roubo, chegando a ficar cerceado de liberdade na FEBEM. Também os pertences dos familiares não escapavam de ser furtados por “L”. Frente a isto, os parentes foram perdendo a confiança nele e desistindo de apoiá-lo, chegando até a proibir sua entrada em seus lares. Hoje, “L”, com 19 anos, vem lutando para se livrar da dependência de drogas e resgatar a antiga confiança de seus familiares, mas, efetivamente, considera que a mãe é seu principal apoio. Os avós, que no passado lhe davam todo apoio, faleceram. [...] eu perdi a confiança dos meus tios, por motivo de droga... porque eu chegava em casa, sempre roubava uma coisa de dentro de casa pra comprar droga... foi perdendo a confiança né, não posso mais entrar dentro da casa deles, eles não permitem mais que eu entre. (“L”) “F” , em sua entrevista, quase não fez referência à sua família ampliada. Apenas citou que sua avó lhe foi uma pessoa importante, como presentemente é a mãe. E também referiu-se à tia alcoolista que vivia embriagada, causando incômodo. 30 Assim, para 3 dos 4 sujeitos entrevistados, a família ampliada se revela uma fonte de apoio e de culpa, na medida em que se sentem responsáveis pela relação hoje instituída de ausência de confiança. Representa ainda um desafio e um estímulo ao abandono da dependência, visando o resgate da relação anteriormente existente. 2.5.2.3 Relação com os amigos Na adolescência, a influência do grupo de amigos é muito forte e pode induzir o jovem, na busca de identificação, ao consumo de drogas, mesmo que isto leve ao confronto com preceitos familiares e com o sistema legal que rege a sociedade (SIMÕES, 2006). Entre os quatro sujeitos entrevistados há dois pontos em comum: vínculo com a droga e maioria de amigos usuários de drogas. Quanto ao vínculo com a droga, significa que eram conhecidos que só se encontravam para usar droga, sem que houvesse entre eles uma relação de amizade mais profunda, determinando uma sociabilidade, afetividade, recreação e um relacionamento interpessoal prejudicados pela dependência de drogas psicoativas, situação recorrente na vida de muitos jovens (SCIVOLETTO, 1999). O outro ponto em comum é o fato de que a maioria de seus amigos eram usuários de drogas. Outro aspecto relevante é terem chegado à droga ilícita através do grupo de amigos usuários, que geralmente se tornam facilitadores ao uso de droga. “J” relatou ter iniciado o uso de drogas por ocasião da morte de sua mãe, que o deixou em profundo estado de tristeza e depressão. Nesta época conversou de sua situação com um amigo usuário, que lhe sugeriu como solução para seu problema o uso de cocaína. “J” gostou e daí por diante passou a usá-la como fuga a qualquer problema que se apresentasse. Frente ao estresse ocasionado pelo enfrentamento de mudanças imprevisíveis, como acidentes, mortes, doenças, separações, desemprego, etc., toda família, ao longo do ciclo vital, passa por situações disfuncionais, que podem, inclusive, ao uso de droga (MALUF e PIRES, 2006). “F” sentia-se inferior e depressivo por ser pobre, por ter uma deficiência visual e um ambiente familiar conturbado. Morava perto de um local onde se reuniam jovens, que formavam “tribos” de usuários de drogas, “F”, por admirar o estado de descontração e o estilo de vida desses grupos, procurou e conseguiu ser aceito por eles, aderindo ao seu estilo de vida, inclusive o uso de drogas ilícitas. Iniciou o uso com maconha, e, com isso, compensou seu sentimento de inferioridade. O estado de baixa auto-estima e de inferioridade, que 31 acomete alguma pessoas, faz com que eles sejam mais influenciados pelo grupo no que concerne a atitudes e estilo de vida, e, portanto ao consumo de drogas (SCIVOLETTO, 1999). “A” sentindo-se desorientado e rejeitado pelo pai, após a separação deste de sua mãe, além de deprimido pelos maus tratos que o padrasto lhe impunha, procurou refúgio no seu grupo de iguais. Para ratificar sua aceitação pelo grupo, aceitou experimentar a maconha que lhe era oferecida. Gostou e continuou usando e, ao contrário de seus amigos de grupo, não conseguiu mais parar. Segundo Freitas (2002), o grupo de amigos é, para o adolescente, um espaço de experimentação; a experiência vivida no grupo pode ser muito útil, mas dependendo do ambiente familiar pode ser o caminho para o uso de drogas. E, de acordo com Santos (2004), diversos fatores podem motivar o jovem a fazer uso continuado da droga e tornar-se um dependente. Hoje em dia, “A”, em tratamento sob regime de internação, reformulou seu conceito de amigo, referindo que à amizade como relação que envolve compartilhamento, apoio e compreensão. Acho que eu tinha uns onze anos... na maconha. Por causa dos meus amigos, né, manu, os caras começaram a falar (risos) que eu era vacilão,... é...pé de breque e tal... aí pra mim não me sentir por baixo... eu já,... já fui, já usei também né manu,... pra se igualar a eles, né, manu,... aí depois daí, só que eles paravam, eu não parava,... eles paravam eu não parava, eu continuava (risos), né, manu,... se fosse pra mim, eu usava o dia inteiro maconha [...] sempre tem um de quatorze, quinze, que já te... te influencia um pouquinho no negócio também né,...tu não vai sozinho também, né: ‘fuma aí manu, o bagulho é da hora e tal, dá um peguinha pra tu ver como que é’,... aí tu vai até por curiosidade, por... que nem eu falei, pra não se sentir por baixo, vai e fuma e vê como que é, né, manu,... [...] se tu gostar, aí já era,... tu não para [...] a curiosidade é um ponto que vixi... me pegou lindo... os caras, vê os caras daquele jeito rindo,... brincando um com o outro e tal, e tu ali serião, só olhando pras caras dos caras ‘caraca, parece que aqueles caras tá bobo, só porque fumou um bagulho enrolado num papel e tal manu, o que que deu na cabeça desse caras? Eu quero ficar assim também’, aí vai e fuma pra ver como que é... [...] (“A”) “L”, por ausência do pai e descuido da mãe, foi criado até os oito anos sem limites, regras e sem um modelo de identificação masculina. Com a volta de seu pai ao convívio da família, deparou-se com uma figura agressiva, autoritária e sem afetividade, passando a buscar no grupo de amigos aceitação, modelos de identificação e um estilo de vida, que incluiu o uso de drogas psicotrópicas. De acordo com Fender (1996), estudos indicam um modelo de famílias de farmacodependentes masculinos, em que a mãe desempenha um papel superprotetor, indulgente e totalmente permissivo com o filho dependente, considerando-o o filho favorito. O pai foi descrito como ausente, com relacionamento ruim com o filho e disciplina incoerente. Gostei, da maconha eu gostei, porque [...] fiquei rachando o bico, dando risada... gostei bastante [...] Foi num campo, num campo perto de casa, com um amigo. 32 Estava jogando bola tudo, eles estavam fumando... e meu amigo me chamou, aí eu fui e fumei. (“L”) Ah, quando eu discutia com o meu pai, quando me agredia com palavras ou com pancadas, aí eu saia de casa e usava mesmo... usava mesmo, encontrava um amigo, me chamava pra usar droga eu nem pensava duas vezes... demorou, vamos que vamos, usava mesmo. (“L”) Na fala de todos, o grupo de amigos ganha uma importância significativa para a entrada no uso de drogas, não só porque por possibilitar a identificação com os pares e a valorização da auto-estima, mas também por preencher o vazio afetivo na relação com as figuras parentais. 2.5.2.4 Relação com o trabalho O trabalho pode ser considerado o alicerce necessário para a inserção da pessoa na sociedade com garantia de uma vida digna à sua família. Sob esta ótica, o desemprego pode se constituir num fator de risco associado à delinqüência, criminalidade, à doença e ao uso de droga. Entre os sujeitos entrevistados, com exceção de “J” que sempre trabalhou, os demais não têm um bom empenho nesse quesito. “L” nunca trabalhou, “F” nunca se firmou em qualquer trabalho pelo fato de ser usuário de droga e “A” trabalhou por curto espaço de tempo de forma regular e se envolveu com trabalhos de natureza ilegal, representados por tráfico e produção de drogas. [...] Eu estava na refinaria de crack né cara... a gente embalava crack, fazia né, eu preparava, a polícia chegou, invadiu... apesar que era um... pra mim eu penso que era um trabalho, pensava que era um trabalho, meio clandestino, mas era onde eu tirava um dinheiro ali né meu. (Sujeito “A”) Neste sentido, para os sujeitos, o trabalho não representou a possibilidade de inserção social adequada, sendo que para um deles foi elemento facilitador à entrada e à dependência da droga. 2.5.2.5 Relação com a escola A evasão escolar e a baixa escolaridade são considerados fatores de risco ao uso de droga. Sob esta ótica, a situação escolar das pessoas em geral e, em particular, dos sujeitos entrevistados, assume importância significativa. 33 “J” e “F” concluíram o Ensino Médio. “L” tem como objetivo completar o ano final na FEBEM (1ª e 2ª séries). “A” tem uma situação escolar sofrível, pois estudou apenas até a 3ª série, mas pretende retomar os estudos. Graças a Deus estou quase terminando meus estudos, graças à FEBEM também né, porque se eu não estivesse ido pra lá, eu estava no que? Na 8ª série ou no 1º”. (Sujeito “L”) Ah, minha vida escolar foi o seguinte, estudei né, o primeiro, a segunda,... terceira eu já fiz supletivo, né cara, mas não terminei... fui até a terceira, não consegui fazer a quarta, não terminei, né, manu,... é que eu bolava muita aula, né, manu, tipo assim, a minha mãe não tinha tempo de ficar me olhando eu...ou ela ia trabalhar, ou ia ficar me olhando ir pra escola, então acho que é... eu não estudei por causa disso cara, que minha mãe também nunca pegou no meu pé pra esse tipo de coisa, de escola e tal... (Sujeito “A”) A escola aparece para os quatro sujeitos como um aspecto importante para a retomada da vida após a superação desta fase de dependência, como um elemento associados ao desenvolvimento de vida. 2.5.2.6 Relação com a droga Sob o efeito da droga, o dependente se sente valorizado, alegre ou menos triste e passa a sentir prazer em suas vivências do cotidiano. Diante deste quadro, o dependente utiliza a substância psicoativa como um remédio, interpretando como resolvida sua situação angustiante de antes (SILVEIRA E MOREIRA, 2006). O triste se sente alegre, o feio se sente bonito, o medroso se sente corajoso, o inibido se sente desinibido. Esta tentação paradisíaca é o alvo que o usuário de drogas busca para resolver todos seus males e explica porque a droga psicotrópica se constitui numa tentação de difícil renúncia. Sobre a “relação com a droga”, os sujeitos entrevistados fizeram as seguintes referências: para “A” é só prazer e alegria, sem tristezas e medos; “J” se refugiava na droga por qualquer problema; “F” fugia dos problemas pessoais e “L” buscava nas drogas o esquecimento. [...] Então, como eu te falei, né, comecei usando maconha,... eu tava na praia e... fumar, gostei manu (risos)... gostei, me senti no mundo da lua, né, meu, cheguei a... pisava meio em falso, comecei rir do nada,... sozinho, depois pra cocaína,... nas festinhas mesmo a noite e tal,... é sempre bom tu sentir a língua adormecer, o dente adormecer e tal, achava bom, sentir adrenalina,... no teu sangue, né, manu, não sentia medo de nada também,... se fosse pra tu matar, tu matava, se fosse pra... pra 34 roubar tu roubava, se fosse pra brigar, tu brigava, não tinha tempo ruim, né, manu,... pra louco nunca tem tempo ruim, né, sempre... [...] (Sujeito “A”) Ah, eu meio que me escondia na droga, né... minha fuá era a droga, meu problema era a droga, qualquer probleminha já ia pra droga. (Sujeito “J”) [...] Meu problema era querer descontar meus problemas na droga simplesmente,... de não querer superar meus problemas, queria superar na droga... queria usar droga pra esquecer meus problemas... uma enfermidade, uma desilusão amorosa... problema com a minha mãe, minha família, problema particular, brigas...[...] (Sujeito “F”) [...] eu me refugiava nas drogas pra esquecer... ai chegava em casa, já estava tudo bem, escutava mais um pouco, aí saia pra, rua ia usar droga, voltava e dormia, e no dia seguinte a mesma coisa [...] (Sujeito “L”) No contexto da relação com a droga, cabe destacar, entre os quatro sujeitos entrevistados, o caso particular de “A” que sofreu os efeitos de duas overdoses, que por muito pouco não teve como efeito final a morte. Ah, coisa ruim que tenha acontecido na minha família, acho que foi... que foi eu, né, manu, dando trabalho pra minha mãe, né, cara, sempre dando desgosto pra ela e tal né,... [...] quando ela pensou que eu ia morrer né cara, quando eu tive, tive uma primeira overdose, minha língua enrolou toda, eu comecei a babar na frente dela ainda,... eu usava dentro do quarto né,... ai eu sai, assim, de dentro do quarto e já caí nos pés da minha mãe mesmo, manu,... falei: ó mãe, perdão, eu vou morrer e tal, e comecei a tremer, babar, muito feio... não gosto nem de ficar lembrando muito entendeu, porque vem tudo na cabeça,... acho que foi uma coisa ruim pra minha mãe, ali, vê que um filho dela ia morrer nos pés dela [...] A minha segunda eu tava... tava usando em cima da laje,... aí eu levantei, tinha me dado um branco... fui descendo a escada assim, caí, rolei da escada e tal manu,... minha irmã escutou o barulho, foi ver o que que era, eu tava lá no chão, eu lá... mas eu nem me lembro como... como que foi, eu só me lembro de ter acordado no hospital só”. (Sujeito “A”) Em famílias onde não existem limites precisos e seus membros não conhecem perfeitamente seus papéis, torna-se difícil para o jovem assimilar que esta lhe dará segurança e que suas necessidades serão atendidas (SCIVOLETTO, 1999). Temos visto esta falta de limites em diferentes casos, bem como a sua conseqüência – a procura de limites. Necessária para o desenvolvimento, essa procura aparece sob formas extremas, como podem ser as experiências drogadictivas com sobredose, que tem um significado claramente suicida. Nelas, paradoxalmente, a morte – o último limite – é procurada em virtude do pânico que produz o vazio insuportável de uma desintegração psicótica (KALINA, 1999, p.70) “A”, assim como todos os outros entrevistados, temem uma recaía após o tratamento e, em conseqüência, voltar à vida de antes, sobre o domínio da droga. Com isto, a destruição de seus projetos de vida, um sonho que todos têm. [...] medo de sei lá, voltar a usar droga de novo, eu penso bastante nisso, né, manu. Quando eu saio na rua assim, eu fico olhando, porque a gente costuma... bastante tempo trancado aqui dentro, né, quando você sai pra rua, você vê as pessoas, vamos 35 supor... num bar, tomando cerveja e tal, né, manu, você pensa em... olhar, dá vontade daquilo tudo, de ficar ali no meio e tal, né, manu, mas você sabe que não pode, você sabe que isso daí é... você fazer isso, sua doença vai ativar de novo, você vai caí, vai começar tudo de novo, vai começar do zero, começar a mentir, começar a ser desonesto com as pessoas e tal. Então esse é o meu maior medo, né, cara, voltar a usar droga, voltar pra vida que eu tinha... entendeu, meu maior medo mesmo, bater de frente com a minha doença, esse é o meu maior medo. (Sujeito “A”) O tempo que eu tô aqui, eu tive poucos problemas viu... até hoje não tive vontade de ir embora... [...] como outros companheiros têm, tem dia que acorda e fica com vontade de ir embora... eu não sei nem o que está acontecendo comigo, né, porque eu estou tão tranqüilo, né... estou legal, estou bem, estou gostando de ficar sóbrio né, minha lucidez está voltando, né, levando essa vida regrada, né, eu gosto disso... apesar de gostar de droga também, levar uma vida sadia também é legal. [...] Bom, o meu medo é de repente eu chegar lá fora e usar droga, né, eu não quero isso mais pra mim... apesar de estar consciente, achar que não vou usar, mas sei lá... pode acontecer, o meu medo é esse... [...] (Sujeito “J”) [...] Pretendo mudar de vida, arrumar um trabalho, nunca mais colocar droga na boca ou no nariz. [...] terminar meus estudos, né, dar continuidade, né, e arrumar um trabalho, né, porque eu nunca trabalhei na vida... sempre ganhei dinheiro fácil e isso nunca me levou a nada, só prejuízo... só cadeia, cadeia... Febem... então eu quero sair dessa vida... não agüento mais, ficar preso... estou de saco cheio, né, mano, passei quase meu tempo todo trancado, não curtir nada, então eu realmente enxerguei, né, mano, que não vale”. (Sujeito “L”) O medo de decepcionar as pessoas, de eu estar bem, feliz, e voltar ao meu próprio vômito, né, voltar tudo o que eu era antes, oportunidade de trabalho e minha vida financeira, isso que está me preocupando. [...] Medo de ficar velho e de não ter um filho, ficar pra tio, não ter uma família... eu tenho esse medo ainda. (Sujeito ‘F”) A droga representa para eles uma ameaça constante, um inimigo que os domina e com o qual precisam lutar o resto da vida para retomar o controle da própria vida. 2.5.2.7 Auto-imagem A auto-imagem pode ser definida como os conhecimentos e sentimentos que se tem a respeito de si mesmo. Pode ser formada a partir das próprias observações das vivências e do agir e das condutas próprias, ou ainda por diferentes formas de avaliação por outras pessoas. (DORSCH, 2001) Uma auto-imagem depreciada pode levar a transtornos depressivos, que podem se associar a diversos fatores de risco, entre os quais o uso de drogas. Em relação à auto-imagem dos sujeitos entrevistados, reveladas em seus discursos, constatou-se as seguintes referências: “F” sente-se interior, “A” coisa ruim e destruidor como o crack, “L” se sente como terrível, triste e fracassado, e “J” não fez referência a auto-imagem. 36 [...] Eu tinha depressão quando era mais jovens... me trancava no quarto... mas era depressão momentânea, né, porque chegava fim de semana, tinha a balada e eu curava minha depressão [...] acho que veio da minha rebeldia, de eu ser um cara rebelde, inferioridade porque eu era um cara pobre e os outros eram ricos e por complexo...[...] (Sujeito “F”) [...] porque... eu sempre fui assim, sempre fui devasto, sempre destruir tudo que vinha pela frente [...] o crack é devastador né manu, bastante destruidor mesmo[...] (Sujeito “A”) Derrotado mano, triste, vazio... fracassado... (Sujeito “L”) Isso mostra que, com exceção de “J” que não se refere há percepção que tem de si mesmo, todos têm uma auto-imagem negativa, de inferioridade, fracasso e destruição. A correlação desses aspectos presentes no discurso dos sujeitos entrevistados revela uma forma influências dos amigos na entrada no uso de drogas, que se agrava para a dependência em função de dinâmicas familiares onde predomina o vazio emocional e a ausência real e simbólica das figuras parentais. Escola e trabalho se mostraram inoperantes no sentido de evitar o agravamento da situação vivida pelos sujeitos, o que acabou por prejudicar sua auto-imagem, e tornando-os “presas” fáceis do “monstro” ameaçador das drogas. 2.5.3 Núcleos de Significação das Famílias Sujeito 1 – “M.R.”, mãe de “A” Núcleos de Significação Motivação do uso da droga O uso da droga e a relação familiar Uso da droga Significado da dependência para família Indicadores - influência de amigos - preocupação - perdida - mais trabalho para toda família Sujeito 2 – “S.”, tia de “J” Núcleos de Significação Motivação do uso da droga O uso da droga e a relação familiar Uso da droga Significado da dependência para família Indicadores - ausência paterna e morte da mãe - rejeição da família ampliada - sujar nome da família - preconceito 37 Sujeito 3 – “H.”, mãe de “L” Núcleos de Significação Motivação do uso da droga O uso da droga e a relação familiar Uso da droga Significado da dependência para família Indicadores - curiosidade - o pai - desmoralizado - doença - aprendizado - provação de Deus Sujeito 4 – “R.”, irmão de “F” Núcleos de Significação Motivação do uso da droga O uso da droga e a relação familiar Uso da droga Significado da dependência para família Indicadores - má companhia - estrutura familiar - brigas constantes - fica anestesiado - perde a moral - dar trabalho para família 2.5.4 Análise do discurso dos familiares dos sujeitos 2.5.4.1 Motivação do uso da droga Os familiares de “L”, “J” e “F” consideram que os entrevistados começaram a usar drogas motivados por problemas na família. No caso de “L”, a motivação é associada aos procedimentos educativos inadequados do pai. Como exemplo, cito o fato de trancar o filho em casa para convencê-lo a chegar da rua no horário pré-estabelecido. Trata-se de um ato coercitivo da parte do pai, que resulta em revolta do filho. [...] não deixar ele sair de casa muito, porque não tinha palavra, não chegava na hora certa. (Sujeito “H”) Muitos pais se esquecem de que também é necessário escutar, pois é escutando que se conhece e compreende a problemática do filho (ABERASTURY, 1981). Segundo Levisky (1995), para alcançar o nível de diálogo, os pais têm que ter paciência e tolerância. 38 Saber ouvir é muito importante e também não se importar, em demasia, se sua fala está sendo integralmente ouvida. No caso de “J”, a tia atribui o uso à morte da mãe e à atitude de rejeição do pai pelo filho. Pesquisas de Bergeret apud Toscano (1991b), identificaram várias anormalidades nas famílias dos usuários de drogas, tais como: alcoolismo do pai ou mãe; morte de um dos pais ou ambos; separação dos pais; relacionamento ruim do adolescente com o pai ou mãe; estados depressivos, etc. No caso de “F”, o irmão atribui o uso ao pai que sempre foi ausente e às brigas constantes entre a mãe e o padrasto. Os familiares de “F” e “A” consideram que os entrevistados foram levados ao consumo de drogas pela influência de amigos. No caso de “L” a mãe também atribui a curiosidade de “L” como motivação à experimentação da droga. Ah! Péssimas amizades, péssimas, péssimas... desde muito cedo. [...] Foi os amigos, porque o meu filho é um bom menino... não é por ser meu filho não... porque mesmo ele usando as drogas dele, ele nunca foi de roubar, ele nunca foi de assaltar, ele nunca foi de fazer nada errado, ele sempre trabalhou... quando ele não tinha dinheiro, ele não me pedia, mas ele é um bom menino... o que estraga foi as amizades, é levar a usar as drogas, e chamava pra sair, ia na porta de casa, se pendurava no muro, até passava pra dentro do quintal... eu tinha que correr com muitos da minha porta. [...] É... as amizades influencia... vai na porta dos pais... é um desespero pras mães. (Sujeito “M.R.”) Nestes discursos aparece tanto a influência da dinâmica familiar como dos amigos para a entrada nas drogas. 2.5.4.2 O uso da droga e a relação familiar Os familiares dos entrevistados não apresentaram resposta em comum. Na associação entre uso de drogas e relação familiar a mãe de “L” se considera desmoralizada pelo fato do filho usar drogas. Afetou em tudo, porque a gente ficou com vergonha, nos sentimos desmoralizados, né... e por ser evangélica, o povo fala ‘ah filho de crente, filho de crente,’ né,... e afetou porque fiquei com vergonha, porque perguntavam do menino, né, a gente fica com vergonha, porque a gente fazia tufo para manter um padrão de querer manter tudo certinho e agora ele cai, né,... Ele começou a roubar tudo, né, daí falavam ‘ó lá o filho da crente ó lá’. Me afetou porque se fosse uma família unida, se ele não tivesse ido pra esse lado e estivesse trabalhando e estudando, nós estávamos felizes até hoje, né, e não tinha dado nenhum motivo para falarem da gente, né. (Sujeito “H”) 39 No caso de “J”, a tia pretende recebê-lo ao término do tratamento e apoiá-lo numa nova vida, todavia a família ampliada, em sua maioria, opina que ela não deve fazer isso e sim deixar que ele se vire sozinho. No caso de “A”, a mãe sente-se sobrecarregada, pois tem que arcar com todas as providências e despesas relativas ao filho. No caso de “F”, o irmão disse que a família nuclear se desestabilizou levando a desentendimentos entre os membros em conseqüência do uso da drogas. Olha eu digo que o uso de droga, nunca afetou assim o nosso relacionamento não, mas perturbou bastante a nossa paz pelo fato dele usar essas coisas que é errado, aí me tira assim a minha paz, a minha paz, mas eu continuo amando, gostando e tentando tirar ele disso. [...] a irmã ama ele. Tanto que ela tem a vidinha dela, a filhinha dela, mas onde esse irmão está, ela está presente. Foi lá pra ver o tempo todo, com barrigão, ela ama esse irmão dela... o que ela pode fazer pelo irmão. (“M.R.”) Em todos os discursos dos familiares fica claro o peso que o uso de droga traz para a família. 2.5.4.3 Uso da droga Nos casos de “F” e “J”, os familiares consideram que o uso de droga pelo entrevistado sujou o nome da família. No caso de “F” o irmão acha que o usuário fica anestesiado de seus problemas pessoais. O uso da droga é sempre um sintoma que acusa a dificuldade de lidar com a frustração. O acúmulo de frustrações pode conduzir a pessoa a uma total falta de aceitação com sua maneira de viver. O efeito desejado é sempre de um anestésico para a frustração e a angústia (FREITAS, 2002). Uma besteira, acho que é uma alegria momentânea, quando acaba fica angustiado, você perde sua credibilidade, sua moral, isso não é futuro pra ninguém... o que é gostoso é sair, mas consciente, saber o que está fazendo, agora a droga é momentânea, você fica anestesiado, as pessoas te olham de outra forma. (Sujeito “R”) No caso de “L” acha que é uma doença de Deus. No caso de “A”, a mãe sente-se perdida, desorientada. E então, eu me sinto assim perdida, eu me sinto perdida, e tudo que eu faço, e o que eu dou de mim, e o que eu trabalho, meu dinheiro eu gasto tudo com ele, às vezes eu não posso nem um alfinete pra mim não, mas eu estou sempre envolvida e tentando e tentando tirar ele da lamaçal que ele entrou... (Sujeito “M.R.”) 2.5.4.4 Significado da dependência para família 40 Os familiares dos entrevistados apresentaram respostas diferentes neste núcleo. No caso de “L” a mãe acha que é uma provação de Deus, que ela tem que passar por isso. No caso de “J”, a tia disse que existe discriminação pela família É muito chato... porque tem uma parte da família que não sabe que ele está internado... [...] discrimina e eu fico muito injuriada... agora estou um pouco mais afastada por causa das opiniões né... [...] (Sujeito “S”) Em geral o dependente químico é estigmatizado pela sociedade e desvalorizado como pessoa, a família sente-se constrangida, tenta esconder a drogadição do familiar e culpa os amigos (FENDER, 1996). Nos casos de “F” e “A”, os familiares responderam que o uso de drogas, pelos entrevistados, para eles significou mais trabalho e também para a família em geral. Que significado... no meu ponto de vista assim né... mexeu com a família toda, mexeu com a família toda, porque sobra pra mim, como mãe, depois vem, sobra pra P. (irmã de A.), se sobra pra P., sobra pro marido de P., a P. fica dependente daquilo aí já sobra pra filha de P. das vezes que ele fica sozinho então pra gente ir pra reunião, ou comprar alguma coisa, ou se envolver com os problemas dele... Sobrou pra nós que somos a família dele... eu, P., o cunhado dele... a sobrinha dele, a filha dele, eu acho que mexeu com todo mundo. (Sujeito “M.R.”) Nestas falas fica revelado que, embora a família coloque uma parcela da responsabilidade pela situação da dependência da droga nas relações familiares inadequadas, predomina a visão de que a droga é um mal exterior ao contexto familiar, que provoca destruição e afeta negativamente todos os membros, trazido em grande parte pela amizades, e para o qual poucas são as possibilidades de solução. 41 CONCLUSÃO Esta pesquisa alerta para a realidade de que vários fatores, interagindo entre si, podem conduzir o jovem ao uso de substâncias psicoativas, o que, na verdade, não constitui fato novo, pois é assunto estudado e comentado por vários especialistas há muitos anos. O objetivo foi verificar se a influência do ambiente familiar prepondera sobre a do grupo de amigos na iniciação ao uso de drogas psicotrópicas, no período da adolescência, através de entrevistas com os sujeitos e seus familiares. Os jovens pesquisados, antes de seu envolvimento com drogas psicotrópicas, passavam por momentos críticos em suas bases familiares, viviam em lugares de fácil acesso à droga e a maioria de seus amigos já utilizava a droga. Todos iniciaram o uso da droga no período da adolescência, momento de grandes modificações corporais, cognitivas, psicológicas e sociais, em que a sociedade cobra do adolescente uma nova postura de comportamento, por não ser mais considerado criança. O processo educativo, já a partir da infância, é fundamental na formação da identidade e da personalidade. Face a isto, há a necessidade de modelos identificatórios positivos e uma boa dinâmica familiar, onde a escuta e diálogo se tornam essenciais para o estabelecimento de limites e de valores éticos. Em suas falas, os sujeitos pesquisados revelam deficiência nesse processo educativo, o que os levou a uma condição suscetível de influências externas, pois passaram a buscar no meio e no grupo de amigos, modelos de identificação, para se sentirem seguros ou amenizarem suas angústias e frustrações. A origem dos problemas que angustiavam os sujeitos pesquisados e que os levou ao uso da droga se associou à base familiar. Em cada um dos casos estudados, os entrevistados, antes de sua iniciação, passaram por momentos estressantes, deixando-os vulneráveis à influência do grupo de amigos. No caso de “A” os pais são separados e o pai é ausente desde a separação do casal quando este tinha 5 anos. Apanhava do padrasto e culpa o pai por sua desorientação. Experimentou drogas porque não queria ser vacilão diante do grupo de amigos, ou seja, buscava ser aceito no grupo. No caso de “J” os pais se separaram quando tinha 6 anos, o pai se tornou ausente desde a separação, sendo a mãe sua fonte de apoio e proteção. Aos 15 anos, a morte desta o 42 deixou depressivo e desorientado. Não teve apoio do pai, por quem foi rejeitado desde criança. Experimentou drogas porque o amigo disse que isto o faria esquecer da mãe. No caso de “L” os pais vivem juntos, mas têm um relacionamento ruim, com brigas constantes. Até os 8 anos praticamente não conviveu com o pai, vivendo solto, sem regras ou limites. Com a chegada do pai ao convívio familiar, deparou-se com uma figura paterna autoritária e não afetuosa, o que lhe gerou raiva e ódio por ter tirado sua liberdade. Parece que não existia diálogo entre pai e filho e até hoje é assim. Usava drogas principalmente após cada discussão com o pai. No caso de “F”, quando tinha 8 anos os pais se separaram, e depois isso, o pai tornou-se ausente de sua vida. A mãe casou-se novamente, e o padrasto a agredia. Cresceu com complexo de inferioridade por ser pobre e deficiente visual. Onde morava havia muitas pessoas ricas, grupo ao qual queria pertencer. Fragilizado por esses transtornos e para sentirse igual àquele grupo, passou a usar drogas como fuga. Os quatro sujeitos pesquisados apresentaram em comum o convívio, desde a infância, com famílias desorganizadas, o que gerou prejuízos no desenvolvimento de suas identidade e personalidades e na formação de valores éticos, tornando-os carentes de afetividade e inseguros. Um quadro frágil para enfrentar as adversidades da vida e vulnerável a diferentes transtornos, um caminho aberto para o uso da droga. Nesta pesquisa, os quatro sujeitos revelaram experimentar drogas, tendo como motivação a fuga a seus sofrimentos interiores. Satisfeitos com a sensação artificial de onipotência provocada pela droga, passaram a fazer uso contínuo até chegar à dependência, com o objetivo de preencher todos seus vazios. Para manter esse mundo imaginário passaram a ter a necessidade de aumentar cada vez mais a freqüência e o consumo da droga. Estabeleceram um vínculo tão forte com a droga, que passaram a viver em função dela, diminuindo seus vínculos afetivos, e chegando a se isolar até dos próprios companheiros de droga. Os resultados da pesquisa, de caráter qualitativo, apontam que superar a dependência da droga é extremamente difícil, havendo necessidade de políticas bem estruturadas a nível governamental, com ênfase não só no atendimento do dependente, mas principalmente na prevenção. Instituições como escolas, empresas e a sociedade em geral devem contribuir nessa direção. 43 O estudo aponta que o apoio à família e a valorização do grupo de amigos são fundamentais no enfrentamento ao problema da dependência de drogas. E ainda que o investimento na educação, tendo como alvo a sociedade como um todo e, em especial, as camadas mais carentes, deve ser tratado de forma prioritária, pois a boa educação é o alicerce de uma sociedade sadia, onde relações humanas afetivas, solidárias e saudáveis representem a verdadeira forma de preencher o vazio existencial dos indivíduos. 44 REFERÊNCIAS ABERASTURY, Arminda. O adolescente e a liberdade. In: ABERASTURY, Arminda e KNOBEL, Mauricio. Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico. Trad. de Suzana Maria Garagoray Ballve. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. p. 13-23. AGUIAR, Wanda Maria Junqueira e OZELLA, Sergio. Núcleos de significação como instrumento para a apreensão da constituição dos sentidos. Psicol. cienc. prof. [online]. jun. 2006, vol.26, no.2 [citado 14 Outubro 2007], p. 222-245. Disponível na World Wide Web: <http://pepsic.bvs-psi.org.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932006000200006&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 1414-9893. Acesso:15/08/2007. ALVES, Hélio. Adolescência e drogas: uma pesquisa clínica. 1993. 143 f. Dissertação (mestrado em Psicologia Clínica) Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas. ALVES-MAZOTTI, Alda Judith e GEWANDSZNAJDER, Fernando. O Planejamento de Pesquisas Qualitativas. In:_____. O Método nas Ciências Naturais e Sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1998. p. 147-177. ANDRADE, Tarcísio Matos de e FRIEDMAN, Samuel R. Princípios e Práticas de Redução de Danos: Interfaces e Extensão a Outros Campos da Intervenção e do Saber. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 395 - 400. ARAÚJO, Marcelo Ribeiro e MOREIRA, Fernanda Gonçalves. História das Drogas. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 9 - 14. ARIÈS, Phillipe. História social da criança e da família. 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC – Livros Técnicos e Científicos, 1981. BARROS, Monalisa Nascimento dos Santos. O psicólogo e a ação com o adolescente. In: KOLLER, Sílvia Helena (Org.). Adolescência e psicologia: concepções, práticas e reflexões críticas. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Psicologia, 2002. p. 33-43. 45 BASTOS, Francisco Inácio e MESQUITA, Fábio. Estratégias de Redução de Danos. In. SEIBEL, Sérgio Dario e TOSCANO JR, Alfredo (Org.). Dependência de Drogas. São Paulo: Atheneu, 2001. p. 181-183. BOCK, Ana Mercês Bahia et al. Família... o que está acontecendo com ela?. In:_____. Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 13ª ed. reform. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 247-260. BOCK, Ana Mercês Bahia. A perspectiva sócio-histórica de Leontiev e a crítica à naturalização da formação do ser humano: a adolescência em questão. Caderno Cedes, Campinas, v. 24, n. 62, p. 26-43, 2004. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br>. Acesso em: 27 out. 2007. BUNING, Ernst. Vinte e Cinco Anos de Redução de Danos: A Experiência em Amsterdã. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 345-354. CALDEIRA, Zélia Freire. Drogas, Indivíduo e Família: um estudo de relações singulares. 1999. 52 f. Dissertação (mestrado em Saúde Pública) Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. CALIL, Maria Izabel. A constituição da subjetividade em menino de rua: análise de um caso na cidade de Santos. 2001. 163 f. Dissertação (mestrado em Psicologia Social) Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. CEBRID/ CENTRO BRASILEIRO DE INFORMAÇÕES SOBRE DROGAS PSICOTRÓPICAS. Livreto informativo sobre drogas psicotrópicas: leitura recomendada para alunos a partir da 6ª série do ensino fundamental. São Paulo: CEBRID, 2003. DIAS, João Carlos e PINTO, Izabel Martins. Substâncias psicoativas: classificação, mecanismos de ação e efeitos sobre o organismo. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 39-48. DONEDA, Denise e GANDOLFI, Denise. Estratégias de Redução de Danos. O Início da Redução de Danos no Brasil na Perspectiva Governamental: Ação Local com Impacto 46 Nacional. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 358-360. DORSCH, Friedrich et al. Dicionário de Psicologia Dorsch. Trad. de Emmanoel Carneiro Leão. Rio de Janeiro: Vozes, 2001. DUALIB, Cláudia. Acolhimento para familiares de Dependentes: um olhar sistêmico no trabalho com famílias. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 261265. ERIKSON, E. H. Identidade, juventude e crise. Rio de Janeiro: Zahar, 1987. FENDER, Suely Aparecida. A importância do envolvimento de familiares no tratamento de dependentes de drogas: uma experiência no PROAD. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e GORGULHO, Mônica (Org.). Dependência: compreensão e assistência às toxicomanias (uma experiência do PROAD). São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. p. 81-86. FREITAS, Luiz Alberto Pinheiro de. Adolescência, família e drogas: a função paterna e a questão dos limites. Rio de Janeiro: Mauad, 2002. GOMES, Luiz Flávio (Org.). Constituição Federal, código penal, código de processo penal Conceitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. GORGULHO, Mônica. Adolescência e toxicomania. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e GORGULHO, Mônica (Org.). Dependência: compreensão e assistência às toxicomanias (uma experiência do PROAD). São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. p. 149-167. HAIEK, Rita de Cássia e TRIGUEIROS, Daniela Piconez e. Estratégias de Redução de Danos. Estratégias de Redução de Danos entre Usuários de Drogas Injetáveis. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 355-358. KALINA, Eduardo et al. Drogadição hoje: indivíduo, família e sociedade. Porto Alegre: Artes Médicas Sul Ltda, 1999. KARAM, Maria Lúcia. Aspectos Jurídicos. In. SEIBEL, Sérgio Dario e TOSCANO JR, Alfredo (Org.). Dependência de Drogas. São Paulo: Atheneu, 2001. p. 529-536. 47 KNOBEL, Mauricio. A síndrome da adolescência normal. In: ABERASTURY, Arminda e KNOBEL, Mauricio. Adolescência Normal: um enfoque psicanalítico. Trad. de Suzana Maria Garagoray Ballve. Porto Alegre: Artes Médicas, 1981. p. 36-38. LACKS, Valéria e GUAGLIA, Giovanna. Término do tratamento. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p.129-133. LEVISKY, David Léo. Adolescência: reflexões psicanalíticas. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. MALUF, Thais P. Gracie e PIRES, Eugênia K. P. Orientação familiar: uma perspectiva do ciclo de vida familiar. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 266271. NEVES, José Luis. Pesquisa qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de Pesquisas em Administração, São Paulo, v. 1, p. 1-5, 1996. Disponível em: < http://www.ead.fea.usp.br/cad-pesq/arquivos/C03-art06.pdf >. Acesso em: 28 jul. 2007. NOTO, Ana Regina e SILVA, Eroy Aparecida da. Dependência química, adolescência e família. In: KOLLER, Sílvia Helena (Org.). Adolescência e psicologia: concepções, práticas e reflexões críticas. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Psicologia, 2002. p. 92-97. NOTO, Ana Regina e MOREIRA, Fernanda G. Prevenção ao Uso Indevido de Drogas: Conceitos Básicos e sua Aplicação na Realidade Brasileira. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 313 - 318. OLIVEIRA, Maria Paula M. T. de e TEDESCO, Solange. O Acolhimento. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 53 - 58. OLMSTED, Michael S. O estudo dos grupos. In: _____, Michael S. O pequeno grupo social. Trad. de Maria Ignez Guerra Molina e Célia Maria M. Fávero de Fravet. São Paulo:Editora Herder, 1970. p. 5-15. 48 RIBEIRO, Maurides de Melo. Aspectos Legais. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 469 - 476. SANTOS, Rosa Maria S. Prevenção de droga na escola: uma abordagem psicodramática. 4ª ed. Campinas: Papirus, 2004. SCIVOLETTO, Sandra. Abuso e dependência de drogas na adolescência. In: ASSUMPÇÃO JR, Francisco B. e KUCZYNSKI, Evelyn (Coord.). Adolescência: normal e patológica. São Paulo: Lemos Editoral, 1999, v.3. p. 125-147. SILVA, Ricardo de Oliveira et al. Justiça terapêutica: um programa judicial aos infratores envolvidos com drogas. In: PULCHERIO, Gilda, BICCA, Carla e SILVA, Fernando Amarante (Org.). Álcool, outras drogas & informação: o que cada profissional precisa saber. 1ª ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2002. p. 213-222. SILVEIRA, Dartio Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves. Acolhimento para familiares de Dependentes: um olhar sistêmico no trabalho com famílias. In: _____ (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 3-7. SIMÕES, Magali Pacheco. Adolescência e Uso de Drogas. In: SILVEIRA, Dartiu Xavier da e MOREIRA, Fernanda Gonçalves (Org.). Panorama Atual de Drogas e Dependências. 1ª ed. São Paulo: Atheneu, 2006. p. 283-284. SPROVIERI, Maria Helena. A família e o adolescente. In: ASSUMPÇÃO JR, Francisco B. e KUCZYNSKI, Evelyn (cool.). Adolescência: normal e patológica. São Paulo: Lemos Editoral, 1981, v.3. p. 49-59. TOSCANO JR., Alfredo. Um Breve Histórico Sobre o Uso de Drogas. In. SEIBEL, Sérgio Dario e TOSCANO JR, Alfredo (Org.). Dependência de Drogas. São Paulo: Atheneu, 2001a. p. 7 - 22. _____. Adolescência e Drogas. In. SEIBEL, Sérgio Dario e TOSCANO JR, Dependência de Drogas. São Paulo: Atheneu, 2001b. p. 283-301. Alfredo (Org.). 49 ANEXO Anexo A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido TERMO DE COMPROMISSO PROJETO “A influência do ambiente familiar e do grupo de amigos na dependência de drogas entre adolescentes”. ESCLARECIMENTO DA PESQUISA O principal objetivo desta pesquisa é verificar se a influência do ambiente familiar, em seus múltiplos aspectos, prepondera sobre a influência do grupo de amigos na iniciação da dependência de substâncias psicotrópicas. Esta pesquisa, de caráter qualitativo, utilizará levantamento de dados, disponíveis na instituição, sobre a história de vida do sujeito estudado, entrevistas individuais semi-abertas com o sujeito, com a família do sujeito e com os profissionais que atendem os casos. Dentre os benefícios da pesquisa para a sociedade, merece destacar que, os resultados obtidos fornecerão importantes subsídios para o estabelecimento de futuros programas primários, secundários e terciários de prevenção no ambiente familiar e escolar. Dentre os riscos que esta pesquisa pode oferecer aos participantes, esclarecemos que será mantido o sigilo sobre seu nome ou qualquer informação que possa identificá-lo. Sendo utilizado somente as iniciais de seu nome. Vale ressaltar que os participantes não terão ônus nenhum ao participar da pesquisa. E que o mesmo deverá estar sentindo-se à vontade para participar ou não da pesquisa, podendo desistir da mesma em qualquer etapa do processo. ________________________________ Ana Paula Passarelli Hermida Pesquisadora responsável ________________________________ Prof.ª Ms. Maria Izabel Calil Stamato CRP-06 2403/08 Orientadora responsável TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Declaro que li as informações citadas sobre a pesquisa, que me sinto perfeitamente esclarecido (a) sobre o conteúdo da mesma, assim como os seus riscos e benefícios. Declaro ainda que, por minha livre vontade, aceito participar da pesquisa cooperando com a coleta de dados. Nome do participante ou responsável: ________________________________________ ________________________________ Local e Data ________________________________ Assinatura do Participante ou responsável
Download