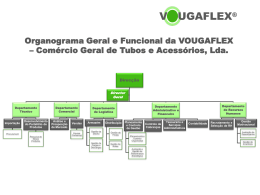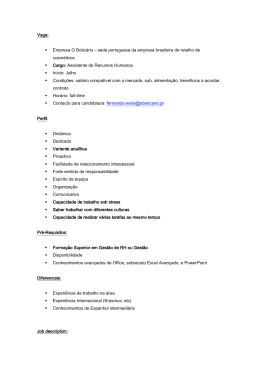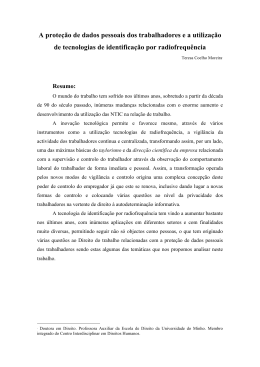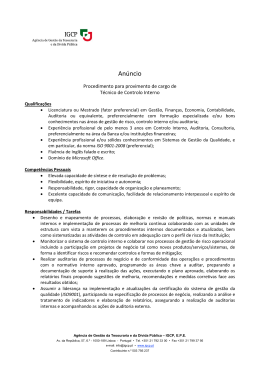1 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO PAULO SOARES 1. INTRODUÇÃO Recorrentemente, o tema da governação societária ganha renovado ímpeto sempre que ocorrem falências de grandes corporações – mesmo quando não existe evidência de que estas tenham sido “fraudulentas”. Neste contexto, têm proliferado desde os anos 90 do século XX os chamados “códigos de bom governo societário”, assim como novas e exigentes regulamentações nestas matérias. Mas será uma “boa” governação societária um factor eficaz na redução do risco de falência de uma corporação? Jensen e Meckling (1976), procurando resolver determinadas questões de inadequação da teoria da empresa, em face de problemas específicos derivados da relação de agência, procuraram demonstrar que o “principal” racional só estará interessado em incorrer nos custos inerentes à monitorização dos seus “agentes” até ao ponto em que tal monitorização lhe aumente a sua riqueza total. Com efeito, é fácil e intuitivo o reconhecimento de que um “cego” excesso de monitorização e de mecanismos de controlo provocaria afunilamentos e entropia nas corporações, o que seria contraproducente e contrário à racionalidade económica. Na verdade, podemos com segurança afirmar que os stakeholders de grandes corporações não estarão particularmente interessados em que estas sigam as melhores práticas de governação, se tal facto implicar uma significativa perda de competitividade ou, em última análise, a falência destas (ver, por exemplo, IFAC, 2004). Dito de outra forma, a conformidade com boas práticas de governação não pode constituir um fim em si, devendo antes equilibrar-se com a estratégia prosseguida pela organização e naturalmente com a sua cultura. O tema da governação societária possui e possuirá, certamente, uma importância notável na economia do século XXI. Convém, no entanto, clarificar que o estudo que serviu de base ao presente artigo (Soares, 2009), não procurou ser exaustivo no que diz respeito aos variados aspectos que o tema poderia suscitar, tendo antes procurado perspectivar alguns mecanismos internos (“organizacionais”) de monitorização implementados pelas corporações, os quais idealmente deverão proporcionar razoável eficácia na monitorização da sua governação societária. 2. PROBLEMA DA AGÊNCIA Berle e Means (1932), descrevendo a ascensão das grandes sociedades anónimas (de capital aberto) como instituição económica e social, fazem notar que o controlo deste tipo de empresas não é normalmente exercido pelos seus proprietários. Com efeito, neste tipo de empresa verifica-se normalmente uma acentuada dispersão na sua propriedade, pulverizada num elevado número de accionistas que não possuem capacidade efectiva de exercer influência sobre as 2 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 147 políticas da empresa da qual são proprietários. Por outro lado, verifica-se igualmente que o grupo de indivíduos que efectivamente controlam a empresa (por exemplo, aqueles que possuem poderes para nomear a maioria dos membros do seu conselho de administração) não possui, muitas vezes, uma percentagem significativa da sua propriedade. Estes autores não ignoram que o controlo pode resultar de vários graus de propriedade ou de poder sobre os direitos de voto, desde a detenção de todo ou quase todo o capital (situação correspondente à private equity corporation) até ao extremo oposto, o do controlo pela gestão (situação em que nenhum proprietário ou entidade possui poder de controlo significativo – deixando espaço, de acordo com estes autores, para uma “auto-perpetuação” do conselho de administração). É, pois, nestes termos que começa a ganhar forma na literatura científica o chamado “problema da agência”, colocado por estes autores sem no entanto se referirem a ele expressamente, ao concluírem que os interesses daqueles que controlam as “quasi-public corporations” (os quais, lembre-se, poderão ser os próprios gestores de topo – tipicamente os agentes na relação de agência) divergem provavelmente dos interesses dos respectivos proprietários (os quais constituem, tipicamente, o principal da relação de agência). Este problema, aliás, havia sido já observado por Smith (1776) no século XVIII, ao afirmar que os gestores/ controladores das Companhias de capital aberto da época (as “joint stock companies”) não as geriam com a vigilância cuidada que se esperaria de alguém que gerisse o seu próprio capital. Shleifer e Vishny (1997) afirmam que o problema da agência constitui um elemento essencial na chamada visão contratual da empresa, da qual Coase (1937) foi pioneiro. Para este último, a empresa constitui um conjunto de factores que, através de contrato, se submetem a uma direcção comum, constituindo uma “organização” produtiva alternativa ao mecanismo do mercado (sendo este último, por sua vez, composto por múltiplos contratos). Desenvolvendo este pioneiro enquadramento conceptual, Alchian e Demsetz (1972) fazem mais tarde notar que a contratação de pessoas para a execução de trabalhos em equipa, característica determinante nas empresas, leva a ganhos importantes de produtividade mas, em contrapartida, levanta dificuldades específicas. Com efeito, numa situação de equipa cada dono de recursos (membro da equipa) terá racionalmente um incentivo para contribuir menos do que teoricamente seria a sua parte, visto que na sua função económica de utilidade tem relevância tanto o rendimento auferido como o descanso usufruído. Ora, é precisamente para contrariar este problema, salientam os autores, que as empresas colocam supervisores e gestores a monitorizar o desempenho de equipas, facto que todavia não os impede de escrever a sua intemporal e muito citada frase: “Mas, quem irá monitorizar o monitor?” (Alchian e Demsetz, 1972, p. 782).. O tipo de problema descrito acima, que genéricamente podemos associar a uma divergencia inerente de interesses entre partes teoricamente cooperantes (por exemplo num cenário de trabalho em equipa), ocorre na verdade também no cenário que aqui mais nos interessa, ou seja naquele que relaciona proprietários e gestores de grandes empresas. Com efeito, neste último cenário, em que os gestores de topo se constituem no vértice de uma cadeia de monitores de equipas (vertida em cascata ao longo da hierarquia empresarial), os proprietários da empresa 3 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS possuem interesse em “monitorizar os monitores”, sob pena de estes poderem “fazer menos do que a sua parte”. Quanto à monitorização interna exercida pelo principal sobre os gestores de topo, Fama (1980) refere o board (conselho de administração) como mecanismo especialmente vocacionado para tal, em linha com o modelo de governação anglo-saxónico. Relevantemente para a conceptualização do board como mecanismo de fiscalização e controlo empresarial, Fama e Jensen (1983a) distinguem, dentro das quatro fases típicas do processo decisório empresarial – iniciativa, ratificação, implementação e monitorização – aquilo a que chamam de gestão decisória (decision management) e controlo decisório (decision control). Assim, a gestão decisória engloba a iniciativa e a implementação de decisões, ao passo que o controlo decisório engloba a ratificação das iniciativas e a monitorização da implementação das mesmas. Afirmam estes autores que aquilo a que a literatura chama normalmente de separação entre propriedade e controlo nas grandes corporações pode ser chamado, com maior adequação, de separação entre aceitação dos riscos residuais por parte dos quinhoeiros da corporação e a gestão decisória da mesma. As grandes corporações, argumentam, tendem a procurar controlar os problemas de agência que naturalmente se colocam com a referida separação, através da segregação entre a gestão (iniciativa e implementação) e o controlo (ratificação e monitorização) das decisões. A nível individual, cada agente decisor poderá estar envolvido na gestão de algumas decisões e no controlo de outras, porém não deverá exercer, teoricamente, gestão e controlo sobre as mesmas decisões. Julgamos ser agora oportuno esclarecer que a literatura que temos vindo a referir possui maior pertinência no contexto empresarial anglo-saxónico, em especial no que se refere ao pressuposto da existência de mercados sofisticados, capazes de garantir alguma monitorização externa às corporações, e também no que se refere ao pressuposto da existência generalizada de estruturas accionistas fortemente dispersas, nos moldes preconizados por Berle e Means (1932). Devemos desde já, todavia, reter que na verdade, a estrutura accionista mais comum a nível mundial tem pouco que ver com a “corporação Berle e Means”, já que na generalidade dos países verificamos que até as maiores empresas tendem a possuir accionistas controladores – o Estado, bancos ou, mais vulgarmente, uma família (La Porta, Lopez-deSilanes e Shleifer, 1999; Morck, 2005). Apesar disso, o problema de agência também se coloca nestas corporações, ainda que em moldes diferentes. Apesar de aqui os accionistas controladores efectuarem uma monitorização apertada dos gestores executivos (ou assumirem eles próprios os lugares de gestão de topo relevantes), nestas corporações passa a estar em causa a possibilidade de os accionistas controladores influenciarem as decisões empresariais seguindo os seus próprios interesses, em detrimento dos interesses dos accionistas minoritários. De acordo com Burkart, Panunzi e Shleifer (2003), ao nível teórico devem ser perspectivados num só conceito os dois conflitos “gémeos” essenciais para a compreensão da corporate governance: aquele entre os gestores e os accionistas externos, e aquele entre os grandes accionistas e os accionistas minoritários. Mesmo que estejamos em face de um grupo empresarial, ou seja um conjunto de empresas controladas por um centro de decisão comum, e independentemente da estrutura de propriedade – piramidal ou horizontal – utilizada para o controlo das empresas do grupo (Almeida e Wolfenzon, 2006), os mecanismos organizacionais de 4 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 149 monitorização possuem elevada relevância. Esta relevância terá ainda maior peso naqueles países em que a reduzida eficiência dos mercados torna difícil uma actuação eficaz dos mecanismos externos de monitorização, mesmo que aceitemos o argumento, algo paternalista ou pelo menos optimista, de que nesses países os empresários controladores evitam expropriar os accionistas minoritários, por pretenderem desenvolver uma reputação favorável no mercado de capitais (Gomes, 2000). Por outro lado ainda, os mecanismos organizacionais de monitorização deverão possuir relevância também nas corporações de capital fechado (private equity). Ainda que partilhássemos o optimismo de Jensen (1989) a respeito do potencial de redução dos custos de agência nos grupos empresariais de private equity fortemente alavancados –Leveraged Buy-Out (ou LBO) Associations – e no “renascer dos investidores activos”, não poderíamos deixar de notar que este tipo de organização levanta os seus próprios problemas de agência. Este é um facto que na verdade não passa despercebido ao próprio Professor Jensen, cujas palavras escritas no final dos anos oitenta do século XX sabemos hoje haverem sido significativamente proféticas: “O facto de as parcerias de LBO e os gestores das respectivas divisões controlarem a reduzida base de capital próprio da LBO Association, sendo todavia detentores de pouco do seu débito, crialhes incentivos para promoverem jogadas de gestão de alto risco. Se essas jogadas forem bem sucedidas, irão beneficiar de grandes recompensas ao aumentarem o valor das suas acções; se alguma dessas jogadas falhar, serão os credores a suportar grande parte do custo.” (Jensen, 1989, p. 19). Concluindo, são vários os tipos de corporação aos quais podemos com significativa funcionalidade aplicar os conceitos da teoria da agência, e nas quais os mecanismos organizacionais de monitorização possuem um interesse significativo. Ainda assim, não deveremos perder de vista que a teoria da agência proporciona-nos um modelo útil, mas necessariamente limitado na compreensão da governação societária. “A teoria da agência apresenta uma visão parcial do mundo que, apesar de válida, também ignora uma boa parte da complexidade das organizações.” (Eisenhardt, 1989, p. 71). 3. PERSPECTIVA INTEGRADORA DA MONITORIZAÇÃO ORGANIZACIONAL De acordo com Abdel-Khalik (1993), mesmo as organizações nas quais a propriedade e o controlo não estão separados encontram-se sujeitas, à medida que a empresa ganha alguma dimensão, a problemas semelhantes aos descritos pela teoria da agência, por vezes designados como problemas de moral hazard ou risco moral – porém num nível interno à empresa. A reduzida observabilidade nas hierarquias, nota o autor, abre espaço para o surgimento do risco moral e do oportunismo, que se consubstanciam em determinadas acções contraproducentes dos funcionários como o abrandamento do ritmo, a “tomada de atalhos” nos procedimentos, o consumo inadequado de recursos da empresa, ou mesmo a incorrência em esquemas fraudulentos. Nestas circunstâncias, de modo a obviar as consequências gravosas da inobservabilidade do comportamento dos subordinados, o proprietário/gestor poderá aperfeiçoar os mecanismos de controlo interno, por um lado, e promover voluntariamente a realização de auditorias 5 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS externas, por outro. Como é evidente, este problema da perda de controlo organizacional aplica-se aos restantes tipos de organização, onde exista separação entre a propriedade e o controlo. A perspectiva adoptada no presente trabalho apoia-se conceptualmente numa investigação de Andersen, Francis e Stokes (1993), na qual os autores se focalizam em determinados mecanismos de monitorização, que no presente trabalho se adjectivam como “organizacionais”. De acordo com esta perspectiva, uma monitorização adequada da governação societária resultará de uma “mistura” equilibrada entre três tipos de mecanismos principais, concretamente os órgãos ou comités de fiscalização societária, a realização de auditorias externas e a institucionalização de unidades organizacionais internas de monitorização (auditoria interna, gestão de risco e serviços de compliance1 ) eficazes. Em termos práticos, fazemos notar que a implementação deste tipo de órgãos ou departamentos constitui uma variável endógena às corporações, isto é resulta e pode ser influenciada pelas respectivas decisões e políticas empresariais. Deste modo, a política das organizações a respeito deste tipo de mecanismos internos poderá constituir uma ferramenta determinante para o aumento do respectivo valor. Todavia, tal influência poderá ser meramente aparente. Com efeito, uma monitorização efectiva por parte destes organismos implica dar expressão a um conjunto de profissionais dos quais se espera que desafiem o status quo da organização e que constituam um contrapoder relativamente à autoridade da gestão executiva – precisamente o grupo de governo que tem em princípio maior facilidade de influenciar determinantemente o estabelecimento dessas políticas. Mais ainda, mesmo que este paradoxo se resolva (por exemplo devido a uma elevada maturidade profissional e ética dos gestores executivos, ou devido à influência preponderante de accionistas controladores), a eficácia dos vários mecanismos de fiscalização e de controlo interno não é de todo um dado adquirido. 3.1 Os modelos de governação e a fiscalização societária Como já referido, as grandes corporações procuram reduzir problemas de agência através da segregação entre a gestão e o controlo das decisões (Fama e Jensen, 1983a). Foi igualmente referido que um dos mecanismos utilizados por estas organizações para concretizar essa segregação consiste na existência de “conselhos de administração que ratificam e monitorizam as decisões da organização mais importantes” (Fama e Jensen, 1983b, p. 332). Como é natural, muita da literatura anglosaxónica reflete a respectiva tradição em termos de modelo de governação, na qual (pelo menos em teoria) o conselho de administração (board of directors) não constitui um órgão de gestão, mas sim de monitorização. “Este órgão é tipicamente integrado por dois tipos de administradores. Os chamados administradores internos (insiders) e os administradores externos (outsiders). Os primeiros são, em regra, executivos e frequentemente fizeram carreira na empresa, ao passo que os segundos são, por norma, não executivos e sem ligação à estrutura interna da empresa. É suposto que os segundos sejam independentes dos primeiros e tenham como funções principais tomar decisões estratégicas, aconselhar, 1- Traduzidos como “serviços independentes de controlo do cumprimento” no Regulamento da CMVM n.º 3/2008 – Controlo Interno (Regulamento da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, órgão regulador do mercado de capitais Português). Por uma questão de comodidade mantém-se o anglicismo ao longo deste texto. 6 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 151 fiscalizar e avaliar a actividade dos administradores executivos.” (Silva, Vitorino, Alves, Cunha e Monteiro, 2006, pag. 22). Esta falta de segregação formal entre administradores que são também gestores de topo e administradores “de controlo” constitui uma característica distintiva do modelo de governação anglo-saxónico, podendo eventualmente ser considerada como o seu ponto fraco, uma vez que “(...) o conselho de administração não constitui um mecanismo eficaz para o controlo de decisões, a não ser que limite a discricionariedade de decisão dos gestores de topo.” (Fama e Jensen, 1983a, p. 314). Efectivamente, tem sido abundantemente notado na literatura de corporate governance que a influência da gestão executiva – e do seu Chief Executive Officer, em particular – é dominante em muitos destes conselhos de administração, o que tem colocado em causa a eficácia dos administradores não executivos neste modelo de governação. Sendo presentemente prática normal, em conselhos de administração anglosaxónicos, a delegação de funções especializadas a subconjuntos de administradores (comités), a constituição de comités de auditoria começou a ser incentivada nos Estados Unidos desde 1940, apesar de essa prática só se ter começado a generalizar a partir de 1967 (Pucheta e García, 2006). Idealmente compostos por administradores não-executivos e apropriadamente qualificados, é esperado destes comités que melhorem substancialmente a capacidade de monitorização dos conselhos de administração. Por outro lado, estes comités são vistos como os interlocutores ideais do conselho de administração para a comunicação com outros profissionais qualificados de monitorização (Bradbury, 1990). Um outro modelo de governação é aquele a que designaremos de modelo de governação continental, bastante divulgado na literatura anglo-saxónica como conselho de administração em duas camadas (two-tier board) em oposição ao conselho de administração anglosaxónico (one-tier board). O modelo continental possui profundas raízes no direito das sociedades Alemão, remontando a 1870 a obrigatoriedade da existência de um conselho de supervisão nas grandes empresas desse país (Hopt, 1997). Neste sistema existem dois órgãos de administração, que são o conselho de administração executivo (executive ou managing board) e o conselho de supervisão (supervisory board). O conselho de supervisão pretende constituir uma estrutura intermédia entre a assembleia-geral e o conselho de administração executivo possuindo, entre outras funções, um papel de fiscalização e de controlo dos administradores executivos e, por consequência, dos accionistas a quem esses administradores se encontrem ligados (Silva, Vitorino, Alves, Cunha e Monteiro, 2006). Hopt e Leyens (2004) fazem notar que apesar das diferenças formais entre os vários modelos de governação presentemente aceites a nível internacional, na realidade podemos observar uma convergência de facto entre eles, nomeadamente no que diz respeito à segregação entre a gestão e o controlo das sociedades. Apesar de pouco divulgado na literatura anglosaxónica, existe um terceiro modelo de governação, que designaremos por modelo latino. “(...) a fiscalização societária pode ser confiada a um órgão externo ao conselho de administração (o que, à míngua de melhor, recebe usualmente a tradução anglo-saxónica de board of auditors).” (Câmara, 2007, p. 186). Num estudo internacional relativamente recente, o modelo latino (designado como modelo tradicional em Portugal e em Itália) é descrito 7 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS da seguinte forma: “(...) o conselho de administração coexiste com um conselho de auditores elegido pelos accionistas, ao qual é requerido que supervisione a conformidade com a lei e a adequação das estruturas organizacionais, administrativas e contabilísticas.” (IOSCO, 2007, p. 7). O modelo latino é o que possui maior tradição no direito português, remontando à Carta de Lei de 22 de Junho de 1867 (Lei das Sociedades Anonymas), onde se estabelecia a obrigatoriedade da existência de um conselho fiscal em todas as sociedades anónimas, tendo este órgão sido inicialmente (no projecto de lei) designado por conselho de vigilância (Medeiros, 1886, p. 145). Até aí e desde o Código Comercial Português de 1833, as associações de capitais de responsabilidade limitada eram designadas por Companhias de Comércio e a sua criação dependia de autorização governamental (Mata, 1998). Num discurso efectuado na Ordem dos Advogados portuguesa nos anos quarenta do século XX, Ulrich (1941) exprime as dificuldades que se colocam ao Conselho Fiscal, as quais podemos generalizar a outros órgãos de fiscalização societária sem nos deixarmos de sentir um pouco surpreendidos com a actualidade das palavras nessa altura proferidas: “Se o Conselho Fiscal é complacente em demasia, de pouco serve, se é demasiado exigente, pode embaraçar a administração e prejudicá-la, assumindo até responsabilidades que lhe não competem. Acresce que geralmente as administrações têm uma larga influência nas assembleias gerais, o que só é conveniente para que dentro da sociedade exista perfeita unidade de acção e propósitos, mas daí resulta que os conselheiros fiscais devem com frequência à Direcção a sua escolha, o que compromete a sua independência.” (Ulrich, 1941, p. 21). Finalizando esta secção acerca da fiscalização societária, diremos que consideraremos aceite o pressuposto de que os vários modelos de governação societária são funcionalmente equivalentes (ver Câmara, 2007), e que é adequada e desejável a flexibilidade que determinados ordenamentos jurídicos concedem às suas organizações empresariais, no sentido da livre escolha do modelo de governação que entendam implementar – por exemplo, França, Itália (Hopt e Leyens, 2004), Japão e Portugal (IOSCO, 2007). Hopt e Leyens (2004) fazem notar, aliás, que apesar das várias diferenças formais que possamos distinguir entre os vários modelos de governação presentemente aceites a nível internacional, na realidade podemos observar uma convergência de facto entre eles, nomeadamente no que diz respeito ao tema da segregação entre a gestão e o controlo das sociedades. 3.2 Auditores externos e independência dos profissionais de monitorização O auditor externo (entenda-se, o “auditor financeiro independente” que efectua auditoria às demonstrações financeiras) é incorporado por Antle (1982) num modelo de agência de “dois agentes”, sendo um agente o gestor (modelo de agência “normal”) e outro agente o auditor externo. Neste modelo, admite-se que os gestores (agentes) produzem e facultam informação financeira aos proprietários da corporação (principais), a qual é utilizada por estes para avaliar o desempenho dos gestores – assumindo -se que observar directamente esse desempenho acarretaria demasiados custos (Antle, 1984). Deste modo, os principais contratam um segundo agente (o auditor externo) para efectuar a 8 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 153 confirmação da informação financeira preparada sob a autoridade dos gestores. Com efeito prevê a teoria da agência que “na ausência de verificação, a gestão possui incentivos para representar mal a situação financeira da empresa.” (Antle, 1984, p. 2). De uma forma bastante clara e sugestiva, García e Vico (2003) sintetizam as relações deste modelo “alargado” de agência da seguinte forma: “O auditor [externo] converte-se num agente que controla outro agente. Fica estabelecida uma relação triangular que se mantém aberta no lado que une gestores e auditores, pois apenas existem duas relações: entre gestores e accionistas, e entre auditores e accionistas. Nem os gestores prestam qualquer serviço aos auditores nem estes aos gerentes. (García e Vico, 2003, p. 34-35). Todavia, a eficácia do mecanismo “auditor externo-agente” não constitui um dado adquirido à partida, como afirmado por Watts e Zimmerman (1983). “Uma auditoria será bem sucedida na alteração de expectativas e consequentemente na redução dos custos de comportamentos oportunísticos (custos de agência) por parte dos gestores apenas se for expectável que o auditor irá reportar determinadas quebras contratuais que detecte. A probabilidade de que os auditores reportem uma quebra detectada é na verdade a definição de independência da profissão da auditoria externa.” (Watts Zimmerman, 1983, p. 615). e A teoria da agência constitui, assim, um enquadramento conceptual interessante também para a análise do problema da independência dos auditores (Antle, 1982; Antle, 1984). A questão da independência dos auditores tem sido longamente debatida ao longo dos anos, nomeadamente na literatura profissional da auditoria externa2, mantendo-se uma discussão de plena actualidade. Com efeito, “A opinião de um certified public accountant relativamente a uma demonstração financeira possui valor apenas enquanto aqueles que a lêem acreditem que aquela é a opinião de um perito independente, desinteressado e imparcial (...)” (Carey, 1947, p. 120). Como revelado na nossa anterior citação a García e Vico, os verdadeiros clientes3 dos auditores externos não são os gestores – que paradoxalmente, são aqueles que geralmente “contratam” com os auditores – mas sim os quinhoeiros da organização (ou, se preferirmos ser mais amplos, os seus stakeholders ou os utilizadores das demonstrações financeiras). É nesse sentido que a literatura profissional refere existir um componente de serviço público na auditoria externa – é o público que beneficia verdadeiramente, e não aqueles que contratam estes serviços. Ao longo dos anos, evoluiu na profissão da auditoria externa uma distinção entre independência de facto (uma objectividade do 2- Nos Estados Unidos identificam-se os profissionais autorizados a efectuar auditoria externa como CPA’s ou Certified Public Accountants (os quais, note-se, podem ou não ser associados ao AICPA – American Institute of Certified Public Accountants). Em citações iremos manter a designação original, devendo portanto estas expressões entender-se como sinónimas à expressão “auditores externos”. 3- Ao falarmos em “verdadeiros clientes”, referimo-nos a “cliente” no sentido de utilizador de um determinado serviço, o qual adquire esse serviço com vista à satisfação das suas necessidades. Este é o conceito de cliente que reconhece a qualidade de um serviço na medida em que este satisfaça as referidas necessidades. Alertamos, todavia, que na literatura da auditoria externa profissional a palavra “cliente” é utilizada em sentido diverso, pretendendo normalmente designar a empresa emissora das demonstrações financeiras a auditar (e não aquele que utiliza o serviço) – daí ser conveniente alguma precaução na interpretação do termo “cliente” neste tipo de literatura, em confronto com o termo tal como se utiliza no presente texto. 9 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS profissional que se coloca ao nível da ética, porém difícil de aferir) e independência na aparência (evitação objectiva de situações consideradas indiciadoras de falta de independência). Para Higgins (1958), é essencial que o auditor seja não apenas livre de qualquer impropriedade, mas também da respectiva aparência. Carey e Doherty (1966), por seu lado consideram consensual na profissão que a aparência de falta de independência pode ser tão prejudicial como a sua efectiva falta. Bazerman, Loewenstein e Moore (2002), todavia, afirmam que o problema profundo e mais pernicioso para a independência dos auditores externos é a sua vulnerabilidade à distorção inconsciente do seu julgamento. De acordo com os autores, mesmo os grandes escândalos contabilísticos, como o caso da auditoria da Arthur Andersen à Enron, poderão ter resultado mais deste tipo de problema do que de uma programação criminosa deliberada. “A investigação na área da psicologia mostra que os nossos desejos influenciam poderosamente o modo como interpretamos informação, mesmo quando estamos a tentar ser objectivos e imparciais.” (Bazerman, Loewenstein e Moore, 2002, p. 98). Sharaf e Mautz (1960) sugerem que a independência de um auditor pode ser avaliada através da análise de três dimensões – independência no planeamento, na investigação e no reporte. De acordo com o “teste” sugerido por estes autores, um auditor (interno ou externo) deverá ser considerado independente apenas se estiver livre de restrições ou de condicionamentos relativamente aos três aspectos, em simultâneo. O nosso interesse na questão da independência do auditor externo tem que ver concretamente com o facto desta ser essencial para a eficácia deste – e de qualquer outro, acrescentamos – mecanismo de monitorização. A questão da independência também se coloca, com efeito, quanto aos membros dos órgãos de fiscalização das grandes empresas descentralizadas, ainda que em diferentes moldes. Adams e Ferreira (2007) reconhecem que nos conselhos de administração, no âmbito do modelo de governação anglo-saxónico, as tarefas deste órgão colegial incluem não só a monitorização da gestão (em especial do CEO4), mas também o seu aconselhamento. Neste contexto, a “menor independência” do conselho de administração (no contexto do modelo de governação anglo-saxónico, lembre-se) poderá ser aproximada pela maior ou menor proporção de administradores não executivos, na medida em que os administradores não executivos estarão tipicamente mais envolvidos na sua função de controlo do que na de aconselhamento. Não obstante, esta relação que parece bastante razoável no plano teórico pode ser no mínimo adjectivada de discutível. A título de exemplo, Mace (1972) descreve a sua experiência com conselhos de administração no contexto anglo-saxónico, referindo-se da seguinte forma à selecção de novos membros outsiders (não-executivos) para o board: “Para além de qualificações provenientes dos seus títulos de prestígio em instituições prestigiadas – tanto empresariais como académicas –, os administradores nãoexecutivos são seleccionados por serem não-controversos, amigáveis, empáticos, congenéricos e 4- A sigla CEO (Chief Executive Officer) será mantida no texto, podendo ser traduzida como o chefe máximo da gestão executiva das grandes corporações. 10 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS por compreenderem o ma.” (Mace, 1972, p. 46). CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 155 siste- 3.3 Departamentos internos de monitorização 3.3.1 Sistemas de controlo interno e estratégias regulatórias Tradicionalmente, a expressão “controlos internos” tem sido utilizada na literatura profissional de contabilidade e auditoria financeira (externas) no sentido de controlos contabilísticos e financeiros, englobando nomeadamente um conjunto específico de medidas habitualmente tomadas pelas organizações – por exemplo a segregação de funções e políticas de autorização para a efectivação de determinadas transacções. Mais recentemente, esta literatura profissional expandiu a noção de controlo interno significativamente e utiliza definições bastante mais amplas para o conceito (Maijoor, 2000). Por outro lado, as auditorias externas têm passado a estar menos focalizadas nos testes substantivos tradicionais, para se focalizarem crescentemente na auditoria aos sistemas de controlo interno (para uma perspectiva desta evolução, e em particular da sua relação com o surgimento das metodologias do tipo BRA – Business Risk Audit, ver por exemplo Knechel, 2007; Power, 2007). De acordo com Maijoor (2000), dentro da literatura académica da contabilidade podem-se distinguir três áreas da investigação do controlo (interno): (1) controlo interno a partir da perspectiva da auditoria externa, (2) controlo interno a partir da perspectiva da teoria da organização; e (3) controlo interno a partir da perspectiva económica. Na perspectiva da auditoria externa, a literatura académica focaliza-se essencialmente nos controlos contabilísticos e financeiros tradicionais, preocupando-se com o modo como os controlos internos afectam a fiabilidade do reporte financeiro e, por conseguinte, em que medida o auditor externo pode nele confiar quando toma decisões acerca do seu programa de auditoria. A perspectiva da teoria da organização, ou perspectiva do controlo de gestão, utiliza um conceito de controlo mais amplo. Arrow (1964), por exemplo, refere -se ao problema de manter os membros de uma organização coordenados, de um modo que seja maximizada a função objectivo da organização – chamando-lhe o problema do controlo organizacional. De acordo com este autor, o problema do controlo organizacional é lidado pelas organizações através da escolha das regras operacionais para instruir os membros da organização acerca de como agirem, por um lado, e a escolha de regras de enforcement para os persuadir ou compelir a agirem de acordo com essas regras operacionais, por outro. Quanto à investigação acerca do controlo interno a partir da perspectiva económica, essa é, segundo Maijoor (2000), dominada pela teoria da agência. As medidas de controlo, de acordo com esta perspectiva, são ainda mais amplas, incluindo por exemplo mecanismos de monitorização e a implementação de sistemas de avaliação de desempenho e de recompensas. Este autor resume as três abordagens nas quais podemos perspectivar o controlo interno distinguindo entre controlos de baixo nível, controlos de nível médio e controlos de alto nível: “A auditoria externa está principalmente preocupada com os controlos de baixo nível relacionados com ciclos, processos e transacções específicos. O controlo de gestão focaliza-se nos problemas de controlo de departamentos e divisões, os quais se poderiam descrever como controlos de nível médio. A teoria da agência está principalmente preocupada com 11 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS os problemas de controlo dos administradores e fornecedores externos de capital, ou seja com os controlos de alto nível.” (Maijoor, 2000, p. 106). Spira e Page (2003) falam de uma reinvenção do conceito de controlo interno, o qual evolui tendencialmente para um conceito ainda mais amplo, o de gestão de risco. Como faz notar Knechel (2007), o conceito de risco era já utilizado pelos auditores externos, no seu modelo de risco de auditoria desenvolvido nos anos 1970. Mais ainda, também nos anos 70 o Foreign Corrupt Practices Act de 19775 impôs de forma expressa aos gestores que desenvolvessem e implementassem sistemas de controlo interno para reduzir vários riscos, especialmente aqueles que se relacionassem com o adequado reporte financeiro (Knechel, 2007). O conceito de risco em questão nessa altura era todavia restrito, correspondendo à perspectiva de controlo interno focalizado na área financeira. Um marco essencial na evolução desta relativamente restrita interpretação de risco e controlo foi a publicação do influente relatório COSO de 1992,6 o qual incluiu uma análise das características do controlo interno e uma estrutura conceptual para o seu estabelecimento e avaliação (Spira e Page, 2003). De entre outras estruturas conceptuais de controlo interno produzidas desde então (por exemplo COSO, 2004), o COSO de 1992 continua todavia a ser uma grande referência na avaliação do controlo interno de determinada organização. Este relatório identificou “(...) cinco componentes considerados necessários para um controlo interno eficaz, incluindo as circunstâncias (...) [da organização avaliada] (ambiente de controlo), a capacidade de identificar ameaças (identificação do risco), as acções tomadas para intervir (actividades de controlo), a manutenção dos controlos (monitorização) e a capacidade de coordenar tudo isto (informação e comunicação) (Knechel, 2007, p. 388). A “nova” focalização na gestão de risco associa -se grandemente à aplicação de um conjunto de técnicas e ferramentas para a identificação e resposta ao risco, mas também a um maior ênfase nos controlos de alto nível. Esta redefinição do conceito de controlo interno é também em grande parte resultante de uma tendência regulatória para aquilo a que se tem chamado a regulação baseada no risco – risk-based regulation (Hutter, 2005). Existem, todavia, diversas abordagens regulatórias à gestão de risco, dependentes de diversas abordagens e conceptualizações (Spira e Page, 2003). Coglianese e Laser (2003) fazem notar que os reguladores, além de poderem actuar sobre comportamentos e sobre os resultados das organizações sob a sua alçada, podem também utilizar um instrumento a que chamam regulação baseada na gestão (management-based regulation). Este tipo de abordagem regulatória abstém-se deliberadamente de especificar as tecnologias a serem utilizadas pelas empresas para atingir o comportamento socialmente desejável, e até mesmo de requerer resultados específicos em termos de objectivos sociais. Em lugar disso, impõe que as empresas se envolvam nos seus próprios esforços de planeamento e regulamentação 5- Trata-se de uma lei federal dos Estados Unidos cujos efeitos se estendem a empresas norte-americanas a operar em países no exterior. 6- Internal Control – Integrated Framework, pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 1992. As organizações patrocinadoras da Comissão Treadway foram a AICPA (American Institute of Certified Public Accountants), a AAA (American Accounting Association), o FEI (Financial Executives Institute), o IIA (The Institute of Internal Auditors) e o NAA (National Association of Accountants). Mais tarde o NAA dá lugar ao IMA (Institute of Management Accountants). 12 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 157 interna, os quais devem apontar para a consecução de objectivos públicos específicos. Estes autores especificam ainda que este tipo de regulação engloba um conjunto de processos, sistemas e práticas internas de gestão que os órgãos de autoridade pública requerem que as empresas coloquem em prática, nomeadamente a identificação de riscos, acções de mitigação do risco, procedimentos para a monitorização e correcção de problemas, políticas de formação dos funcionários, e medidas para avaliar e refinar a gestão da empresa relativamente ao objectivo social especificado. Note-se também que as empresas, neste tipo de regulação, são normalmente obrigadas a produzir e a manter em arquivo um conjunto de documentação, a qual pode ser mais tarde auditada. Parker (2000a) reconhece a regulação orientada para a conformidade (compliance-oriented regulation) como um relevante desenvolvimento da estratégia e política regulatória. Para esta autora, este tipo de estratégias regulatórias tentam moldar as empresas de forma a que os seus sistemas de gestão, processos operacionais e culturas organizacionais contribuam para a consecussão das metas regulatórias. Ainda de acordo com a autora, este tipo de regulação tende a encorajar a implementação de sistemas internos de corporate compliance como forma de responsabilizar as empresas no sentido de irem ao encontro de práticas desejadas, como por exemplo a adopção de códigos de conduta ou a manutenção de sistemas de registo e reporte de reclamações ou quebras de conformidade. Em todo o caso, como salientado pela autora, muitas empresas implementam voluntariamente programas de compliance, em resposta à sua percepção da existência de riscos de responsabilidade legal, quebras éticas significativas ou outros resultados adversos, como por exemplo uma eventual publicidade negativa – dito de uma forma mais genérica, actuando preventivamente para reduzir o seu risco de conformidade. 3.3.2 Unidades com funções de auditoria interna, de gestão de risco e de compliance Como notado por Adams (1994), na relação de agência o agente (entenda-se, a gestão executiva) possui interesse em dar sinais ao principal de que está a actuar de forma responsável e consistente com o contrato estabelecido, já que desta forma mantém estável a confiança que o principal nele possui, reduzindo o risco de este lhe efectuar ajustamentos adversos de remuneração. Este interesse constitui, então, uma das explicações para a instituição de unidades internas de monitorização – tipicamente unidades de auditoria interna, e mais modernamente as unidades de gestão de risco e de compliance. O papel das unidades internas de monitorização como prestadoras internas de serviços (e, por conseguinte, subordinadas) à gestão executiva (monitorizando os níveis de gestão inferiores) pode, em resultado das crescentes pressões para uma melhor governação societária das organizações, evoluir no sentido de uma maior responsabilidade na monitorização dos níveis hierárquicos mais elevados – tipicamente através de um acesso directo aos órgãos ou comités de fiscalização. Utilizando uma terminologia utilizada por Maijoor (2000) já descrita neste trabalho, pode emergir uma mudança na focalização destas unidades organizacionais, dos controlos de baixo-nível e de nível médio para os controlos de nível superior. Para Meulbroek (2002), a expressão “gestão integrada de risco” envolve a identificação e avaliação dos riscos que colectivamente afectam o valor de uma empresa e a implementação 13 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS de uma estratégia empresarial para gerir esses riscos. A existência de departamentos de gestão de risco remonta a algumas décadas atrás, ainda que com um conteúdo funcional bastante mais limitado, sendo nessa altura os gestores de risco incumbidos de supervisionar os termos dos seguros contratados pela sua organização (Gallagher, 1956). Uma ideia de interesse subjacente a estes departamentos de gestão de risco é, contudo, a existência de uma perspectiva transversal dentro de determinada organização, a qual permite uma actuação integrada e que ultrapassa visões departamentais parcelares. De acordo com Beja (2004), a partir dos anos 90 do século XX, “Passou a ser comum existirem departamentos de risk management, nos EUA e na Europa, desenvolvendo práticas internas de consultoria e apresentando-se como centros de excelência para difusão de procedimentos de avaliação de riscos e criação de uma cultura de consciência dos riscos, na globalidade da empresa.” (Beja, 2004, p. 84) Este tipo de departamento possui, nitidamente, características de monitorização, tanto mais quanto maior for o seu estatuto dentro da organização. De acordo com Hirth (2006), enquanto os conselhos de administração precisam de ter uma orientação para o risco quando revêem as estratégias, os planos, os relatórios, as operações e a conformidade, precisam também de saber que a gestão executiva possui uma estrutura implementada para eliminar hiatos e minimizar redundâncias nos papéis de gestão de risco, responsabilidades e autoridade. No que se refere às unidades organizacionais de Compliance, estas emergem naturalmente em corporações que operam em sectores de actividade fortemente regulamentados. “A expansão de programas de compliance e de gestão de risco nas corporações abriu uma nova jurisdição profissional, da qual emergem praticantes que se identificam como ‘profissionais de compliance’. A nova ocupação expande-se a não-advogados, incluindo gestores de recursos humanos, auditores, ex-advogados (...) e advogados que se especializam em questões relacionadas com compliance (...)” (Parker, 2000a, p. 555). Koslow (2005) lembra que na verdade todos os funcionários de determinada empresa são incumbidos de realizar actividades em conformidade com as políticas, procedimentos, e objectivos da sua organização – ou seja, são eles próprios que verdadeiramente têm de praticar o controlo interno no seu dia-a-dia. De acordo com Parker (2000b), “(...) os praticantes de compliance almejam facilitar e responsabilizar outros na empresa para que ‘façam compliance’, trabalhando com uma variedade de outros gestores e profissionais na empresa e fazendo a tradução da lei para senso comum. Muito significativamente, os profissionais de compliance procuram verter ‘em cascata’ a responsabilidade da conformidade pela hierarquia abaixo, de modo a que uma cultura de comprometimento com a compliance seja transversal na organização (...)” (Parker, 2000b, p. 346). A compliance deve portanto fazer parte da cultura de uma organização, não constituindo por conseguinte uma responsabilidade directa dos 14 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 159 especialistas desta área (a sua responsabilidade é portanto indirecta, de alto nível). Num estudo acerca de sistemas de compliance levado a cabo no ambiente regulatório Australiano, Parker e Nielsen (2006) dividem o conjunto de elementos estudados nesses sistemas em quatro grupos: 1. Sistemas para recolha e tratamento de reclamações. No estudo em questão, este era o tipo de sistema de compliance implementado em mais empresas. Tratamse de sistemas para a recolha e tratamento de reclamações de clientes, competidores ou fornecedores, ou ainda de quebras de conformidade identificadas por pessoas externas à organização. Englobam ainda a busca da opinião dos clientes em relação a novos produtos e à publicidade. Cada um destes elementos focaliza-se na obtenção e tratamento da informação providenciada pelo exterior da organização e que é relevante para efeitos de compliance. 2. Comunicação e formação. Nesta categoria, os autores englobam todos os modos pelos quais o comprometimento com a conformidade e com procedimentos e práticas específicos relacionados, são comunicados internamente pelos gestores de topo aos níveis hierárquicos inferiores, nomeadamente através de manuais, formação específica ou adaptações nos sistemas informáticos. 3. Responsabilização da gestão e ‘whistleblowing’. Aqui incluem-se mecanismos pelos quais cada gestor individual é responsabilizado pela conformidade através de relatórios regulares, assim como através da realização de auditorias e 7- Auditorias simplificadas. reviews7 efectuadas por profissionais. De acordo com os autores, tanto os requisitos de reporte de conformidade como de realização de auditorias e reviews do sistema de compliance indicam que a gestão de topo procura activamente saber o que realmente se passa em termos de conformidade nos níveis de gestão inferiores. A protecção dos whistleblowers (pessoas de dentro da organização que denunciam situações que consideram incorrectas) também se enquadra bem nesta categoria, porque também estas políticas e procedimentos sugerem que a gestão de topo quer ter consciência dos problemas e questões que envolvem a conformidade, e está disposta a dar garantias de confidencialidade e protecção a funcionários para assegurar que estes estarão dispostos a reportar essas questões. 4. Medição de desempenho de compliance e disciplina. No estudo aqui em referência, este grupo de elementos dos sistemas de compliance era o menos implementado nas organizações estudadas. Neste grupo os autores incluem a existência de indicadores específicos para a medição do desempenho (sob o ponto de vista da compliance), dos funcionários e da organização como um todo. Incluem também, por outro lado, o facto de os funcionários que incorrem em quebras de conformidade serem efectivamente disciplinados pela organização. Esta divisão, efectuada por Parker e Nielsen (2006) para efeitos do estudo que referimos, permite-nos concretizar um pouco o conteúdo dos sistemas de compliance que podem ser implementados nas organizações. 15 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS Em termos conceptuais, podemos também fazer uma divisão do conteúdo das funções das unidades organizacionais de compliance em três categorias, seguindo uma classificação proposta em Koslow (2005): funções de compliance nucleares (por exemplo, emissão de relatórios para cumprimento de aspectos legais e tratamento de reclamações); funções de compliance de apoio (formação, documentação de políticas e procedimentos internos, elaboração e utilização de avaliações de risco, análise e comunicação de novas leis e regulamentações); funções de compliance de monitorização (monitorização e análise contínua das actividades nucleares e de apoio, realização de testes periódicos e de auditorias internas formais e independentes). De acordo com este autor, “A governação efectiva de uma unidade de compliance ocorre quando uma empresa estabelece uma estrutura apropriada que facilite uma supervisão de significado sobre as várias funções de compliance ao longo da organização.” (Koslow, 2005, p. 1). Como é natural e em moldes semelhantes ao que já foi referido em anteriores secções relativamente aos outros departamentos internos de monitorização, “(...) a eficácia dos compliance officers é dependente de certas condições estruturais dentro da corporação, tais como a senioridade, independência e relações de reporte (...)” (Parker, 2000a, p. 559). 3.3.3 Unidades internas de monitorização: independência ou interdependência? De acordo com Parker (2000b), o conjunto tradicional de teorias relacionadas com a ética, disponível para orientação do aconselhamento de compliance, é o proveniente da profissão jurídica. Porém, afirma a autora, os conceitos tradicionais relativos à ética e papel dos advogados internos das empresas, nomeadamente os que se relacionam com a autonomia em relação ao cliente, não se acomodam facilmente à noção de um jurista preventivo. “Muitas pessoas, incluindo advogados (internos e externos à empresa), possuem algum poder de influenciar os objectivos da organização. Todavia, com esta capacidade também advém uma dependência do advogado em relação ao cliente, como funcionário para empregador e como cidadão da entidade organizacional, o que exige em alguma medida uma lealdade em relação aos objectivos da organização. Sem uma compreensão da interdependência e da partilha de responsabilidade, os modelos da profissão jurídica em relação ao papel e à ética dos profissionais não irão provavelmente apreender o papel diário do trabalho da conformidade preventiva. (Parker, 2000b, p. 343). De acordo com a autora, os novos profissionais de compliance baseiam a sua compreensão acerca do respectivo papel, dentro das organizações onde trabalham, nas suas múltiplas inter -relações com as autoridades de regulação e com as organizações que os empregam. Estes 16 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 161 profissionais vêem-se a si próprios como sendo em simultâneo cidadãos da empresa, e ao mesmo tempo cidadãos de uma comunidade ética mais vasta (que inclui os outros profissionais de compliance, os reguladores e os stakeholders da organização). Este conceito de profissionalismo, nota a autora, baseia-se mais numa ideia de integridade profissional do que na de autonomia ou independência profissional. Estes depoimentos de profissionais fornecem, apesar de corresponderem a ideais de profissão, uma conceptualização alternativa relativamente ao papel daqueles que aconselham as organizações acerca da regulatory compliance, a qual admite candidamente a realidade da interdependência – em oposição à ideia tradicional de independência. De acordo com os profissionais entrevistados pela autora, um bom trabalho de compliance implica que o profissional seja constantemente inventivo, encontrando formas de persuadir o resto da organização de que a actuação legal e eticamente responsável é também consistente com os objectivos do negócio. Várias das considerações feitas acima em relação ao profissional de compliance podem ser, em nosso entender, generalizadas aos profissionais dos outros mecanismos organizacionais internos de monitorização (auditoria interna e gestão de risco). Com efeito, ao examinarem o conceito de independência dos auditores, Reiter e Williams (2000) referem estudos que demonstram que o nosso sistema conceptual de todos os dias é fundamentalmente metafórico. De acordo com os estudos citados pelos autores, os conceitos metafóricos estruturam as nossas percepções, o modo como vemos o mundo e a forma de nos relacionamos com os outros, sem que muitas vezes tenhamos disso consciência. Deste modo, alguns conceitos possuem implícitamente associadas determinadas metáforas, que nos permitem apreender esses conceitos facilmente mas que ao mesmo tempo podem esconder determinados aspectos do conceito que não se associam verdadeiramente com a metáfora. Assim, os autores fazem notar que, em relação à profissão de auditoria, a metáfora associada ao conceito de independência é a da separação, impedindo-nos essa metáfora de pensar claramente acerca do complexo equilíbrio de relações e de interesses que ocorrem na prática dos profissionais de monitorização e cuja compreensão é essencial para um julgamento profissional adequado. “Na metáfora da separação, independência sugere inexistência de relações. No entanto existe sempre um claro conjunto de relações (por exemplo, entre clientes e firmas de auditoria) que está a ser negado devido ao ideal de separação radical e autonomia. Tratarse a relação real ‘como se não existisse relação’ cria obviamente uma falsa percepção, na qual os esforços para que se examine o que realmente se passa ou para resolver determinado problema da independência acabam infrutíferos.” (Reiter e Williams, 2000, p. 12). Assim, sugerem os autores, a admissão da interdependência nas relações do auditor constitui um passo necessário para a adequada conceptualização da independência no contexto da profissão da auditoria e, acrescentamos nós, no contexto das várias profissões de monitorização organizacional. Concretamente, reconhecemos que o potencial de valor destes profissionais depende em grande medida da sua capacidade 17 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS de intervir e moldar a organização em que se inserem, alicerçada num profundo conhecimento do negócio e dos ambientes interno e externo da organização. Sendo certo que esse papel interventor compromete em muitas situações a independência (em sentido estrito, ou seja independência como separação) destes profissionais, podemos igualmente admitir que estes podem, dentro da sua interdependência, desempenhar com adequado mérito um papel de relevo e de significativa eficácia na monitorização saudável da governação societária. Deste modo, o conceito de independência, quando aplicado no contexto dos mecanismos organizacionais, pode ser entendido como uma independência interventora, ‘interdependente’. Dito de outra forma, na prática da monitorização organizacional devemos admitir como inevitável alguma relatividade na independência de facto destes mecanismos, a qual todavia é plenamente passível de ser ultrapassada através da ética, competência e habilidade dos profissionais que os compõem. 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS As organizações empresariais deixam, a partir do momento em que atingem determinada dimensão crítica, de poder ser geridas de uma forma simples, por exemplo por um único proprietário-gestor (Abdel-Khalik, 1993). O problema da coordenação de um conjunto abrangente de recursos, ou o problema do controlo como lhe chamou Arrow (1964), torna natural a emergência de gestores profissionais, os quais devem assegurar que a organização evolui no sentido da consecução dos seus objectivos, e coordenar a implementação de procedimentos e sistemas de controlo interno. Fama (1980) descreve a forma como os gestores de uma organização efectuam monitorização recíproca ao longo da hierarquia organizacional, respondendo parcialmente a uma pergunta de grande impacto efectuada por Alchian e Demsetz (1972): “Quem irá monitorizar o monitor?”. Ou seja, os gestores de nível operacional e de nível intermédio monitorizam-se entre si e são alvo de monitorização do próprio sistema de controlo interno. Todavia, esta mesma pergunta “Quem irá monitorizar o monitor?” não é respondida tão facilmente quando nos referimos aos gestores de topo de uma organização, uma vez que tratando -se do vértice da pirâmide organizacional coloca-se-nos na verdade o chamado problema da agência. Quem pode, ou de que forma se pode monitorar os gestores de topo de uma organização, uma vez que admitamos que os seus interesses podem não estar alinhados com os interesses “da organização”? A literatura designada por teoria da agência fornece um enquadramento teórico bastante funcional para a análise deste problema. Com efeito, a consideração de que o interesse da organização é representado por uma categoria homogénea de indivíduos, os quais compõem o conceito de “principal”, constitui uma hipótese simplificadora que nos permite abstrair da enorme complexidade que constitui na realidade a vontade agregada do conjunto de quinhoeiros e partes interessadas de cada organização concreta. Também a consideração de que apenas existe um ou poucos “agentes”, o gestor ou gestores executivos de topo da organização, em relação ao qual o principal pondera objectivamente acerca da melhor forma de reduzir os custos de agência da relação, constitui também uma muito cómoda simplificação. 18 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 163 Apesar de a realidade das grandes empresas não corresponder fielmente a este simplificado modelo de agência, o modelo possui a virtude de nos permitir descortinar várias questões importantes dentro da complexidade das grandes organizações empresariais. Uma dessas questões constitui a relevância que possui uma efectiva separação entre a gestão de decisão e o respectivo controlo (Fama e Jensen, 1983a), se pretendermos reduzir riscos relacionados com a governação – riscos que se colocam quando “o monitor não é monitorizado”. Nesse sentido, vários modelos de governação têm evoluído desde que surgiram as grandes corporações após a revolução industrial, dos quais se salientam presentemente o modelo anglo-saxónico, o modelo continental e o modelo latino. Independentemente de se poder defender a preferência por determinado modelo, dada a realidade cultural concreta de uma determinada organização e do respectivo ambiente, em teoria qualquer modelo de governação será mais ou menos eficaz na medida em que permita efectivamente facilitar a segregação entre a gestão executiva e o seu controlo. Em teoria, afirmase, pois cada solução de governação é concretizada por pessoas, que são por definição imprevisíveis – tanto mais que se tratam de gestores e fiscalizadores de topo, indivíduos de grande competência e forte personalidade. Dito de uma outra forma, uma governação saudável não depende exclusivamente de uma boa escolha de modelo de governação, mas também e principalmente das pessoas que compõem os órgãos relevantes. Mais ainda, uma governação saudável não depende apenas do topo da organização em questão, mas também do nível de adequação do seu sistema de controlo interno e dos respectivos mecanismos de monitorização. Um sistema de controlo interno robusto reduz os riscos da organização, evitando problemas antes deles ocorrerem ou mitigando as suas consequências, e por outro lado a monitorização, ou “o controlo dos controlos” executado em princípio por profissionais especialistas, essa assegura que o controlo interno se mantém robusto ao longo do tempo. Os auditores externos, sendo profissionais independentes que efectuam auditorias regulares às demonstrações financeiras destas grandes empresas, providenciam uma opinião que encerra o potencial de dar conforto ao principal da relação de agência. Com efeito, ainda que em princípio estes especialistas apenas se focalizem em aspectos de controlo interno financeiro, são significativamente qualificados para o fazer. Eles irão, por outro lado, promover a efectivação de ajustamentos razoáveis ou enfatizar desvios da informação externa da empresa em relação a determinados princípios e normativos de reporte financeiro. Em todo o caso, a qualidade da auditoria financeira levada a cabo por estes profissionais, a qual pode ser aferida pela probabilidade de estes profissionais efectivamente reportarem irregularidades na informação financeira sobre a qual opinam, depende da independência de facto destes profissionais em relação à gestão executiva. Concretizando aquilo que pretendemos afirmar, se estes profissionais detectarem deficiências nos controlos internos de baixo nível (utilizando a terminologia de Maijoor, 2000), não existem grandes dúvidas de que irão reportar o facto à gestão executiva. Todavia, se encontrarem deficiências nos controlos de alto nível (por exemplo, irregularidades concretizadas com a anuência dos próprios gestores de 19 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS topo), irão realmente tomar inequívocas medidas no interesse do principal? Mesmo que possam revelar as suas constatações de forma discreta ao órgão de fiscalização, irão realmente fazê-lo? De acordo com Bazerman, Loewenstein e Moore (2002), por exemplo, estes profissionais poderão possuir o seu julgamento profissional inerentemente distorcido de uma forma inconsciente, o que os pode levar a aceitar determinadas explicações da gestão executiva como razoáveis, ainda que objectivamente o não sejam. A imposição, em determinados ambientes regulamentares, de uma certificação por parte da gestão executiva em relação à adequação do sistema de controlo interno – que é também auditada e posteriormente sujeita a um relatório de opinião (asseguração) do auditor externo – procura aumentar o conforto do principal (e de outros importantes stakeholders) nesta matéria. É, em todo o caso, pouco questionável a afirmação de que os sistemas de controlo interno carecem, para que permaneçam eficazes ao longo do tempo, de mecanismos que os controlem – precisam de ser monitorizados. Gomes (2006) distingue fiscalização interna de fiscalização externa de sociedades, competindo o primeiro tipo de monitorização a um órgão de fiscalização interno, e o segundo tipo a um auditor externo. Esta classificação parece sugerir uma monitorização que se esgota nestes dois componentes, sugestão que nos pareceria inadequada. Com efeito, consideramos essencial, para a robustez do seu sistema de controlo interno a longo prazo, que nas grandes organizações exista pelo menos um dos tipos de unidades típicas de monitorização interna – auditoria interna, gestão de riscos ou serviços de compliance. Uma governação societária saudável, argumentamos, procura complementar os mecanismos de fiscalização de Gomes (2006) – órgãos ou comités de fiscalização e auditoria externa – com recursos internos de monitorização, equipas de especialistas que asseguram que os controlos da organização estão por sua vez sob controlo. Do ponto de vista da monitorização de alto nível (Maijoor, 2000), estes especialistas poderão reportar alguma informação relevante de que disponham aos competentes órgãos ou comités de fiscalização, pelo menos na medida em que essa informação lhes seja solicitada ou que pelo menos possuam acesso a esses órgãos/comités. Estes profissionais – auditores internos, gestores de risco e profissionais de compliance – possuem a seu favor uma elevada competência técnica e um conhecimento profundo da realidade do negócio e dos ambientes interno e externo da empresa. Poderão estar, por conseguinte, numa posição privilegiada para assumir o papel de guardiães (gatekeepers) de monitorização, providenciando as informações das quais os “conselheiros” fiscalizadores carecem – desde que, claro está, possuam um adequado estatuto dentro da organização. Para além do de depender do estatuto organizacional, a eficácia de qualquer mecanismo organizacional de monitorização dependerá ainda da independência, competência e disponibilidade dos profissionais especialistas que os compõem. Na nossa perspectiva, portanto, mais monitorização é em princípio melhor do que menos – desde que adequadamente executada por profissionais competentes e suficientemente independentes. No que diz respeito aos departamentos internos de monitorização, a coexistência de várias unidades deste tipo não implica necessariamente uma redundância na monitorização, mas possivelmente uma saudável complementaridade. Generalizando, uma governação societária saudável resultará de um adequado mix entre estes vários mecanismos – resultará do mix de monitorização organizacional da governação societária. 20 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 165 REFERÊNCIAS ABDEL-KHALIK, A. Rashad - Why Do Private Companies Demand Auditing? A Case for Organizational Loss of Control. Journal of Accounting, Auditing & Finance, Vol. 8, No. 1 (1993), p. 31-52. ADAMS, Michael B. - Agency Theory and the Internal Audit. Managerial Auditing Journal, Vol. 9, No. 8 (1994), p. 8-12. ADAMS, Renée B. e FERREIRA, Daniel - A Theory of Friendly Boards. The Journal of Finance, Vol. 62, No. 1 (February 2007), p. 217-250. ALCHIAN, Armen A. e DEMSETZ, Harold - Production, Information Costs, and Economic Organization. The American Economic Review, Vol. 62, No. 5 (December 1972), p. 777-795. ALMEIDA, Heitor V. e WOLFENZON, Daniel - A Theory of Pyramidal Ownership and Family Business Groups. The Journal of Finance, Vol. 61, No. 6 (December 2006), p. 2637-2680. ANDERSON, Don, FRANCIS, Jere R. e STOKES, Donald J. - Auditing, Directorships and the Demand for Monitoring. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 12, No. 4 (Winter 1993), p. 353-375. In MOIZER, Peter - Governance and Auditing, Edward Elgar Publishing, 2005. ISBN 1 84376 830 5. p. 30-52. ANTLE, Rick - Auditor Independence. Journal of Accounting Research, Vol. 22, No. 1 (Spring 1984), p. 1-20. ANTLE, Rick - The Auditor as an Economic Agent (originalmente entitulado "An Agency Model of Auditing"). Journal of Accounting Research, Vol. 20, No. 2 Part II (Autumn 1982), p. 503-527. ARROW, Kenneth J. - Control in Large Organizations. Management Science, Vol. 10, No. 3 (April 1964), p. 397-408. BAZERMAN, Max H., LOEWENSTEIN, George e MOORE, Don A. - Why Good Accountants Do Bad Audits. Harvard Business Review (November 2002), p. 97-102. BEJA, Rui - Risk Management: Gestão, Relato e Auditoria dos Riscos do Negócio, 1.ª edição, Lisboa, Áreas Editora, 2004. ISBN 972-8472-69-2 BERLE, Adolf A. e MEANS, Gardiner C. - The Modern Corporation & Private Property (reimpressão 1997), E.U.A., Transaction Publishers,1932. BRADBURY, Michael E. - The Incentives for Voluntary Audit Committee Formation. Journal of Accounting and Public Policy, Vol. 9, No. 1 (1990), p. 19-36. BURKART, Mike, PANUNZI, Fausto e SHLEIFER, Andrei - Family Firms. The Journal of Finance, Vol. 58, No. 5 (October 2003), p. 2167-2201. CÂMARA, Paulo - Os Modelos de Governo das Sociedades Anónimas. In Instituto de Direito das Empresas e do Trabalho (IDET ), Reformas do Código das Sociedades (Série Colóquios do IDET, n.º 3), Coimbra, Almedina, 2007. ISBN 978-972-40-3125-5. p. 179-242. CAREY, John L. - The Realities of Professional Ethics. The Accounting Review, Vol. 22, No. 2 (April 1947), p. 119-123. CAREY, John L. e DOHERTY, William O. - The Concept of Independence: Review and Restatement. The Journal of Accountancy (January 1966), p. 38-48. COASE, R. H. - The Nature of the Firm. Economica, Vol. 4, No. 16 (November 1937), p. 386-405. COGLIANESE, Cary e LASER, David - Management-Based Regulation: Prescribing Private Management to Achieve Public Goals. Law & Society Review, Vol. 37, No. 4 (December 2003), p. 691-730. 21 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS REFERÊNCIAS COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ), Enterprise Risk Management: Integrated Framework, E.U.A., 2004. EISENHARDT, Kathleen M. - Agency Theory: An Assessment and Review. The Academy of Management Review, Vol. 14, No. 1 (January 1989), p 57-74. FAMA, Eugene - Agency Problems and the Theory of the Firm. Journal of Political Economy Vol. 88, No. 2, (April 1980), p. 288-307. FAMA, Eugene e JENSEN, Michael C. (a)- Separation of Ownership and Control. Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 2 (June 1983), p. 301-325. FAMA, Eugene e JENSEN, Michael C. (b)- Agency Problems and Residual Claims. Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 2 (June 1983), p. 327-349. GALLAGHER, Russel B. - Risk Management: New Phase of Cost Control. Harvard Business Review (September-October 1956), p. 75-86. GARCÍA BENAU, María Antonia e VICO MARTÍNEZ, Antonio - Los Escándalos Financieros y la Auditoría: Pérdida y Recuperación de la Confianza en una Profission en Crisis. Revista Valenciana de Economía y Hacienda, No. 7-I (2003), p. 25-48. GOMES, Armando - Going Public without Governance: Managerial Reputation Effects. The Journal of Finance, Vol. 55, No. 2 (April 2000), p. 615-646. GOMES, José João Montes Ferreira - A Fiscalização Externa das Sociedades Comerciais e a Independência dos Auditores. Cadernos do Mercado dos Valores Mobiliários, 24 -Edição Especial 15.º aniversário da CMVM (Novembro 2006), p.180-216. HIGGINS, Thomas G. - Professional ethics and public opinion. The Journal of Accountancy (November 1958), p. 34-39. HIRTH, Bob - Strenghthening governance through risk management. In REUVID, Jonathan (Editor) - Managing Business Risk: a practical guide to protecting your business, 3rd. Edition, Reino Unido e E.U.A., Kogan Page, 2006. ISBN 0 7494 4510 6. p. 203-209. HOPT, Klaus J. - The German Two-Tier Board (Aufsichtsrat): A German View on Corporate Governance. In HOPT, Klaus J., WYMEERSCH, Eddy, WYMEERSCH, E. (Editors) - Comparative Corporate Governance: Essays and Materials, Publisher Walter de Gruyter, Inc., 1997. ISBN-13: 9783110157659. p. 3-20. HOPT, Klaus J. E LEYENS, Patrick C. - Board Models in Europe: Recent Developments of Internal Corporate Governance Structures in Germany, the United Kingdom, France, and Italy. European Corporate Governance Institute (ECGI), Law Working Paper No. 18/2004 (January 2004), p. 0-27. Disponível em www.ecgi.org/wp. HUTTER, Bridget M. - The Attractions of Risk-based Regulation: accounting for the emergence of risk ideas in regulation. The London School of Economics and Political Science, Discussion paper No. 33 (March 2005). IFAC (International Federation of Accountants) - Enterprise Governance: Getting the Balance Right (February 2004). ISBN 1-931949-24-7. Disponível em www.ifac.org/MediaCenter/files/ EnterpriseGovernance.pdf IOSCO (Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions) - Board Independence of Listed Companies: Final Report (March 2007), p. 0-53. 22 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS CONTROLO INTERNO DE ALTO NÍVEL E GOVERNO SOCIETÁRIO : 167 REFERÊNCIAS JENSEN, M. e MECKLING, W. - Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics Vol. 3, No. 4 (October 1976), 305-360. JENSEN, Michael C. - Eclipse of the Public Corporation. Harvard Business Review (September-October 1989) (Revisto em 1997, disponível em SSRN: http://papers.ssrn.com/ abstract=146149 ou DOI: 10.2139/ssrn.146149 ), p. 0-30. KNECHEL, W. Robert - The business risk audit: Origins, obstacles and opportunities. Accounting, Organizations and Society, Vol. 32, No. 4/5 (May-July 2007), p.383-408. KOSLOW, S. -The evolving definition of compliance in the insurance industry. Society of Corporate Compliance and Ethics, (December 2005), p. 1-9. LA PORTA, Rafael, LOPEZ-DE-SILANES, Florencio e SHLEIFER, Andrei - Corporate Ownership Around the World, The Journal of Finance, Vol. 54, No. 2 (April 1999), p. 471-517. MACE, Myles L. - The president and the board of directors. Harvard Business Review (March-April 1972), p. 37-49. MAIJOOR, Steven - The Internal Control Explosion. International Journal of Auditing, Vol. 4 (2000), p. 101-109. MATA, Eugénia Maria - Sociedades Anónimas: Regulação e Economia. Boletim de Ciências Económicas, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. 41 (1998), p. 347-372. MEDEIROS, J.J.Tavares de, Commentario da lei das sociedades anonymas, Lisboa, Livr. Ferreira, 1886. MEULBROEK, Lisa K. - A Senior Manager's Guide to Integrated Risk Management. In CHEW, Donald H. (Editor) - Corporate Risk Management, 1st edition, E.U.A., Columbia University Press, 2008. ISBN 978-0-231-14362-2. p. 63-86. (Publicado originalmente no Journal of Applied Corporate Finance, Vo. 14, No. 4 (Winter 2002), p. 56-70.) MORCK, Randall K. - The Global History of Corporate Governance: An Introduction. National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper 11062 (January 2005), p. 1-38. http://www.nber.org/papers/w11062 PARKER, Christine (a)- Reinventing regulation within he corporation: Compliance-Oriented Regulatory Innovation. Administration & Society, Vol. 32, No. 5 (November 2000), p. 529-565. PARKER, Christine (b)- The Ethics of Advising on Regulatory Compliance: Autonomy or Interdependence?. Journal of Business Ethics, Vol. 28, No. 4 (December 2000), p. 339-351. PARKER, Christine e NIELSEN, Vibeke Lehmann - Do Businesses Take Compliance Systems Seriously?: An Empirical Study of the implementation of Trade Practices Compliance Systems in Australia. Melbourne University Law Review, Vol. 30 (2006), p. 441-404. POWER, Michael - Business risk auditing-Debating the history of its present. Accounting, Organizations and Society, Vol. 32, No. 4/5 (May-July 2007), p.379-382. PUCHETA MARTINEZ, María Consuelo e GARCÍA BENAU, María Antonia - Antecedentes y creación voluntaria de comités de auditoria: evidencia empírica del caso español. Contabilidade e Gestão, 3 (Setembro 2006), p. 65-100. REITER, Sara Ann e WILLIAMS, Paul F. - The History and Rethoric of Auditor Independence Concepts. Binghamton University, 2000, p. 0-25. Disponível em http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/ summary?doi=10.1.1.7.9924. (reimpresso em Business Ethics Quarterly, Vol. 14, No. 3, p. 355-376). 23 : CADERNOS DO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS REFERÊNCIAS SHARAF, Hussein e MAUTZ, R. K. - An Operational Concept of Independence. Journal of Accountancy (April 1960), p. 49-54. SHLEIFER, Andrei e VISHNY, Robert W. - A Survey of Corporate Governance. The Journal of Finance, Vol. 52, No. 2 (June 1997), p.737-783. SILVA, Artur Santos, VITORINO, António, ALVES, Carlos Francisco, CUNHA, Jorge Arriaga da, MONTEIRO, Manuel Alves - Livro Branco sobre Corporate Governance em Portugal. IPCG (Instituto Português de Corporate Governance), Fevereiro 2006. Disponível em www.cgov.pt. SMITH, Adam - The Wealth of Nations, (reimpressão 2003, baseada na 5.ª edição editada e anotada por Edwin Cannan em 1904, introdução de Alan B. Krueger), E.U.A., Bantam Dell, 1776. ISBN 0-553-58597-5 SOARES, Paulo J. A. - Os Mecanismos Organizacionais de Monitorização ao Governo Societário: Mitigação de problemas de agência através de estruturas de fiscalização, auditoria e gestão de risco. Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2009. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Gestão de Empresas, especialidade em Auditoria Contabilística, Económica e Financeira. SPIRA, Laura F. e PAGE, Michael - Risk Management, The reinventation of internal control and the changing role of internal audit. Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 16, No. 4 (2003), p. 640-661. ULRICH, Ruy Ennes- Sociedades Anónimas e sua Fiscalização. Revista da Ordem dos Advogados, (1941), p. 14-27. WATTS, R. e ZIMMERMAN, J. - Agency Problems, Auditing, and the Theory of the Firm: Some Evidence. Journal of Law and Economics, Vol. 26, No. 3 (October 1983), p. 613-633.
Download