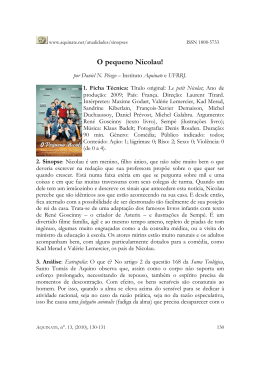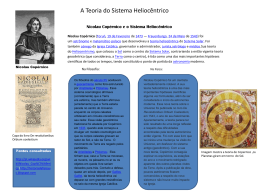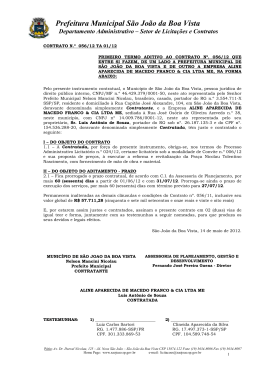Pedro Alecrim de António Mota texto com supressões 1 Terminaram as aulas e começa a confusão. Parecemos carreiros de formigas a correr para dentro das camionetas, quase sempre velhas e a largar fumaradas de gasóleo queimado. Não há respeitinho por ninguém, como costuma dizer a dona Judite, a contínua plantada à entrada da escola que, dentro daquele cubículo, faz-me lembrar um pássaro numa gaiola com telefone. O que importa é arranjar lugar sentado. Quem não chega a tempo faz a viagem de regresso a casa de pé. O Luís nunca corre e é o último a chegar. Vem com muita calma porque sabe que tem sempre lugar nos bancos de trás. Há um grupinho que se encarrega de lhe marcar o assento. Muito alto, sempre bem vestido, de cabelos compridos e encaracolados, o Luís pesa o dobro de mim e nunca está calado. Não sei onde aprendeu tantas anedotas e adivinhas, nem como consegue inventar tantas piadas. Em dias de prova de avaliação aparece sempre de gravatinha e cinto largo. A princípio era uma grande risota vê-lo assim encadernado. Havia piadas. Mas o Luís não se aborrecia. E avisava: – Podem rir mais, muito mais! Riam muito!... Mas fiquem sabendo que tenho muito respeitinho pelas avaliações… Não demorei muito tempo a descobrir a razão daquela estranha forma de vestir em dias de prova escrita. O Luís serve-se da gravata, do cinto e das mangas da camisa para colocar copianços. Ontem começámos a rir quando a professora de Português ameaçou que se descobrisse alguém a copiar, o punha logo fora da sala e lhe dava zero. E o Luís, o gordo Luís, com o ar mais sério do mundo: –Ó stôra! Copiar? Nós?!... Era o que faltava… A gente não sabe fazer destas coisas… Ainda somos muito novinhos… Não gosto muito do Luís porque, um dia, já lá vão alguns meses, resolveu por toda a gente a rir na camioneta, afirmando que eu andava ali por engano. Que o meu lugar era na escola primária, junto dos copinhos de leite, a fazer redacções sobre as estações do ano. Não gostei nada da piada. E cantei-lhe, enervado, tudo o que me veio à cabeça. Claro que levei uns sopapos, que nem doeram muito, fiquei com o olho esquerdo inchado e dois botões da camisa arrancados. Por acaso uma camisa novinha a estrear… Quando entrei em casa, a minha mãe afligiu-se. Queria saber pormenores. Mas eu não lhe disse nada. Então ela começou uma conversa que nunca mais terminava. A minha mãe, quando começa a barafustar, é assim como uma trovoada em Abril: Fala, fala, fala, fala e, de repente, calase. A partir desse dia nunca mais quis conversas com o Luís nem me juntei ao grupinho que costuma acompanhá-lo. 2 A camioneta vai ficando vazia, paragem após paragem. Quando eu e o Nicolau, e também a Rita, a Joana e o Martinho, descemos, o motorista tem a acompanhá-lo apenas o silêncio da camioneta, que arranca aos solavancos, engasgada em fumo negro. A Joana não se cansa. Entra logo em casa, que fica rente à estrada. Espera-a um cão minúsculo, o Belói, que nos cumprimenta com meia dúzia de ladridos. Já com a motorizada a trabalhar, bem acelerada, sem guarda-lamas e bastante amolgada, o Afonso, irmão da Rita, aguarda-a com impaciência, prestes a começar uma corrida louca. Não sei como é que a Rita ainda não nos apareceu com um braço engessado, ou com a cara toda pintada com tintura! O Afonso Dora correr. Só não treina a sério para campeão nacional de motocrosse porque não tem dinheiro para comprar uma máquina potente. O Martinho entra na loja da mãe, um pomar ali perto da paragem da camioneta, sempre cheio de abelhas que se fartam de reinar sobre a fruta. Ficámos eu e o Nicolau. Para chegarmos a casa temos de andar um bom pedaço por entre campos e montes. De vez em quando, assustamo-nos quando, saído duma lura, salta um coelho bravo e foge a grande velocidade, ou vemos as perdizes a levantar voo, assustadas com a nossa presença. E lá vamos nós a subir, sempre a subir. Que ideia tola foi essa dos nossos pais em terem resolvido morar numa aldeia tão pequena! São vinte casas, contadas e recontadas, com cinco lâmpadas públicas quase sempre fundidas, dois fontanários e um lavadouro público, uma capela e uma venda onde há de tudo, desde fósforos a panelas. Felizmente que a luz eléctrica chegou ao Pragal quando eu andava na escola primária. Lembrome que, nesse dia, estoiraram foguetes e o tio Zé Maria Coxo, o dono da venda, ligou a televisão a cores e fartou-se de vender bebidas e rebuçados. O Nicolau e eu sabemos os caminhos de cor. Sabemos o sítio onde fica uma pedra mais escura, onde brota a mais pequenina nascente, o local exacto dum buraco mais avantajado. E somos amigos das rãs, que vivem descansadas nas poças de água, cobertas por uma manta de limos verdes. Um dia apareceu, numa poça de água, sempre coberta por mosquitos, uma grande quantidade de cabeçudos. O Nicolau disse que estávamos com sorte, pois o que nós tínhamos descoberto na poça eram peixinhos acabados de nascer. Qualquer dia ficariam grandes; depois era só ter o trabalho de os agarrar e levá-los para casa. Custou-me a acreditar, mas calei-me. – Não duvides, tu vais ver! – dizia o Nicolau, todas as vezes que parávamos junto da poça. – Como é que vieram aqui nascer? – perguntei um dia, farto de esperar pelos peixes. Nicolau pôs-se a olhar o céu, a ver se a resposta caía das nuvens. Daí a pedacinho, íamos já a subir a encosta, explicou muito sério: – Tão fácil! Um pássaro apanhou um peixe no rio. O peixe estava cheio de ovos. Pois! O pássaro ia levá-lo para cima de um penedo para o comer com muita calma, mas o espertalhão do peixe escapou-se-lhe do bico!... Foi isso! – E depois? – perguntei sem perceber nada. – Põe a cabeça a funcionar, rapaz! O peixe veio aos trambolhões por ali abaixo, por acaso caiu na poça cheio de susto e desovou. Quando o pássaro apanhou o peixe, claro que não viu os ovos! Aquela explicação convenceu-me. E já eu sonhava com os olhares admirados de meus irmãos ao verem a sacalhada de peixes, quando o encanto se quebrou. Um dia fomos à poça espreitar e vimos uma grande quantidade de rãs pequeninas, com aqueles olhos muito abertos!... Ficámos calados, desanimados. E depois desatámos a rir como loucos. Só parámos quando as barrigas nos começaram a doer. – Ai, Pedro, é tão triste ser analfabeto! — costuma agora dizer o Nicolau quando passamos na poça e ouvimos o coaxar das rãs. 3 Para que a mãe possa tratar da lida da casa, o Martinho toma conta do pomar até serem horas de fechar a porta. À noite apetece-lhe muito quieto a ver televisão. Mas a mãe, que não é para brincadeiras, começa a ralhar e obriga-o a estar em frente dela, sentado à mesa, com os livros abertos. A mãe do Martinho mal sabe ler, mas de contas percebe ela! Faz mais depressa uma conta de cabeça que o freguês com uma máquina de calcular. De vez em quando, deita uma olhadela ao livro que o filho está a ler, a ver se ainda não virou a página. Na ideia dela um quarto de hora é mais que suficiente para se estudar uma página… O Martinho conta essas coisas rindo muito. E eu calo-me. A minha vida é diferente. Mal entro em casa, pouso a pasta e corro para o campo cortar erva tenra para os vitelos, que se fartam de reclamar no estábulo. Vou a outro campo buscar as ovelhas e as cabras que me aguardam, presas a estacas. Corto lenha e acarreto-a para a cozinha; vou à fonte buscar regadores de água, e encho as pias dos porcos que não param de foçar no estrume, sempre sujos e esfomeados. Só depois do jantar é que começo a fazer os deveres de casa. Apesar dessas canseiras, não me tenho saído mal. Claro que não sou bom aluno; de vez em quando, tenho negativas, mas lá me vou aguentando. Difícil foi o primeiro ano. Eu ia da escola primária com os olhos tapados, e toda aquela barafunda confundiu-me. Sobretudo as salas de aula. Sala A, pavilhão C, Sala D no pavilhão A, agora numa, depois noutra, em baixo, em cima… que grande confusão para entender aquilo! Numa parede estava afixada uma lista com os nomes dos livros e dos materiais que era preciso comprar. Quanto tempo não estive ali a passar para um caderno, com a letra muito bem feitinha, aquele batalhão de palavras intermináveis?!… Depois o dinheiro não chegava para tudo. E a mãe dizia, aflita: – Já estou arrependida de te pôr a estudar. Se ficasses aqui talvez fosse melhor; podias aprender uma profissão. Então fica assim tudo tão caro? Não andarás a jogar numas máquinas que só sabem comer moedas? Eu jurava que não, que era mesmo assim: tudo caro. O meu pai suspirava fundo uma série de vezes. E em seguida desabafava: – Está muito bem! O baile anda a ficar cada vez mais lindo! Hum, se continua assim, acaba-se depressa a dança… E dizem eles que o ensino é de graça. Conversas… Só conversas… Eu entendia-os, mas não podia fazer nada. E por mais voltas que desse à cabeça, também não conseguia perceber para que eram precisos tantos livros, tantas coisas e coisinhas. Mas tudo se foi arranjando. Meu pai vendeu um bezerro na feira e o dinheiro apareceu. E quando disse que precisava de um fato de treino e sapatilhas para as aulas de Educação Física, meu pai irritou-se: – Que pouca vergonha! Na escola aprende-se, não se joga! Francamente, é de mais! Para que servem estas modernices?!... Anda tudo maluco!... Paciência, enquanto andares lá, não te vou deixar ficar mal. E não deixou. Comprou-me um fato de treino e umas sapatilhas, coisas fracas, baratinhas… Agora, pensando nesse primeiro mês de aflições, apetece-me rir. E não posso esquecer a falta que a professora de Português me marcou logo na segunda aula. Tocou a campainha e eu, não sei por que razão, deixei-me ficar no recreio. Quando dei conta que os meus colegas de turma tinham desaparecido, desatei a correr. Com a pressa, baralhei portas, salas e pavilhões. Finalmente bati na porta certa, aflitíssimo. O Luís escancarou um sorriso trocista na porta aberta e a professora perguntou com espinhos na voz: – Que aconteceu, rapaz? – Perdi-me, senhora doutora. Não sabia qual era a sala. Uma gargalhada de toda a turma bateu-me em cheio na cara. – Que engraçadinho! O menino pode entrar, mas fica já a saber que não lhe vou tirar a falta. Olha o espertinho! A professora tem um feitio esquisitíssimo. Até parece que não gosta de estar naquela escola a dar aulas! Como é que se pode gostar de Português com uma professora assim? 4 Por causa da falta de dinheiro, eu e o Nicolau fizemos uma sociedade que durou três meses. Infelizmente não deu os resultados previstos e agora, quando nos lembramos dessa loucura, dános vontade de gargalhar. Quem teve a ideia foi o Nicolau. Em meados de Outubro, andávamos já no sexto ano, o Nicolau, depois de muitos rodeios, perguntou-me: – Ó Alecrim, não queres ficar rico? Claro que essa pergunta não tem resposta. Quem me dera! – Tenho andado a pensar e acho que com alguma sorte podemos ser ricos! Bem, não pode ser já, ainda temos de esperar algum tempo. Se tu quisesses, fazíamos uma sociedade… É que para ficarmos milionários temos de gastar algum dinheiro… Eu não estava a perceber nada, mas agradava-me ouvir aquela estranha conversa. Sentámo-nos num penedo e o Nicolau, cada vez mais entusiasmado com as próprias palavras, contou-me pormenorizadamente o plano que não havia de demorar muito tempo a pôr-nos a nadar em dinheiro. – Bem, a nossa sociedade tem de ser secreta, ninguém pode saber. Tem de ser um segredo entre nós, um segredo tão bem guardado que nem a nossa sombra pode saber. Por isso, temos de jurar. Juras, Pedro? E eu, concordando em absoluto com as palavras de Nicolau, jurei de olhos bem fechados e com os dedos em cruz encostados à boca: – Juro, pelas alminhas do outro mundo, que vou guardar este segredo. E se falar, ceguinho seja eu! O Nicolau repetiu as mesmas palavras. E nessa noite, alvoroçado com a riqueza que não tardaria, custou-me a adormecer. Revirava-me na cama e sorria com os olhos fechados. Imaginava o espanto de toda a gente quando eu e o Nicolau anunciássemos com grande solenidade: “Pois é verdade! Nós somos ricos!” No dia seguinte, acordei mais cedo e corri pelos atalhos para encurtar caminho. Esbaforido com a correria, encontrei o Nicolau junto de uma ribeira onde cresciam agriões em barda . – És sempre a mesma lesma! – disse o Nicolau. Pusemo-nos a cortar e a escolher com mil cuidados os agriões e metemo-los em duas sacas de plástico. Como o Nicolau tinha previsto, quando chegámos ao pomar da mãe do Martinho, conseguimos vendê-los. – Para começar não está nada mal! – regozijou-se o Nicolau, metendo no bolso amoeda que a mãe do Martinho nos dera, recomendando que lhes levássemos mais. À tarde, pelo caminho, achámos que era melhor guardarmos o dinheiro num esconderijo seguro. Assim não havia tentações de o gastar. Arranjámos uma lata vazia de leite em pó, metemos lá dentro o dinheiro e demos voltas e mais voltas à procura de um sítio seguro. Depois de muitas hesitações, acabámos por enfiar a lata no buraco do troco de um carvalho velho que ficava rente ao caminho. E sem nunca abrirmos a boca, fomos metendo na lata o dinheiro que íamos ganhando com a venda dos agriões. E para termos a certeza de que não estávamos a ser roubados, todos os dias enfiávamos os braços no buraco do carvalho, retirávamos a lata, sacávamos a tampa e contávamos o dinheiro acumulado. Um dia ficámos desolados! Os agriões tinham desaparecido, alguém os cortara para dar ao gado. – Lá se foi a nossa mina, acabou-se o nosso tesouro! – lamuriou-se o Nicolau. Mas como tínhamos de continuar a juntar dinheiro para ganharmos a fortuna, e depois de darmos muitas voltas ao miolo, resolvemos levar para o pomar da mãe do Martinho molhos de nabos sempre bem atados quatro a quatro com folhas de piteira. Nabos era coisa que não faltava nos campos do Nicolau, tantos eles eram que até os arrancavam para dar aos animais. Vendemos castanhas mais serôdias, grelos e pencas. E fartámo-nos de juntar dinheiro com os cogumelos comestíveis que achávamos nas bordas dos campos e entre as bouças. Um dia, contámos e recontámos o dinheiro – algumas notas já tresandavam a mofo – e começámos a saltar, loucos de alegria. – Eu não disse? Conseguimos! O dinheiro chega e sobra! E o meu coração batia com muita força quando entrámos na papelaria Sandra e pedimos que nos vendesse quatro fracções do bilhete da lotaria do Natal que estava exposto na montra. –São para o meu tio! – disse o Nicolau, para não haver desconfianças. – Calha bem ter mandado estes trocadinhos todos! – disse a empregada, toda contente. Sobraram duas moedinhas. – Duas chicletes? – perguntou o Nicolau. – Manda vir! – sussurrei eu, admirando os papelinhos mágicos que tinha na mão. Entretanto, começaram as férias e eu esperei ansiosamente que o dia do sorteio chegasse. Na noite em que o sonho se desfez, senti-me o mais infeliz de todos os rapazes do mundo! Inventei uma dor de barriga e deitei-me cedíssimo. Tanto trabalho para nada! Que grande injustiça! Pensava eu, amargurado, com uma vontade muito grande de chorar o mais possível, de gritar até ficar rouco, de ferrar as mãos! Que grande desilusão! Claro que a sociedade se desfez. Eu e o Nicolau nunca mais levámos nada para o pomar da mãe do Martinho. Ela, de vez em quando, dizia: – Então?! Agora nem salsa trazem?!... – Não temos tempo… Não temos tempo!...—inventávamos nós. 5 Se não chove, o Nicolau, antes de chegarmos ao Pragal, deixa de me fazer companhia. Mete por uns atalhos e desaparece por entre um matagal de giestas que no Verão fica infestado de cobras e das peles que elas largam. Os pais esperam-no para os ajudar nas lides do campo. Sozinho, continuo a caminhada. Vou sempre devagarinho e ainda mais devagar quando é o tempo dos ninhos. –Vem aí o Pedro! Vem aí o Pedro! – avisa minha irmã Rosália. Estranho vê-la ali. Geralmente, quando chego a casa, encontro-a a fazer os deveres da escola. Jacinto, meu irmão mais novo meio gago, sai de casa a correr com os pés metidos nas galochas do meu pai. É sempre isto: mal a gente se descuida, lá está ele a mudar de calçado. Não adiantam os ralhos e os pequenos tabefes que às vezes a minha mãe lhe dá. Jacinto tropeça, cai, levanta-se, corre novamente e volta a tropeçar. Levanto-o e ponho-o às cavalitas. E começo a correr, imitando o cavalo ruço do tio Zé Maria Coxo. Faço-lhe cócegas na barriga e ele, agarrado ao meu cabelo, ri muito feliz. – Pedro! Pedro!, espera, espera! – grita Rosália. – Que foi?! – pergunto, sem grandes amabilidades. – O pai está doente. Vomitou a tarde inteira. Há tanto tempo que a mãe está a olhar para o caminho a ver quando chegavas. Nunca mais vinhas! Pego na pasta, deixo o Jacinto a choramingar, e corro para dentro de casa. Entro na sala e vejo a porta do quarto dos meus pais aberta. Um cheiro bastante enjoativo invade todos os cantos. Se virar as costas, minha mãe recrimina-me suavemente: – Gostava de saber para que tens as pernas, meu marmanjão!... Faço de conta que não ouço e entro no quarto. Vejo meu pai estendido na cama, pálido, com os olhos fechados. Fico especado a olhar para aquela cara que me faz lembrar azeitonas verdes. Correu-te bem o dia? – pergunta meu pai. – Sim. Tive um três no teste de Matemática, mas houve muitas negativas. – E o Nicolau? – quer saber minha mãe. – Teve negativa. – Vê lá o que andas a fazer…– insiste minha mãe. – Que é que o pai tem? – Uma pequena indisposição, passa já! – responde o pai. – Não quer ir ao médico. Então se a gente tem a Caixa, porque é que não há-de aproveitar?! Mas não, sua excelência não quer ser incomodado… Trata do gado, filho! — diz minha mãe. – Pois sim! Não digo mais nada. Saio de casa a apertar as calças velhas, pego numa corda, na gadanha e vou direito ao lameiro, ao fundo do Pragal. Quando entro no campo não vejo nada. Limpo os olhos às mangas da camisa, endireito o gume da gadanha com a lima que trago no bolso e começo a cortar erva : zupa, zupa, zupa! Pouco depois, tenho os braços cansados. Sento-me junto de um rego de água, reparo que tenho uma bota encharcada, não ligo grande importância e ponho-me a pensar, incomodado com a algazarra das pegas. Já não é a primeira vez que o pai fica doente durante semanas seguidas. Nunca quer ir ao médico. A mãe trava grandes batalhas verbais para que ele, finalmente, ceda. E enquanto isso não acontece, a capoeira vai ficando cada vez mais vazia de galos e galinhas para as canjas. Quando meu pai recupera, parece um esqueleto ambulante, só pêlos, pele e ossos. Enfeixo a erva, ato-a com a corda, ponho às costas o molho e carrego-o até às manjedouras dos animais. Distribuo o último braçado aos coelhos e vou espreitar a ninhada que nasceu há uma semana. Estão lindos, os láparos, muito gordos, brincalhões. A mãe detesta que lhe mexam nos filhotes e, sem avisar, de vez em quando, ataca à dentada, que não é assim tão pequena e inofensiva. O Jacinto ainda tem na mão direita marcas de uma ferradela que ela lhe pregou. Muito chorou o meu irmão quando isso aconteceu! Mas a coelha teve razão: quem o mandou espetar a ponta de um arame ferrugento nos olhos dos laparinhos, cegando dois, que acabaram por morrer? O Jacinto é muito curioso! Um dia, fui encontrá-lo estendido no galinheiro, muito quieto e calado, com a mão a levantar com jeitinho as penas duma galinha aninhada no caixote para pôr (...) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Já escurece quando solto as cabras e ovelhas que, presas a estacas, correm, impacientes, para casa. E se o lobo aparece? Ah! Que mania essa – de nos meterem medo com os lobos, mal nascemos! Não digo isto ao Nicolau, nem a ninguém, mas a verdade é esta: vem a noite e eu fico com medo. Só me lembro dos lobos. Pelo caminho conto e reconto as cabeças de gado. Depois fico preocupado porque faltam dois anhos. É noite cerrada quando entro em casa. Pergunto pelos borregos à mãe. – Vendi-os esta manhã. Já estavam criados, só davam trabalho… e sabes meu filho, uma casa sem dinheiro é como um rio sem água! 7 E o esforço que eu fiz para compreender as palavras novas que ouvia pela primeira vez, aula após aula! Os professores diziam: – É muito fácil, não é verdade? Toda a gente acenava com a cabeça. Mas não, não era nada fácil. Até o dicionário eu não sabia consultar. O tempo que eu demorei para descobrir que ALP ficava antes de ALT… Muitas vezes apeteceu-me desistir, ou então fazer de conta que as aulas e a escola não me diziam respeito. – Hoje não tens nada para estudar? – perguntava minha mãe, depois de desligar o televisor. – Já vou, já vou… – dizia eu, aturdido por um sono pesado que não queria desaparecer. Era a caminhada que me punha assim, descobri mais tarde em conversa com o Nicolau que se queixava do mesmo mal. Aquela caminhada estafava-nos. E quando chovia, ou a neve cobria a serra, ainda era pior. E não posso esquecer também os primeiros almoços na cantina, com a senha na mão, fechando os olhos para deixar passar à frente os grandalhões e os zaragateiros. Nos primeiros dias de aula nem cheguei a almoçar porque não acertava com a hora de comprar a senha. E ninguém me avisara que era necessário comprá-la com antecedência. Para que não se rissem da minha ignorância, preferia calar-me e ficar sem almoço. Não tinha relógio. O pai prometera-me um, se passasse de ano, como de facto aconteceu. Recordo estes tempos com vontade de dar gargalhadas e não consigo concentrar-me (…) 9 Quando a campainha atordoa todos os sítios, ninguém corre para dentro das salas. O senhor Inácio, o contínuo, costuma dizer que parecemos bichos gordos a caminho do açougue. E é verdade. No princípio do ano, corremos para as salas para conhecer os professores. Mas, à medida que o tempo vai passando, a vontade esmorece. Cada professor tem a sua mania, um tique especial. E há colegas meus que passam todo o ano a fazer provocações. Lembro, por exemplo, o dia em que o Luís levou para a sala um rato de borracha. Pô-lo em cima da mesa, escondido entre os livros. A professora de matemática, que tem por hábito passar a aula de pé, percorrendo mesa por mesa, pôs uma mão na mesa do Luís. E ele não perdeu tempo: com a ponta da esferográfica empurrou o rato devagarinho, devagarinho…Quando chegou aos dedos da mão da professora, esta deu um grito muito forte e, tresloucada, abriu a porta e desapareceu. Voltou pouco depois, branca como a cal e, secamente, informou que o Luís tinha que ir ao Conselho Executivo da escola. O Luís lá foi e, mais tarde, não quis contar o que lá tinha dito. Na aula seguinte, muito sério, pediu desculpa à professora e explicou que lhe tinha passado aquela ideia pela cabeça: gostava de ver como as pessoas reagiam ao verem de repente um inocentíssimo rato de borracha… Confesso que em algumas aulas sinto o coração a bater com mais rapidez. Há disciplinas que não são lá muito do meu agrado, e eu detesto tirar negativas. Se eu fosse professor, explicava sempre o porquê das coisas, com palavras fáceis para que toda a gente compreendesse. Se eu fosse professor não dizia “isto é azul”. E ponto final. Não, eu tentava explicar “porque é que isto é azul”. Ou será que há coisas que não têm explicação? Nos intervalos, a afluência ao bar da escola é grande. As empregadas não têm mãos para tantos braços levantados, tanta gritaria, tanta confusão. Raras vezes lá apareço. Fico a um canto a falar com o Nicolau, agarrado ao pão com marmelada, queijo ou manteiga que minha mãe nunca se esquece de meter na pasta. O Nicolau nunca come fora das refeições. E ri: – Se eu comesse assim, um dia destes dava um estoiro! Não conseguimos perceber como há colegas com tanto dinheiro no bolso. E alguns até maços de tabaco compram e fumam às escondidas. Às vezes ninguém pode estar num quarto de banho com o fumo e o cheirete a tabaco. 10 Chego a casa e não encontro ninguém. Pouso os livros em cima da mesa. Vou espreitar ao quarto e fico contente por não ver meu pai deitado na cama. – O pai já não está aqui! – diz-me a mãe. – Para onde é que foi? – Para o hospital. A meio da manhã, resolvi telefonar ao dr. Vasco. Quando ele cá chegou, disse que era melhor interná-lo imediatamente no hospital. – Quero ir vê-lo! – Está bem, está bem… mas agora ajuda-me… Ainda tenho o gado em jejum! – Sempre o gado, sempre o gado, sempre o gado, sempre o gado, que porcaria de vida! – O gado não em culpa. Come qualquer coisa! – Não tenho fome! Saio de casa com a gadanha às costas. – Pe--Pedro! Dei—dei—deixa-me ir con-con-conti-go! – Pede meu irmão Jacinto. – Anda! A meio do caminho, Jacinto senta-se no chão, faz birra, insiste para que eu o leve às cavalitas. Acedo, bastante contrariado. – O-o pai vai mo—mo—morrer, pois vai? – pergunta-me ele de repente. Ponho-o no chão, dou-lhe uma chapada: – Isso não se diz, ouviste? Isso não se diz! Jacinto choraminga: – Mas-mas ele foi pró—pró—hospital… – És muito inocente! Então?! Quem vai para o hospital é quem se vai curar. Quem te disse que o pai ia morrer? – Ouvi dizer… Mas—mas eu cor—cortei um dedo e—e não fui pró—pro—hospital… – Ó moço, que inocência! Tu não cortaste dedo nenhum, foi só um golpezinho de nada. E foi muito bem feito para aprenderes a não pegar na faca da cozinha! – Pedro, co—co—como é um hos—hos—hospital? – Sei lá! Depois o pai explica. E chega de fazer perguntas, que eu tenho muito para fazer e não estou nada bem disposto, nem com paciência para te aturar, está bem? 13 À noite, depois de jantar, eu, minha mãe e meus irmãos sentámo-nos à porta de casa a comer as cerejas que fomos apanhar a uma cerdeira muito alta. De repente, o Jacinto apareceu com o cavaquinho. – Ah, maroto! Vai lá arrumar isso! – Mas eu que-que-quero tocar! – Quando cresceres… Jacinto começou a choramingar e foi arrumar o cavaquinho que o pai costuma guardar em cima do guarda-fato, dentro de uma saca de pano. – Que-que-quero o pai! – disse o Jacinto a chorar. – Não chores, amanhã ele está aqui. Mas não era verdade. Nas noites de calor, às vezes, meu pai pegava no cavaquinho, afinava-lhe as cordas e começava a tocar músicas. Pouco tempo depois, atraído pelos sons, aparecia o tio Trindade, com a viola braguesa debaixo do braço. E começava a festa. Nas noites de Inverno, sobretudo nas semanas do Carnaval, iam tocar a bailes. Distraíam-se e ganhavam algum dinheiro, o suficiente para a mãe não barafustar. É que ela detesta que o pai se deite tão tarde – muitas vezes quando começa a raiar um novo dia. Entra em casa cansado mas contente. E logo a sala fica a cheirar a perfume, a tabaco e suor. No Inverno passado fui com o meu pai a um baile, depois de ter vencido os protestos da mãe, que achava que eu ainda não tinha idade para andar fora de casa até de madrugada. Era Carnaval, não havia aulas e eu no dia seguinte podia dormir até mais tarde. E lá fomos. A sala para onde entrámos era um alpendre espaçoso, com uma mesa comprida no topo. Meu pai, o tio Trindade, que é ferreiro, e os outros músicos subiram para a mesa e sentaram-se nos bancos que lá puseram. E o baile começou com muitas serpentinas e confetti espalhados pelo chão. A meio da noite, já eu tinha aberto a boca não sei quantas vezes, dois grupos de rapazes começaram a discutir a um canto da sala. De repente, um velho levantou a bengala de lódão e bateu com ela na lâmpada. Ouviram-se pedacinhos de vidros a cair no chão e a sala ficou às escuras. Gritavam mulheres, gritavam raparigas e crianças de colo de repente despertas, ouvia-se pancadaria, as portas não abriam e eu, cheio de medo, não fosse uma bengalada cair-me em cima da cabeça, escondi-me debaixo da mesa! Mas não tinha sido ideia só minha porque dei conta que estava lá mais gente, sentia-lhes a respiração… Mal as portas abriram, a sala ficou de repente vazia. Puseram outra lâmpada. E eu reparei que os músicos, indiferentes ao que se tinha passado, afinavam os instrumentos com muita atenção. Daí a nada, o baile recomeçou sem se saber ao certo o que tinha acontecido. Ah, que noite! Nunca lho disse, mas eu gostava tanto que o meu pai me ensinasse a tocar cavaquinho. Ou então a viola braguesa do tio Trindade. Na escola há aulas de música, mas não me entusiasmam. A professora queixa-se que há falta de instrumentos. Não sei se estou a ser injusto, mas nunca vi ninguém interessado naquelas aulas de bater palminhas a compasso: um-dois-três-quatro-um-um-dois-três-quatro… 14 A mãe e eu fomos visitar o pai ao hospital. A nossa vizinha, a Fatinha, que se casou há pouco tempo e tem o marido a trabalhar em Lisboa, ficou a tomar conta da Rosália e do Jacinto. Saímos de manhã e fomos a pé pouco tempo porque a mãe do Martinho deu-nos boleia. Encontrámos o pai, depois de termos passado por corredores compridos, estendido numa cama de ferro, muito bem pintada de branco, com rodas no fundo. Não estava sozinho, a enfermaria estava cheia de doentes, todos vestidos com pijamas cor de tijolo. – Olá – disse o pai, contente por nos ver. – Está melhor? – perguntei. Depois arrependi-me, era uma pergunta tola. E ele: – Breve vou para casa, vais ver! Pôs-me a mão esquerda sobre os cabelos e eu senti que a sua pele estava diferente – era muito mais macia. Reparei que tinha na mão direita um penso por onde saía um tubo estreito, ligado a uma garrafa presa nas grades da cabeceira da cama. – O que é isso? – Soro. – Dói? – Não dói nada. Mudámos rapidamente de conversa. O pai quis saber tudo. Perguntou pelos animais, quis saber se as pencas já nasciam nos talhos, se os texugos não andavam a arrombar as presas de água, se o milho crescia bem, se os gaios não tinham comido as cerejas todas… (…) Queria dizer muitas coisas ao meu pai. Queria dizer-lhe que ele fazia falta em casa, que os testes de avaliação estavam a correr bem, que não podia trabalhar mais, que andava cansado e cheio de sono. (…) 17 Acabaram as aulas. Acabaram as consumições com o dinheiro contado e recontado. Acabaram os retinidos de despertador e da campainha. Acabaram as caminhadas! Fui à escola no último dia, embora soubesse que não ia haver aulas. De resto, tudo está definido, sei que vou passar de ano. O Nicolau passou tremidinho e o Luís gordo foi reprovado, como a maioria dos alunos da minha turma. Deitei uns baldes de água à tília que eu e o Nicolau plantámos no Dia da Árvore. Gosto da tília. É a mais forte de todas as árvores que foram plantadas. Oxalá ninguém se lembre de a partir. O Dia da Árvore foi um dos mais bonitos da escola. Os funcionários da Câmara trouxeram as plantas e fizeram os buracos. Nós não quisemos que nos ajudassem, estávamos habituados a fazer buracos com um metro de largura e outro de fundo para plantar videiras. Gosto da tília. Sei que vai demorar muitos anos a ficar vistosa. Mas quando for alta e grossa e quando os pássaros fizerem ninhos nos seus ramos, deve ser bom dizer: “ esta tília foi plantada por mim!”. Na brincadeira, pusemos-lhe um nome: Nicopede, nome maluco, que quer dizer tília do Nicolau e do Pedro. (… ) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------18 Reguei o batatal com a água que fui buscar à ribeira e passei o resto da manhã a procurar o sítio onde se escondia uma perdiz com a ninhada. Mas encontrei-os! Doze perdigões, todos deitados de pernas ao ar, se calhar pensando que eu não estou farto de saber esse truque que eles usam para não serem vistos com facilidade. Não agarrei nenhum. Ainda estavam pequeninos, deviam ter saído dos ovos há pouco tempo. Quando cheguei a casa, estranhei ver a mãe vestida de roupa nova, a correr para todos os lados, sem saber muito bem o que queria. – Que aconteceu? – perguntei. – Estão a operar o teu pai. Fica a tomar conta de tudo. A Fatinha dá-te uma ajuda. Logo depois, apareceu o táxi do senhor Azevedo. Atarantada, minha mãe nem conseguia abrir a porta. E falava coisas que ninguém entendia. Jacinto começo a chorar quando o táxi desapareceu, envolto numa nuvem de poeira. – Que-que-quero ir! – Para onde éque queres ir a esta hora? – À-à-à operação! – Amanhã, está bem? E à noitinha, quando pensava as galinhas, os porcos, os bezerros, as vacas, os coelhos, as rolas e os pombos, meu irmão perguntou: – Ó-ó-ó Pedro, o que é uma o-op-op-operação? – Sei lá!... É cortar as feridas… Sei lá!... – E-e-e dói? – Não! As pessoas estão a dormir e não sentem nada. – E-e-e-dei-deitam sangue? – Pois claro! – E-e-e suja o-o-o chão? – Chega de perguntas! Ah! Depois o pai diz como foi! – Mas-mas ele está-está a-a dormir… Antes de me deitar, perguntei à Fatinha o que tinha acontecido. Porque é que a mãe, sempre tão calma, tão prática, ficou assim baralhada, sem se perceber muito bem o que dizia? – Sabes, Pedro; o Antoninho Alecrim, quer dizer, o teu pai, está muito doente. Telefonaram do hospital antes de o mandarem para a cidade. Quer dizer, foi um amigo que telefonou para a loja do Zé Maria. Pois é, tens de estar preparado para tudo… Calei-me. E pus-me a pensar: Estar “preparado para tudo”… para tudo… Que frase tão estúpida! Tranquei as portas por dentro e mandei deitar a Rosália que queria adormecer a ver televisão. Não deixei. O Jacinto já dormia e eu estava cansado. E agora aqui estou a pensar. “Preparado para tudo”… Preparado para quê? 19 Tiraram mesa, cadeiras, caixas e a sala ficou espaçosa. Puseram quatro bancos compridos no meio da sala e abriram as portas. Trouxeram a urna, que cheirava a verniz, e colocaram-na por cima dos bancos. Acenderam círios e espalharam a toda a volta coroas de flores. Vestiram-me sem eu dar conta e puseram-me à entrada da sala. A seguir a mim estávamos tios, os primos, os homens de toda a família. E vieram muitas pessoas apertar-me a mão. Todas diziam a mesma coisa: – Lamento muito, os meus sentimentos. Algumas mãos eram calosas, outras tinham suor e pele fina. Muitas cheiravam a estrume e a terra, outras a perfume. Foi interminável aquele desfile de mãos, que eu não tinha vontade de apertar. Vieram o Luís, o Martinho, a Rita, a Joana, o Nicolau. Abraçaram-me e eu não disse nada. Apareceu o padre Leandro, abriu o breviário e leu baixinho, mas eu não ouvi nada. Tinha os ouvidos a zumbir. Empurraram-me devagarinho para fora da sala. Então ouvi gritar. Seria a mãe? (… ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 Detesto toupeiras! Ah, como elas me põem nervoso! Infelizmente é difícil encontrá-las, e é a sorte delas… Porque se apanho uma, traço-lhe logo o destino sem pensar duas vezes: levanto a enxada e esmigalho-a. E só descanso depois de a ter enterrado num buraco bem fundo!... Se eu fosse Deus, não inventava as toupeiras. Bem se eu fosse Deus não inventava muitos outros bichos!(… ) Quando reguei sozinho a primeira vez, foi um desastre. A água, que no começo do caminho era uma grande levada, quando chegou ao campo quase que não dava para arrasar a toca de um grilo!... Fiquei aflito e passei o tempo a correr como um doido pelos regos à procura dos buracos por onde a água se sumia…(… ) Com o tempo aprendi a defender a água dos malditos buracos das toupeiras. Às vezes apeteceme desistir, mas o milho, agora cheio de maçarocas, se não for regado, fica com as folhas torcidas e amareladas. Toda a água é necessária, e no Verão as nascentes vão ficando cada dia mais fracas; e as presas demoram cada vez mais tempo a encher. Pensava eu nestas coisas no meio do milharal que me cobria completamente, e assobiava baixinho. De repente, gritei meio assustado: uma chapada de água saltou-me aos olhos, molhou-me a camisa e os calções, e enfiou-se por entre as galochas. – Que lindo assobio tu tens! Se o vendesses, fazias um rico dinheiro… A rir-se, com uma enxada nas mãos, tinha pela frente o Nicolau! Respondi-lhe com outra chapada de água… – Hás-de ser sempre o mesmo Alecrim aos molhos! Há mais de meia hora que te vejo a falar sozinho e a fazer gestos como o maestro duma banda de música. (… ) – Que andas aqui a fazer? – perguntei, já refeito do susto que me pregara. – Nada de especial. Como não tinha que fazer esta tarde, e como já te não velo há mais de um século, vim ver se já tinhas crescido um bocadito… Já estou farto de saber que sou pequeno, mas também não é preciso estarem sempre a dizer essa verdade, infelizmente. Mas que é que hei-de fazer?! Fiz de conta que não ouvi a piadinha e respondi-lhe como se fosse um homem casado: – É assim a vida rapazinho!... Agora há muito trabalho para fazer… A gente passa o tempo a tapar presas, a esvaziar tanques, pocinhas e minas; agora numa leira, depois noutra… E há o gado para pensar… E tu, que tens feito? – Para variar, a mesma coisa que tu… Mas agora acabou-se! Vou-me embora! Esta terra não tem futuro, estás a perceber? – Para onde vais? – O meu destino é Vila Nova de Gaia! Vou ficar em casa do meu irmão Casimiro! – Que é que vais para lá fazer? Ainda só tens treze anos!... – Isso não quer dizer nada! E fica sabendo que há por aí muito rapaz com quinze e dezasseis anos que tem muito menos corpo que eu, está bem? Ainda não tenho a certeza, mas parece que está bem encaminhado… Mas eu não tenho medo ao trabalho, seja lá o que for, e se não calhar nisso há-de ser noutra coisa… Imagina o que vai ser o meu trabalho?! Vou para um café! Já viste?! Aqui o rapaz a trabalhar num café?!... É claro que nos primeiros dias vai ser uma dor de cabeça por causa dos trocos… (… ) 21 – Pedro, tens uma carta! – avisou minha irmã Rosália quando cheguei a casa, à hora do almoço, com uma fome devoradora. Minha mãe retirou do bolso do avental um envelope onde estava escrito o meu nome com a letra miudinha do Nicolau. Contente e admirado, abri-o devagarinho. E fiquei surpreendido ao ver, dentro do envelope, guardanapos de papel escritos de ponta a ponta. Já sem fome, sentei-me à porta da cozinha e comecei a saborear a carta do Nicolau. Olá, Alecrim aos molhos! Deves estar admirado por eu mandar estes guardanapos, mas eu não tinha outro papel à mão. E até calhou bem porque são fáceis de dobrar e muito levezinhos. Fui escrevendo aos bocadinhos, conforme tinha tempo e disposição. Mando-te todos os guardanapos que escrevi, e acho que vais entender como tem sido a minha vida fora do Pragal. Estou cheio de sono e não me apetece escrever mais nada. É verdade que já estás um bocadinho mais crescido? Escreve-me e não te esqueças do código postal! Adeusinho e boas festas! Teu grande amigo, Nicolau. Quando cheguei a casa do meu irmão, ia mais morto que vivo. Pelo caminho enjoei, vê lá tu, e o Casimiro teve de parar uma data de vezes… Estava tão desfeito que nem sequer a minha mala carreguei para dentro de casa. E o pobre do Casimiro é que teve de alombar com os sacos atestados de batatas, garrafões de vinho e cebolas. A minha cunhada Isabel, com uma barriga bem empinada, fez-me chá. E foi esse o meu jantar. Deitei-me no quarto, que tem uma mobília nova. O meu irmão comprou-a há pouco tempo e agora anda a pagá-la a prestações. Nessa noite dormi pouco, embora me doesse a cabeça. Apesar de vivermos num terceiro andar, da rua vinha o barulho constante dos carros e autocarros …(…) Acordei porque o meu irmão me chamou. Não me apeteceu comer e eram seis e meia da manhã quando cheguei ao “Búfalo”!(…) O “Búfalo” tem seis empregados. Mas aquele que eu gosto mais é o senhor Armando, um velhote que sabe muitas anedotas e faz malabarismos com a bandeja, chávenas, pires, garrafas e copos. Quem o quiser enfurecer é dizer-lhe que o Futebol Clube do Porto não vale nada: até fica branco de tanto se enervar. Foi o senhor Armando que me deu um galão e torradas quando soube que eu era o novo empregado. – Rapaz, abre-me essas janelas que tens na testa, e não te deixes enganar. Olha que eu também vim das fragas! Esperava que me dessem uma bolsa de couro para atar à cintura e meter dentro os trocos. Esperava uma bandeja e uma lista com os preços das coisas… O senhor Xavier apareceu por trás do balcão e mandou-me segui-lo. “ Vai ser agora!”, pensei, olhando de lado para os espelhos nas paredes a ver se ainda tinha o cabelo bem penteado. Passámos por um corredor estreito e mal iluminado, descemos uns degraus, abriu-se uma porta e ficamos num pequeno quintal, que nem uma couve tinha. – Tens aqui trabalhinho par muitos dias! – disse o meu patrão. Eu nem queria acreditar! À minha frente estava uma pilha monstra de garrafas amontoadas a esmo. – Lava-as muito bem, as partidas ou com defeito põe-nas para um lado, e vê lá se te despachas. Quando o homem desapareceu, eu meti uma mão na boca e trinquei-a com força. Ah, que grande decepção! A minha vontade, naquele momento era partir aquela tralha toda e fugir. Depois lembrei-me que o patrão podia estar a vigiar-me, peguei na primeira garrafa e disse de mim par mim: “Aguenta, Nicolau!” (…) Há uma semana que ando a lavar garrafas! (….) Às vezes, fico assim meio esquisito. Acho que se visse uma cabra ou uma ovelha a tristeza desaparecia. 22 Não sei quantas vezes reli os guardanapos de papel enviados pelo Nicolau. Hoje à tarde respondi-lhe. Queria dizer-lhe muitas coisas, mas não sabia como começar. Depois de inutilizar algumas folhas dum caderno que dava ao meu irmão Jacinto para ele rabiscar e não me aborrecer, a carta saiu-me assim: Nicolau, grande amigo! Nem imaginas a alegria que eu tive quando recebi a tua carta! Realmente deve ser aborrecido passar os dias a lavar garrafas, e ainda por cima sozinho. No Pragal os dias vão quentes e cada vez há menos água para regar a terra. Como não é possível continuar a estudar, eu e minha mãe andamos a ver se conseguimos descobrir um emprego. Ainda não tenho a certeza mas se calhar vou para as obras aprender a trolha. Ando com muita sorte! Além da tua carta, há dias também recebi um postal. E sabes de quem? Do Luís… Ele está a passar férias em Espinho. Mandou-me um postal ilustrado escrito como nunca tinha visto! Queres saber o que ele escreveu? Então aí vai: Olávef, Pedrovof| Estouvef avof passarvef fériasvof emvef Espinhvof emvef casavof davef minhavof tiavef Rosavof. Istovef aquivof évef ovof máximovef! Adorovof saltarvef paravof avef piscinavof, mas-vef sóvof davef primeiravof pranchavef! (… ) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------23 – Partiram as cordas ao cavaquinho!... – disse eu quando o vi nas mãos do Jacinto. – E isso que interessa? – perguntou a mãe, que parece mais magra e pálida assim vestida de preto. – Claro que interessa! Quero aprender a tocar. Ou não posso? – Pega nele, é teu. Mas estima-o! – E as cordas? – Não sei. O tio Trindade é que sabe dessas trapalhadas. – Vou a casa dele! Peguei no cavaquinho e acariciei-lhe as formas – tão pequenitas! Fui encontrar o tio Trindade a soldar ferros de uma grade comprida. – Olha o Alecrim! Partiu-se o olho de uma enxada? – perguntou. – Não. Venho aqui para me consertar outra coisa. Mas não quero atrapalhar – disse eu, com o cavaquinho escondido atrás das costas. O tio Trindade limpou o suor da cara enfarruscada: – Diz lá o que queres! – Ah!... É por causa do cavaquinho… Partiram-lhe as cordas… – A tua mãe vai vendê-lo? – Não! É para mim! – E tu queres que eu te arranje as cordas? – Era. Se fizesse o favor… – Está bem. Vamos fazer um acordo. Ajudas-me a fazer a grade e depois eu ensino-te a afinar o instrumento, valeu? – Mas eu não sei nada… – Claro! Mas aprendes. Poisei o cavaquinho na sala do ferreiro. Pus um avental de couro e ajudei-o a terminar a grade. O tempo passou depressa. Escurecia quando apagámos a forja e fechámos a porta da oficina. – Agora vamos comer, depois tratamos do teu assunto. – Muito obrigado – disse eu, de repente, atrapalhado. A meio do jantar, o tio Trindade, depois de ter olhado para mim e para a mulher muitas vezes, disse com uma garfada de arroz parada no ar: – Podíamos fazer um acordo de homem para homem. Comes connosco e ajudas-me na oficina. À noite, vais dormir a tua casa. Quando nos zangarmos com os ferros, tocamos um fadinho… Que dizes a isto, Alecrim? Nunca me passou pela cabeça que aprendiz de ferreiro ia ser a minha primeira profissão. Pensei na minha mãe, nos meus irmãos, na nossa vida, e aceitei. – Vais ser tratado como um filho – disse o tio Trindade, dando-me uma palmada nas costas. Mais tarde, sentámo-nos à varanda, e eu aprendi a pôr as cordas no cavaquinho.
Baixar