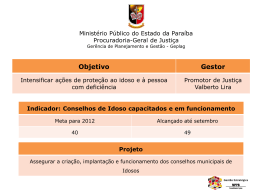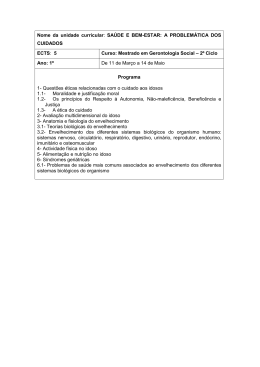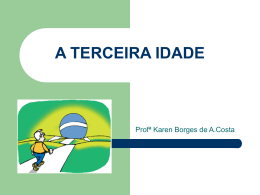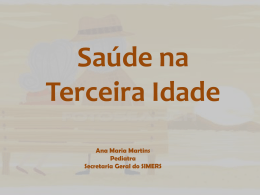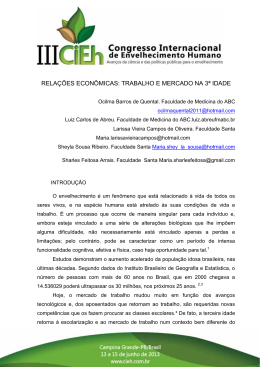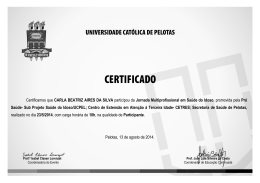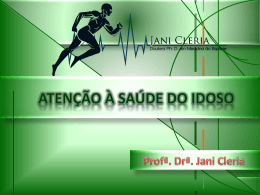Fundação Educacional de Divinópolis - FUNEDI Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG Mestrado em Educação, Cultura e Organizações Sociais REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ATENÇÃO ASSISTENCIAL OFERECIDA AO IDOSO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS Fernanda Maria Francischetto Rocha Divinópolis – MG 2008 Fernanda Maria Francischetto Rocha REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA ATENÇÃO ASSISTENCIAL OFERECIDA AO IDOSO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS Dissertação apresentada ao Curso de Mestrado da Fundação Educacional de Divinópolis, unidade associada à Universidade do Estado de Minas Gerais da, como requisito à obtenção do título de Mestre em Educação, Cultura e Organizações Sociais. Área de concentração: Estudos Contemporâneos Linha de Pesquisa: Saúde Coletiva Orientador: Prof. Dr. Paulo Sérgio Carneiro Miranda Divinópolis – MG 2008 R672r Rocha, Fernanda Maria Francischetto da Representação social da atenção assistencial oferecida ao idoso no município de Divinópolis [manuscrito] / Fernanda Maria Francishetto da Rocha - 2008. 145 f., enc. Orientador : Paulo Sérgio Carneiro Miranda Dissertação (mestrado) - Universidade do Estado de Minas Gerais, Fundação Educacional de Divinópolis. Bibliografia: f. 136-143 1. Idoso. 2. Velhice. 3. Políticas assistenciais. 4. Divinópolis-MG. 4. Silva, M. J., 2001. – Tese. I. Miranda, Paulo Sérgio Carneiro. III. Universidade do Estado de Minas Gerais. Fundação Educacional de Divinópolis. IV. Título. CDD: 362.19897 Dissertação intitulada “Representações Sociais da Atenção Assistencial oferecida ao idoso no Município de Divinópolis”, de autoria da mestranda Fernanda Maria Francischetto Rocha, aprovada pela banca examinadora constituída pelos seguintes professores: __________________________________________________ Prof. Dr. Paulo Sérgio Carneiro Miranda (Orientador) UFMG __________________________________________________ Profª. Drª. Elza Machado Melo UFMG __________________________________________________ Profª. Drª. Helena Alvim Ameno FUNEDI/UEMG Mestrado em Educação, Cultura e Organizações Sociais Fundação Educacional de Divinópolis Universidade do Estado de Minas Gerais Divinópolis, 13 de Junho de 2008. AUTORIZAÇÃO PARA A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DA DISSERTAÇÃO Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta dissertação por processos de fotocopiadores e eletrônicos. Igualmente autorizo sua exposição integral nas bibliotecas e no banco virtual de dissertações da FUNEDI/UEMG. Fernanda Maria Francischetto Rocha Divinópolis, 5 de junho de 2008 À minha família, sempre um porto seguro em minha vida. À amiga Solange, por tudo... Agradecer é sempre uma grande bênção, sinal de que nunca estive sozinha nesta jornada. Agradeço: A Deus, luz que ilumina todos os meus passos e palavras. Aos meus pais, Schirley (in memoriam) e Acyr. sempre presentes na minha vida e em meu coração. Ao Hamilton, por sua compreensão e apoio incondicional. Aos meus filhos, João Pedro, Mateus e Renato, por compreenderem minhas ausências, e sempre terem uma palavra de carinho comigo. Às minhas irmãs, Rita e Fabrícia, sempre companheiras, amparo em todos os momentos. À amiga Cecília, pelo carinho apoio e palavras de incentivo; você é realmente uma grande amiga. À amiga Karina, por ser tão sensacional; suas palavras e sua alegria foram combustível para continuar. À Carol, por dividir comigo toda a jornada; pelas risadas, momentos de dificuldade e apoio em tudo. Á amiga, e irmã de coração Fernanda Brito por todo seu carinho. À Solange, mais do que um modelo de profissional, uma amiga do coração. Aos professores e supervisores do curso de Fisioterapia, por sua colaboração e companheirismo. Ao Prof. Gilson; obrigado por ter acreditado em mim! Ao meu orientador Paulinho, por toda sua paciência e compreensão nas minhas dificuldades, que não foram poucas. A Tânia, companheira do dia-a-dia, sempre com uma palavra de incentivo. À Claudia, por seu carinho e colaboração. Às colegas do Departamento de Extensão, Antonieta, Andréia, Dulce, Sandra, Sheila, Ana Fabrícia, que sempre me incentivaram nos dias de desânimo. A todos os meus alunos e, em especial, à turma de formandos do ano de 2008, que me motivou a iniciar este mestrado. “Eu não tinha este rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas; eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil: – Em que espelho ficou perdida a minha.” (CECÍLIA MEIRELES.) RESUMO O envelhecimento populacional repercute em distintas esferas – econômica, social, política, dentre outras –, sendo um desafio para toda a sociedade. As demandas advindas de envelhecimento populacional incitam a formulação de políticas direcionadas a essa população como forma de garantir-lhes um envelhecimento com mais dignidade e autonomia. Esta pesquisa insere-se na área temática da velhice, do processo de envelhecimento, do idoso e de suas políticas assistenciais. Especificamente se busca aprofundar o estudo sobre o conhecimento das concepções dos representantes da sociedade civil, relacionados à assistência ao idoso, acerca da velhice e suas políticas assistenciais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Para tanto foram realizadas oito entrevistas com os representantes de ações de assistência ao idoso no município de Divinópolis (MG), no período de novembro de 2007 a fevereiro de 2008. Após o estudo, concluiu-se que, embora as políticas e os programas direcionados a esse segmento utilizem o critério etário para definir o idoso, uma das questões destacadas foi justamente a dificuldade de se estabelecer quem é o idoso, ou não, dentro da assistência. Para os entrevistados a relação com a questão da produtividade e atuação participativa na sociedade mostra-se como o fator mais significante para determinar o direcionamento das políticas de assistência. Em relação ao conhecimento das políticas direcionadas ao idoso, foi evidenciado que existe um desconhecimento da temática de forma consistente. A assistência para os entrevistados ocorre dentro de uma lógica, de que as políticas do idoso são destinadas à população idosa carente, dependente e adoecida. Palavras-chaves: Idoso, velhice, políticas assistenciais. ABSTRACT The aging of the population impacts on different domains – economic, social, political, among others -, and is a challenge for the entire society. The needs arising from the aging of the population incite the formulation of policies toward this population as a way to guarantee them to age with more dignity and autonomy. This research comprises topics of the oldness, the aging process, the ancient and the assisting policies. Specifically, its purpose is to deepen the study of the knowledge of the conceptions of the civil society representatives related to the assistance to the old people, about the oldness and its assisting policies. It is a qualitative, exploratory and descriptive research. Eight representatives of the assisting actions for the ancient in Divinópolis city were interviewed from November 2007 to February 2008.Upon the completion of the study, it was concluded that, although the policies and the programs toward the old people use the age as the parameter to define an old person, one of the highlighted issues was exactly the difficulty to establish who is or who is not old inside the assistance. As for the people interviewed, the relationship with the productivity issue and with the participation within the society appears as the most significant factor to determine the directions of the assisting policies. With respect to the knowledge of the policies directed to the old, it was evidenced that exists an ignorance of the theme in a consistent way. In the opinion of the people interviewed, the assistance occurs inside the logic that the policies to the ancient are destined to the old needy population, dependent and ill. Keywords: Ancient, oldness, assisting policies. LISTA DE REDUÇÕES ABN AVE CAB CMI CNBB CNDI DAMI DATAPREV EEOC EUA FUNEDI IBGE ILPI INPS INSS LOAS MDS MPAS OAB OIT OMS ONU OPAS PNI PNSI RAIS RMV SABE SAD SBGG SEMUSA SESC/SP SUS UEMG – Associação Nacional de Gerontologia. – Acidentes vascular encefálico. – Coordenadoria Atenção Básica. – Conselho Municipal do Idoso. – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. – Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. – Delegacia Adjunta da Mulher e Idoso e da Criança. – Processamento de Dados da Previdência e Assistência Social. – Equal Employment Opportunity Commission. – Estados Unidos da América. – Fundação Educacional de Divinópolis. – Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. – Instituição de Longa Permanência de Idosos. – Instituto Nacional de Previdência Social. – Instituto Nacional de Seguro Social. – Lei Orgânica de Assistência Social. – Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. – Ministério da Previdência e Assistência Social. – Ordem dos Advogados do Brasil. – Organização Internacional do Trabalho. – Organização Mundial da Saúde. – Organizações das Nações Unidas. – Organização Pan-Americana de Saúde. – Política Nacional do Idoso. – Política Nacional Saúde do Idoso. – Relação Anual de Informações Sociais. – Renda mensal vitalícia. – Projeto Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. – Serviço de Atendimento Domiciliar. – Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. – Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. – Serviço Social do Comércio de São Paulo. – Sistema Único de Saúde. – Universidade de Minas Gerais. SUMÁRIO INTRODUÇÃO................................................................................................................... 13 I – Considerações gerais................................................................................................ 13 II – Justificativa............................................................................................................ 17 III – Objetivos................................................................................................................19 a) Objetivo geral................................................................................................... 19 b) Objetivos específicos....................................................................................... 19 IV – Hipóteses............................................................................................................... 20 1 O VELHO, A VELHICE, O IDOSO E O ENVELHECIMENTO...................................21 2 DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL........................................... 36 3 AS POLÍTICAS ASSISTENCIAIS PARA O IDOSO..................................................... 49 3.1 O Plano de Viena........................................................................................................ 54 3.2 O Plano de Madri........................................................................................................56 3.3 A Constituição de 1988.............................................................................................. 58 3.4 Política Nacional do Idoso..........................................................................................64 3.5 Política Nacional de Saúde do Idoso.......................................................................... 66 3.6 Estatuto do Idoso........................................................................................................ 67 4 METODOLOGIA.............................................................................................................71 4.1 Descrição do campo de pesquisa................................................................................ 74 4.2 Descrição da amostra.................................................................................................. 78 4.3 Instrumentos da coleta de dados................................................................................. 79 4.4 Procedimentos para coleta dos dados......................................................................... 80 4.5 Análise dos dados....................................................................................................... 80 5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS................................................................................ 83 5.1 O que é, afinal, ser idoso?.......................................................................................... 84 5.1.1 Ser velho é diferente de ser idoso...................................................................... 85 5.1.2 Quando se chega a velhice? (critério etário – produtividade – dependência).. 88 5.1.3 Idade da discriminação e do abandono.............................................................. 97 5.1.4 Idade da sabedoria............................................................................................. 99 5.2 Assistência ao idoso................................................................................................... 101 5.2.1 Idoso e responsabilidade (de quem?)................................................................ 102 5.2.2 Idoso e o instrumento legal...................................................................................108 5.2.3 Idoso e controle social....................................................................................... 114 5.2.4 Política para quem? velho, idoso ou terceira idade?......................................... 123 CONSIDERAÇÕES FINAIS.............................................................................................. 133 REFERÊNCIAS.................................................................................................................. 136 ANEXO 1 – ROTEIRO DE ENTREVISTA....................................................................... 144 ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO.................... 145 13 INTRODUÇÃO I – Considerações gerais Há uma revolução social em marcha no mundo – silenciosa, contínua, inexorável. Não há mais como ignorá-la. É a revolução da longevidade, também chamada de “transição demográfica”, que é a expressão que designa o conjunto de modificações do tamanho e estrutura etária da população. O fenômeno de transição demográfica, observada no contexto mundial, constitui-se o centro das proposições de diversas iniciativas internacionais e políticas públicas, relacionadas com o envelhecimento (FONTE, 2002), já que há alteração das características da sociedade e do perfil das políticas sociais. Guimarães (2006) ressalta que o processo de envelhecimento populacional acarreta uma série de implicações nas mais distintas esferas – econômica, organização social, política, dentre outras –, sendo um desafio para toda a sociedade, inclusive para os próprios idosos. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), os anos de 1975 a 2025 corresponderão à “Era do Envelhecimento”, marcada pelo crescimento demográfico da população idosa, o que decorre, principalmente, do controle da natalidade e do aumento da expectativa de vida (LEME, 1997). Para Ramos (1997), este envelhecimento populacional deve-se ao acentuado declínio da taxa de mortalidade e da baixa taxa de fecundidade. Berquó (1996, p. 34) corrobora essa idéia ao afirmar que: (...) entretanto, é preciso levar em conta que uma queda da mortalidade produz ganho de vidas humanas em todas as idades, principalmente nas primeiras, aumentando o contingente de jovens na população em determinado momento. É possível, portanto, que uma queda na mortalidade não altere a estrutura por idade de 14 uma população, ou seja, o seu envelhecimento não estaria necessariamente, dependente daquela redução. O que pesa, sim, decisivamente para o envelhecimento de uma população é a queda da fecundidade. A princípio, esse processo de envelhecimento era um fenômeno característico dos países europeus, norte-americanos e do Japão, em decorrência das melhores condições de vida. Até a década de 1970, o Brasil era tido como um país de jovens, sofrendo nos últimos trinta anos um acelerado processo de envelhecimento pela inversão da pirâmide etária (NETTO et al., 2005). O aumento de expectativa de vida no Brasil deve-se, entre vários fatores, ao progresso da medicina e à melhoria das condições sociais e econômicas. Segundo estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil caminha para ocupar a sexta posição de país com o maior número de pessoas idosas do mundo, cerca de 32 milhões de indivíduos (OMS, 2000). Reconhece-se que o envelhecimento populacional traz novos desafios. Chaimowicz (1997) afirma que um deles diz respeito às pressões políticas e sociais para a transferência de recursos na sociedade. Por exemplo, as demandas de saúde modificam-se com maior peso nas doenças crônico-degenerativas, o que implica maior custo de internamento e tratamento, equipamentos e medicamentos mais dispendiosos. A pressão sobre o sistema previdenciário aumenta significativamente. O envelhecimento também traz uma sobrecarga para a família, sobrecarga essa que é crescente com a idade. Portanto, o envelhecimento populacional conduz profissionais à necessidade de reavaliarem critérios, além de encontrarem novas alternativas que sobrevêm no novo perfil da pirâmide etária. Segundo Fonte (2002), o debate atual tende a um enfoque alarmista, respaldado pelos aspectos potencialmente conflituosos gerados pela transição demográfica, quais sejam: a) No âmbito mundial já é significativo o número de pessoas idosas e seu aumento proporcional em relação ao resto da população. Esta tendência é 15 crescente, já que os índices de natalidade continuam baixando, fator primordial para o envelhecimento da população. b) Este fenômeno gera demandas e, portanto, maiores custos ao sistema sóciosanitário, já que os idosos tendem a sofrer mais enfermidades crônicas. c) Este fenômeno coloca em questão o atual modelo de Previdência Social. d) Há uma tendência de que exista uma pressão mais intensa da população em torno dos sistemas de proteção social, uma vez que o apoio informal à população idosa declina em face das mudanças ocorridas, principalmente, nas estruturas familiares. e) Observa-se o aumento do desemprego estrutural com uma crescente dependência dos recursos e benefícios do sistema de proteção social por parte da população economicamente ativa, excluída do mercado de trabalho. f) O aumento quantitativo de pessoas idosas aumenta a importância política, pelo menos, representada por um contingente de efetivo peso eleitoral. Para Fonte (2002) todos esses aspectos provocam a transformação de um enfoque centrado na velhice biológica ou individual para uma preocupação com as questões sociais e políticas do envelhecimento. Com o crescimento numérico desse segmento populacional, vem à tona uma nova dimensão: a questão do envelhecimento humano, que vem exigindo a reestruturação dos sistemas socioeconômicos da Previdência Social, da assistência sóciosanitária, do mercado de trabalho e do papel do Estado, e uma análise diferenciada no contexto de uma nova configuração etária. Assim, as demandas advindas de envelhecimento populacional incitam a formulação de políticas direcionadas a essa população como forma de garantir-lhes um envelhecimento com mais dignidade e autonomia. 16 O Brasil é um dos pioneiros na América Latina na implementação de uma política de garantia de renda para população trabalhadora, que culminou com a universalização da seguridade social instituída pela Constituição federal de 1988, sendo composta pelas políticas de saúde, previdência social e assistência social (CAMARANO, 2002). Dentro da assistência ao idoso, podem-se citar: a Lei n.° 8.842, de 4 de janeiro de 1994, e posteriormente o Decreto n.° 1.948, de 3 de julho de 1996, que constituem a Política Nacional do Idoso; a Portaria n.º 1.395, de 9 de dezembro de 1999 – Política Nacional de Saúde do Idoso; a Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; e, na saúde, pode-se considerar como um marco a Portaria n.o 399, de 22 de fevereiro de 2006, que divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e aprova as Diretrizes Operacionais do referido Pacto. Em uma de suas dimensões, o Pacto pela Vida estabelece seis áreas prioritárias de atuação, dentre as quais se situa a saúde da população idosa. Nesse documento, pela primeira vez na história do SUS, a saúde da população idosa consta como prioridade das três esferas de Governo e são destacadas ações estratégicas para que essa prioridade se efetive. Pensar a velhice sob o prisma da responsabilidade social, no âmbito mais amplo da ação pública, supõe conhecer os direitos civis do cidadão nas diferentes áreas de saúde, educação, previdenciária e trabalhista previstos pela Constituição. Desta forma, a questão do envelhecimento como objeto de preocupação e estudo passou tanto pelo interesse pessoal da autora deste trabalho quanto pela relevância social do tema. 17 II – Justificativa Na perspectiva pessoal, a opção pelo tema central “políticas de assistência ao idoso” suscitou o interesse da autora desta dissertação ao desenvolver um trabalho nas Unidades Básicas de Saúde do município de Divinópolis (MG) com esse segmento populacional há aproximadamente cinco anos. A proximidade com os problemas e necessidades que cercam as pessoas da terceira idade, bem como a percepção de que a condição do idoso e suas principais queixas não estavam diretamente relacionadas a questões fisiológicas, mas, sim, a uma situação muito mais complexa de fragilidade social e organização de sua assistência geraram este interesse pelo tema. Nesse período a autora deste trabalho iniciou sua participação no Conselho Municipal do Idoso e pôde sentir o quanto as políticas e direitos do idoso são pouco conhecidos tanto por parte dos idosos como também por suas representações políticas. Observei que a figura do idoso é ainda muito complexa, e ele se abstém de participação, outorgando seus direitos a outros que por muitas vezes interpretam suas necessidades a partir de suas representações sobre a velhice e o envelhecimento. Deste modo esta pesquisa insere-se na área temática da velhice, do processo de envelhecimento, do idoso e de suas políticas assistenciais. Especificamente se busca aprofundar o estudo sobre o conhecimento das concepções dos representantes da sociedade civil, relacionados à assistência ao idoso, acerca da velhice e suas políticas assistenciais. Partiu-se das hipóteses de que as concepções sobre os idosos dos profissionais que atuam na sua assistência acabam por influenciar suas práticas; de que a representação da pessoa idosa influencia no entendimento das políticas a esta população; de que existe pouco conhecimento sobre as políticas de atenção ao idoso. 18 Para a realização da pesquisa escolhi como público pesquisado os principais atores envolvidos nas ações de assistência ao idoso. A finalidade deste estudo sobre o envelhecimento é oferecer subsídios para os representantes e gestores que pretendam compreender melhor o fenômeno e envidar esforços no sentido de contribuir para o equacionamento da questão da velhice na sociedade. Desta forma, compreender os conceitos e discursos relacionados à velhice e ao processo de envelhecimento no cotidiano de suas práticas é fundamental, ao possibilitar aos gestores nortearem ações, promoverem ajustes e oferecerem uma melhor condição para assistir o idoso mediante um planejamento adequado. Deseja-se acreditar no acerto da escolha por ser a questão da velhice objeto de interesse de várias áreas científicas em todo o mundo, causando inquietações em vários campos do saber, na prática cotidiana e também na orientação de políticas públicas. Julga-se legítimo, portanto, o interesse de identificarem-se as formas em que se organizam no pensamento de assistência ao idoso os processos simbólicos sobre a velhice e os espectros que os circundam, fazendo-o sob o enfoque das suas concepções por acreditar que, para apreender o significado da velhice, é necessário considerar o discurso não somente dos idosos, mas, também, daqueles sobre os quais recaem os seus cuidados, pois é sabido que todas as pessoas, influenciadas pelo meio social em que vivem, elaboram idéias e juízo de valor. Para contextualizar o tema proposto, três eixos possibilitarão orientar e circunscrever aspectos referentes à condição do idoso: no primeiro capítulo serão abordados os limites utilizados para definir o indivíduo “idoso”, como as considerações ligadas ao próprio processo da evolução biológica do homem, as diversidades culturais e os aspectos sociais que servem de referencial para periodizar os indivíduos e o próprio marco cronológico utilizado freqüentemente pela maioria das leis direcionadas para definir categorias etárias; o segundo 19 capítulo aborda o contexto do envelhecimento populacional e os inúmeros fatores que se interrelacionam – entre eles, os de maior relevância são aqueles ligados à previdência social e à saúde e a família, os quais constituem desafios para o Estado, setores produtivos e famílias; o terceiro capítulo busca refletir, a partir da literatura pertinente, como os idosos, bem como a sociedade civil e o governo se têm mobilizado no sentido de construir políticas públicas e institucionalizar direitos no sentido de reduzir desigualdades sociais experimentadas por esse segmento populacional; e o quarto capítulo, no qual os aspectos tratados nos capítulos anteriores serão analisados a partir da pesquisa realizada no campo de estudo. III – Objetivos “Por acaso, surpreendo-me no espelho: Quem é esse que me olha e é tão mais velho que eu? (...) Parece meu velho pai - que já morreu! (...)” (MÁRIO QUINTANA.) a) Objetivo geral O objetivo geral é conhecer e analisar as concepções de representantes da sociedade civil de Divinópolis sobre o idoso e sua Política Assistencial. b) Objetivos específicos Os objetivos específicos são: Identificar as concepções sobre o idoso e sobre a velhice. Verificar o conhecimento sobre as políticas assistenciais para o idoso. Correlacionar as informações dos atores investigados quanto às ações de atenção ao idoso. 20 Verificar os programas existentes na comunidade voltados para atenção ao idoso. Identificar as principais necessidades e os problemas que o idoso enfrenta no município de Divinópolis (MG). IV – Hipóteses “Quero, um dia, dizer às pessoas que nada foi em vão... Que o amor existe, que vale a pena se doar às amizades e às pessoas, /que a vida é bela sim e que eu sempre dei o melhor de mim... e que valeu a pena.” (MÁRIO QUINTANA.) As hipóteses do trabalho são as seguintes: 1) Que as representações sociais sobre o idoso influenciam no entendimento e aplicabilidade das políticas de assistência. 2) A política de assistência ao idoso é pouco conhecida pelos responsáveis por sua implementação. 21 1 O VELHO, A VELHICE, O IDOSO E O ENVELHECIMENTO “Somos sempre o jovem ou o velho em relação a alguém.” (PIERRE BOURDIEU.) Na busca para compreender a velhice e todas as modificações decorrentes do avanço da idade faz-se necessário definir o que vem ser um indivíduo idoso, a velhice e o envelhecimento. Segundo o Dicionário Aurélio (2004): idoso é um adjetivo que expressa “muita idade”, velho. Velhice, estado ou condição de velho. Velho, por sua vez, é uma pessoa “muito idosa”, de época remota, algo antigo, antiquado, obsoleto. A definição do que vem a ser “muita idade” é evidentemente, um juízo de valor, que para Camarano (1999) depende de características específicas das sociedades, em que os indivíduos vivem. Logo, a definição de idoso não diz respeito a um indivíduo isolado, mas, à sociedade em que ele vive. A velhice sempre foi uma preocupação presente ao longo da história humana. Filósofos, poetas, escritores e pesquisadores produzem idéias sobre o sentido comum do envelhecimento, construindo sobre a velhice imagens e definições. Em todos os lugares, afirma Minois (1987), teme-se a velhice. Possivelmente se explica este temor com base na percepção apresentada por Gabriel García Márquez no seu livro O Amor em Tempo de Cólera: “é o período da vida em que a morte deixa de ser uma possibilidade remota para se transformar em uma realidade mais imediata”. Ao refletir sobre a velhice e o envelhecimento, Mascaro (2004) cita uma dualidade – o interesse e a rejeição –, pois o processo de envelhecimento com suas perdas e limitações naturais do ponto de vista biológico remete as pessoas ao sentimento da proximidade da morte e mesmo da consciência de sua finitude; essa angústia aumenta sob a ótica socioeconômica da velhice ao deparar-se com as desigualdades sociais de um grande número de idosos 22 brasileiros, e todas estas dificuldades reafirmam-se mediante os muitos estereótipos e preconceitos relacionados ao envelhecimento, à velhice e aos idosos. A representação da velhice como um processo contínuo de perdas – em que os indivíduos ficariam relegados a uma situação de abandono, de desprezo de ausência de papéis sociais –, segundo Debert (1999), acompanha o processo de socialização da gestão da velhice. Essa representação é responsável por uma série de estereótipos negativos em relação aos velhos, mas é, também, um elemento fundamental para legitimação de um conjunto de direitos sociais. A tendência contemporânea é, entretanto, a inversão da representação da velhice como um processo de perdas, e a atribuição de novos significados aos estágios mais avançados da vida, que passam a ser tratados como momentos privilegiados para novas conquistas, guiadas pela busca do prazer, da satisfação e da realização pessoal. Assim, os saberes e experiências acumulados tornam-se ganhos que propiciariam a retomada para realização de projetos abandonados em etapas da vida bem como estabelecer relações com o mundo dos mais jovens. Como afirma Barros (2007), hoje, na sociedade contemporânea, com a exacerbação da atenção dada ao corpo, especialmente ao corpo vigoroso, ágil e sexualizado, a velhice incomoda por sua inexorabilidade, independente de todos os saberes que investigam o corpo humano na tentativa de adiar sua chegada e da própria morte. Debert (2000) considera uma distinção entre o fator universal e natural – o ciclo biológico do ser humano, e de boa parte das espécies naturais, que envolvem o nascimento, o crescimento e a morte – e um fator social e histórico, a variabilidade das formas de conceber e viver o envelhecimento. A autora ressalta que as representações sobre a velhice, a posição social dos velhos e o tratamento que lhes é dado pelos mais jovens ganham significados particulares em contextos históricos sociais e culturais distintos. 23 Sobre os conceitos de envelhecimento, velhice e idoso, Santos (2003) faz uma reflexão a partir da teoria da complexidade de Edgar Morin, em que considera o envelhecimento um processo; o idoso, um ser do seu espaço e do seu tempo; e a velhice, a última fase do processo humano de nascer, viver e morrer. O mistério da longevidade e do envelhecimento vem intrigando a humanidade desde os tempos mais remotos. Muitas teorias antigas interpretavam o envelhecimento como um declínio, uma fraqueza do organismo e identificava a velhice como doença. Na Grécia, Hipócrates (460–380 a.C.), chamado pai da medicina, acreditava que o organismo humano era composto de quatro substâncias: o sangue, a linfa, a bile amarela e a bile negra. A doença e a velhice eram manifestações de um desequilíbrio entre as quatro substâncias. Aristóteles (384– 322 a.C.) acreditava que a condição que permitia a existência da vida humana era o calor interno e que a velhice significava o apagar progressivo dessa chama vital. No século II, o médico grego Galeno (130–200 d.C.), ao sintetizar os conhecimentos da medicina grega, afirmou que a velhice era o resultado do enfraquecimento e da redução das funções biológicas do idoso. Assim, a velhice durante muito tempo sempre foi associada à doença e os cientistas tentavam encontrar a cura para seus males. Mascaro (2004) e Netto (2006) relatam que muitas teorias foram formuladas para decifrar os mistérios do envelhecimento, como: Teoria do Desgaste: proposta em 1882 pelo biólogo alemão August Weismann, baseia-se na analogia entre o corpo humano e uma máquina, logo da mesma forma que a máquina sofre desgaste pelo uso, o corpo humano também sofreria um desgaste prejudicial ao seu funcionamento. Teoria do Tempo de Vida: enunciada pelo fisiologista alemão Max Rubner em 1908, é uma variante da teoria acima, e baseia-se na idéia de que os 24 animais nascem com certa quantidade de energia vital e de que, se esta energia for gasta rapidamente, se envelhece rapidamente. Teoria da Mutação Genética: proposta no final da década de 1940, explica o envelhecimento pela hipótese da mutação das células. Sendo o funcionamento das células controlado pelo material genético, quando há uma mutação genética nas células, elas continuarão a acontecer até que cada órgão seja afetado pela mutação resultando no envelhecimento. Teoria da Não-Compensação Homeostática: apresenta como desencadeante do envelhecimento o declínio do mecanismo homeostático, que é responsável pelo equilíbrio fisiológico do organismo. Teoria de Acúmulo de Resíduos: principal causa do envelhecimento é a intoxicação das células, provocada pelas toxinas e resíduos acumulados no organismo. Teoria da Auto-Imunidade: fundamenta-se na diminuição da produção de anticorpos pelo sistema imunológico. Teoria dos Radicais Livres: desenvolvida em 1956 pelo bioquímico norteamericano Denhan Harman, sugere que a principal causa do envelhecimento seria um dano celular provocado pela atuação dos radicais livres do oxigênio. Mesmo sendo o fenômeno do envelhecimento comum a todos os seres vivos, Netto (2006) afirma que surpreende o fato de que ainda hoje persistam tantos pontos obscuros quanto à dinâmica e à natureza desse processo. Visto que tanto o envelhecimento como sua conseqüência à velhice sempre foram objetos de estudos da humanidade desde o início das civilizações. Um dos estudos citados pelo autor refere-se aos biogerontologistas que consideram o envelhecimento como a fase de todo um continuum, que é a vida, começando esta com a 25 concepção e terminando com a morte. Ao longo desse continuum é possível observar fases de desenvolvimento, de puberdade e maturidade, entre as quais podem ser identificados marcadores fisiológicos que indicam transição delas. Esta visão do envelhecimento está intimamente vinculada à dificuldade de definir-se a idade biológica. Respeitando essa limitação, Netto (2006) ressalta que, para a biologia, o envelhecimento é conceituado como processo dinâmico e progressivo, no qual há modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas, que determinam perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando vulnerabilidade e maior incidência de processos de adoecimentos. Já Paschoal (2002) propõe que o envelhecimento deve ser definido sob os aspectos biológico, cronológico e social. Do ponto de vista biológico, o autor corrobora a idéia acima, ao afirmar que o envelhecimento é um processo contínuo e degenerativo que começa tão precocemente quanto à puberdade, ou mesmo, alguns acreditam que desde a criação. Quanto ao aspecto cronológico do envelhecimento, depende do desenvolvimento socioeconômico de cada sociedade considerar seus membros a partir dos sinais inexoráveis de envelhecimento com suas limitações e perdas de adaptabilidade em diferentes idades cronológicas. Já do ponto de vista social, a forma como são percebidas as características de pessoas idosas varia de acordo com o quadro cultural, com o transcorrer das gerações e principalmente com as condições de vida e trabalho a que estão submetidas as populações, sendo que a desigualdade social, quando ocorre, acarreta desigualdades no processo de envelhecer. O envelhecimento visto sob a ótica do pensamento biológico, é descrito por Groisman (2002) como um estágio de degeneração do organismo, que se iniciaria após o período reprodutivo. Assim, esta degeneração estaria associada à passagem do tempo e implicaria em uma diminuição da capacidade de sobrevivência do organismo, entretanto o autor também 26 ressalta a dificuldade de tentar-se marcar o início desse processo ou medir o grau desse envelhecimento. Outra dificuldade para estabelecer o grau de envelhecimento decorre do desafio das fronteiras entre saúde e doença na velhice. Groisman (2002) informa que Canguilhem adverte para o fato de a sociedade confundir saúde com juventude, e a velhice ser concebida como doença pelo grau de degeneração que causou no organismo. Ressalta que há pessoas de idade avançada que passam por problemas cruciais de saúde e que procuram realizar adaptações para manter seu estilo de vida e suas atividades básicas, mas há também pessoas de idades avançadas que são saudáveis e vivem suas rotinas sem maiores dificuldades. Assim, Ferrari (1999) salienta a necessidade de distinguirem-se os processos normais do envelhecimento, dos processos patológicos, e admite que existem mudanças normais associadas à velhice, como: a diminuição do vigor físico ocasionando uma lentidão na execução das atividades sem se caracterizar como um adoecimento. Segundo Haddad (1986), existe uma dificuldade de estabelecer o marco de início do envelhecimento, não só pelo fato de este ser variável de indivíduo para indivíduo, como também porque os primeiros sinais são quase imperceptíveis. Assim, em geral a sociedade interpreta a chegada do envelhecimento com a imagem que lhes chega aos olhos, logo são atribuídas características como cabelos grisalhos, pele enrugada, calvície etc. Simone de Beauvoir escreveu que o envelhecimento e a velhice aparecem com maior clareza aos olhos dos outros do que aos olhos de nós mesmos: Podemos sentir a sensação de não termos idade alguma, de estarmos situados numa espécie de limbo, do qual somos abruptamente içados pela mão do outro, e assim perceber de repente o nosso próprio envelhecimento e tomar conhecimento de que o tempo também tem suas tramas em nosso corpo. (BEAUVOIR, 1970). O critério mais utilizado para determinar o início do envelhecimento, segundo Groisman (2002), Netto (2006), Loureiro (2000) e outros, é o cronológico (a idade), que é 27 considerado como falho e arbitrário, já que o envelhecimento é vivenciado de forma heterogênea pela população. Logo pessoas da mesma idade podem estar em condições diferentes de envelhecimento, decorrentes dos efeitos que esta idade teria causado em seu organismo. Determinar o momento que uma pessoa é considerada idosa relaciona-se com o momento histórico, com uma dada sociedade e diferentes situações sociais. Segundo Debert (1999), as sociedades em diferentes momentos históricos atribuem um significado especifico às etapas do curso de vida dos indivíduos: infância, juventude, maturidade e velhice. Também estabelecem as funções e atribuições preferenciais de cada grupo de idade, na divisão social do trabalho e dos papéis na família. Essas atribuições são, em boa parte, arbitrárias, porque nem sempre se formam numa materialidade ou numa cronologia de base biológica quanto às reais aptidões e possibilidades, mas, sim, em relações construídas num tempo social essencialmente dinâmico, mutável. A autora ainda afirma que, em todas as sociedades, é possível observar a presença de grades de idades específicas, contudo a pesquisa antropológica demonstra que a idade não é um dado da natureza, nem um princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais, nem explicativo dos comportamentos humanos. Entretanto, a periodização da vida faz-se presente em outras pesquisas, como na pesquisa histórica, que trata das mudanças ocorridas nas sociedades européias, descrito por Áries. Áries (1981), apud Debert (2007), mostra que a criança como categoria não existia na Idade Média; no momento em que a criança apresentava capacidade física passava a participar integralmente do mundo do trabalho e da vida social do adulto – a constituição da infância foi a partir do século XIII. A datação da idade e a definição das práticas relacionadas a cada período variam segundo grupos sociais de uma mesma sociedade. Debert (2007) cita o trabalho de George 28 Duby (1973), o qual mostra que na França do século XII uma nova etapa da vida foi designada de “juventude”, compreendendo o período que era a saída da infância e antecedia o casamento; essa etapa, segundo o autor, era uma estratégia das famílias para conservar poder e patrimônio, portanto ser jovem não era questão de idade, mas, sim, era o momento de espera para casamento adequado. Assim se percebe que a sociedade desde a Antiguidade se preocupava em demarcar fases da vida com fundamento na idade cronológica. Mascaro (2004) informa que, na Idade Média, em uma enciclopédia intitulada O Grande Proprietário de Todas as Coisas, uma compilação dos escritos do Império Bizantino, as idades da vida correspondiam aos sete planetas: a primeira idade e a infância, que dura até os sete anos; a segunda idade é chamada puerilidade e vai até os catorze anos; a terceira idade é chamada de adolescência e pode estender-se até os 30–35 anos e corresponde à fase de procriação; a quarta idade é chamada juventude e chega até os 45 ou 50 anos (segundo Aristóteles, esta é a idade da plenitude das forças e da capacidade do indivíduo de ajudar os outros e a si mesmo); a quinta idade é chamada de senectude, estendendo-se até os setenta anos; a partir dos setenta anos, segue-se a fase da velhice. Meyer Fortes (1984) considera que nas sociedades ocidentais a idade cronológica é um mecanismo básico de atribuição de status como: maioridade legal, entrada no mercado de trabalho, direito à aposentadoria etc., sendo estabelecida por um aparato cultural independente da estrutura biológica e do estágio de maturidade; são normas estabelecidas por lei que determinam direitos e deveres do cidadão. Este sistema de datação está ausente na maioria das sociedades não ocidentais, pois estas levam em conta a incorporação de estágios de maturidade, que não considera só o desenvolvimento biológico, mas, também, o reconhecimento da capacidade de realização de tarefas, os estágios de maturidade, portanto diferem da ordem de nascimento. 29 Cabe ressaltar que a idade cronológica tem relevância quando o quadro político jurídico ganha precedência sobre as relações familiares para determinar a cidadania. Bordieu (1983) afirma que a manipulação das categorias de idade envolve uma verdadeira luta política, na qual está em jogo a redefinição dos poderes ligados a grupos sociais distintos em diferentes momentos do ciclo da vida. Para Camarano (1999), quando os formuladores de políticas assumem que a idade cronológica é o critério universal de classificação para a categoria idoso, estão admitindo implicitamente que a idade é o parâmetro único e intertemporal de distinção. A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 1982, pela Resolução 39/125, durante a Primeira Assembléia Mundial das Nações Unidas sobre o Envelhecimento da População, que o ser idoso difere para países desenvolvidos e para países em desenvolvimento. Nos primeiros, são considerados idosos os seres humanos com 65 anos e mais; nos segundos, assim como no Brasil, são idosos aqueles com sessenta anos e mais. Essa definição baseou-se na expectativa de vida ao nascer e na qualidade de vida que as nações propiciam a seus cidadãos (SANTOS, 2003). Do ponto de vista fisiológico, a velhice apresenta-se com ritmos diferentes e inúmeras variáveis. Minayo (2002), ao tratar dessas variáveis, afirma que, se por um lado este ciclo biológico é próprio do ser humano – todos nascem, crescem e morrem –, por outro, as várias etapas da vida são social e culturalmente construídas. Isto é, as diversas sociedades constroem diferentes práticas e representações sobre o envelhecimento e sua fase correspondente, a velhice. Assim, ao abordar a temática da velhice e sua conceituação, Simone de Beauvoir (1970,p 46) afirma: A velhice é um fenômeno biológico: o organismo do homem idoso apresenta certas singularidades; que acarreta conseqüências psicológicas: certos comportamentos são considerados, com razão, como característicos da idade avançada. Como todas as 30 situações humanas, ela tem uma dimensão existencial: modifica a relação do indivíduo com o tempo e, portanto, sua relação com o mundo e sua própria história. Santos (2003) cita Morin, que corrobora esta idéia ao aceitar que a velhice e a morte estão inscritas na herança genética humana e que são “coisas“ normais e naturais, porque uma e outra são universais e não sofrem qualquer exceção entre os mortais. É importante ressaltar que o envelhecimento, a vivência e a situação do idoso são marcadamente diferentes, se ele é rico ou pobre; se ele é saudável ou doente; se é dependente ou independente; se é homem ou mulher; se mora em sua casa ou em um asilo; se trabalha ou é aposentado. Basta olhar à volta para perceber-se que existem muitos contrastes e, portanto, uma diversidade de percepções de velhices. Peixoto (2007), em seu estudo sobre as representações sociais francesas e brasileiras da velhice, relata que a designação de “velho” na França do século XIX era para os indivíduos que não tinham status social (indigentes), enquanto os que possuíam patrimônio eram designados de “idosos”. A velhice nesse século era associada à diminuição da capacidade de produção do indivíduo, sendo o termo “velho” relacionado a uma situação de exclusão social. A noção de velho é, pois, associada à decadência e confundida com incapacidade de trabalho. No século XX, a implementação de uma política social de elevação das pensões faz aumentar o prestígio dos aposentados e há uma transformação nos termos de tratamento em que o vocábulo “velho” é excluído dos documentos oficiais franceses, que passam a adotar a palavra “idoso”. No Brasil, o autor relata que as designações da velhice seguiram um caminho semelhante ao da França, embora mais recente. Atribui ao fato de que o objeto velhice entrou na cena brasileira há pouco tempo, datando dos anos 60. O termo “velho” nessa época não possuía um caráter especificamente pejorativo, como na França, mas dependia da entonação e do contexto utilizado. A mudança da imagem da velhice chegou ao Brasil influenciado pelas 31 idéias européias. Ainda que a palavra “idoso” não fosse muito utilizado, no Brasil representava um tratamento mais respeitoso e relacionado com pessoas de melhor status social, em que se entende que a velhice não seja aparente, enquanto o termo “velho” tem uma conotação negativa ao designar pessoas pertencentes a camadas populares e que representam traços de declínio e envelhecimento. Segundo Néri (1991), no Brasil, não existe designação específica para tais expressões, que passaram a ser utilizadas em pesquisas e também no vocabulário quotidiano, algumas vezes com conotação depreciativa, mas, sem preocupação de fundamentações teóricas. Peixoto (2007) ainda ressalta que, se o termo “idoso” tornou os velhos mais respeitados, este ficou mais valorizado com a criação da categoria aposentado, pois passam a adquirir um status social reconhecido. Entretanto, se se considerar que a ideologia do trabalho e a apologia da produtividade são bastante valorizadas nas sociedades industriais, a aposentadoria representa perda de um papel social fundamental, passando a ser sintoma social de envelhecimento. Em seu trabalho, Peixoto (2007) informa que para Lenoir o termo “idoso” não é tão preciso quanto “velho”, mesmo que seja mais respeitoso, pois ele abarca realidades diferentes, ocasionando uma ambigüidade, pois serve para designar tanto a população envelhecida em geral como os indivíduos de classe social favorecida. Ocorre então uma homogeneização de todas as pessoas de idade. Nahoum (1982), citado por Sá (1997), em uma sensível percepção da velhice, avalia-a como uma instituição política, pois é a perda do poder e uma convenção social estabelecida por um sistema, que revoga os direitos do indivíduo após um certo número de anos, ou seja, o indivíduo não é velho tanto porque o seja na idade ou nos sinais biológicos, mas, sobretudo, o cidadão é velho porque assim é decretado. 32 Entretanto, a resposta a qualquer tipo de questão sobre velho ou velhice, no Brasil, depende de como ela é feita e a quem é direcionada; não existe uma resposta única, porque o fenômeno da velhice tem múltiplos significados, contextualizados por fatores individuais, interindividuais, grupais e socioculturais. Afirma-se que o conhecimento científico, também contextualizado por esses fatores, desempenha um papel fundamental na atribuição de significados a esse objeto à medida que justifica, explica e legitima determinadas práticas e atitudes em relação à velhice (NÉRI, 1991). Assim, a velhice e as problemáticas a ela relacionadas estão presentes, atualmente, nas discussões de diferentes áreas do conhecimento. Barros (2007) afirma que se pode dizer que este fato seja decorrente da maior visibilidade da velhice e dos velhos na última década, o que é atestado não só pelos dados demográficos, mas, também, pela experiência cotidiana dos habitantes das cidades brasileiras, que hoje convivem com velhos e velhas nos domínios da vida privada e também nos espaços públicos. A velhice, pois, ultrapassa os limites da vida particular de cada um para atrair a atenção de toda a sociedade. Com o crescimento da população idosa, o aspecto social da velhice ganhou ênfase nos estudos de vários autores. Debert (2007) vê a velhice como uma questão social ampla e complexa, com quatro dimensões: 1) reconhecimento; 2) legitimação; 3) pressão; e 4) expressão. Assim, segundo a autora, reconhecer a velhice é retirá-la do anonimato, e colocar a público sua realidade, é engajar na sua luta novos atores sociais. A legitimação, por sua vez, não é só tornar público seu problema, ou seja, não basta que a sociedade conheça seus problemas, mas, sim, conquistar seus direitos. A pressão é a forma que se utiliza por meio de porta-vozes ou grupos sociais para denunciar e tornar públicas questões sociais. A expressão é o reflexo da pressão, no momento em que se redefine a velhice e surgem novas expressões como “terceira idade”, “melhor idade”, emergindo, assim, uma nova imagem da velhice. 33 A invenção da expressão “terceira idade” visa a classificar os indivíduos que não mais trabalham, mas não apresentam sinais de senilidade e decrepitude. A terceira idade passa então a definir uma nova maneira de viver entre as idades adultas e a velhice, como momento privilegiado para novas conquistas na busca do prazer, da satisfação e da realização pessoal (DEBERT, 1999). Esta nova denominação representa uma inversão da representação da velhice como processo de perdas e atribuição de novos significados aos estágios mais avançados da vida; assim, a experiência e os saberes acumulados são ganhos que favorecem os velhos de criar oportunidades de realizações de projetos e explorar novas experiências. As mudanças que favoreceram esta nova configuração da velhice é, segundo Debert (1999), a formação de um contingente de aposentados em plena capacidade de ação, descaracterizando a aposentadoria como passagem para velhice. Esta comunidade de aposentados apresenta peso suficiente na sociedade ao demonstrar dispor de saúde, independência financeira e disposição para buscar sua realização. Surge em decorrência desse fato uma nova linguagem pública, que se empenha na desconstrução do modelo das idades cronológicas como marcadores de comportamento e estilos de vida. Assim, a juventude deixa de ser um estágio da vida para transformar-se em um bem a ser conquistado, por meio de adoção de estilos adequados de vida. A visibilidade alcançada pela velhice exige, sem dúvida, algumas reformulações na sua representação na sociedade, entretanto, ao ressaltar as formas inovadoras e bem-sucedidas do envelhecimento, não se pode minimizar a velhice abandonada e dependente, ou mesmo transformá-la como conseqüência do descuido pessoal, da falta de envolvimento em atividades motivadoras e formas de consumo inadequadas. 34 Segundo Fonte (2002), a velhice, que historicamente foi enfocada como um fenômeno relativo ao processo físico e restrito à esfera familiar ou privada, torna-se atualmente uma questão central nos debates sobre o planejamento das políticas públicas. Essas mudanças mostram-se diretamente relacionadas com outros fatores presentes na realidade socioeconômica que não refletem necessariamente as transformações físicas do processo de envelhecimento. Portanto, pode-se afirmar que: A velhice é construída por meio da elaboração de discursos que tendem a modificar-se de acordo com as necessidades econômicas e políticas do contexto histórico social. Esses discursos condicionam, orientam e definem o comportamento das pessoas idosas e das oportunidades a elas oferecidas (ou permitidas) de participação nas diversas estruturas sociais. Tais discursos caracterizam-se por associar o processo biológico a uma imagem – positiva ou negativa – da velhice, atribuindo-lhe um status correspondente. Os discursos sobre a velhice freqüentemente correspondem a uma explicação que legitima sua inserção ou exclusão dentro de um determinado contexto histórico e social. Essas imagens e conceitos orientam o comportamento social e as políticas dirigidas a essa população. Em seus estudos, Fontes (2002) afirma que atualmente se está em um momento de redefinição de imagens sobre a pessoa idosa; observa-se a transformação de uma abordagem historicamente centrada em aspectos individuais e biológicos da velhice, para uma perspectiva que identifica as pessoas idosas como um setor social de crescente importância. O incremento deste grupo social gera nova demanda de serviços e assistência sócio-sanitária que pressionam para reorganização do atual sistema de distribuição de recursos públicos. 35 No entanto, é fundamental compreender que envelhecer bem não depende unicamente do idoso. Não é verdade que basta manter-se ativo, participante e útil, apesar das perdas biológicas, psicológicas, econômicas e sociais, para que o idoso possa vivenciar uma velhice satisfatória (NÉRI, 1991). Assim se pode dizer que uma velhice bem-sucedida, com melhor qualidade de vida, depende das chances que o indivíduo tem de usufruir condições adequadas de educação, urbanização, habitação, saúde e trabalho durante toda a sua vida. Desta forma, no capítulo seguinte procura-se contextualizar o idoso e o processo do envelhecimento populacional na sociedade contemporânea. 36 2 DESAFIOS DO ENVELHECIMENTO POPULACIONAL “Mas há a vida / que é para ser / intensamente vivida, / há o amor. / Que tem que ser vivido / até a última gota. / Sem nenhum medo. / Não mata.” (CLARICE LISPECTOR.) O envelhecimento da população mundial é uma realidade incontestável. As pessoas estão vivendo por mais tempo, ocasionando mudanças importantes e eminentes em diversos setores da sociedade. Entretanto, a forma como a transição demográfica ocorreu nos diferentes países foi muito diferenciada; na Europa, aconteceu lentamente em um momento de expansão econômica, após a Revolução Industrial, quando o Estado e sociedade dispunham de recursos para atender às necessidades da nova demanda social, havendo simultaneidade entre desenvolvimento social e econômico (VERAS; JR., 1995). Já, no Brasil, a transição demográfica vem sucedendo de maneira mais acelerada, em meio à profunda crise socioeconômica, em que a distribuição de renda oriunda de uma política social de exclusão é fator marcante (MONTEIRO; ALVES, 1995). Chaimowicz (1997) e Camarano et al. (1999) relatam que as regiões Sudeste e Sul – as que apresentam melhores condições socioeconômicas – são as que demonstram maior proporção de idosos por habitantes, e em que o envelhecimento se deu principalmente pela redução da taxa de fecundidade, diferente do que ocorre na região Nordeste, que tem a menor esperança de vida ao nascer, e o envelhecimento foi decorrente principalmente da migração do adulto jovem para outras regiões e a alta taxa de mortalidade infantil. Para Assis (2004) o envelhecimento populacional é um fato heterogêneo, influenciado por aspectos socioculturais, políticos e econômicos, em interação dinâmica e permanente com a dimensão biológica e subjetiva dos indivíduos. Assim, a velhice pode significar realidades diferenciadas, da plenitude à decadência, da gratificação ao abandono, sobretudo em presença 37 de extremas disparidades sociais e regionais como as que caracterizam o Brasil contemporâneo. A heterogeneidade do segmento idoso não se deve apenas aos aspectos acima citados; Beltrão, Camarano e Kanso (2004) ressaltam que, em 2020, um contingente de aproximadamente 30,9 milhões de pessoas alcançará sessenta anos e que a proporção da população “muito idosa”, ou seja, oitenta anos e mais, também continuará aumentando, alterando a composição etária dentro do próprio grupo. Assim se visualiza um intervalo de idade de aproximadamente trinta anos no mesmo segmento de idosos, com pessoas de sessenta anos que podem estar em pleno vigor físico e pessoas, na faixa etária de noventa anos, que estão em situação de maior vulnerabilidade tanto física como mental. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), este aspecto provoca mudanças no perfil de morbidade e mortalidade e introduzem uma nova divisão por grupo de idade do segmento idoso. Um primeiro grupo estará constituído por idosos entre 65 e 74 anos de idade, os idosos jovens; um segundo grupo por idosos de 75 a 84 anos (idosos); e os maiores de 85 anos (muito idoso). Este agrupamento favorecerá a identificação de ações preferenciais de atenção de acordo com suas prioridades e demandas por grupo etário (LIMACOSTA, 2000). Segundo Freitas et al. (2006), novos indicadores de saúde, tais como longevidade e manutenção da capacidade funcional, tanto física quanto mental, conseqüente redução da morbimortalidade, devem incorporar-se aos instrumentos de avaliação das políticas públicas, permitindo que os resultados representem ganhos nos níveis de saúde, principalmente em termos de independência funcional e vida ativa. Em relação às condições de saúde, Chaimowicz (1997) afirma que há uma correlação direta entre o processo de transição demográfica e epidemiológica. O conceito de “transição epidemiológica” refere-se às modificações, em longo prazo, dos padrões de morbidade, 38 invalidez e morte que caracterizam uma população específica e que, em geral, ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas. O processo engloba três mudanças básicas: a) substituição, entre as primeiras causas de morte, das doenças transmissíveis por doenças não transmissíveis e causas externas; b) deslocamento da maior carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; c) transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra em que a morbidade é dominante. De um modo geral, a queda inicial da mortalidade concentra-se seletivamente entre as doenças infecciosas e tende a beneficiar os grupos mais jovens da população. Estes “sobreviventes” passam a conviver com fatores de risco para doenças crônico-degenerativas, à medida que cresce o número de idosos e aumenta a expectativa de vida; tornam-se mais freqüentes as complicações daquelas moléstias. Modifica-se, assim, o perfil de saúde da população; em vez de processos agudos que “se resolvem” rapidamente pela cura ou pelo óbito, tornam-se predominantes as doenças crônicas e suas complicações, que implicam em décadas de utilização dos serviços de saúde. Lessa (1998) relata que as enfermidades prevalentes nos idosos são as cardiovasculares, as seqüelas de doenças cerebrovasculares, incapacidades decorrentes de doenças osteoarticulares e da osteoporose, conseqüências de doenças psicoorgânicas representadas por vários tipos de demências, principalmente a de Alzheimer, e a elevada incidência de diabetes mellitus. O Projeto SABE – Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento, realizado em 2005, corrobora as considerações de Lessa ao detectar que as doenças mais freqüentes nos idosos foram a 39 hipertensão arterial, que é um dos fatores de risco para acidentes vascular encefálico (AVE), seguida pelas doenças reumáticas. Essas doenças implicam o incremento de internações hospitalares, de tratamento clínico e cirúrgico, de consultas ambulatoriais e do uso de medicamentos. Em estudos recentes, Souza-Leão e Portela (2000) demonstram, baseados no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS), que ocorreu no Brasil um elevado número de internações hospitalares de idosos, com uso de tecnologias de alta complexidade, tornando-se onerosa a sua assistência. Ramos et al. (1987) relata que a complexidade das questões relativas à saúde do idoso é agravada pela cronicidade característica de suas doenças, que não podem ser resolvidas rapidamente e absorvem grandes quantidades de recursos materiais e humanos, e ressalta que para a população mais idosa, com 75 anos ou mais, o custo do tratamento médico-hospitalar é sete vezes mais dispendioso do que com outras faixas etárias. Entretanto, Nunes (1999), analisando dados do DATASUS de 1997, mostra que o custo de tratamento com pacientes idosos não é mais caro do que o tratamento com os mais jovens. O que acontece é que os tratamentos são mais freqüentes em decorrência da morbidade mais elevada. Em uma de suas conclusões, o autor propõe melhoras na qualidade dos serviços de saúde como a substituição da quantidade de internações pela qualidade desse serviço. Esta medida mais os programas preventivos domiciliares de saúde não implicam necessariamente elevar as despesas públicas com saúde. Chaimowicz (1997) alerta para o fato de que a questão da economia da saúde seja ainda pouco estudada no Brasil; é de grande importância, pois permite o dimensionamento de políticas principalmente para aquelas famílias de baixa renda que utilizam os serviços públicos de saúde. 40 Contudo, o que se observa atualmente no setor da saúde é uma inadequação no que tange a recursos humanos, materiais e produtos tecnológicos para lidar com as características do envelhecimento, especialmente no que se refere às doenças prevalentes que acometem o idoso (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1993; RAMOS et al., 1993; VERAS, 1994). De acordo com Ramos (1987, p. 206): A resposta a situações de assistência ao idoso é em geral, inadequada, não priorizando um planejamento cuidadoso e a longo prazo, a tendência é de se resolver problema por problema a medida que eles aparecem. Isso reflete em grande parte a própria natureza dos mecanismos de tomada de decisões na maioria dos países, assoberbados pela imensidão de problemas a serem enfrentados simultaneamente. Ao final temos inevitavelmente decisões e ações que não refletem prioridades préestabelecidas. Um outro aspecto do fenômeno do envelhecimento que merece atenção é a questão da feminização da velhice e suas implicações em termos de políticas públicas. Goldani (1998) faz a seguinte constatação: “o mundo dos muito idosos é um mundo das mulheres”. Este autor relata que há um predomínio do sexo feminino quando se analisa a população idosa como um todo, e ressalta que, quando esta mesma população é desagregada em subgrupos de idade, a proporção do contingente feminino é mais expressiva quanto mais idoso for o grupo, fato este explicado pela mortalidade diferencial por sexo. Assim, em relação ao gênero, confirmam-se as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2002, para o ano de 2020, quando, para cada cem mulheres brasileiras entre 60–64 anos, haverá 88 homens. Silvestre et al. (1996) cita algumas hipóteses para explicar a expectativa de vida ao nascer ser maior no sexo feminino. Dentre elas podem-se destacar as diferenças sociais, estilo de vida, fatores de risco (tabaco, consumo de gordura saturada, comportamento e ocupações de risco) e biológicos (efeitos protetores dos hormônios femininos, ciclo menstrual, diferenças de metabolismo associadas às lipoproteínas e, até mesmo, explicações de cunho genético sobre diferenças nos processos reparadores de DNA). 41 Camarano (2002), entretanto, relata que as mulheres vivem mais tempo, mas os anos acrescentados à sua vida podem estar marcados por doenças crônicas e incapacidades, tendo repercussões importantes nas demandas por políticas públicas. Acrescenta-se ainda o fato de que essas mulheres, em sua maioria, são viúvas, sem experiência de trabalho no mercado formal e com menor nível educacional, o que requer maior assistência tanto do Estado quanto das famílias. Em médio prazo, quando novas coortes de mulheres que atualmente fazem parte do mercado de trabalho atingir as idades estudadas, podem-se esperar mudanças nesse perfil em favor das mulheres com maior escolaridade e engajadas no mercado de trabalho, favorecendo a manutenção da autonomia dessas pessoas idosas. Em decorrência da inserção da mulher atual no mercado de trabalho, verifica-se que existe a ausência na família de alguém que cuide do idoso em caso de doença e/ou incapacidade física (CAMARANO, 2006). Debert e Simões (2006, p. 1.366) afirmam que: Tratar do idoso e da família é atravessar o fogo cruzado de visões ambivalentes e contraditórias sobre o que são envelhecimento adequado e qualidade de vida na velhice. A tendência dos enfoques baseados na reflexão sobre a condição dos velhos é considerar que a troca e a ajuda mútua no interior da família nuclear garantiram, ao longo da história, a sobrevivência e o bem estar dos idosos e que, portanto, é dos filhos que todos esperam cuidados e amparo na velhice. Neste aspecto, a família, que na Antiguidade sempre teve o papel de assumir a assistência ao idoso, apresenta nas últimas décadas transformações, como a ausência da figura feminina no cuidado da casa por causa da inserção desta no mercado de trabalho, a migração rural-urbana, redução dos espaços domiciliares, recomposição dos núcleos familiares, que impossibilita a permanência dos ascendentes no seio da família (FREITAS et al., 2006). Entretanto, sob a lógica das políticas publicas, é à família que o instrumental jurídico brasileiro se atém, ao estabelecer, na Constituição, que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice e que os programas de apoio aos idosos devem dar-se, 42 preferencialmente, dentro de seus domicílios. Debert (1999) analisa que os formuladores das políticas nessas áreas parecem não se dar conta das configurações que a família vem apresentando com elevadas taxas de divórcio, dos recasamentos, da diversidade de formas de coabitação e de outros dados que apontam a fragilidade do modelo familiar e da heterogeneidade de posições que o idoso pode ocupar em cada um dos casos. Desta forma, um dos desafios em relação ao aumento do número de idosos na população tem impacto direto sobre a família, que nem sempre tem condições de proporcionar a ajuda que o idoso necessita, situação que é agravada pela pobreza e escassez de serviços públicos e privados de atendimento médico e social ao idoso, principalmente quando este se encontra fragilizado. Assim, a longevidade tem propiciado uma convivência prolongada sem precedentes entre as diferentes gerações nas famílias. Goldani (1998) reflete sobre o tema quando observa que “nunca tantas pessoas viveram por tanto tempo e alcançaram as idades adultas avançadas, tendo pais e outros parentes idosos que demandam ajuda”. Contudo, para Debert e Simões (2006), com um modelo de política social que prega um enxugamento do Estado e responsabiliza a família pelo cuidado de seus dependentes, desenha-se um cenário dramático no qual mais famílias se vêem com meios reduzidos para enfrentar crescentes demandas de apoio, não só de transferência de renda, mas, também, cuidados pessoais, suporte emocional e outros recursos aos seus membros mais vulneráveis. A mobilização de apoios intergeracionais informais torna-se, pois, uma importante estratégia de sobrevivência, o que pode resultar na co-residência entre idosos e seus filhos, netos e até bisnetos. Essa co-residência traz benefícios para os idosos, é claro, mas as vantagens são ainda maiores para gerações mais novas. A renda dos idosos contribui para a subsistência familiar, especialmente entre os mais pobres (CAMARANO, 2004). 43 Peixoto (2004) confirma que essa co-residência é um amparo para os jovens e adultos diante das dificuldades de inserção no mercado de trabalho e de outras restrições econômicas, assim como nos casos freqüentes de retorno de filhos separados à casa dos pais, solicitando ajuda para educar seus filhos. Saad (2004) ressalta que essa co-residência é visualizada especialmente nas regiões mais pobres, como o Nordeste, onde o intercâmbio geracional é mais intenso, mas, mesmo nas regiões como o Sul e Sudeste, é mais freqüente o fato de os idosos prestarem ajuda financeira a seus filhos do que o inverso. Camarano (2004) analisa que o funcionamento do contrato intergeracional informal, no qual os pais cuidam dos filhos e esperam ser cuidados por eles na velhice, vem sendo afetado por dificuldades econômicas mais amplas e por deficiências das políticas sociais e não pode ser compreendido apenas no âmbito das preferências e características individuais ou grupais. A autora salienta que a co-residência pode trazer benefícios múltiplos, mas não se sabe se, do ponto de vista dos idosos ou de seus filhos, esses arranjos familiares correspondem à sua vontade ou resultam de uma “solidariedade imposta”. Debert e Simões (2006) alertam para o fato de os idosos viverem com os filhos não é garantia da presença de respeito e prestígio nem da ausência de maus-tratos. As denúncias de violência contra idosos aparecem nos casos em que diferentes gerações convivem na mesma unidade doméstica. Minayo (2005) informa que mais de 60% das queixas realizadas na Delegacia Especializada de Proteção ao Idoso no município de São Paulo se referem a disputas dos familiares pela posse de bens dos idosos ou por dificuldades de arcar com sua manutenção. Fica clara a intenção do Estado de que o amparo ao idoso seja preferencialmente executado em seu domicílio, entretanto nem sempre as famílias têm condições financeiras 44 para prover essa atenção, que muitas vezes são de custos elevados. Cabe então ao estado mobilizar recursos para institucionalização da assistência domiciliar ou formas alternativas de atenção que incluem instituições como o hospital-dia (FREITAS et al., 2006). Pode-se afirmar que as pessoas desejam, ao envelhecer, manter uma rede social de amigos e familiares, contar com recursos financeiros suficientes, além de vivenciar uma velhice satisfatória. As possibilidades abertas para esse fim por dispositivos legais estabelecidos no Brasil abrangem um continuum de cuidados oferecidos na comunidade que abordam um enfoque social e de saúde. A Portaria n.º 73/2001, da Secretaria de Assistência Social, que será oportunamente detalhada no próximo capítulo, propõe novas modalidades de atenção ao idoso nos municípios. Desta forma, o papel social dos idosos é um fator importante no significado do envelhecimento, pois este depende da forma de vida que as pessoas tenham levado, como das condições atuais em que se encontram. Neste aspecto destaca-se a aposentadoria, momento em que o indivíduo se distancia da vida produtiva. Na vida do homem, a aposentadoria muitas vezes acontece como uma descontinuidade. Há uma ruptura com o passado, o homem deve ajustar-se a uma nova condição que lhe traz certas vantagens, como o descanso, lazer, mas, também, graves desvantagens, como desvalorização e desqualificação. Veras et al. (1997) sintetizam que há duas teorias a respeito da aposentadoria; uma identifica como momento de realização e possibilidade de desenvolvimento pessoal, e outra que atribui a ela o efeito nefasto como fonte de doença e declínio geral de saúde. Essa realidade está relacionada a variáveis como tipo de labor, grau de desgaste físico e mental requerido pela ocupação, o retorno financeiro e o interesse pela atividade, além da rede social de amizades decorrentes do trabalho, e também está relacionada ao contexto geral de vida no momento do afastamento, sendo determinante a segurança econômica, acesso à moradia própria, condições de saúde e perspectiva de projetos futuros. 45 A aposentadoria e o trabalho mesclam aspectos positivos e negativos; esta ambivalência é descrita por Beauvoir (1990): Que é ao mesmo tempo uma escravidão uma fadiga, mas também uma fonte de interesse, um elemento de equilíbrio, um fator de integração a sociedade. Essa ambigüidade reflete-se na aposentadoria, que pode ser encarada como férias, ou como marginalização. Cattani e Perlini (2004) consideram que, no início, a maioria dos idosos se sente satisfeita, pois lhe parece ser muito bom poder descansar. Aos poucos, descobrem que sua vida se tornou tristemente inútil. Nessa ausência de papéis é que se podem observar os verdadeiros problemas do aposentado, sua angústia, sua marginalização e, muitas vezes, o seu isolamento do mundo. Percebendo que ninguém necessita dele por estar isolado, recusado e excluído da sociedade, ele se sente cada vez mais angustiado, tornando difícil sua adequação ao mundo no qual vive. Aliado a esses fatores da aposentadoria, o idoso também enfrenta uma queda do nível de renda, que, por sua vez, afeta a qualidade de vida bem como a saúde. Uma questão relevante é que a aposentadoria significa perdas de rendimentos, exceto para setores minoritários, impondo uma redefinição do padrão de vida, desencadeando a busca de nova ocupação para renda complementar. Essa situação no Brasil é comum, pois se subtrai de um patamar de salário já baixo. Desta forma, os rendimentos dos aposentados não garantem uma condição de segurança econômica que possibilite tranqüilidade e margem de opção para desfrute do tempo livre. Segundo Porchmann (2000), em 1998, 5,3 milhões de aposentados e pensionistas mantinham-se ativos, sendo a insuficiência de renda o fator determinante para esse fato. Associada à questão econômica surge a perda de identidade profissional; desta forma a aposentadoria significa o fechamento de um ciclo de trabalho, surgindo o rótulo de aposentado. 46 Esse preconceito tem origem na supervalorização do trabalho e da produção na sociedade capitalista. Contribui para esse sentimento de não ser produtivo o rápido desenvolvimento tecnológico, que diminui o valor da experiência e a maturidade. Conforme Veras et al. (1987): A ideologia do saber atual é gerada pelo conhecimento técnico-científico, dominado pelos jovens e que exclui quase por completo o idoso. Muito pouco, talvez somente alguns artistas, políticos e profissionais liberais conseguem ser considerados melhores nesta idade do que quando jovens. Na sociedade atual, capitalista e ocidental, qualquer valoração fundamenta-se na idéia básica de produtividade, inerente ao próprio capitalismo. O modelo capitalista fez com que a velhice passasse a ocupar um lugar marginalizado na existência humana, à medida que a individualidade já teria os seus potenciais evolutivos e perderia então o seu valor social. Desse modo, não tendo mais a possibilidade de produção de riqueza, a velhice perderia o seu valor simbólico (VERAS, 2002). O trabalho e seu significado na formação do indivíduo são questões importantes a ser levantadas quando se discute a aposentadoria. É na atividade profissional que se depositam as aspirações pessoais e perspectivas de vida (VIEIRA, 1996). Vieira afirma também que o trabalho que permite o ato de existir como cidadão e auxilia na questão de traçarem-se redes de relações que servem de referência, determinando, portanto, o lugar social e familiar. Segundo Fonte (2002), a saída do mercado de trabalho condiciona fortemente a diminuição do status da pessoa e de seu processo de inserção social. Paradoxalmente, observa-se certa reação contra os idosos que estão integrados na estrutura de produção. Essas pessoas são vistas como aquelas que ocupam postos de trabalho destinados a jovens desempregados. Logo se constata que em países com altos índices de desemprego, como o 47 Brasil, se pode deduzir que é muito mais difícil para essas pessoas obterem outros meios de manter-se que não seja por meio de suas pensões. Camargo (1999) alerta para o fato de o trabalho ocupar tanto tempo na vida das pessoas que se torna uma barreira para descoberta de outras formas de sentir-se produtivo e criativo; o autor ressalta que o objetivo da aposentadoria deveria ser o tempo de recolocação do lazer, da libertação da rotina de trabalho para ações criativas, sendo um direito conquistado pelos anos de labor realizado. As políticas públicas governamentais têm procurado implementar modalidades de atendimento aos idosos, tais como: centros de convivência – espaços destinados à prática de atividade física, cultural, educativa, social e de lazer, como forma de estimular sua participação no contexto social em que se está inserido (NÉRI, 2000). Os idosos aposentados ou não deveriam desfrutar de sua aposentadoria com dignidade. Os estudiosos na área da Gerontologia Social revelam que o trabalho se torna um dos elementos relevantes que interfere de forma positiva na longevidade. Ainda é necessário se construírem espaços para essa geração madura que pode e continuará ativa. No contexto atual, os cidadãos necessitam modificar seu perfil de conduta referente aos idosos. Apesar da criação de novas leis de amparo à velhice, que evidenciam uma preocupação com essa crescente faixa etária, pouco tem sido feito para viabilizar o exercício dos direitos assegurados por essas leis. Ainda é muito parca a atuação governamental efetiva, voltada para este segmento da população. Sabe-se que até mesmo as iniciativas de caráter privado estão mais direcionadas para o assistencialismo, conduzindo a uma tendência de afastar os idosos de realizar atividades criadoras, favorecendo assim o seu isolamento da sociedade à qual pertence. Entretanto, no Brasil, existe uma peculiaridade, que é o desemprego, ou a inserção ocupacional sem garantia de seguridade (mercado informal). Esta dinâmica societária vem 48 repercutindo na vivência da aposentadoria em uma pesquisa realizada por Assis et al. (1997) no Núcleo de Atenção ao Idoso da UNATI/UERJ; observou-se que a aposentadoria foi considerada predominantemente positiva (44,1%), sendo destacado como tempo de maior lazer, vivência com a família, descanso e certeza de renda fixa. Cerca de 31,5% identificaram este momento como negativo pelas perdas econômicas e sociais bem como pela associação de problemas familiares e de saúde. Para 24,4% do grupo a aposentadoria foi indiferente, pois muitos continuam a trabalhar. Não se pode ignorar, no entanto, a necessidade de uma adequada preparação para a vivência desse processo; as mudanças radicais na rotina podem levar muitos idosos aos caminhos de empobrecimento da sociabilidade e do sentido da vida. França (1999) destaca que as ações integradas da Política Nacional do Idoso (1997) e os programas de preparação para a aposentadoria constituem uma estratégia válida para o planejamento de organização de vida, sendo igualmente importante a ampliação de opções para manutenção da vida social dos idosos. Assim, o ideal seria, segundo Assis (2004), adotar o pensamento de Beauvoir na década de 1970 e tornar este benefício gradual e, não abrupto, para que novas formas de ser produtivo e criativo e de vivenciar o lazer pudessem ser descobertas e incorporadas processualmente pelo trabalhador. Por estas rápidas considerações feitas fica claro que o desafio do envelhecimento depende de medidas do Estado que atendam a questões da promoção de melhor qualidade de vida ao longo de toda a existência. Trata-se de uma ação mais preventiva que curativa, mais promocional que assistencial, resgatando para todos uma independência de vida. Caso contrário, estar-se-á formando uma população que sempre irá estabelecer com o sistema social uma relação de completa dependência. 49 3 AS POLÍTICAS ASSISTENCIAIS PARA O IDOSO “Não sei... Se a vida é curta / ou longa demais para nós, Mas sei que nada do que vivemos Tem sentido, se não tocarmos o coração das pessoas.” (CORA CORALINA.) Os desafios trazidos pelo envelhecimento da população têm diversas dimensões e repercussões na sociedade, principalmente no que concerne à formulação, implantação e implementação de políticas públicas. Assim, as políticas de atenção à pessoa idosa impõem a necessidade de uma reflexão sobre uma atuação intersetorial, pois esta população apresenta diversas demandas como saúde, educação, cultura, habitação e assistência social etc. Tradicionalmente as questões dos idosos se referenciavam somente às questões físicas e econômicas, à assistência à saúde e às pensões; atualmente, segundo Caldas (2003), eles reivindicam os seus direitos sociais desta forma e para que estes direitos sejam postos em prática é preciso que haja cada vez mais mobilização da sociedade para inclusão da velhice na agenda das políticas públicas. Para Debert (1999) esta situação traz para a sociedade uma questão que foi considerada durante muito tempo “como própria da esfera privada familiar, uma questão de previdência individual ou de associações filantrópicas”. No entanto, na contemporaneidade, o idoso deixa de ser um assunto da família para tornar-se questão pública. O presente capítulo busca, a partir da literatura, descrever a agenda das políticas públicas na questão do envelhecimento populacional tanto no âmbito internacional quanto no plano nacional, tomando como ponto de partida a primeira Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, ocorrida, no ano de 1982, em Viena. Antes de abordar a estrutura organizacional das políticas relacionadas ao idoso, cabe primeiramente uma busca conceitual sobre o termo “política”. 50 Segundo Rigitano (2007), por política entende-se “uma arte da negociação”, não uma negociação no sentido de ceder, mas, um modo de chegar-se ao entendimento e a um consenso de forma argumentativa. Para que exista a política, é necessário que haja uma paridade inicial entre os sujeitos e um conflito, uma diferença de interesses sobre questões do concernimento comum (âmbito em que se aplica a idéia de política). Desta forma, a política constitui-se em seu meio (a sociedade democrática), como uma negociação argumentativa dos conflitos com o objetivo de chegar-se a um consenso; na democracia ao consenso da maioria da sociedade. De acordo com Borges (2002), o conceito de política corresponde a um conjunto de objetivos, que informam determinado programa de ação governamental e condicionam sua execução. Política pública, portanto, para a autora é a expressão atualmente utilizada nos meios oficiais e nas ciências sociais para substituir o que até a década de 1970 era chamado planejamento estatal. Teixeira, apud Acúrcio (s/d), considera que o Estado, para definição das políticas, empresta ao problema maior ou menor importância, define seu caráter (social, de saúde, policial etc.), e lança mão de instrumentos para seu equacionamento; para o autor, portanto, as políticas públicas são gestadas e implementadas pelo Estado para o enfrentamento de problemas sociais. Gomes (2005) corrobora esta idéia ao citar Meny & Thoeming, que descrevem as políticas públicas como resultado da atividade de uma autoridade investida de poder público e legitimidade governamental, que elege “fazer” ou “não fazer” certas coisas em um campo específico. Assim, para os referidos autores a política pública torna-se um marco de orientação para decidir atos de uma autoridade pública diante de um problema ou determinado setor de sua competência. 51 Desta forma, elas implicam em propostas de transformação da realidade em que são identificadas situações problemáticas, pela mobilização de recursos com o objetivo de gerar resultados por meio de programas e ações com legitimidade e que tenham abrangência direcionada ao público, aos indivíduos, aos grupos ou às instituições inseridos nas situações identificadas. Inserida no contexto das políticas públicas, a Política Social visa à população, mudando a amplitude e focos de prioridades de sociedade para sociedade, devendo primar pela igualdade entre os indivíduos em um nível básico de segurança socioeconômica. Envolvem políticas especificas: saneamento, habitação, emprego e amparo aos desfavorecidos, às crianças, velhos e deficientes físicos dentre outros. Assim, as políticas sociais, segundo Gomes (2005), constituem expressões das políticas seletivas, que devem atender às heterogeneidades da população, devendo considerar o melhor gasto social, privilegiando as categorias de cidadãos por suas condições de risco, carências e demandas. Logo, para obter-se maior eficácia nas políticas sociais devem-se levar em consideração a natureza, expectativas, respostas e impactos sobre os destinatários da política, sobre os usuários dos serviços públicos, sempre com a preocupação de adequação conforme as diferentes necessidades da sociedade. Ao descrever a política social brasileira, Draibe (1990) ressalta que a partir da década de 1980 houve um inegável movimento de universalização de direitos e expansão de cobertura nas áreas de educação, assistência social e saúde, constituindo um conjunto de “mínimos sociais” destinados a toda a cidadania. Em relação à saúde garantem-se o acesso igualitário a toda a população e a definição de uma rede integrada, descentralizada e hierarquizada, constituindo um sistema único em cada nível de governo. A assistência social prevê a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, além da habilitação e reabilitação de pessoas portadoras de deficiência grave. 52 Entretanto, na sociedade brasileira a desigualdade social, a complexidade e a heterogeneidade da população e problemas como desemprego, empobrecimento e exclusão social exigem uma estratégia nas políticas socais. A busca de uma igualdade por meio de políticas sociais assume um caráter compensatório, com um enfoque seletivo. Draibe (1990) reafirma essa idéia quando observa que a intervenção do Estado tende a afastar-se das concepções universalistas de igualdade e eqüidade de direitos sociais. O que está em jogo é a definição de uma política social focalizada, concentrada em alguns objetivos e nos segmentos mais necessitados da população, afastando-se do universalismo que, em geral, acompanha a idéia de cidadania. Falar em cidadania implica saber reconhecer de fato o que essa palavra representa para a vida do cidadão. Segundo Rodrigues: Ser cidadão é conquistar direitos econômicos e sociais, é cumprir com seus deveres. É um exercício individual, mas construído coletivamente, porque somos um ser social, vivemos uma família, um bairro, uma cidade. (RODRIGUES, 2000, p. 78). Assim, Borges (2003) afirma que o Estado brasileiro não garante o acesso de uma população amplamente desprivilegiada, a exemplo da maioria dos idosos, aos serviços públicos que poderiam dignificar o seu cotidiano. Na prática, salienta a autora, o que ocorre é que os que detêm renda mais alta suprem suas necessidades e resolvem seus problemas no âmbito do privado (por exemplo, por meio de organizações privadas de assistência médica), com o incentivo da perspectiva neoliberal, porque isso favorece o desenvolvimento do mercado. No entanto, é inegável que o Estado tem um papel importante na dinâmica social por produzir bens e serviços que abrangem o coletivo. Isso é fundamental para a concretização da democracia na sociedade. Desta forma, os programas sociais direcionados para o enfrentamento do processo de envelhecimento têm como objetivos a manutenção do papel social do idoso e/ou sua reinserção, bem como a prevenção da perda de sua autonomia e sua manutenção de renda. 53 As alternativas para superar as demandas que se apresentam como decorrência do envelhecimento populacional inserem-se no atual questionamento sobre Estado de Bem-Estar Social, como uma organização política e econômica que coloca o Estado como agente de promoção social e organizador da economia, criado para garantir os direitos sociais relacionados com a noção de cidadania. De acordo com Draibe (1990), o modelo de Estado de Bem-Estar existente no Brasil reconhece que os indivíduos devem ser capazes de resolver suas próprias necessidades, baseados no seu trabalho e na sua produtividade. As políticas sociais atuariam apenas parcialmente, de forma a corrigir o processo alocativo do mercado e das instituições públicas, atrelando o emprego ao acesso a benefício. Nesse sistema corporativo e estratificado, os benefícios são diferenciados em função das categorias profissionais (DRAIBE, 1993, p. 8). A partir dos anos 1970, iniciou-se um debate, que se prolonga até hoje, sobre a sustentabilidade financeira do Estado de Bem-Estar Social. Entre outras razões que justificam este debate estão: o surgimento do desemprego estrutural (incapacidade do sistema econômico de oferecer trabalho a todos), mudanças demográficas (principalmente o envelhecimento populacional) e fatores ideológicos (estímulos aos valores individuais e a competitividade) (FONTE, 2002). A vigência do envelhecimento populacional, tanto para as nações desenvolvidas como para as em desenvolvimento, impõe a necessidade de novos investimentos e a apresentação de propostas que desenhem políticas públicas para o segmento idoso. Sendo assim, um conjunto de iniciativas internacionais foi mobilizado com o objetivo de garantir que a população possa envelhecer com segurança e dignidade, considerando as pessoas idosas como cidadãos e cidadãs, usufruindo plenos direitos. Como uma estratégia para discorrer sobre as políticas relacionadas à pessoa idosa, serão abordados, de acordo com Camarano (2002), que traça o caminho destas iniciativas: o 54 Plano de Viena, o Plano de Madri, a Constituição de 1988, a Política Nacional de Idoso, a Política Nacional de Saúde do Idoso e o Estatuto do Idoso. 3.1 O Plano de Viena Na década de 1980, as preocupações com o envelhecimento populacional já despertavam a atenção de organismos internacionais como a ONU, que, em 1982, por meio da I Assembléia Mundial sobre o Envelhecimento, realizada em Viena, adotou o Plano de Ação Internacional, que se constitui a base das políticas públicas elaboradas para este grupo de população. Este plano objetivava levar os países em via de desenvolvimento e os desenvolvidos a firmarem um acordo para executar e implantar políticas de atenção ao idoso, apresentando de forma ampla as diretrizes e os princípios gerais para o enfrentamento do envelhecimento populacional. O referido plano foi estruturado em forma de 66 recomendações para os estadosmembros referentes a sete áreas: saúde e nutrição, proteção ao consumidor idoso, moradia e meio ambiente, família, bem-estar social, previdência social, trabalho e educação. Um dos principais resultados do Plano de Viena foi o de inserir na agenda internacional as questões relacionadas ao envelhecimento individual e da população. A concepção do idoso traçado no plano era a de indivíduos independentes financeiramente e, portanto, com poder de compra. As recomendações eram dirigidas, em especial, aos idosos dos países desenvolvidos. Suas necessidades deveriam ser ouvidas, pois agregavam valor à economia e permitiam o desenvolvimento de um novo nicho de mercado. 55 Uma característica deste plano foi ter sido fortemente dotado por uma visão da medicalização do processo de envelhecimento. Por outro lado, o Plano de Viena fez recomendações cuja implementação dependia da alocação de recursos que não foram previstos, como a promoção da independência do idoso, o que, segundo Camarano (2004), implica em aumentos dos gastos públicos, especialmente na área social, como provisão de pensões e aposentadorias e a assistência à saúde para idosos necessitados. Em 1991, a ONU, em Assembléia Geral aprovou os princípios em favor das pessoas idosas postulados em torno de cinco eixos: independência, participação, cuidados, autorealização e dignidade. Camarano (2004) discute estes eixos ao relatar que a promoção da independência requer políticas públicas que garantam a autonomia física e financeira, ou seja, o acesso aos direitos básicos de todo ser humano: alimentação, habitação, saúde, trabalho e educação. Por participação, busca-se a manutenção da integração dos idosos na sociedade. Isso requer a criação de um ambiente propício para que possam compartilhar seus conhecimentos e habilidades com gerações mais jovens e de socializarem-se. Os cuidados referem-se à necessidade do desfrute pelos idosos de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, por meio do cuidado familiar ou institucional. Auto-realização significa a possibilidade de os idosos fazerem uso de oportunidades para o desenvolvimento do seu potencial, por meio do acesso a recursos educacionais, culturais, espirituais e recreativos. Por último, o quesito dignidade requer que se assegure aos idosos a possibilidade de vida digna e segura, livre de toda e qualquer forma de exploração e maus-tratos. Em 1992, a Assembléia Geral da ONU aprovou a Proclamação sobre o Envelhecimento, que estabeleceu o ano de 1999 como o Ano Internacional dos Idosos e definiu os parâmetros para o início da elaboração de um marco conceitual sobre a questão do 56 envelhecimento. O slogan do Ano Internacional do Idoso foi a promoção de uma “sociedade para todas as idades”. Este tema, além de sugerir a inserção deste grupo populacional às estruturas sociais, também respondia às inquietações de alguns teóricos do momento, que previam um conflito de gerações em torno dos recursos públicos, quando os demais setores sociais (jovens e adultos) passariam a visualizar esse grupo como forte competidore em torno desses recursos. 3.2 O Plano de Madri Em 2002 realizou-se a II Assembléia Internacional sobre Envelhecimento em Madri, com o objetivo de examinar os resultados da I Assembléia e aprovar as revisões do Plano de Ação, com novas propostas para reestruturação de ações voltadas ao envelhecimento mundial. No documento produzido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), no ano de 2002, para este evento, reconheceu-se o rápido crescimento da população acima de sessenta anos, identificando a pobreza e a exclusão como obstáculos primordiais para a ascensão a uma velhice digna. Esse documento afirma ainda que somente aqueles que se cotizaram em planos de pensão desde jovens terão a oportunidade de evitar a pobreza no futuro. Na referida assembléia, foram aprovados uma nova declaração política e um novo plano de ação que deveriam servir de orientação para a adoção de medidas normativas sobre o envelhecimento no início do século XXI. Espera-se que o plano de ação exerça uma ampla influência nas políticas e programas dirigidos à população idosa em todo o mundo, especialmente nos países em desenvolvimento. O plano de ação fundamenta-se em três princípios básicos: 57 a) participação ativa dos idosos na sociedade, no desenvolvimento e na luta contra a pobreza; b) fomento da saúde e bem-estar na velhice: promoção do envelhecimento saudável; e c) criação de um entorno propício e favorável ao envelhecimento. Para tanto, é necessário que as políticas públicas sejam concebidas com base na colaboração entre o Estado e a sociedade civil, de forma a construir um maior acesso ao entorno físico, aos serviços e recursos aí incluídos a atenção à proteção ambiental. (ONU, 2001). Camarano (2004) ressalta que, como qualquer outra política, a implementação do Plano de Madri depende, fundamentalmente, da alocação de recursos. O plano não previu recursos para o cumprimento das metas, muito embora a declaração política tenha reconhecido a dificuldade dos países pobres de integrarem-se na economia global. Por exemplo, foi estabelecida uma meta de redução até o ano de 2015 de 50% da proporção de pessoas que vivem na pobreza extrema. No entanto, as condições para a sua realização não foram explicitadas. Fato idêntico ocorre com a meta de promoção de programas que permitam a todos os trabalhadores obterem uma proteção social básica que compreenda aposentadorias, pensões, benefícios por invalidez e atenção à saúde. Um outro ponto é que, embora todas as medidas propostas tenham sido acertadas pelos países signatários, a sua implementação deverá passar, necessariamente, por uma avaliação das prioridades nacionais, das políticas sociais etc. A sua implementação é de direito e responsabilidade de cada Estado. Segundo as recomendações das Nações Unidas, “corresponde a cada país desenvolver os mecanismos necessários à promoção de um nível de bem-estar social adequado ao número adicional de anos de vida da população idosa”. 58 3.3 A Constituição de 1988 Diante das discussões internacionais sobre a questão do envelhecimento populacional, tanto as nações desenvolvidas como as em desenvolvimento sentem a necessidade de novos investimentos e a apresentação de propostas que desenhem políticas públicas para o segmento idoso. O Brasil assim se configura como um dos pioneiros na América Latina na implementação de uma política de garantia de renda para a população trabalhadora que culminou com a universalização da seguridade social em 1988. As origens do sistema de proteção social no Brasil remontam ao período colonial, com a criação de instituições de caráter assistencial como a Santa Casa de Misericórdia de Santos. No período imperial, podem ser identificados outros antecedentes do atual sistema como os montepios civis e militares e outras sociedades beneficentes. Em 1888, foi regulamentado o direito à aposentadoria dos empregados dos Correios (Decreto 9.912-A, de 26 de março de 1888). Estes, após trinta anos de serviço e com uma idade mínima de sessenta anos, poderiam usufruir de uma aposentadoria. Já as primeiras políticas previdenciárias de iniciativa estatal para trabalhadores do setor privado surgiram no início do século XX, com as leis de criação do seguro de acidentes do trabalho em 1919 e a primeira caixa de aposentadorias e pensões em 1923 – Lei Eloy Chaves (PASINATO, 2001; BORGES 2006; CAMARANO, 2004). Nos anos de 1930, o Brasil já contava com uma política de bem-estar social, que incluía previdência social, saúde, educação e habitação. Segundo, Simson, Néri e Cachioni (2006), não se pode negar que as políticas públicas brasileiras são resultados de influências e pressões da sociedade civil, das associações científicas, dos grupos políticos etc. Assim sendo, destacam-se duas iniciativas levadas a cabo nos anos de 1960 e que tiveram impacto no desenvolvimento futuro das políticas brasileiras 59 para a população idosa. A primeira delas foi a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 1961; a segunda teve início em 1963 por iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc), que consistiu de um trabalho com um pequeno grupo de comerciários na cidade de São Paulo, preocupados com o desamparo e a solidão entre os idosos. A ação do Sesc revolucionou o trabalho de assistência social ao idoso, sendo decisiva na deflagração de uma política dirigida a esse segmento populacional. Até então, as instituições que cuidavam da população idosa eram apenas voltadas para o atendimento asilar. A primeira iniciativa do governo federal brasileiro na prestação de assistência ao idoso ocorreu em 1974, por meio do Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), antigo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). Este Instituto realizava ações preventivas, tanto direta como indiretamente, por meio dos seus centros sociais ou mediante acordos com instituições comunitárias. Realizava também a internação custodial, que era restrita aos aposentados e pensionistas do INPS, a partir de sessenta anos, tendo como critério: o desgaste físico e mental, a insuficiência de recursos próprios e familiares e a inexistência da família ou o abandono por ela (CAMARANO, 1999). Naquele mesmo ano, o governo federal criou dois tipos de benefícios nãocontributivos: as aposentadorias para os trabalhadores rurais e a renda mensal vitalícia (RMV), por meio da Lei n.º 6.179, de 11 de novembro de 1974. Seus valores foram estipulados em 50% do salário mínimo, à exceção da aposentadoria por invalidez do trabalhador rural, que era de 75% do salário mínimo. A RMV era um benefício para todas as pessoas com mais de setenta anos que não recebiam nenhum benefício da Previdência Social e não tinham condições de subsistência (CAMARANO, 1999). No ano de 1976, o MPAS promoveu a realização de seminários regionais em São Paulo, Belo horizonte e Fortaleza, com o objetivo de identificar as condições de vida dos idosos brasileiros, bem como o apoio assistencial existente. 60 A partir dessas ações é que se começou a pensar uma política direcionada a esse grupo etário, principalmente os aposentados, pois se passou a investigar melhor a situação da velhice no Brasil, até então considerado um país de jovens. Essas pesquisas esparsas mostraram a situação de isolamento social, marginalização, preconceito e principalmente de pobreza freqüente no velho brasileiro. As conclusões desses seminários permitiram a realização ainda no final daquele mesmo ano de um Seminário Nacional intitulado “Política Social de Velhice”, do qual se originaram as diretrizes básicas da “Política Social para o Idoso”, editado pelo MPAS. De acordo com Camarano (1999), as principais propostas foram: a) Implantação do sistema de mobilização comunitária, visando, dentre outros objetivos, à manutenção do idoso na família. b) Revisão de critérios para concessão de subvenções a entidades que abrigam os idosos. c) Criação de serviços médicos especializados para o idoso, incluindo atendimento domiciliar. d) Revisão do sistema previdenciário e preparação para aposentadoria. e) Formação de recursos humanos. f) Coleta de produção de informações e análise sobre a atuação do idoso pelo serviço de Processamento de Dados da Previdência e Assistência Social (DATAPREV), em parceria com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outras. Para Nara Rodrigues, apud Bandeiras (2001), não existia até 1994 uma política nacional para velhice. Segundo a autora: “o que havia era um conjunto de iniciativas privadas, já antigas e, desde a década de 1970, algumas medidas públicas, consubstanciadas em programas (Pai, Papi, Conviver, Saúde do Idoso), destinados a idosos carentes. Era mais uma 61 ação assistencial em “favor deles do que uma política que lhes proporcionasse serviços e ações preventivas e reabilitadoras” (BANDEIRAS, 2001, p. 22). O grande avanço em políticas de proteção social aos idosos brasileiros foi dado pela Constituição de 1988, que levou em consideração algumas orientações da Assembléia de Viena. Esta constituição introduziu o conceito de seguridade social, segundo Ferreira, apud Borges (2006); fundamentado na idéia de proteção social que decorre do direito social e deve ser assumido pelo Estado, sendo composta por três políticas: a assistência, a previdência e a saúde, fazendo com que a rede de proteção social alterasse o seu enfoque estritamente assistencialista, passando a ter uma conotação ampliada de cidadania. Podem ser ressaltados em seu texto os seguintes pontos: a equivalência de benefícios urbanos e rurais; a fixação do beneficio mínimo em um salário mínimo; a participação da comunidade na gestão; acesso à saúde e à educação, sendo que o ensino fundamental passou a ser obrigatório e gratuito, assegurando sua oferta a todos os que não tiveram acesso na idade própria. Em relação à proteção ao idoso e à família, conforme a Constituição, continua sendo a principal responsável pelo seu cuidado, como registra o artigo 230, ao definir que: a família, a sociedade e o Estado têm responsabilidades, devem amparar e dar retaguarda a mulheres e homens no seu envelhecimento. Os direitos dos idosos assegurados na Constituição de 1988 foram regulamentados pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS – Lei n.º 8.742/93), que apresenta como princípios a seletividade e a universalidade na garantia de benefícios e de serviços, com a proposta de gratuidade e não-contribuitividade quanto aos direitos e de redistributividade 62 quanto aos mecanismos de financiamento. No que se refere à forma de organização políticoinstitucional, as outras características previstas são a descentralização e a participação. Pereira (1996) discute a contraposição do princípio da seletividade ao da universalidade, e alerta para o risco de limitar os direitos sociais aos níveis mínimos de sobrevivência, priorizando os inaptos para o trabalho, caracterizando o aspecto seletivo e estimulando a discriminação. Silva (2006) corrobora essa idéia e destaca que o grau de seletividade existente na LOAS faz com que muitos idosos não sejam incluídos nos benefícios, seja por estarem fora do patamar de pobreza ou da faixa etária estipulados pelos critérios da lei (65 anos), seja por não terem acesso aos documentos exigidos ou por não se encontrarem na condição de “incapazes para o trabalho”. Diante dessa realidade, a autora acrescenta: para ter acesso ao benefício, a pessoa precisa estar numa condição vegetativa como ser humano, embora haja várias formas de deficiências que não permitem a inserção nas relações de trabalho. Reforçando essa assertiva, destaca-se que os idosos, pela falta de qualificação e/ou pela estigmatização cultural, são, no geral, menos competitivos no mercado de trabalho, o que não deixa de ser uma “incapacidade”, pois “os capazes” asseguram a própria sobrevivência. Essa lei estabeleceu programas e projetos de atenção ao idoso, em coresponsabilidades nas três esferas de governo (CAMARANO, 2004). Entre os benefícios mais importantes proporcionados por essa lei, constituiu-se o Benefício de Prestação Continuada, regulamentado em seu artigo 20. Este benefício consiste no repasse de um salário-mínimo mensal, dirigido às pessoas idosas e às portadoras de deficiência que não tenham condições de sobrevivência, tendo como princípio central de elegibilidade a incapacidade para o trabalho (GOMES, 2002), objetivando a universalização dos benefícios, a inclusão social. 63 Na LOAS também estão previstas formas de articulação entre a sociedade e a esfera estatal, na consolidação de canais de participação social, por meio da organização dos conselho. Os conselhos constituem-se o lócus em que os representantes do segmento ou respectiva política setorial podem expressar-se, reivindicar e contar com a possibilidade de concretizar suas demandas. Eles possuem o caráter deliberativo, o que significa que suas decisões devem ser acatadas pelo poder publico, pois são legitimas e representativas dos segmentos sociais. Com relação à instituição do Conselho do Idoso, segundo Paz (2002), antes de 1988 já existiam alguns conselhos no Brasil: em São Paulo (1987) e no Rio Grande do Sul (1988), fruto da mobilização do segmento com profissionais e algumas instituições que havia muito estavam atentos à questão do envelhecimento populacional; tornou-se uma prerrogativa da Lei n.º 8.842, de 1994, que estabeleceu a Política Nacional do Idoso (PNI), que será abordada neste trabalho, em seguida; segundo o art. 6.º desta lei, os Conselhos nacional, estaduais e municipais do idoso serão órgãos permanentes, paritários e deliberativos, compostos de igual número de representantes dos órgãos e entidades públicas e organizações da sociedade civil ligados à área. Entretanto, segundo Silva et al. (2008), o conselho teve na PNI sua constituição vetada. Assim, somente em 2001 se instituiu o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa por meio do Decreto n.º 4.227, de 13 de maio de 2002, vinculado à Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Reconhecendo e buscando fortalecer o Conselho, o Estatuto do Idoso veio-lhe agregar outras funções, como: a obrigatoriedade do registro das entidades e programas de atendimento ao idoso; a função de recebimento e encaminhamento de denúncias de maus-tratos; 64 o poder dos conselhos municipais de estabelecerem as condições para o cumprimento do limite de cobrança aos idosos residentes em Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI). 3.4 Política Nacional do Idoso Dando prosseguimento às diretrizes lançadas pela Constituição e fortemente influenciadas pelo avanço dos debates internacionais sobre a questão do envelhecimento, foi aprovada, em 1994, a Política Nacional do Idoso (PNI – Lei n.º 8.842). Esta política tem como objetivo “assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade” (art 1.º). Esses direitos básicos devem ser concretizados a partir de políticas sociais na área da saúde, promoção e assistência social, educação, trabalho e previdência social, habitação e urbanismo, justiça e cultura, esporte e lazer. Essa política consiste em um conjunto de ações governamentais com o objetivo de assegurar os direitos sociais dos idosos, partindo do princípio fundamental de que “o idoso é um sujeito de direitos e deve ser atendido de maneira diferenciada em cada uma das suas necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas”. Para a sua coordenação e gestão foi designada a Secretaria de Assistência Social do então MPAS, atualmente Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Foi criado, também, o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI), que veio a ser implementado apenas em 2002. Fonte (2002) considera que a PNI foi o passo maior em termos de proteção ao idoso; trata-se de uma legislação avançada, inclusive quando comparada no âmbito internacional, 65 envolvendo oito ministérios mais a sociedade civil organizada, sociedades cientificas e grupos de idosos. A PNI materializa-se numa lei direcionada para este segmento populacional e, em seu artigo 4.º, define as diretrizes que devem ser seguidas como: Incentivar e viabilizar formas alternativas de cooperação intergeracional. Atuar entre as organizações da sociedade civil representativas dos interesses dos idosos com vistas à formulação, implementação e avaliação das políticas, planos e projetos. Priorizar o atendimento dos idosos em condição de vulnerabilidade por suas próprias famílias em detrimento ao atendimento asilar. Promover a capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e gerontologia. Priorizar o atendimento do idoso em órgãos públicos e privados prestadores de serviços; e fomentar a discussão e o desenvolvimento de estudos referentes à questão do envelhecimento (BRASIL, 1994). A PNI também estabelece as competências das entidades e órgãos públicos. A implantação dessa lei estimulou a articulação e a integração dos ministérios envolvidos na elaboração de um plano de ação governamental para integração da PNI no âmbito da União. Entretanto, a operacionalização da política bem como das demais ações empreendidas no campo assistencial ocorre de forma descentralizada, por meio de sua articulação com as demais políticas voltadas para os idosos no âmbito dos estados e municípios e na construção de parcerias com a sociedade civil. A PNI, segundo Borges (2006), torna-se, assim, um marco na definição de um novo paradigma, mas ainda não se firmou no âmbito dos direitos sociais, por ainda não ter sido alvo de destinação de recursos suficientes para sua consecução, salvo em iniciativas esporádicas. 66 3.5 Política Nacional de Saúde do Idoso Apenas em 1999 o Ministério da Saúde, por meio da Portaria n.º 1.395/1999, considerando a necessidade de o setor dispor de uma política devidamente expressa direcionada à saúde do idoso, resolveu aprovar a Política Nacional de Saúde do Idoso (PNSI). Nesse sentido, o propósito dessa política é promover a saúde do idoso, possibilitando, ao máximo, sua expectativa de vida ativa na comunidade e na sua família, permitindo altos níveis de função e autonomia (BRASIL, 1999). Esta, em análise de Camarano (2004), foi conseqüência do entendimento de que os altos custos envolvidos no tratamento médico dos pacientes idosos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não estavam resultando no real atendimento das suas necessidades específicas. A política apresenta dois eixos norteadores: medidas preventivas com especial destaque para a promoção da saúde e o atendimento multidisciplinar específico para esse contingente. A PNSI procura instrumentalizar os artigos que já foram especificados na lei maior PNI. A política em questão apresenta: (...) como propósito basilar a promoção do envelhecimento saudável, a manutenção e a melhoria, ao máximo, da capacidade funcional dos idosos, a prevenção das doenças, a recuperação da saúde dos que adoecem e a reabilitação daqueles que venham a ter sua capacidade funcional restringida de modo a garantir-lhes permanência no meio em que vivem, exercendo de forma independente suas funções na sociedade. (BRASIL, 1999). No ano de 2006, na assistência à saúde ao idoso, o Ministério da Saúde divulgou o Pacto pela Saúde, que apresenta em uma de suas dimensões o Pacto pela Vida, que estabelece a saúde da população idosa como uma das seis áreas prioritárias. Esta política tem por propósito trabalhar em dois grandes eixos, tendo como paradigma a capacidade funcional da população idosa: as pessoas idosas independentes e a parcela frágil desta população. A funcionalidade, posta como paradigma para a organização 67 dos serviços de saúde em seus diferentes níveis de complexidade, exige um olhar para além das doenças, buscando-se a compreensão quanto aos aspectos funcionais do indivíduo que envelhece. Estes não envolvem somente a saúde física e mental, mas, também, as condições socioeconômicas e de capacidade de autocuidado, as quais irão revelar o grau de independência funcional da pessoa idosa. A avaliação da capacidade funcional torna-se, portanto, essencial para a escolha do melhor tipo de intervenção e monitorização do estado clínico-funcional da população idosa. 3.6 Estatuto do Idoso Até 2003, a legislação relativa à atenção dos idosos permaneceu fragmentada em ordenamentos jurídicos setoriais ou em instrumentos de gestão política. Após sete anos de tramitação no Congresso Nacional, em 2003, foi sancionado o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso, criado pela Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, estabelece prioridade absoluta às normas protetivas ao idoso, elencando novos direitos e estabelecendo vários mecanismos específicos de proteção, os quais vão desde a precedência no atendimento ao permanente aprimoramento de suas condições de vida até à inviolabilidade física, psíquica e moral (CENEVIVA, 2004). O documento apresenta, em uma única e ampla peça legal, muitas das leis e políticas já aprovadas. Incorpora novos elementos e enfoques, dando um tratamento integral e com uma visão de longo prazo ao estabelecimento de medidas que visam a proporcionar o bemestar dos idosos. A identificação do idoso como um subgrupo populacional demandante de regras específicas implica uma dupla condição em termos de direitos sociais. Como salientam 68 Velazco e Romero (2000), isso representa um fator de igualdade e de diferenciação para promover a igualdade substantiva vinculada à justiça social, que nada mais é do que a eqüidade entre partes desiguais. Esse novo instrumento legal conta com 118 artigos que versam sobre diversas áreas dos direitos fundamentais e das necessidades de proteção dos idosos, visando a reforçar as diretrizes contidas na PNI, dispostos em sete títulos: Título I – Disposições preliminares: definem quem é idoso, reafirmam o seu status de cidadão; estabelecem a condição de prioridade de seus direitos civis e as competências para seu atendimento. Título II – Dos direitos fundamentais: à vida; à liberdade, ao respeito e à dignidade; a alimentos; à saúde; à educação, cultura, esporte e lazer; à profissionalização e ao trabalho; à previdência social; à assistência social; à habitação; ao transporte. Título III – Das medidas de proteção: definem quando e por quem devem ser aplicadas. Título IV – Da política de atendimento ao idoso: determina a coresponsabilidade das instâncias públicas e privadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; estabelece as linhas de ação e regula a ação das entidades de atendimento, por meio de normas e sanções. Título V – Do acesso à justiça: reafirma-se a prioridade de atendimento aos idosos e dispõe sobre as competências do Ministério Público para atender os idosos. Título VI – Dos crimes: identifica os tipos de crimes contra os idosos, classifica-os como de ação penal pública incondicionada e estabelece sanções. 69 Título VII – Disposições finais e transitórias: descreve inclusões no Código Penal que dizem respeito ao idoso; estabelece as fontes de recursos públicos para o atendimento aos programas e ações voltadas aos idosos; prescreve a inclusão de dados sobre os idosos nos censos demográficos do país; condiciona a concessão do Benefício de Prestação Continuada previsto na LOAS ao nível de desenvolvimento socioeconômico do País. O avanço dá-se, principalmente, no que se refere à previsão sobre o estabelecimento de crimes e sanções administrativas para o não-cumprimento dos ditames legais. Segundo Uvo e Zanatta (2005), esse Estatuto constitui um marco legal para a consciência idosa do país; a partir dele, os idosos poderão exigir a proteção aos seus direitos, e os demais membros da sociedade tornar-se-ão mais sensibilizados para o amparo dessas pessoas. Apesar da importância dos aspectos ora explícitos e referentes ao Estatuto do Idoso, Néri (2005), ao analisar as políticas de atendimento aos direitos do idoso expressos nesse marco legal, concluiu que o documento é revelador de uma ideologia negativa da velhice, compatível com o padrão de conhecimentos e atitudes daqueles envolvidos na sua elaboração (políticos, profissionais, grupos organizados de idosos), segundo os quais o envelhecimento é uma fase compreendida por perdas físicas, intelectuais e sociais, negando análise crítica consubstanciada por dados científicos recentes que o apontam, também, como uma ocasião para ganhos, dependendo, principalmente, do estilo de vida e do ambiente ao qual o idoso foi exposto ao longo do seu desenvolvimento e maturidade. Nas últimas duas décadas muito se avançou na questão do envelhecimento populacional tanto no que se refere à agenda internacional quanto à nacional. A legislação incorporou grande parte das sugestões das assembléias internacionais. No entanto, fica pendente a necessidade de que essas leis se façam valer no cotidiano dos idosos brasileiros. 70 As políticas para a população idosa devem promover a solidariedade entre gerações. Isso significa equilibrar as prioridades das necessidades dos idosos com a de outros grupos populacionais. Apesar disso, muito ainda precisa ser feito para os idosos, pois, embora essa população tenha formal e legalmente assegurada a atenção às suas demandas, na prática, as ações institucionais mostram-se tímidas, limitando-se a experiências isoladas. Como salienta Néri (2005), bom seria que chegasse o tempo em que se verificasse a melhoria do nível educacional e do bem-estar da população, pois, neste cenário, talvez não se necessitasse mais de um Estatuto do Idoso. Em consonância com essa autora, destaca-se que fica a esperança de que o progresso social e o aperfeiçoamento da democracia possam permitir mudança na maneira de olhar os idosos e na concepção sobre igualdade e universalidade dos direitos. Uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade boa para todas as idades. 71 4 METODOLOGIA “Quando ele me disse / ô linda, / pareces uma rainha, fui ao cúmice do ápice / mas segurei meu desmaio. Aos sessenta anos de idade, / vinte de casta viuvez, quero estar bem acordada, / caso ele fale outra vez.” (ADÉLIA PRADO.) Segundo Minayo (2004), a metodologia é o caminho e o instrumental próprios de abordagem da realidade e inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesquisador. Assim esta pesquisa se propõe a uma investigação com abordagem qualitativa, do tipo descritivo, de caráter exploratório. Optou-se pela pesquisa qualitativa por entender-se que, por meio dela, é possível perceber os significados das ações presentes no momento em que se estabelecem relações práticas. A pesquisa qualitativa, segundo Minayo (2004, p. 26): (...) não se preocupa em quantificar, mas, sim, em compreender e explicar a dinâmica das relações sociais, que, por sua vez, são depositárias de ações, crenças, valores, atitudes e hábitos. Trabalha com a vivência, a experiência, a cotidianidade e a compreensão das estruturas e instituições como resultado da ação humana objetivada. Este estudo também se propõe a ser de natureza mais exploratória do que descritiva, sendo justificado por Santos (1999, p. 26), quando afirma que: Explorar é tipicamente a primeira aproximação com um tema e visa a criar maior familiaridade em relação a um fato ou a um fenômeno. Quase sempre busca essa familiariedade pela prospecção de materiais que possam informar ao pesquisador a real importância do problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis a respeito do assunto e, até mesmo, revelar ao pesquisador novas fontes de informações. Conforme Gondim (1999), uma das maneiras viáveis para alcançar-se a compreensão de situações da vida humana, apreendendo não somente a sua complexidade, mas, 72 principalmente, as suas diversas manifestações – caminho pelo qual o conhecimento científico a respeito do cotidiano e sua recriação certamente chegam a seu aprimoramento –, seria partir do princípio de que as falas e as formas de agir dos informantes advêm dos significados que as falas e as relações estruturais lhes permitiram construir, porquanto seus esquemas mentais são subordinados ao meio em que vivem, embora essas representações também exerçam influência sobre o meio. No estudo proposto os informantes serão representantes do idoso e de seus programas de assistência, no município de Divinópolis, de quem interessa observar suas falas dentro de suas práticas. O pesquisador que se pretenda aventurar na área da pesquisa das relações humanas deverá integrar-se ao conhecimento teórico e à interpretação dos fenômenos e, assim, aproximar-se de sua essencialidade, para que dessa proximidade do pesquisador com as realidades possam surgir resultados consignáveis na elaboração das idéias no levantamento de hipóteses, conclusão e na possibilidade de intervenção (MINAYO, 2004). Por meio da análise das concepções dos entrevistados será possível detectar os valores, a ideologia, as contradições, enfim, os aspectos fundamentais para a compreensão do comportamento e das relações humanas. Weber trabalha as noções de interdependência entre realidade social e as formas individuais de pensamento. Na concepção desse autor, a vida social é marcada por uma significação cultural que é imposta não só pelas idéias, mas, também, pela base material, aspectos que se condicionam mutuamente. Atribuindo importância à noção de visão de mundo, aqui incluídas as formas de encarar o tempo, o espaço, o trabalho, o sexo e os papéis sociais, construídas pelos grupos dominantes e que perpassam por outros grupos de determinada sociedade, o autor chama a atenção para a importância de pesquisarem-se as 73 idéias como parte de realidade social e para a necessidade de compreender-se a que instâncias do social um determinado fato deve a sua maior dependência (MINAYO, 2004). Destaque-se ainda a importância da fala, que, por ser o símbolo maior de comunicação humana, constitui um elemento importante na identificação e nas análises das concepções que se pretende neste estudo, visto que o discurso representa o pensamento e revela também as condições estruturais, os sistemas de valores, a introjeção de normas, costumes, símbolos, além de transmitir por meio de outro porta-voz as diversas representações de grupos determinados dentro de condições socioeconômicas e culturais específicas (MOSCOVICI, apud SÁ, 1999). Segundo Hanna Arendt (1987), é por meio do discurso que os homens se fazem políticos, e tudo o que fazem, sabem ou experimentam só tem sentido à medida que se podem ser discutidos e atribuídos os significados das coisas para eles. Isto significa que nenhuma práxis política pode ser alheia às práticas discursivas. No entanto, estas só existem quando engendradas no contexto social e este, por sua vez, determina o poder de cada ator social nos atos discursivos ou comunicativos. Assim, o poder e/ou a característica de um dado discurso está diretamente vinculado à localização social dos interlocutores e de acordo com as competências culturais, simbólicas e políticas de que são portadores. Finalmente, a pesquisa qualitativa deixa de lado a verificação de regularidade para dedicar-se à análise dos significados que os indivíduos dão às ações no espaço em que constroem suas vidas e suas relações. 74 4.1 Descrição do campo de pesquisa O município de Divinópolis está localizado na região centro-oeste do estado de Minas Gerais e possui uma população de 183.971 habitantes e destes 8,4% são idosos (15.497), segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2001. Entende-se por Rede de Assistência ao Idoso uma nova forma de gestão que prepara, discute e inclui na agenda governamental do país os desafios que os gestores, os idosos, as famílias e a sociedade irão enfrentar em face do crescimento demográfico, do aumento da expectativa de vida, e da necessidade de garantir um envelhecimento com melhor qualidade de vida. Caracteriza-se por ações governamentais ou não que se articulam para resolução das demandas surgidas. A Rede de Assistência ao Idoso no município de Divinópolis está constituída, segundo um levantamento realizado pelo Conselho Municipal do Idoso no ano de 2006, da seguinte forma: Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD). Programa de extensão do Curso de Serviço Social da Fundação Educacional de Divinópolis / Universidade de Minas Gerais (FUNEDI/UEMG), que objetiva atender as famílias que em sua composição tenham pessoas com deficiência e/ou idosos que sofreram violação de direitos. Sua metodologia de trabalho consiste em visitas domiciliares, acompanhamento familiar, encaminhamento para a rede de serviços. Programa Faced Sênior. Consiste em uma Faculdade Aberta para Terceira Idade, que teve seu início no ano de 2004, em que já foram atendidas 1.496 pessoas até o ano de 2007, inseridas em quatro projetos que compõem este programa: 75 a) Aprimoramento e qualidade de vida, que oferece oficinas de jogos, memória, leitura, artes, informações sobre Sociologia, Filosofia, Direito, Economia, Inglês e outros. b) Clube da Ativ(A)idade, oficinas de teatro, contadores de histórias, dança de salão, artesanato. c) Núcleo de Alfabetização de Adultos e Idosos. d) Centro de Ampliação do Conhecimento – cursos básicos de Francês, Espanhol e Informática. Promotoria de Defesa do Idoso e do Portador de Deficiência. É a instituição responsável pela defesa dos cidadãos, na perspectiva dos direitos coletivos, e pela fiscalização do cumprimento da lei, em causas em que haja interesse público. Delegacia Adjunta da Mulher e Idoso e da Criança (DAMI). A Delegacia de Proteção ao Idoso é considerada um instrumento eficaz no combate aos crimes cometidos contra os cidadãos da terceira idade; refere-se à ocorrência de delitos de lesão corporal, furtos de pequenos valores, maus-tratos e injúria. Também são registradas ocorrências não-criminosas de extravio de documentos e malversação de bens dos idosos por seus familiares. Outros tipos de queixas comuns são relativas a abandono por parentes e maus-tratos nos ônibus, agências bancárias e no comércio em geral. Conselho Municipal do Idoso. O Conselho Municipal do Idoso e um órgão de representação dos idosos, e de interlocução em relação à comunidade e aos poderes públicos na busca de soluções compartilhadas. 76 Bombeiro Sênior. Programa de assistência oferecido pelo Batalhão do Corpo de Bombeiros do município, que desenvolve atividades de ginástica / hidroginástica para pessoas idosas. República da Terceira Idade. A república de idosos é alternativa de residência para os idosos independentes, em Divinópolis, está organizada com um grupo de nove idosas, sendo co-financiada com recursos da aposentadoria, benefício de prestação continuada, renda mensal vitalícia e outras. Sua administração cabe à Secretária Municipal de Promoção Humana, Divisão de Ação Social. Centro Municipal de Convivência do Idoso – SEST-SENAT CAPIT. Esta ação objetiva o fortalecimento de atividades associativas, produtivas e promocionais, contribuindo para autonomia, envelhecimento ativo e saudável prevenção do isolamento social, socialização e aumento da renda própria. É o espaço destinado à freqüência dos idosos e de seus familiares, onde são desenvolvidas planejadas e sistematizadas ações de atenção ao idoso, de forma a elevar a qualidade de vida, promover a participação, a convivência social, a cidadania e a integração intergeracional. Este Centro é administrado pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Promoção Humana. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Divinópolis e Região Centro-Oeste de Minas. Esta associação teve seu início em 1963, com os trabalhadores aposentados da Rede Ferroviária; em 1999, houve mudança em seu estatuto, quando foram incluídos todos os trabalhadores da região. Hoje conta com duzentos associados contribuintes. Instituições de Longa Permanência de Idosos (ILPI). Divinópolis conta uma rede asilar, de três ILPIs. Duas dessas instituições são vinculadas à Sociedade 77 de São Vicente de Paulo (Obras Assistenciais São Vicente de Paulo, conhecida como Vila Vicentina, e Obras Assistenciais Antônio Frederico Ozanam) e a outra, vinculada a uma das paróquias do município, a Paróquia do Divino Espírito Santo (Obras Sociais Nossa Senhora Aparecida , conhecida como Lar dos Idosos). Essas ILPIs atuam na prática assistencial e caritativa e são destinadas ao abrigo de idosos abandonados ou portadores de doenças diversas. Atualmente abrigam o total de 267 idosos. Grupos de Convivência. Estes grupos são organizados dentro das comunidades dos bairros e tem como objetivo reunir idosos para atividades sociais, como jogar bingo, truco e dançar. O município tem em funcionamento e cadastrados no Conselho Municipal do Idoso dois grupos, sendo eles: Clube da Melhor Idade e Clube da Feliz Idade. Conselho Municipal de Assistência Social. O Conselho Municipal de Assistência Social, embasado pela Lei n.o 8.742, de 7 de dezembro de 1993, é a instância local de formulação de estratégias e de controle da execução da política de assistência social, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). É o órgão competente, no Brasil, para o recebimento de contribuições para a manutenção do Regime Geral da Previdência Social, sendo responsável pelo pagamento da aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, entre outros benefícios previstos em lei. Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis (SEMUSA). Órgão municipal responsável pela implementação das políticas de saúde, bem como da organização da assistência. 78 Gerência Regional de Saúde – Coordenadoria Atenção Básica (CAB) – Atenção ao Idoso. As Gerências Regionais de Saúde têm por finalidade garantir a gestão do Sistema Estadual de Saúde nas regiões do Estado, assegurando a melhor qualidade de vida da população. 4.2 Descrição da amostra A amostra proposta para este estudo foi composta pelos atores envolvidos nas seguintes ações de assistência ao idoso no município: Centro Municipal de Convivência do Idoso – SEST-SENAT CAPIT. Programa Faced Sênior. Conselho Municipal do Idoso. Secretária Municipal de Promoção Humana, Divisão de Ação Social. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Divinópolis e Região CentroOeste de Minas. Sociedade de São Vicente de Paula – Instituições de Longa Permanência. Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Secretaria Municipal de Saúde de Divinópolis. Gerência Regional de Saúde – CAB – Atenção ao Idoso. 79 4.3 Instrumentos da coleta de dados Na busca dos dados foi utilizado, como instrumento, um roteiro de entrevista para acesso às falas dos informantes. Bakhtin, apud Minayo (2004), considera a palavra como o modo mais puro e sensível de relação social: “existe uma parte muito importante da comunicação ideológica que não pode ser vinculada a uma esfera ideológica particular: trata-se da comunicação da vida cotidiana. O material privilegiado de comunicação na vida cotidiana é a palavra”. A escolha pela entrevista aberta deu-se por entender que perguntas abertas oportunizam um discurso dinâmico em que a espontaneidade e o constrangimento são simultâneos, em que o trabalho de elaboração se configura ao mesmo tempo como emergência do inconsciente e construção do discurso (MINAYO, 2004). Kahn e Cannel, citado por Minayo (2004), definem entrevista como: “conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e entrada (pelo entrevistador) em temas igualmente pertinentes com vistas a estes objetivos”. Dessa forma, a entrevista com perguntas abertas facilita a ampliação e o aprofundamento da comunicação, bem como a emersão do ser, do sentir dos entrevistados e seus juízos a respeito dos fatos e das relações que compõem o objeto de pesquisa. O roteiro proposto orienta-se nos seguintes eixos: a) O que é ser idoso e o que é a velhice. b) Identificação das demandas do idoso. c) Conhecimento das políticas de assistência ao idoso. 80 4.4 Procedimentos para coleta dos dados As entrevistas foram realizadas individualmente por esta pesquisadora, agendadas previamente por contato telefônico em local e horário determinados pelo entrevistado. A entrevista foi iniciada somente após a leitura e concordância com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Para gravação foi utilizado um gravador com fita K-7 e foi seguido roteiro de perguntas previamente elaboradas que nortearam as questões que se pretende investigar. Cabe informar que um dos entrevistados selecionados para amostra se recusou a participar da pesquisa. 4.5 Análise dos dados Após a transcrição das entrevistas realizadas, iniciou-se a análise dos dados obtidos. O exame analítico minucioso das informações obtidas nas entrevistas foi procedido mediante a técnica de análise de conteúdo. Bardin, apud Minayo (2004, p. 199), define a análise de conteúdo como: Um conjunto de técnicas de analise de comunicação visando a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. Minayo (2004), ao abordar a análise de conteúdo, do ponto de vista operacional, diz que ela parte de uma literatura de primeiro plano para atingir um nível mais aprofundado: aquele que ultrapassa os significados manifestos. Berelson, apud Minayo (2004), um dos pioneiros teóricos da análise de conteúdo, define-a como uma técnica de pesquisa para 81 descrição objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo manifesto das comunicações e tendo por fim interpretá-los. Os dados foram analisados dentro das fases técnico-metodológicas da análise de conteúdo propostas por Bardin (1977), que são seqüenciadas em três pólos cronológicos: préanálise, exploração do material e tratamento dos resultados e interpretação. A pré-análise consiste na escolha dos documentos; neste caso, as entrevistas transcritas a serem analisadas, retomando as hipóteses e os objetivos da pesquisa proposta reformulando-os diante do material coletado para orientação da interpretação final. Para alcançar este propósito deverá ser realizada a leitura flutuante, que se caracteriza pelo contato exaustivo com o material coletado, permitindo uma dinâmica entre as hipóteses iniciais e as emergentes. Esta organização do material, denominada Corpus, que deve atender àlgumas regras de validade como: exaustividade (contemplar todos os aspectos do roteiro proposto), representatividade (refere-se ao universo pesquisado), homogeneidade (utilização de critérios precisos de escolha em termos de técnicas e interlocutores) e pertinência (documentos adequados aos objetivos do trabalho). A exploração do material consiste na codificação, em que os dados são trabalhados visando à compreensão do texto. Esta codificação compreende a escolha de unidades de registros, sendo que esta pode ser o tema, palavra ou frase. A classificação destes dados organiza categorias, que reúnem um grupo de unidades de registro em razão das características comuns, que é uma forma geral de conceito, uma forma de pensamento. As categorias são reflexos da realidade, sendo sínteses, em determinado momento do saber. Por isso se modificam constantemente, assim como a realidade. No tratamento dos resultados e interpretação destes, o pesquisador realiza análises dentro de um marco teórico pertinente à sua investigação e esta relação entre o dado obtido e a fundamentação teórica dará sentido à interpretação e abre novas dimensões sobre o tema. 82 Assim, segundo Moreira (2003), a análise do discurso procura descobrir relações existentes entre o exterior e o próprio discurso. 83 5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS “A LUCIDEZ PERIGOSA Estou sentindo uma clareza tão grande que me anula como pessoa atual e comum: é uma lucidez vazia, como explicar? assim como um cálculo matemático perfeito do qual, no entanto, não se precise. Estou por assim dizer vendo claramente o vazio. E nem entendo aquilo que entendo: pois estou infinitamente maior que eu mesma, e não me alcanço. Além do que: que faço dessa lucidez? Sei também que esta minha lucidez pode-se tornar o inferno humano – já me aconteceu antes. Pois sei que – em termos de nossa diária e permanente acomodação resignada à irrealidade – essa clareza de realidade é um risco. Apagai, pois, minha flama, Deus, porque ela não me serve para viver os dias. Ajudai-me a de novo consistir dos modos possíveis. Eu consisto, eu consisto, amém.” (CLARICE LISPECTOR.) Na análise dos dados buscou-se o conhecimento das concepções dos representantes da sociedade civil, relacionados à assistência ao idoso, acerca da velhice e suas políticas assistenciais. Os resultados do estudo evidenciaram depois de organizados e classificados dois eixos temáticos principais subdivididos em categorias: o que é, afinal, ser idoso?; e assistência ao idoso. 84 5.1 O que é, afinal, ser idoso? No estudo sobre a temática proposta é importante retomar a questão do idoso, da velhice e do envelhecimento no que diz respeito aos critérios de sua definição. Conforme já abordado pode-se considerar que o envelhecimento é um processo heterogêneo complexo, susceptível a determinantes psicológicos e socioeconômicos e culturais desta forma seu conceito abrange múltiplos elementos. Magalhães (1987) afirma que a velhice é uma invenção social. Assim, a velhice e o idoso emergem da dinâmica demográfica, do modo da produção econômica, da estrutura e organização dos grupos sociais, dos valores e padrões culturais vigentes das ideologias correntes e dominantes e das relações entre Estado e sociedade civil. Néri (1991) ressalta ainda que não é nada fácil detectar na literatura gerontológica as distinções conceituais entre “idoso”, “envelhecimento” e “velhice”, embora compreendidas como claras e devidamente contextualizadas por dimensões espaço-temporais, socioculturais e individuais. Disto resulta um estado de confusão mais ou menos generalizado que abre espaço para inúmeras interpretações que nem sempre são adequadas ou mesmo convenientes. Para tanto deve levar-se em consideração que esses conceitos são construídos por meio de um discurso de acordo com as necessidades econômicas e políticas do contexto histórico cultural. Na análise das entrevistas verifica-se que não é possível dar uma definição única; na verdade, percebe-se por meio dos discursos dos entrevistados que ser idoso é mais do que uma palavra. 85 5.1.1 Ser velho é diferente de ser idoso Nesta categoria – “ser velho é diferente de ser idoso” – pode ser observada uma preocupação em diferenciar o significado de idoso e de velho, como se pode demonstrar na citação abaixo: – Eu sou idoso, mas não sou velho. (E4). Esta diferença de termos, conforme já foi citada anteriormente nos estudos de Peixoto (2000), sobre as representações sociais francesas e brasileiras a respeito do envelhecimento, como uma questão de status social, quando a autora relata que o vocábulo “idoso” chegou ao Brasil no final dos anos 1960, acompanhando as mudanças políticas e sociais ocorridas na França, onde o tratamento dos velhos aposentados que passaram a representar um poder econômico suscitou a criação de uma nova expressão para designar esta nova imagem. A autora faz uma ressalva que no Brasil o emprego do vocábulo “velho” não tinha o caráter especificamente discriminatório como na Europa, distinguindo-se pela entonação ou pelo contexto em que era usado. Existia a figura do velho patriarca, que ocupava certa posição e desfrutava de respeito, diferente do velho pobre, que era condenado a viver à custa da caridade. Os dois termos passaram a ser empregados com certa ambivalência, podendo até se confundir, mas o termo “idoso” designa um tratamento mais respeitoso. O termo “velho” passou a ter uma conotação negativa, sendo empregado para identificar os indivíduos pertencentes às camadas populares que apresentavam traços de declínio. É possível que a conotação negativa no uso da palavra “velho” para designar as pessoas de mais idade esteja associada com que é gasto ou está em desuso, o que é inútil, sentidos esses válidos na referência à pessoa e aos objetos. Conforme a citação a seguir: 86 – Eu acho que o velho é aquele que considera imprestável, que ele já não tem nenhuma utilidade. Esse pra mim é o velho. (E4). Esta acepção do termo “velho” como variante de “incapaz e limitado” acaba por refletir em toda a sociedade, excluindo os idosos das mais diversas tarefas cotidianas; este fato é ainda mais prejudicial, pois na velhice “os papéis de pai idoso, avô, velho amigo, consultor, conselheiro e mentor fornecem as oportunidades sociais essenciais para experienciar grande geratividade nas relações cotidianas, com pessoas de todas as idades” (NÉRI, 1993, p. 25). Desta forma, a questão da diferenciação entre ser idoso e ser velho para os entrevistados passa pela determinação social, de trabalho e principalmente pela inserção na sociedade. – (...) o velho é aquele que pára com trinta anos, quarenta anos já tá caminhando pra morte, né? Eu acho. (E4). – Eu acho que ela começa a ficar velha a partir do momento que ela começa a se desinteressar pela vida, pelas coisas (...) eu calculo assim. (E7). – (...) idoso pra mim é a pessoa envelhecer na atividade, né? O espírito. Eu acho que é a pessoa consciente do que está acontecendo com ela [...] eu acho que a pessoa fica velha quando ela não sente mais nada, né? (...) sente que tá esperando a morte. (E6). – (...) o idoso procura participar das coisas, procura viver, né? Procura ser mais alegre conviver com as pessoas, não ficar parado, procura uma ginástica, um trabalho, ser voluntário como eu sou; eu acho que é isso. (E7). – O velho é aquele que não está fazendo mais nada, tá à espera da morte. Que tudo pra ele tá ruim, doença todo dia, não procura um tratamento, não procura conviver com as pessoas, né? (...) eu acho que é isso. (E8). 87 – (...) a diferença pra mim é que o idoso, ele tem projetos de vida e ele não se sente vítima desses anos que vão passando, das dores ou das limitações que vão acontecendo com ele. E o velho, independente da idade, ele está sustentado por aspectos negativos. (E1). Essa coexistência de imagens é atribuída ao que Debert (1999) chamou de duplo movimento de transformação da velhice em preocupação social. Numa primeira perspectiva, essa fase da vida é socializada e torna-se objeto de preocupação e intervenção por parte do Estado e de instituições privadas, sendo relacionada à decadência física e à perda de papéis sociais. Concomitantemente, ocorre o processo que a autora denomina de reprivatização da velhice, no qual a responsabilidade sobre o velho que se é ou será é totalmente atribuída ao indivíduo, podendo a velhice ser gratificante, sob esta perspectiva. Essa dualidade de imagens e, conseqüentemente, de representações, relaciona-se também à criação de etapas intermediárias do envelhecimento, que, conforme Debert (1999), têm se proliferado atualmente. Surgem assim denominações como: a meia-idade, a aposentadoria ativa e a terceira idade. Utilizados para designar a velhice de modo menos depreciativo, tais expressões são incorporadas ao vocabulário dos grupos sociais e carregam uma gama de significados que influenciam a (re)construção das representações sociais acerca do velho e da velhice. Nesse sentido, vêem-se velhos reconhecendo-se como idosos e participantes da terceira idade, ao mesmo tempo em que denominam velhos aqueles que foram acometidos pelos sinais indesejáveis do envelhecimento. Esse movimento revela a intenção de posicionarem-se como indivíduos ainda ativos e capazes de viver a vida plenamente, seguidores das recomendações para um envelhecimento bem-sucedido. Debert (1999) ainda ressalta que esta nova terminologia apresenta raízes na política de redução do Estado e responsabilização das pessoas pelo seu bem-estar; este discurso transforma estas pessoas em seres obrigatoriamente saudáveis e produtivos. 88 Esse fato omite a heterogeneidade deste grupo social e a existência de problemas específicos que afligem a muitas destas pessoas. Por exemplo, no Brasil, pelo contexto de desigualdades, existem idosos em condições favoráveis com acesso a serviços e oportunidades, mas, também, idosos que continuam amarrados à falta de oportunidades e a desvantagens, em virtude da pobreza que só agrava as dificuldades físicas e sociais da velhice, como afirma o poeta João Cabral de Melo Neto, em Morte e Vida Severina; a miséria pode fazer um indivíduo “ser velho, antes dos trintas”. 5.1.2 Quando se chega a velhice? (critério etário – produtividade – dependência) A idade representa uma marca identitária na contemporaneidade, em que enquadra sujeitos e condiciona oportunidades (LARROSA, apud LUCA, 2006). Para Silva (2008), o surgimento das categorias etárias relaciona-se intimamente com o processo de ordenamento social que teve curso nas sociedades ocidentais na época moderna. A partir do século XIX surgem, gradativamente, diferenciações entre as idades e especialização de funções, hábitos e espaços relacionados a cada grupo etário. Desse modo o reconhecimento da velhice como etapa única é parte tanto de um processo histórico, quanto de uma tendência continua em direção à segregação das idades no espaço social. Assim se está sempre diante de cobranças sociais referenciadas na questão etária; este fato impõe aos sujeitos determinados papéis comportamentais e aparência física que estão diretamente relacionados à idade cronológica destas pessoas. É de conhecimento que a Organização Mundial de Saúde (OMS) determina a idade de sessenta anos para uma pessoa ser considerada idosa, bem como as políticas de assistência ao idoso, sendo esta idade a porta de entrada para a velhice. 89 Entretanto, na fala dos entrevistados, este parâmetro é contestado por entender que nesta idade as pessoas se apresentam produtivas e participantes na sociedade, não apresentando as características negativas associadas à “velhice”: – (...) a rigidez de estabelecer sessenta anos pra considerar o idoso não é interessante, eu não concordo com essa determinação de faixa etária, especialmente, nas políticas públicas. (E1). – (...) estamos envelhecendo desde que somos gerados, portanto não é a partir dos sessenta anos que podemos falar que estamos ficando velhos. (E1). – Eu sou até contra pela divisão da faixa etária (...) Então eu sou desfavorável a essa faixa etária (...) a partir até dos sessenta anos eles já falam idoso, né? e nós vemos muitos jovens hoje com sessenta anos. (E2). – (...) tem muita gente que considera idoso, velho, com sessenta anos; e não é assim, eu tenho vinte e dois anos a mais e não me considero isso não. (E4). – Eu acho que não é interessante a questão etária. Pode até demarcar. Mas são os períodos que marca mais a idade da gente. Você tem o primeiro período, que é a infância, né? E você passa pelo segundo período, que é a adolescência e depois vem esse (...) da adulto (..) eu acho que a gente começou envelhecer aí. (E7). Essas afirmações remetem-se ao trabalho de Silva (2008), em que a autora observa que as manifestações da população que envelhece na contemporaneidade apresentam mudanças significativas de hábitos e crenças; surgem imagens e práticas que associam o envelhecimento à atividade, aprendizagem e satisfação pessoal, o que a princípio faz pensar na necessidade de novas representações sobre a velhice e envelhecimento, assim como em mudanças que impliquem em redefinições das formas de periodização da vida, das categorias etárias que recortam a organização da sociedade e a revisão dos meios tradicionais de gerir a experiência de envelhecimento. 90 Entretanto, autores como Magalhães (1989) e Motta (1999), em seus estudos alertam que não se pode esquecer que o aumento da expectativa de vida tem ocorrido de forma social e espacialmente diferenciada. Enquanto que, no meio social das elites, essas condições já se equivalem aos de países desenvolvidos, nas camadas populares e marginalizadas, tanto no campo como na cidade; tem-se uma velhice subdesenvolvida e precocemente envelhecida, tornando cada vez mais difícil estabelecer um limite de idade que permita definir o idoso. É oportuno resgatar o estudo de Néri (1991) sobre os significados de velho e velhice segundo brasileiros não idosos, em que se revelou a existência de uma certa ambigüidade quanto à estimativa do início da velhice à medida que os informantes estiveram condicionados por fatores de sua personalidade, pela sua experiência anterior e pelos seus sentimentos em relação à velhice, e associaram também a esse evento condições tais como saúde, sexo, aposentadoria e nível econômico. O estudo demonstrou que 60% dos sujeitos localizaram o início da velhice em torno do limite etário proposto por várias agências sociais controladoras ligadas ao Estado e à economia, por exemplo, a previdência, as organizações sociais, comerciais e de prestação de serviços. Outros 30% definiram a velhice como um estado de espírito, ou seja, como evento não possível de categorização pelo critério etário. Entretanto, para as pessoas idosas o critério etário tem pouca significância. Debert (1999) cita uma pesquisa realizada por Kaufman em 1986, na Califórnia, com homens e mulheres de idade variando de 70 a 97 anos, quando a pesquisadora americana conclui que a idade cronológica não é marcador importante na vida dos entrevistados; sendo que eventos relacionados à vida familiar e de ordem social servem como periodizadores para suas vidas. A questão que aqui se coloca é que ser ou não idoso não passa somente pela cronologia; depende muito do contexto, do momento histórico, da cultura e da condição socioeconômica da época. Beauvoir (1990) também considera que o momento inicial da velhice sofre variações conforme épocas e lugares, não podendo esse fenômeno ser 91 comparado senão diante de sua totalidade que inclui aspectos biopsicossociais. É dessa forma que a autora conclui que a sociedade destina ao idoso seu lugar e seu papel, levando em conta as particularidades individuais de cada um. Afirmar, contudo, que as categorias de idade são construções culturais e que mudam historicamente não significa dizer que elas não tenham efetividade. A fixação da maioridade civil, do início da vida escolar e da entrada no mercado de trabalho é, na sociedade brasileira, fundamental para a organização do sistema de ensino, de organizações políticas, e para o ordenamento dos mercados de trabalho. Marcadante (1998) apresenta uma proposta interessante, em os idosos sejam pensados e analisados dentro de uma concepção de kairos, isto é, numa perspectiva humana e, não, puramente numa concepção de cronos, que determina a forma segmentada em anos, meses, dias e horas. Assim, rompe-se com a compreensão da velhice como estigma, para pensar-se no idoso como sujeito pleno de desejos e também sujeito de seu próprio destino. Um fator fundamental na questão da determinação da velhice é considerado por Silva (2008) e Debert (1999) como sendo a institucionalização das aposentadorias, quando para as autoras a velhice foi assimilada à invalidez ou a incapacidade de produzir. Nesta percepção uma questão que surgiu nas entrevistas é que a chegada da velhice estaria demarcada não com o critério etário, mas, estreitamente vinculada ao mundo produtivo. A velhice é significada como momento de diminuição da força de trabalho dos sujeitos, como momento em que os indivíduos se tornam incapazes de produzir; é basicamente uma representação produzida para atender as necessidades de renovação da força de trabalho no mercado. A representação social sobre a velhice é então determinada pela sua inserção no processo de produção. 92 – Porque tem aquela pessoa que tem setenta anos e ela é útil pra sociedade, né? (...) pode trabalhar, né? (...) é aquela pessoa que pode tá presente. E até pra família, muitas vezes ele substitui um filho e dá assistência toda família. (E2). – É (...) eu não conheço assim bem essa classificação de pessoas idosas; o conceito aí de quando se caracteriza uma determinada idade das pessoas (...) Porque a gente vê pessoas com sessenta, sessenta e cinco anos, muito conservadas, muito dispostas emocionalmente, fisicamente e produtivas. Então, esse conceito aí de idoso, eu não consigo estabelecer onde que ele entra. (E5). – (...) pelo Estatuto do Idoso, é com sessenta anos. Mas eu acho que a pessoa desde que ela fez cinqüenta anos ela tem que procurar ser voluntária. Acima de cinqüenta anos já tem muita gente aposentada, né? que não faz mais nada em casa. (E6). – (...) eu acho que sessenta anos a pessoa ainda tá na ativa, né? Mas ela já trabalhou muito. Eu acho que é uma idade suficiente. (E8). Quando os entrevistados sustentam que aos sessenta anos as pessoas ainda são capazes de atividades produtivas, eles consideram que elas ainda não são idosas; isto vem reforçar a mentalidade, no nosso mundo moderno, de que em sua natureza capitalista a ordem produtiva compreende o velho como um ser fora da organização social, visto que já não são produtivos para o capital. Depara-se, assim, com a situação do aumento da expectativa de vida da população, que colocou mais anos na vida do trabalhador, mas por outro lado esta longevidade engendrou a velhice como uma etapa da vida de menor valia, de perdas e improdutividade. Pacheco (2006) descreve que as formas de trabalho atuais exigem competências que quase sempre excluem os que envelhecem, embora não haja evidências do envelhecimento destas competências; o discurso ideológico sobre agilidade, precisão e atualização tecnológica envelhece a população, que se torna descartada por esse mercado de trabalho. 93 A conseqüência desta situação acarreta um corte no vínculo social dos indivíduos e a aposentadoria passa a ser entendida como porta de entrada para a velhice. – Quando que eu vou me considerar idoso? Após a aposentadoria. (E5). – (...) eu acho que a pessoa com a aposentadoria é a velhice, né? (E6). Peixoto (2007) relata que, em todas as sociedades industriais, a partir da criação da aposentadoria, o ciclo de vida é reestruturado com o estabelecimento de três grandes etapas: a infância e a adolescência como tempo de formação; a idade adulta – tempo de produção; e a velhice – idade de repouso, tempo de não-trabalho. Entretanto, autores, como Derbert (1999), Peixoto (2007) e Gohn (2006), apontam a disposição na sociedade contemporânea de uma dissociação entre a aposentadoria e a velhice; esta nova visão é decorrente dos novos aposentados advindos da classe média com níveis mais altos de aspirações e de consumo, assim a aposentadoria atinge um contingente cada vez mais exigente e mais jovem. Faz-se necessária, então, a criação de etapas intermediárias na velhice, denominadas como terceira idade e aposentadoria ativa, em que comportamentos convencionalmente considerados como da maturidade devem ser desafiados e surgem novas formas de tratamento e os signos da aposentadoria deixam de ser momentos de recolhimento para tornarse um período de lazer e de realização de projetos. Para que haja consonância entre as demandas deste grupo e a oferta de serviços fez-se necessário requisitar o conhecimento de especialistas, que nortearam a consolidação de um novo estilo de vida a essa nova identidade etária. De acordo com Debert (1999), os indivíduos são incentivados a exercer uma vigilância constante do corpo e são também responsabilizados pela própria saúde, por causa de doenças auto-infligidas, resultados de abusos corporais como a bebida, o fumo, a falta de exercício 94 físico etc. Essa visão é incentivada pelas políticas de saúde como forma de reduzir os seus custos, como pode ser evidenciado nas falas abaixo: – E eu tô me preparando pra isso, né? Eu tomo Sinvastatina pra não aumentar o meu colesterol, controlo meu peso, faço ginástica, porque eu sei que o melhor da minha vida vai chegar quando eu já tiver despreocupado com vários problemas, com questões de trabalho, questões de família, aonde eu vou poder ter a qualidade de vida em sua totalidade (...) pra mim. (E8). – Bom, eu sonho em aposentar, eu sonho em (...) ter meus filhos formados, encaminhados na vida, e viver minha vida, né? (...) Então, quem sabe, eu, com cinqüenta, sessenta anos eu quero ter o privilégio de falar que sou idoso (...) Sim, e vai ser um momento muito bom na minha vida. O melhor da minha vida vai ser depois dessa fase aí. (E5). Esta visão é denominada nos estudos de Silva (2008) como “envelhecimento positivo”, que se baseia no ataque crítico da crença de que a velhice seja doença. Em relação à criação desta nova identidade para a velhice, a autora cita o trabalho de Featherstone e Hepworth (1995), em que os autores observam as imagens positivas da velhice vinculadas à cultura de consumo. Autores como Debert (1999), Motta (1999) e Silva (2008) tratam da emergência da terceira idade e o desenvolvimento da “indústria do envelhecimento”, em que os agentes de marketing identificam neste grupo um potencial para novos mercados. É interessante ressaltar que o grupo dos aposentados antes da inserção da classe média não despertava o interesse como consumidor, pois este não dispunha de recursos econômicos, o que se modificou com o surgimento da geração de aposentados advindos da classe média, que passou a caracterizar-se como uma fatia de mercado a ser explorada. Isto pode ser constatado nas falas: 95 – Então, é uma força emergente, contudo ela ainda é um “gigante adormecido”. Ele não tem (...) ele não sentiu ainda o poder. Isso é uma questão de tempo para haver essa conscientização para que o poder econômico, né? (...) também reivindique para si o poder público. (E5). – O idoso é um cidadão. Ele possui uma renda média, a renda média aqui do nosso município tá em torno de seiscentos reais, a média de pagamento em Divinópolis tá em torno de seiscentos reais, né? São pessoas que são saneadas financeiramente, possui créditos a juros baratos, são respeitados pelo sistema bancário, e são consumidores. (E7). – Envelhecer era ficar fora de um contexto de privilégios e de oportunidades. Hoje já é diferente. A gente ouve falar muito de guerra fiscal entre os municípios e oferecem incentivos para atrair empresas; e lá no nordeste já está acontecendo um fenômeno interessante que é a guerra previdenciária. Existem prefeituras de cidades pequenas no Nordeste, onde o aposentado que mora em outra localidade, se eles mudarem pra lá, começarem a receber seus benefícios e gastar lá, os prefeitos estão dando casas pros idosos; isso porque é a única forma de fazer a economia crescer. (E8). Contudo, deve-se ressaltar novamente que estas novas diretrizes necessitam ser observadas criticamente como forma de não seguir a tendência de homogeneizar as pessoas idosas. Evita-se, portanto, o deslocamento de uma concepção sobre velhice baseada no estereótipo de improdutividade ou doença, para uma outra imagem, que igualmente homogeneíza no outro extremo, como de sinônimo de vitalidade e saúde. O discurso que hoje tende a prevalecer transforma estas pessoas em seres obrigatoriamente saudáveis e produtivos. Este fato omite a heterogeneidade deste grupo social e a existência de problemas específicos que afligem a muitas destas pessoas. Por exemplo, em sociedades com altos índices de desemprego, como é o caso do Brasil, pode-se deduzir que 96 resulta em ser muito mais difícil a estas pessoas obter outros meios para manter-se que não seja por meio de suas pensões. Contextualizando esta diferença de visões da velhice, as declarações dos entrevistados abaixo a correlacionam com a dependência e ao adoecimento: – Olha, na minha maneira de entender, é aquele que passa dos sessenta anos e para a família é aquela pessoas que passa a ser dependente dos mais jovens; mesmo pelo fato dele estar sempre enfermo, ou não poder trabalhar mais. (E2). – Não, pela faixa etária, eu acho pela pessoa (...) quando a pessoa não puder mais prestar serviços à sociedade, né? (...) pelo fato de estar enferma ou com algum problema mesmo de doença, né? (E2). – O idoso pra ele não envelhecer ele não pode se sentir sozinho, né? Não pode sentir dependente. Porque eu acho que o idoso ele envelhece mais se ficar muito dependente. Então, eu acho que ele tem que tá sempre procurando alguma coisa em casa, e a família, tem que deixar, né? Incentivar, eu acho que é isso. (E6). Na literatura gerontológica, a dependência é definida como incapacidade da pessoa de funcionar satisfatoriamente sem a ajuda de um semelhante ou de equipamentos que permitam adaptações; este termo também aparece relacionado com o estado de desamparo ou de impotência. Nas conclusões de pesquisas como as de Garrido & Menezes (2002), de Lima-Costa, Barreto & Giatti (2003) e de Ramos, Rosa, Oliveira, Medina & Santos (1993), a associação da velhice com doença, morte, perdas e limitações é feita desde que a vida foi periodizada sob influência de um modelo baseado em premissas biológicas, o que estigmatizou a velhice como um período de decadência e perdas. Este modelo teve sua origem na teoria do desengajamento, que consistia na suposição de que a incapacidade para o trabalho retira da velhice qualquer possibilidade de atividade 97 social. Embora esta idéia seja contestada, ainda se encontram seus resquícios em alguns discursos. 5.1.3 Idade da discriminação e do abandono As condições de perda de autonomia e da independência, motivadas que sejam por questões econômicas ou de saúde, comprometem de forma significativa as condições de vida das pessoas idosas. Dessa maneira os idosos passam a constituir um encargo para a família, que muitas vezes não está preparada para esta situação. Este despreparo correlaciona-se com a mudança da organização da família na modernidade, conforme já comentado em capítulo anterior. Nas falas dos entrevistados pode-se observar esta situação: – (...) então, assim, o idoso é uma pessoa que não pode aparecer pra família. Tanto das pessoas ricas, que são piores, quanto das pessoas de classe baixa (...) Ele se sente uma pessoa à margem. (E3). – Idosos ficam sozinhos porque cada filho, cada família, está cuidando do seu projeto, né? (E1). – A pessoa envelheceu (...) Aí vai pro asilo. (E3). A visão do idoso como intrinsecamente improdutivo leva a pensar-se que, mesmo que o envelhecimento seja desejável sob a perspectiva dos indivíduos, o crescimento da população idosa pode acarretar um peso sobre a população jovem e o custo de sustentá-la pode vir a constituir-se uma ameaça ao futuro das nações. Deu origem à preocupação com a “crise do envelhecimento”, pois os idosos são considerados grandes consumidores de recursos públicos, principalmente, de benefícios previdenciários e serviços de saúde. 98 Entretanto, a associação do idoso como sendo um encargo para a sociedade e para a família não constou do estudo sobre as condições de vida dos idosos brasileiros, realizado por Camarano et al. (1999), em que foi demonstrado um aumento expressivo da participação deste segmento populacional no mercado de consumo, bem como no orçamento familiar. Conclui-se também nesse estudo que o idoso de modo geral está em melhor condição de vida do que a população mais jovem, sendo seus rendimentos maiores; grande parcela tem sua casa própria. Assim, para a autora a afirmação de que a associação entre o envelhecimento e o aumento da sobrecarga sobre a família e o Estado não se verifica de forma tão direta. Pode-se então considerar que as afirmações seguintes apresentam uma concepção preconceituosa do envelhecimento: – (...) falou que é idoso, né? (...) ele já é discriminado pela própria sociedade. (E2). – (...) que o idoso hoje ele não se sente ouvido; ele se sente marginalizado; todo lugar que ele vai todo mundo xinga porque ele anda devagar, não é? E ele atrapalha o trânsito, ele atrapalha as lojas. (E3). – (...) eles atendem o idoso como coitadinho: “ai, coitadinho dele!”, “ele é velhinho, tem um monte de doença” e não sei o quê (...) idoso não é um coitadinho, ele é um ser e tem que ser respeitado como um ser nos seus limites de caminhada, nas suas enfermidades, tanto como outra pessoa qualquer. (E3). Assim, no que se refere a estudos que investigam crenças, atitudes, percepções e representações sociais do velho, da velhice e do envelhecimento no cenário brasileiro, podem ser destacados os trabalhos de Veloz, Nascimento-Schulze e Camargo (1999), Novaes e Derntl (2002), Almeida e Cunha (2003) e Araújo e Carvalho (2004). Nos resultados dos estudos mencionados predominam relações entre os objetos estudados e aspectos negativos, estando os conteúdos encontrados freqüentemente relacionados a perdas biológicas, de laços familiares e do ritmo de trabalho. Entretanto, surge também a idéia do velho como portador de 99 experiência e sabedoria, o que parece servir como compensação pelas perdas referidas. De modo geral, tais conteúdos parecem impregnados de preconceitos que apontam o velho como improdutivo para o trabalho, dependente dos que o cercam, doente e solitário. 5.1.4 Idade da sabedoria O envelhecimento traz limitações sobre o corpo, que já não possui a mesma vitalidade da juventude; por outro lado, existe o conhecimento adquirido por meio das experiências ao longo de toda uma vida. A partilha desses conhecimentos com as novas gerações sob esta perspectiva da velhice é abordada nas falas abaixo: – Um sábio. É (...) sabedoria de uma pessoa que não só freqüentou escola, pode até ter freqüentado, mas não necessariamente porque sabedoria não se aprende na escola. E que vivenciou, experimentou situações, criou, descobriu, né? (...) e tem potenciais que foram desenvolvidos e podem passar pra gente. (E1). – Pessoa idosa pra mim (...) eu não considero uma pessoa idosa. Eu considero uma pessoa com uma vivência já boa, de mais tempo de vida, conhecimento e tudo. Inclusive a gente tem que aproveitar do conhecimento que ela tá deixando; ela tá indo, mas tá deixando algo de bom, né? (E7). Falar de si mesmo, nessa fase da vida, é, de acordo com Barros (2007), que pesquisou mulheres idosas e avós, uma maneira de rever o passado e também de transmitir conhecimentos e experiências às gerações mais jovens. Deixar um ensinamento aos mais jovens é uma forma de “marcar” sua existência no mundo, de eternizar-se, pois seus conhecimentos, suas reflexões e suas experiências de vida permanecerão, além da sua morte, 100 por meio de seus “discípulos” que podem ser seus filhos, netos, sobrinhos, alunos, vizinhos e amigos. Entretanto, fazer-se presente entre os mais jovens e transmitir-lhes seu conhecimento de vida não é, de uma maneira geral, empreitada fácil para o velho. Barros (2007) destaca que cada geração tem seu estilo de vida e a convivência entre pessoas de gerações diferentes pode gerar conflitos. Em sua pesquisa com avós, a pesquisadora mostra que “a luta pelo poder na família adquire, para esses avós, a conotação de uma luta contra a própria idéia de velhice decrépita e assistida” (BARROS, 2007, p. 97). A recusa dos conhecimentos do velho é de certa forma, uma negação do significado de sua existência. Se as suas experiências de vida não têm valor, sua vida não teve importância. A valorização das experiências de vida do idoso é possível quando o mais jovem as considera necessárias e importantes para o seu próprio desenvolvimento. De acordo com Hanna Arendt (1987, p. 98): “A sabedoria é uma virtude da velhice, e parece vir para os que quando jovens, não eram nem sábios nem prudentes”. A sabedoria, nesse sentido, é um aprimoramento do pensamento, emergido das próprias experiências e inspirando a qualidade das ações. A sociedade carece dessa sabedoria para sua organização do futuro e, como indivíduos, as pessoas desejam-na presente em suas vidas. Sendo assim, para entender as representações do que é ser idoso atualmente, torna-se necessário reinventar uma concepção para o envelhecimento; é preciso reconhecer a experiência de vida e contribuições que os idosos têm a oferecer para a sociedade e possibilitar-lhes uma participação ativa no processo de desenvolvimento. Mudar a concepção do velho e do envelhecer na sociedade brasileira é um grande desafio, é uma missão concreta para o futuro comum, já que todas as pessoas um dia envelhecerão e o envelhecimento que desejam é aquele com excelente qualidade de vida, não isenta de problemas, mas, com potencialidades para ultrapassar cada obstáculo que surgir no caminho. 101 Ao governo cabe a reformulação de estratégias de promoção de políticas de segurança de renda por meio de esquemas públicos confiáveis de aposentadoria, assegurar o atendimento e a assistência médica à população envelhecida por meio da melhoria do SUS, elaborar, o mais rápido possível, políticas sociais que preparem a sociedade para essa mudança ocorrida na pirâmide populacional para solucionar, então, as demandas da população idosa. Na percepção dos entrevistados, os idosos hoje em dia estão muito ativos e querem participar da sociedade; para a grande maioria dos entrevistados aos sessenta anos realmente não é hora de parar – que tal agora a sociedade se reinventar? 5.2 Assistência ao idoso O segundo eixo temático insere-se no contexto da assistência ao idoso. Procurou-se reconhecer por meio das entrevistas realizadas a percepção e o conhecimento dos atores investigados a respeito das políticas de assistência ao idoso. Conforme já abordado anteriormente, a dinâmica do envelhecimento populacional vem acontecendo de forma rápida e diferenciada em um contexto de profundas transformações sociais. Ao estabelecerem-se práticas assistenciais, devem-se examinar as oportunidades, os problemas e os desafios de uma proteção social efetiva para a população idosa. Assim, a forma pela qual estas políticas são dirigidas ao grupo de idosos depende, fundamentalmente, da visão que se tem desse segmento populacional. Na perspectiva da assistência ao idoso na análise das entrevistas visualizam-se as seguintes categorias: idoso e responsabilidade (de quem?); idoso e o instrumento legal; idoso e controle social; política para quem? velho, idoso ou terceira idade? 102 5.2.1 Idoso e responsabilidade (de quem?) A responsabilidade pela assistência ao idoso historicamente, de acordo com Caldas (2003) e Camarano (2007), tem sido da família; por esta tradição o idoso já traz a expectativa de ser cuidado pelos filhos e a família não questiona este fato. Este contexto é amparado em questões culturais e de cunho religioso, pois várias religiões no mundo sustentam a noção de responsabilidade das famílias pelos idosos. Quando não se cumpre essa função adequadamente, a família sofre sanções sociais, pois é considerada negligente e/ou irresponsável. Para Néri (1999) mais do que em qualquer outro período, ao longo do curso de vida, o idoso precisa de uma relação direta, estreita e duradoura com a família. Este é o eixo de significância para seu cotidiano. É nele que o idoso realiza suas relações afetivas e significantes; espera a segurança e o apoio necessário para que continue vivendo sua velhice autonomamente, de modo que seja bem-sucedida. Os entrevistados responsabilizam a família como eixo fundamental de assistência ao idoso, conforme suscitam as falas: – Então a família é importantíssima na vida da gente, não só do idoso, mas de todos. País que não tem família envolvida, esse país não existe, não é? (E5). – (...) a família caberia assim (...) do envelhecimento à morte. Eu acho que a família é quem deveria cuidar. Eu acho que a família tem que preservar (...) eu cuido do meu filho quando nasce, não é? Eu cuido dele na adolescência, dou estudo, depois ele estuda, ele começa a crescer, eu começo a perder um pouco de espaço e meu filho passa a cuidar de mim, e nós vamos até o envelhecimento, até a morte. Entendeu? (E8). – Eu acho que no contexto da família, o idoso tem que ser valorizado, o idoso tem que ser cuidado e se ele tiver inválido a família tem que amá-lo, tem que cuidar, tem que 103 preservar (...) e tem que cuidar dele, tem que deixar ele limpinho tem que deixar ele (...) de fralda trocada, se for preciso, se ele tiver numa cama. A família tem que cuidar do seu idoso, nós temos que cuidar da nossa família. Não cuidamos do nosso bebê quando nasce? Por que que não vamos cuidar do nosso idoso quando ele envelhece? (E4). Somente um dos entrevistados se fundamentou nas leis de proteção ao idoso para assegurar o papel da família no seu cuidado: – Mas a primeira responsabilidade tá claro no Estatuto: é da família. (E3). No Brasil, a Lei n.º 8.842/1994, que instituiu a Política Nacional do Idoso (PNI), em seu artigo 1.º, destaca a necessidade de assegurar os direitos sociais do idoso e, em seu artigo 3.º, apresenta: “I – a família, a sociedade, o estado tem o dever de assegurar ao idoso todos os direitos de cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem estar e direito a vida.” (BRASIL, 1994). O Estatuto do Idoso, Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003, ampara o idoso nos mais diferentes aspectos da vida cotidiana, mas destaca o papel da família em todos eles. Entretanto, Camarano (2007) e Caldas (2003) alertam para as grandes mudanças que vêm ocorrendo na estrutura familiar. As autoras citam como dificultadores das atribuições familiares: a urbanização e a transformação das estruturas familiares de famílias extensas para famílias nucleares, o que diminui a disponibilidade do cuidado ao idoso. A família contemporânea, cujo modelo hegemônico é o nuclear, tem como características a mobilidade, o tamanho reduzido, a fragilidade dos laços matrimoniais, a saída da mulher para o trabalho extradomiciliar, o distanciamento dos parentes e a perda do sentido de responsabilidade com as gerações mais velhas (FGV, 1986, p. 457–458). Nos discursos dos entrevistados observa-se o relato da omissão familiar no cuidado com idoso, inclusive a opção pelo seu asilamento: 104 – A família a gente vê que ela não está assumindo o seu papel (...) ela quer mais que ele vá pra uma instituição do que cuidar dele na própria residência. Ela quer ficar livre dele, né? (E3). – Eu só estou muito preocupada porque as famílias estão, mesmo, omissas; elas estão entregando os idosos pras instituições, né? (...) às vezes até muda pra longe, pra não dá assistência ao idoso, então isso (...) a gente fica triste com isso e parece que a cada dia tá aumentando o abandono deles. (E2). As justificativas mais freqüentes para a decisão do asilamento, confirmadas por pesquisa empírica (SILVA, 2001; ARAÚJO, 2003), são: o descuido do familiar para com o idoso; a inadequação de moradia; a falta de pessoas para ajudar no cuidado; escassos recursos financeiros; inacessibilidade aos recursos comunitários, incluindo os de saúde e o padrão de relacionamento entre os membros da família, na maioria das vezes excluindo o idoso do convívio familiar. Um motivo relatado para o asilamento ou abandono é quando os familiares precisam trabalhar e não podem fazê-lo em horário parcial ou mesmo deixar o mercado de trabalho para dedicar-se ao cuidado do seu idoso: – Muitas vezes cada um tem uma ocupação, e muitas vezes é a desculpa de não ter tempo, né? (E4). A questão da condição financeira da família é relatada como não sendo determinante no asilamento: – (...) se fosse só família carente, eu diria pra você que o suporte social é pequeno. Mas isso tá acontecendo é no todo, é família de classe alta (...) que tem condições, né? e que abandonam. Então assim, a gente fica triste por isso. Tá acontecendo não só naquelas famílias que não têm condições, como naquelas que têm e não querem cuidar do seu idoso em casa. (E2). 105 O asilamento do idoso é visto socialmente como uma omissão da família de sua responsabilidade. Assim Camarano (2007) constata que, em geral, as famílias que decidem pela institucionalização de seus idosos são vistas como praticando o abandono e tendem a experimentar forte sentimento de culpa. Segundo a autora, historicamente os asilos existem desde o século XVI na Europa e, no Brasil, desde o século XIX, mas eram instituições que misturavam loucos, mendigos, vagabundos e idosos e tinham como objetivo a exclusão destas pessoas da sociedade; acredita-se que parte do preconceito em relação aos asilos tem sua origem neste fato. Eloísa Adler (2006) relata que em Cuba existe uma alternativa de assistência, em que o idoso dependente ou semidependente passa o dia com toda a assistência e no final do dia a família vai buscá-lo. Esta modalidade de assistência no Brasil é denominada de Centro-Dia, e foi regulamentada pela Portaria n.º 73/2001, da Secretaria de Assistência Social. Este modelo caracteriza-se por ser um programa de atenção integral ao idoso com objetivo de mantê-lo com a família ao possibilitar aos familiares exercerem suas atividades laborais (DIOGO, 2006). Para Tomiko Born (2008), “as instituições de longa permanência não podem ser vistas como a única forma de cuidar do idoso dependente”. A autora ressalta que os governos devem também promover atendimento domiciliar, formação de cuidadores e oferecer serviço de atendimento médico adequado, porque, se não for construída essa rede de assistência, as únicas opções serão as instituições de longa permanência para os idosos. Essa visão da co-responsabilidade do Estado e da sociedade para com a assistência ao idoso é evidenciada nas falas abaixo: 106 – (...) na verdade nós temos que trabalhar a velhice desde criança Mas, isso ficaria muita responsabilidade só pro governo; então eu acho que as empresas e toda sociedade, a sociedade é responsável por toda essa velhice adoecida que nós temos. (E3). – Mas é preciso que o governo faça um trabalho com as pessoas acima de sessenta anos que não é preventivo, que é mais um trabalho de manutenção da saúde do idoso de manter ele com uma velhice menos doída, né? que valorize o idoso socialmente, né? (E6). – O estado precisa criar condições para ele, pra ele viver na sociedade, não se sentir hora nenhuma alheio à questão (...) ele tem que participar da vida do bairro, da vida da cidade, da vida do estado, né? E (...) isso aí o estado tem que fomentar condições para que ele possa tá inserido e dando ele condição dele ter uma vida melhor. (E8). Diogo (2006) descreve que países da Europa e da América Latina contam com um serviço de auxílio no domicílio, o qual inclui a participação de pessoas voluntárias ou vinculadas a organizações governamentais ou não-governamentais, na ajuda ao idoso que mora sozinho, que apresente algum grau de incapacidade ou que permanece a maior parte do dia só. Pesquisas de Yamamoto e Diogo (2002) e Yoshistome (2000) ressaltam que a institucionalização de idosos tem sido questionada até mesmo em países desenvolvidos em vista do alto custo de sua manutenção, e a dificuldade com recursos humanos qualificados para atuar nestas instituições. Na perspectiva de dar suporte às famílias e desta forma manter idoso no convívio familiar, a Portaria n.º 73/2001 propõe modalidades de assistência em parceria com organizações governamentais, não-governamentais, como Família Natural, Família Acolhedora, Residência Temporária, Centro-Dia, Centro de Convivência, Casa Lar, República, Assistência Domiciliar. Entretanto, Diogo (2006) salienta em seus estudos que, apesar da proposta, somente poucas e pontuais ações são desenvolvidas no Brasil. 107 Um estudo realizado por Karsch (1998) sobre o suporte domiciliar aos adultos que apresentavam perda da independência, no período de 1991 a 1995, no município de São Paulo com famílias de baixa renda, mostra que aproximadamente 90% das famílias não receberam ajuda de serviços, organizações, grupos voluntários e/ou agências particulares, mas cerca de 30% delas referiram, que se pudessem receber esse tipo de auxílio, ficariam satisfeitas. Além disso, 40% dos cuidadores manifestaram a necessidade de apoio, tais como orientações, suporte pessoal, consultas mais freqüentes, auxílio em transporte, entre outros. Nessas condições, a família comumente se encontra fragilizada, solitária e não consegue dar conta das demandas oriundas da pessoa idosa. Não conseguindo visualizar uma saída que seja menos sofrida, a institucionalização, então, é uma das soluções encontradas. Assim, atribuir a culpa à família é forma de ocultar a falta de investimentos públicos em arranjos domiciliares para idosos e em apoio profissional e financeiro às famílias, para que possam cuidar deles em casa. Culpabilizar os filhos é uma forma de diminuir a probabilidade de que procurem ajuda ou que percebam ou reclamem pela falta de apoios sociais. Muitas famílias pobres e em situação de vulnerabilidade social não têm meios de garantir abrigo e condições mínimas de sobrevivência a seus membros, principalmente idosos. Os resultados do Censo de 2000 revelaram que, no Brasil, a maior parte dos idosos reside com a família. A institucionalização é um último recurso, e não se dá sem culpas, e ocorre para aqueles cuja ausência de uma rede social, incluindo a família, os coloca em condição de risco social (CAMARANO, 2000). No discurso dos entrevistados pode ser verificado que, dentre as modalidades de assistência citadas, somente os Centros de Convivência são relacionados como necessários: – (...) o idoso precisa de mais Centro de Convivência organizado. (E6). – Olha, a prioridade para o segmento do idoso seria os Centros de Convivência, quanto mais, mais. (E3). 108 Guerreiro (1993) realizou pesquisa sobre Centros de Convivência e concluiu que os participantes estão muito distantes da imagem do idoso em crise, solitário e inativo; a participação nas atividades do Centro propicia a ampliação do círculo de amizade e participação social. Entretanto, o autor relata que os participantes se referem aos que não se inserem no programa como velhos e os associam ao estereótipo negativo da velhice. Pode-se notar que os entrevistados reconhecem a família como responsável pelo idoso, contudo não foi mencionada a necessidade de estabelecer-se uma rede de apoio para a família poder cuidar do idoso em situação de dependência, mas, sim, a necessidade de espaços de convivência para os idosos ativos. Esse fato reforça o estereótipo do idoso dependente como o velho segregado e abandonado pela família, e que se deve investir na “prevenção da velhice”, com alternativas socializantes como os centros de convivência. 5.2.2 Idoso e o instrumento legal Quanto ao conhecimento do aparato legal de proteção ao idoso, verifica-se que os entrevistados se referem predominantemente ao Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003). Autores, como Goldman (2006), Paz (2000) e Simões (1998), justificam o maior conhecimento por parte da sociedade em decorrência do fato do movimento social do idoso ter se constituído como protagonista nas discussões durante o processo de sua aprovação, diferentemente do que aconteceu com a Lei n.º 8.842/1994, que instituiu a Política Nacional do Idoso (PNI), quando os principais baluartes foram as entidades civis, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 109 organizações técnico-científicas, como a Associação Nacional de Gerontologia (ABN), dentre outras. Cabe lembrar também que aprovação do Estatuto se tornou um espetáculo ao ser associado à telenovela Mulheres Apaixonadas (Rede Globo), que apresentava um casal de idosos maltratados pela neta, quando o referido casal de atores foi convidado para representar os idosos na cerimônia de aprovação do Estatuto com ampla cobertura da mídia. Mesmo com toda a divulgação do Estatuto, os entrevistados relatam que existe o seu desconhecimento por parte da população idosa que eles atendem: – O Estatuto, ele não tá bem visto pelas instituições. Inclusive, uma das instituições que nós visitamos um dia desses, eles não tinham Estatuto, não conhecem o Estatuto (...) eu enviei pra eles o Estatuto, que eles não tinham em mãos. Então a gente vê que as próprias pessoas que lidam, né? (...) nas instituições, elas não conhecem o Estatuto. (E2). – Eu acho que tem muito idoso que não tem conhecimento, ainda, dos direitos que ele tem. (E8). – Porque, no momento que ele passar a conhecer o Estatuto do Idoso, e conhecer o direito que ele tem, nós vamos mudar muito isso aí. Porque você lutar pelo direito seu dentro daquelas normas existentes você tem força pra aquilo. Agora, se você nem sabe se tem direito (...) que a maioria desse povo nosso aí não tem o mínimo de conhecimento do direito que eles têm (...) do direito que eles têm, porque no dia que eles tomar conhecimento aí nós vamos consertar isso aí. (E4). Em pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (2007) – Idosos no Brasil: Vivências, Desafios e Expectativas na Terceira Idade –, constatou-se que a maioria dos idosos (73%) disse saber da existência do Estatuto do Idoso e 61% por ouvir falar, mas muito poucos o conhecem. Mesmo assim, 77% reconhecem direitos que o Estatuto não poderia deixar de 110 consagrar, principalmente no âmbito da saúde e da aposentadoria e reconhecem os benefícios das passagens de ônibus gratuitas, da prioridade em filas. Goldman (2004) relaciona esse desconhecimento ao fato da dificuldade para a distribuição do Estatuto à população, o qual, conforme a autora, é disponibilizado em vários endereços eletrônicos, mas há que se reconhecer uma dificuldade de acesso de uma enorme parcela da população, que não dispõe de recursos eletrônicos nem tem familiaridade com eles. Desta forma, aponta uma falha no Estatuto por não ter incluído, como há no Estatuto da Criança e do Adolescente, a obrigatoriedade de impressão e distribuição do Estatuto pelos órgãos públicos. Entretanto, quando os entrevistados são perguntados sobre sua compreensão do Estatuto, é observado um conhecimento superficial e pontual de alguns artigos, conforme as citações abaixo: – Oh! eu tenho conhecimento sobre o Estatuto do Idoso, não por estudá-lo. Eu nunca peguei o Estatuto em si e estudei, mas eu tenho conhecimento de que o idoso passou a ter alguns direitos que ele hoje reivindica. (E7). – (...) tem uma legislação que assegura preferências no atendimento. (E5). – Com o Estatuto, não é? Criaram condições (...) nós temos até poder de exigir alguma coisa quando está errado. Quando o atendimento não é aquilo que a gente quer. Mas, em geral não cumprido. (E8). – (...) o Estatuto você tem é (...) passe-livre. (E6). – (...) eu acho que o governo tem que acatar todas as leis do Estatuto do Idoso. Por exemplo, a viagem, sempre a pessoa é barrada, né? (...) eu acho que o governo tinha que olhar mais (...) mais médico, né? pessoas mais capacitadas pra cuidar do idoso. Eu acho que é isso aí. (E2). 111 O Estatuto do Idoso contém 118 artigos que regulamentam os direitos das pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos, possuindo o propósito de operacionalizar a garantia dos direitos assegurados por políticas públicas e mecanismos processuais. Contudo, em pesquisas realizadas a respeito dos direitos do idoso, a população sempre remete a questões sobre a aposentadoria, gratuidade nos transportes, atendimento preferencial e questões de saúde como distribuição de novos medicamentos (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO, 2007; DATASENADO, 2006). Essas pesquisas são amostras de quão poucos aspectos da realidade chamam atenção sob a rubrica dos direitos civis. Haveria tanto a se mencionar quanto ao Sistema de Saúde, à Justiça e à proteção social e os entrevistados não o fizeram, demonstrando também um conhecimento precário sobre o assunto. Néri (2007) adverte que, apesar de todo o avanço em termos da oferta de proteção social e de respeito aos direitos dos idosos, ainda se está muito longe de poder festejar a consciência sobre os direitos, e que o caminho para atingir a conscientização dos direitos sociais é por meio da educação. Enquanto não existir um sistema realmente universal de educação de qualidade, não se poderá ter esperança de mudanças reais nos direitos sociais dos idosos, porque, como usuários dos serviços sociais, eles não terão a força para provocá-las e acompanhar sua implementação e sua eficácia. Surgiu um questionamento sobre a questão do atendimento prioritário na saúde como suscita a fala abaixo, na qual este é um direito de todos e, não, uma prioridade do idoso: – O atendimento prioritário na saúde, isso é até do direito humano, né? (...) criança, idoso, mulher, né? Não é nenhuma novidade o poder público brasileiro está fazendo isso pro idoso. (E1). Alonso (2005) justifica que a igualdade perante a lei não representa necessariamente maior justiça, tendo em vista que existem grupos específicos em desvantagem comparados a 112 outros grupos sociais. Esse reconhecimento levou, no final do século XX, ao surgimento de recursos legais para garantir o espaço de igualdade como, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Para Fernandes (1997), se a sociedade brasileira proporcionasse aos cidadãos mais velhos um tratamento e a consideração dispensada aos adultos, eliminar-se-iam os estatutos especiais para os idosos. Nas falas dos entrevistados surgiu a questão do idoso que se posiciona como reivindicador diferentemente do idoso que foi citado anteriormente que estava dependente da família ou de mecanismos de proteção social. Na percepção dos entrevistados, esse idoso perde o status de pessoa desprotegida e vulnerável, associando-se muito mais ao estereótipo da pessoa de terceira idade. – Existia um tempo que o idoso era mais bem tratado, pelo respeito, pelo cuidado; ele é mais velho, então tem que respeitar, eu tenho que ceder o espaço no ônibus, eu tenho que dá o lugar a ele na fila, mas hoje com o Estatuto do Idoso, e até por isso ser legalizado, o idoso ele mesmo já se coloca numa situação de, de, de, de (...) de reivindicar, não é? (E7). – O idoso, o Estatuto do Idoso pelo que eu vejo é muito bom; mas ele levou também a uma condição do velho ter que lutar pela sua velhice; olha, eu tô meio capenga aqui, mas tem muitas coisas que me protege, eu (...) eu vou reivindicar. (E6). – Já não existe mais a preocupação da pessoa porque a pessoa já sabe (...) não aquele lá já aposentou, ele tá aposentado, ele tem boa condição de vida. Ele tá precisando até me ajudar. Mas vejo também que com isso ele perde um pouco do cuidado humanizado porque ele tem um direito já. Ele conquistou um direito que ele não precisa da minha ajuda mais, não. Entendeu? Eu vejo que a sociedade vê o idoso mais ou menos assim. (E8). – Eu há pouco tempo eu tava no, num, no ônibus e surgiu uma, uma discussão, uma coisa assim: o velhinho, um senhor, tirou um livrinho do Estatuto do Idoso e falou assim: 113 “Olha, eu conheço o Estatuto do Idoso, eu tenho direito, tá aqui no livro. Eu hoje sou acobertado pelo governo federal” – ele usou essa palavra. Dentro do ônibus, não é? Pra reivindicar (...) me parece que o motorista não queria parar. (E4). – Ele tem que saber, e ele precisa reivindicar, sabe por quê? Porque, se não ele fica, ele fica à margem (...) ele fica sendo considerado, porque as pessoas passam a respeitar isso também. Você hoje chama uma pessoa de negro, por exemplo, você pode ser processado, você vai pra cadeia, é um crime inafiançável. O idoso tá na mesma situação, você me falar que eu sou velho, que eu sou (...) eu te boto na cadeia. (E8). Essa posição crítica e reivindicatória é constatada no Encontro Nacional de Idosos de 2005 – Avaliação e Perspectivas da Implementação do Estatuto do Idoso, que ocorreu em São Paulo, no qual a proposta era avaliar o quanto do Estatuto vigora efetivamente. As conclusões sobre esses quase dois anos de vigência do Estatuto indicam que o Poder Público ainda está longe de cumprir a sua parte. Em um documento dirigido a toda a sociedade e órgãos competentes os participantes do encontro declaram: De tudo o que observamos e discutimos nestes dias, salta à vista a conclusão de que o Estatuto do Idoso ainda é um desconhecido. Até nas grandes cidades, que em geral já começam a implementar políticas públicas dirigidas a idosos, grande parte da população ignora totalmente a sua existência. O que se poderá dizer, então, das regiões mais remotas e com populações de baixa renda, baixa escolaridade e ainda sem recursos de atenção ao envelhecimento? Em vista disso, entendemos que é fundamental a mobilização dos idosos e suas organizações, de todas as forças vivas da sociedade brasileira, empenhadas na criação e efetivação de uma política de envelhecimento, para que o Brasil possa se preparar para o fenômeno do envelhecimento populacional das próximas décadas. É necessário realizar um grande esforço de divulgação e discussão do Estatuto do Idoso em escolas, faculdades, órgãos públicos, locais de atendimento e de trabalho, comunidades, enfim em toda parte, para que os direitos e deveres nele estabelecidos passem a ser conhecidos e praticados por todos os brasileiros – é a nossa tarefa e a de todas as idades, para que possamos criar uma vida de melhor qualidade para todas as gerações. E, por fim, é fundamental que o governo e toda a sociedade brasileira reconheçam que os cidadãos da Terceira Idade constituem o mais valioso patrimônio de qualquer país que aspire ser uma nação verdadeiramente desenvolvida – não somente do ponto de vista econômico, mas ainda do social, do político e do cultural. Nós, os idosos, somos os depositários da memória cultural de nosso povo – a memória das lutas em prol da democracia, em seu sentido mais radical, de liberdade igualdade e justiça. Já fizemos muito durante nossas vidas, mas ainda temos muito para contribuir. São Paulo, 7 de Outubro de 2005. 114 5.2.3 Idoso e controle social A heterogeneidade da velhice é afirmada por diversos autores como Debert (1999), Néri (1999), Berquó (1988), Camarano (2004) e Queiroz (1999). Este fato tem produzido diferentes imagens de idosos no Brasil: marginalizado, precoce, pseudo-isolado, ativo e engajado. Embora apresentem características diferentes, todas essas imagens têm em comum o constrangimento de vivenciar, em pelo menos uma dimensão, o processo de exclusão social. Segundo Camarano (2004), cerca de 80% da população idosa habita os centros urbanos, e é neste meio que a autora relata encontrar os idosos ativos e participantes dos poucos movimentos associativos os quais tem sido até agora os porta-vozes das necessidades e aspirações desse segmento. Os movimentos sociais dos grupos de idosos ganharam alguma expressão a partir da década de 1980, com a Constituição de 1988, em que se criaram mecanismos de participação popular na administração pública (PELLEGRINI & JUNQUEIRA, 1996). Esses mecanismos são denominados “conselhos de participação” e possuem o caráter deliberativo, o que significa que suas decisões devem ser acatadas pelo poder público, pois são legitimas e representativas dos segmentos sociais. Vargas (1998) conceitua o controle social como a participação da sociedade civil nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos. Trata-se de uma ação conjunta entre Estado e sociedade em que o eixo central é o compartilhamento de responsabilidades com vistas a aumentar o nível da eficácia e efetividade das políticas e programas públicos. Assim, os idosos têm, dentro dos conselhos de direitos, um fórum no qual se podem fazer presentes. Os conselhos são formados por um número de representantes do poder 115 público igual ao número de representantes da sociedade civil que engloba tanto os prestadores de serviços, os técnicos ou administradores, como grupos de idosos, em que o idoso faz sua representação. Isto confere ao Conselho do Idoso uma característica própria, uma vez que o próprio idoso, alvo das ações e políticas em questão, compõe o corpo de conselheiros, diferentemente dos conselhos da criança e do adolescente, conselhos da saúde ou da assistência, em que, poucas vezes, o usuário dos serviços tem ocupado o assento que tem por direito. É importante frisar que se considera essa possibilidade um avanço, pois abre novas perspectivas para a participação e para a autonomia do idoso. O conselho para os entrevistados caracteriza-se como um espaço em que o idoso tem voz e pode organizar-se para reivindicar os seus direitos: – O Conselho Municipal do Idoso. Nós temos onde gritar, onde brigar, onde recorrer os nossos direitos, né? Já foi muito pior. Mas ainda precisamos de algo mais pra melhorar nossa condição de vida, do aposentado, do pensionista, do idoso. (E4). – (...) lá no Conselho é onde a gente busca os direitos e pode reclamar, né? Reivindicar alguma coisa. (E6). – Nós temos aqui, em Divinópolis, um Conselho do Idoso. Esse Conselho do Idoso, eu já participei até de algumas reuniões dele, eles sempre estão voltados para as necessidades e para as políticas públicas ligadas ao idoso. (E7). Machado (2006) realizou pesquisa na qual ela observou que há diferenças políticas ideológicas distintas entre o grupo de aposentados e os de associação de idoso, como os conselhos. O grupo dos aposentados apresenta-se orientado pela política do sindicato, em uma prática que reproduz as ações do sindicato. Portanto, sua luta é focada na reposição das perdas salariais e nas garantias previdenciárias. É um movimento tradicional e suas reivindicações estão sempre no eixo capital e trabalho. A autora verificou que o movimento dos aposentados até pouco tempo não reconhecia outros movimentos por achá-los despolitizados. 116 O movimento social dos idosos tem como característica ser informal, sem corte classista, formado por intelectuais, donas de casa, pobres e outras pessoas. O que lhes dá identidade coletiva são as reivindicações temáticas (serviços de saúde, cultura, educação etc.), dada pelo processo de envelhecimento. Na realidade, trata-se da consolidação de um movimento social novo, em que a política está em outro patamar, no cotidiano. Assim, Machado (2006) afirma categoricamente que as “políticas nascem na sociedade civil e só depois é que o Estado as coloca na agenda pública”. Além da forma de associação por meio dos conselhos, os grupos de convivência também se apresentam de forma consistente na representação dos idosos durante as entrevistas. Este meio associativo teve seu início em 1963, no Serviço Social do Comércio de São Paulo (SESC/SP). Esses grupos caracterizam-se por desenvolver atividades de socialização, como dança de salão, esportes, artesanato etc. Segundo Abigail (2005), no ano de 2005, existia no país mais de três mil grupos de convivência cadastrados no Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), sendo um mecanismo social plenamente aceito pela população idosa. As falas abaixo demonstram que os centros de convivência têm um direcionamento para os idosos carentes, visto o aspecto de assistencialismo observado no discurso, bem como uma forma de socialização sem o objetivo de organização política. – É uma política mais voltada pra questões sociais de filantropia e atividades festivas. (E5). – (...) na promoção de eventos de qualidade de vida, no que eles chamam lá de, de terceira idade; tá mais na área assim de eventos sociais, e o que eu percebo lá no grupo. (E4). – Eu acho que o idoso, ele tem essa necessidade de centros de convivência, a necessidade de conversar e mostrar sua capacidade. (E7). 117 – É (...) estão precisando demais desses serviços aqui do Centro de Convivência, por quê? Porque é preventivo da velhice. (E3). – Existem alguns Centros de Convivência que têm ajudado, mas, por exemplo, na nossa região aqui a maioria dos Centros de Convivência funcionam uma vez por semana, joga bingo e faz forró como nós fazíamos e fizemos isso durante muitos anos. (E2). Uma outra forma de associação de luta pelos direitos do idoso que surgiu nas entrevistas foi o Movimento dos Aposentados e Pensionistas no Brasil. Para Simões (2006) esta associação caracteriza-se como uma demonstração de que esta população estava – e ainda está – disposta a participar da esfera pública no papel de atores organizados e combativos. São esses atores sociais que se levantam contra os baixos benefícios pagos pela previdência social. O objetivo dessa associação não se limita a reivindicar a correção e o aumento dos proventos dos aposentados e pensionistas dependentes da Previdência Social. Tem como proposta conscientizar politicamente esta parcela da população na luta pelo fim da segregação geracional e contra o descaso das autoridades diante dos baixos proventos pagos à categoria (SIMÕES, 2006). Esta luta pode ser observada no discurso abaixo, em que o entrevistado manifesta uma insatisfação com os governos, que ignoram a situação do aposentado: – (...) nós temos treze anos que não tem um centavo de aumento. O Fernando Henrique Cardoso ficou oito anos, não nos deu nada; pelo contrário, cortou direitos que nós tínhamos, porque o nosso aumento era vinculado ao INPS e ele cortou. O Lula tá esse tempo todo e nem um centavo de aumento, eu tenho impressão (...) acho que ele quer que o velho morra. (E4). Simões (2007) ainda relata que os problemas relativos à aposentadoria ganharam visibilidade política no Brasil nos anos 1990 com a “mobilização dos 147%”, e que os 118 grandes responsáveis foram os próprios idosos aposentados que foram para as ruas em protesto contra o arrocho dos benefícios pagos pela previdência. O autor afirma que nesse momento os aposentados passaram a constituir-se atores importantes no processo político. Contudo, a pouca participação do idoso na associação à qual pertence é relatada como uma conduta de acomodação diante de situações em que seria necessário o engajamento político para ocasionar mudanças: – (...) nós temos aqui mesmo na própria associação, que você convida: “Vamos fazer parte disso, que eu já te falei sobre isso (...) vamos fazer parte (...) E elas: “Ah, não! não vamos mexer com isso, não”. Então, pra mim são essas pessoas que aceitaram a condição que estão vivendo. (E4). Para Graeff (2002) a aposentadoria é percebida pelos idosos como perda de sua capacidade produtiva, sua competência; vêem-se obrigados ao retiro. A própria característica compulsória da aposentadoria proporciona sentimentos de apatia e impotência, trazendo a impressão de que lhes escapa a autonomia conquistada em anos e anos de trabalho, o que levaria ao não-interesse na luta da categoria. Essa situação é observada por outro entrevistado, sendo interpretada como uma desorganização dos idosos no município: – (...) eu ainda entendo que os idosos, eles são desorganizados. Nós temos aqui, trinta mil aposentados em Divinópolis e, no entanto, nós não temos uma associação efetiva que possa influenciar os destinos de uma nova relação política econômica e social dentro do município. Então, o primeiro requisito para essa política pro idoso seria a mobilização dessa categoria, que ela ainda é inexistente. (E5). A caracterização das atividades de muitas associações, segundo Simões (2007), mostra um cotidiano que gira em torno da prestação de informações sobre direitos dos aposentados e da condução de processos de justiça, delineando-se como eminentemente assistencialista. 119 Percebe-se esse perfil assistencialista na fala abaixo: – Nós temos uma quantidade enorme de aposentado e pensionista aqui, em Divinópolis, Divinópolis e região, e eles depende muito da gente para auxiliá-los. Às vezes eles falam: “Eu tô com um problema assim, assim, como que eu vou resolver?”. Vem cá que nós vamos resolver isso. (E4). Uma outra questão abordada foi a fragilidade na assistência da Previdência Social diante do envelhecimento populacional: – A previdência social, no mundo inteiro, ela está como se diz, em crise. O que é a previdência social? É o pacto de gerações; geração atualmente colaborativa, é ela que hoje financia a geração anterior; que hoje não está colaborando. Então para que isso continue a população tem que tá sempre crescendo. A população em ativa, ela tem que ser sempre superior à população inativa. E o fenômeno que está acontecendo, as taxas de demografia estão demonstrando uma diminuição da população jovem em comparação à idosa; esse fenômeno está em crise no mundo inteiro. E novas formas de financiamento estão sendo desenhadas de tal forma que aqui, no Brasil, as pessoas aposentam por idade; homem aos sessenta e cinco e mulher aos sessenta anos, não é? Existe a aposentadoria por tempo de contribuição, que não tem o requisito por idade. A tendência das reformas da previdência social é que cada vez mais o requisito, por idade, ele seja obrigatório; ele seja exigido. E no decorrer dos anos, os ajustes, conforme a expectativa de vida, vai aumentando. A legislação vai sendo atualizada de tal forma que o cidadão brasileiro, ele continua contribuindo mais tempo e ele não vá para receber o seu benefício de maneira muito precoce. (E5). Esta afirmação é corroborada pela pesquisa realizada por Camarano (2004), em que se revela que a situação do sistema previdenciário brasileiro vem deteriorando-se com o passar do tempo. A diferença de contribuintes e beneficiários caiu dramaticamente; em 1940, havia 31 contribuintes por cada beneficiário; no início de 1980, esta proporção passou a 2,9 120 contribuintes por um beneficiário; em 2004, havia menos de dois contribuintes por beneficiário. As projeções apontam para 1,2 contribuintes para um beneficiário em 2030. Esta é uma situação inaceitável, em que o sistema não mais se sustenta e quebra. Camarano (2004) ainda acrescenta o fato de que o sistema de previdência não existe apenas para pagar aposentados pela sua faixa etária avançada. A previdência auxilia também aqueles com tempo de contribuição máximo já alcançado, embora não tenha alcançado a terceira idade; auxilia aqueles desempregados; aqueles na informalização; aqueles que sofreram acidentes trabalhistas e não se encontram mais em condições de trabalho, e os trabalhadores rurais, mesmo sem terem contribuído o tempo necessário, entre outras condições. Para piorar a situação, o alto índice de impostos trabalhistas têm espantado os empregadores que passaram a usufruir mão-de-obra terceirizada, em tal amplitude que se perdeu o controle das terceirizações e dos impostos atrelados a ela que deveriam ser pagos. Ou seja, além de ampliar o contingente de beneficiários, a previdência vem perdendo paulatinamente seu poder de recebimento de contribuições, sobrando para o governo federal pagar a diferença de bilhões de reais anuais. Pampel e Williamson (1989) relatam que já existe esse temor em países desenvolvidos, desde a década de 1980; o cálculo era de que no decorrer dos próximos vinte a trinta anos, a força de trabalho da população economicamente ativa não terá condições de suprir uma base fiscal suficientemente grande para sustentar as faixas etárias dependentes, em particular os idosos. Para Camarano (2004) outro fato que agrava mais ainda a questão da previdência é a informalidade no processo de trabalho. Foi realizado um estudo para determinar a participação dos idosos no mercado de trabalho: o resultado apresentado foi que 68% dos idosos investigados estavam aposentados, 26,9% trabalhavam e 4,6% não eram aposentados nem trabalhavam; a maioria realizava trabalho informal, ou seja, não tinha carteira assinada 121 nem contribuíam para a previdência, nível muito superior ao encontrado no Reino Unido por Arber & Ginn (1993). Foi identificado que o predomínio do trabalho informal pode estar relacionado ao grande percentual de idosos aposentados, mas que muitas vezes consiste em ocupações de baixa remuneração. Culturalmente o brasileiro não entende a aposentadoria como o término da atividade laboral. Em outros países o recebimento do benefício é condicionado legalmente; a saída do mercado de trabalho terá seu valor reduzido, caso volte a trabalhar (CAMARANO, 2004). A questão da informalidade também foi abordada pelo entrevistado, assim como a preocupação com o futuro: – (...) isso ai não é legal, né? a informalidade da economia, ela não alcança só os idosos. Ela alcança todos os segmentos de cada dez trabalhadores do Brasil, só quatro contribui para a previdência social. Então a gente tem o problema aí dos sem-teto, dos semcasa, mas existe uma bomba social neste país que são os sem-previdência. Não é? Porque se cada dez trabalhadores, apenas quatro estão contribuindo para Previdência Social, no futuro essas pessoas que estão fora do sistema elas vão depender do Estado de uma forma ou de outra; quer seja através da Previdência, ou estando fora da Previdência, das políticas sociais do governo. Então, temos que achar formas de trazer a informalidade para dentro da Previdência Social. (E5). Camarano e Pasinato (2004), em estudos sobre o mercado de trabalho, salientam a questão da informalidade do trabalho com os jovens, além de experimentar taxas mais elevadas de desemprego. Os ajustes no mercado de trabalho nas últimas duas décadas resultaram também em uma informalização maior da força de trabalho jovem. De acordo com os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, a redução nas ocupações formais foi mais acentuada para os jovens. Entre 1989 e 2001, foram destruídos 950 mil postos de empregos formais para trabalhadores com idades entre 15 e 24 anos. A busca de justificativa para o retorno do idoso no mercado de trabalho e 122 atribuída a legislação tributaria, mas também a questão da baixa remuneração da aposentadoria: – (...) é, talvez a carga tributária no Brasil seja alta uma vez que o idoso ele espera da Previdência Social para obter seu beneficio, ele já obteve e pode até fazer questão de não exigir os seus direitos previdenciários e trabalhista, em outro emprego o que e interessante para o empregador (...) Mais eu acho que isso aí não é a forma correta, não. O ideal seria o governo (...) fazer a revisão na legislação para que o idoso ao retornar às suas atividades ele possa ser beneficiado de outras formas e o estado também possa ser beneficiado e se ele tá retornando tem que ver por quê. Ele poderia está aproveitando a melhora fase da sua vida, né? Será que é aquelas necessidades complementares de sua vida, que ele não está tendo com seus benefícios que ele está sendo obrigado retornar? Ou será por que ele ainda se sente em condições de trabalhar? Então a gente tem que ver isso aí. (E5). – A média nossa de Divinópolis que, no máximo, no máximo, que eles ganham é dois salários, três, no máximo, quem ganha três é quem ganha bem, então (...) é (...) essa questão é muito difícil, porque um idoso carente servindo de empregado (...) e agora o abuso ficou maior, dos filhos, porque as empresas estão deixando de contratar pessoas para fazer o serviço de banco, estão colocando idosos; e a família também tá colocando. (E3). Coutrim (2006) realizou pesquisa com idosos de baixa renda que trabalham informalmente e obteve como resultado que uma parcela considerável dos idosos que possuem condições de trabalhar efetivamente o fazem. Tendo boa saúde, recorrem ao trabalho informal; apesar dos baixos rendimentos, podem obter ganhos, como amizades e poder dentro do domicílio. Além disso, sua identidade predominante não é a de aposentado, mas, sim, de trabalhador, o que lhe confere o poder e status de provedor, estando inserido na vida familiar e, portanto, longe da segregação. 123 5.2.4 Política para quem? velho, idoso ou terceira idade? O envelhecimento, como já discutido, é um conceito multidimensional determinado socialmente, não apenas em relação às condições econômicas, mas, também, no plano simbólico, na percepção coletiva sobre o envelhecer. Analisar a política do idoso implica em refletir as heterogeneidades deste segmento, bem como as diferentes representações que este apresenta para os entrevistados. Durante as entrevistas, conforme já discutido anteriormente, fica evidenciada a existência de duas visões polarizadas sobre a experiência do envelhecimento: um grupo de indivíduos idosos que se apresentam dispostos, participativos na sociedade; e um grupo de velhos que se caracteriza pela exclusão social, pelo adoecimento, pela pauperização. Observa-se que nas representações dos entrevistados em relação ao direcionamento das políticas assistenciais do idoso, as falas referem-se ao estereótipo negativo da velhice, associado à pobreza e ao adoecimento: – Acho que ele precisa de respeito, assistência à saúde, divertimento, tudo isso aí. O que não pode depender de dinheiro, porque a maioria dos idosos são pessoas mais humildes. (E6). – Eles precisam de políticas que dê uma melhora nas suas dores, nossa velhice que no Estatuto conta a partir de sessenta anos pra cima, ela está muito adoecida tanto física quanto psicologicamente, de todas as formas de adoecimento. (E3). – (...) a tendência é ficar cada vez mais doente, medicamentos caríssimos, se não tiver um plano de saúde morre à míngua aí na porta dos hospitais ou do pronto-socorro. Então, eu acho que o maior desrespeito é que você trabalha vida toda, chega no fim, que você já não tá tendo nada a oferecer porque as condições de saúde não dá e não tem ninguém por nós. (E4). 124 – Em Divinópolis, né? (...) a condição financeira do idoso que tem que sustentar os netos e a família não tem como pagar esses serviços. Mesmo uma consulta simples com um clínico, então ele vai para um posto de saúde enfrentar uma fila de madrugada e ele não consegue consulta. (E3). O Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso formam as bases das políticas públicas brasileiras em relação à população idosa. Por esses mecanismos, o Estado declara princípios e intenções em relação a esse segmento e explicita para a sociedade um conjunto de diretrizes e regulações a serem observadas por várias instituições sociais e pelos cidadãos em suas relações com os idosos, definidos nestas leis, como todas as pessoas de sessenta anos e mais sem diferenciação de sexo classe social etc. No entanto, esta legislação é interpretada pelos entrevistados como direcionada para os idosos carentes, dependentes e doentes: – O de classe baixa é o que nós trabalhamos mais é com o idoso carente, é porque às vezes ele nem pode vir ao centro de convivência; porque ele tem que ficar buscando neto na escola; ele tem que ficar olhando neto. Ele passa a ser o empregado da família e sem condições nenhuma (...) ele não tem como. Ele ganha um salário mínimo. (E3). Néri (2006) relata que o processo de elaboração e aprovação dessas duas leis pelo Congresso Nacional foi resultado da pressão de setores organizados da sociedade, como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas sobre os políticos, o que significa, para a autora, que essas leis refletem princípios e ideologias de uns e de outros. Assim, a velhice para esses segmentos configura-se como problema médico-social, e os velhos como cidadãos tutelados por serem frágeis e incapazes. Silva (2008), em seus estudos sobre o percurso histórico das identidades do envelhecimento, justifica esta representação na história, quando relata que o surgimento da 125 velhice como categoria está atrelada a dois fatores que se destacam como fundamentais e determinantes: a formação do saber médico sobre a velhice e a institucionalização da aposentadoria; estabelece-se assim um modelo de velhice associada à doença, incapacidade de produzir, invalidez e exclusão social. Camarano (2004) ressalta que a percepção negativa a respeito da população idosa, vista como dependente e vulnerável, tanto do ponto de vista econômico quanto da saúde e autonomia, resulta em políticas que reforçam essa dependência. Laslett (1991) destaca a importância, em termos de imaginário cultural, da metáfora médica da velhice, cuja principal conseqüência foi produzir a identificação entre velhice e doença. Desde o seu surgimento, esta metáfora passou a exercer acentuada influência social, definindo não somente o envelhecimento físico como também as representações sobre a experiência de envelhecer. A aceitação e a justificação de tal metáfora incidiram sobre a percepção dos sujeitos, que passaram a recorrer ao discurso médico para definir a si mesmos e a sua experiência. De fato, a definição médica da velhice disseminou-se para outros campos de saber e determinou amplamente o seu espectro no imaginário cultural, alimentando os discursos do Estado e a formulação de políticas assistenciais. Um fator importante na resolutividade das necessidades de saúde do idoso é o da diferença social entre as velhices, em que o segmento carente sofre as mazelas de um sistema de saúde que não contempla suas necessidades, apesar de estar referenciado na lei, conforme pode ser evidenciado abaixo: – Agora, é claro que tem o idoso, um idoso que, que ele não teve eu não diria a sorte na vida (...) Ele não teve (...) alguns privilégios que alguns tiveram um privilégio dum bom salário, né? Por exemplo, o idoso que vem mais doente. (E8). 126 – A saúde é o seguinte, né? se ele tem um plano de saúde ele tá bem acobertado; agora, se ele não tiver, ele tá exposto a ter que aguardar uma vaga no pronto-socorro, aguardar uma vaga no hospital, qualquer hospital. (E2). O atendimento imediato e individualizado de uma categoria social depende de seu poder econômico, mesmo em sociedades igualitárias, que dirá no Brasil, onde a posição social assegura profundas diferenças de tratamento, haja vista o que acontece nas escolas públicas em comparação com as privadas, e no SUS em comparação com a rede privada de atendimento. Ou seja, recursos e oportunidades sociais são questões basicamente econômicas. Ao invés da universalização dos direitos, nós convivemos com a discriminação por nível de renda, idade, classe social. Pode-se ver isso todos os dias nas filas do INSS e dos hospitais públicos (NÉRI, 2006). Outro problema evidenciado nas falas dos entrevistados é a questão da discriminação e exclusão do idoso: – Faltam oportunidades. Talvez aí o idoso esteja num “campo minado”. (...) nós temos visto que as oportunidades não são geral, mesmo, é por isso que existem as exclusões; mas do que adianta eu criar projetos de inclusão? Eu acho que tem que criar oportunidades iguais ao longo de todas as possibilidades, e não depois que o sujeito já está excluído, criar programas de inclusão. A (...) as igualdades de oportunidades têm que ser no momento que o indivíduo possa estar participando. Têm que ser no momento que ele possa estar crescendo e pra contribuir mais. (E1). – Não é falar: “direitos” disso (...) direito todo mundo tem (...) isso é (...) eu fico pê da vida quando eu vejo assim (...) saúde do idoso, saúde do índio, saúde disso, saúde daquilo. Tem que criar programas que abranja tudo, eu considero isso discriminação. (E7). – Muitos, muitos programas de inclusão têm sido voltados para os idosos como vítimas da sociedade, né? Ah, coitadinho! vamos cuidar dele porque (...) pode ser até um 127 sentimento de culpa do poder público. Não fiz o que deveria ter sido feito (...) ou talvez, eu pensei que ele fosse morrer antes, né? (...) não imaginava que ele fosse viver tanto (...) e agora o que eu tenho que fazer pra essa turma que tá aí diante (...) do governo. Talvez exigindo mais do que ele imaginasse (...) talvez mais ativo, mais participante. Talvez por isso seja que poder público está preocupado como idoso. (E1). A problemática da discriminação por idade, pouco estudada no Brasil, é, por outro lado, já bastante conhecida nos países desenvolvidos. Nos EUA e na Inglaterra o problema é designado pela expressão ageism, em analogia aos termos racism e sexism, utilizados para denominar as discriminações por raça e por gênero, respectivamente (PALMORE, 1999). Nesses países, e na grande maioria dos países europeus, o problema do envelhecimento populacional já é objeto de preocupação há bem mais tempo do que no Brasil, o que pode justificar em parte a maior familiaridade dessas sociedades com o problema da discriminação por idade (NÉRI, 1991). O que se observa nos países desenvolvidos é a existência de toda uma estrutura organizada para combater essa forma de discriminação. Nos Estados Unidos da América (EUA), verifica-se a presença de políticas públicas que visam a garantir a igualdade de oportunidades no mercado de trabalho, como a Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), e leis específicas como a Age Discrimination in Employment Act, instituída em 1967, e que proíbem práticas discriminatórias contra trabalhadores de mais idade (PALMORE, 1999). No Brasil, o art. 27 do Estatuto do Idoso preconiza que, por ocasião da admissão do idoso em qualquer trabalho, ou por ocasião de concursos, é vedada a discriminação por idade. Para Néri (2006) a discriminação no trabalho ocorre também com adultos por critérios de gênero, raça, aparência e classe social. Na verdade, a sociedade brasileira sempre soube escamotear a adoção de critérios etários e de raça para a admissão ao trabalho pelo uso de 128 alguns eufemismos como, por exemplo: “procura-se candidato ágil, ambicioso, pronto a enfrentar desafios”, ou “procura-se candidato de boa aparência”, para disfarçar a realidade de que não se aceitam pessoas de mais de 35 anos e que não se aceitam negros. Na maioria dos contextos de trabalho, as pessoas já são discriminadas a partir dos quarenta anos, principalmente se têm baixo nível educacional. Assim, em um país com tantas diferenças sociais, com altas taxas de desemprego e pobreza dar prioridade de direitos a alguns segmentos como o do idoso não é real, e ao tornar-se obrigatório acarreta mais discriminação aos idosos. Bom seria se, a exemplo do que se propõe na União Européia, no Brasil se admitisse que a sociedade não deve discriminar os mais velhos na sociedade para não desperdiçar seu cabedal de experiência. A universalização da seguridade social em vários países do mundo, inclusive no Brasil – muito bem documentada nos trabalhos de Beltrão et al., Delgado e Cardoso Jr. e Sabóia –, tem levado a que os idosos brasileiros de hoje sejam vistos como indivíduos privilegiados pelos sistemas de proteção social (vis-à-vis outros grupos vulneráveis, como, por exemplo, as crianças) e responsáveis pelos crescentes gastos sociais que pressionam as contas públicas. Essa visão ampara-se na questão de que, se todos os brasileiros são iguais perante as leis, princípio de qualquer Estado democrático, priorizar os direitos de um segmento, seja qual for, significa discriminar as outras categorias. Assim, Néri (2006) propõe, em vez de proclamar injustamente o direito de prioridade dos idosos à proteção social, que a lei deveria proclamar a igualdade de direitos de todos os cidadãos e assegurar proteção aos vulneráveis de todas as idades, “uma sociedade boa para os idosos é uma sociedade boa para todas as idades”. Esta idéia de uma política de direito para todos os cidadãos também pode ser percebida nas falas abaixo: 129 – Então eu acho que as políticas deveriam ser dirigidas assim: não olhando raça, não olhando idade, não olhando cor nem nada; é o direito daquela pessoa em todos os níveis da vida. (E7). – Eu, especialmente, não gostaria que houvesse uma política pública específica pro idoso. (E1). – Eu acho que cada indivíduo deveria ser atendido na necessidade dele, independente da faixa etária. Hoje as políticas são todas divididas, né? Política pro idoso, pra criança, pra mulher. (E4). – Se cada indivíduo fosse respeitado de acordo com suas necessidades, as políticas de saúde, por exemplo, estaria vendo o indivíduo como um todo independente da faixa etária dele. E uma política pra criança, pro jovem, por exemplo, já estaria sendo uma política pro idoso; já estaria sendo. O trabalho com a menina já estaria sendo uma política de saúde pra mulher. (E3). – Então, se... se tivesse uma política governamental que valorizasse o ser humano como um todo do nascimento, até a morte, entendeu? Nós seríamos mais ou menos (...) eu acho que teria um nivelamento maior. A palavra idoso, ela, ela... ela... Ela deixaria de pesar tanto. (E8). Também pode ser observada nos discursos a idéia de que envelhecer bem é um empreendimento de longo prazo, tanto no âmbito individual como no âmbito da sociedade, e que deve ser iniciado na infância e construído por toda a vida, como forma de garantir a boa qualidade de vida na velhice: – Acho que está remediando uma necessidade que não foi atendida no momento certo. Ou então, uma tensão: as condições subumanas de trabalho (...) as condições desumanas de trabalho que as pessoas são submetidas, e que... o poder público não fiscaliza e não orienta 130 sobre as condições de trabalho; ele está é já formando uma pessoa que vai depender do poder público depois (...) um doente futuramente, né? (E1). – Mas, deveria começar a fazer atendimento de prevenção com idade muito mais aquém, para que aos sessenta anos, a política do idoso fosse menos penosa tanto para o estado quanto para o indivíduo. (E1). – As necessidades do idoso aos sessenta anos já poderiam ser outras se todo atendimento às necessidades que as pessoas têm começassem a ser satisfeitas antes dessa idade. Talvez aos sessenta anos o idoso precise de certos medicamentos, por exemplo, pra depressão, mas, se as necessidades que ele manifestou em idades anteriores, se ele fosse atendido naquelas necessidades talvez ele não fosse esse idoso doente. (E1). – A saúde como prioridade. Mas a saúde de uma forma mais ampla. Então, estaríamos trabalhando com a prevenção, porque a prevenção seria a manutenção da saúde. E o que o poder público tem feito mais é a atenção à doença, ao doente. É o remédio pra determinada doença que já se estabeleceu porque não houve uma assistência anteriormente. (E1). – Não, nós temos uma coisa séria nessa questão aí porque no Estatuto fala que o idoso é acima de sessenta anos por causa da Organização Mundial de Saúde, né? Acima de sessenta anos. Então nós aqui temos que atender só idoso acima de sessenta anos. Os idosos acima de sessenta anos já são idosos, eles já estão com todas as doenças que é da velhice, com todos os problemas. (E3). Para atingir essas demandas torna-se necessário desenvolver programas educativos nas escolas e universidades com foco na questão do envelhecimento, pois este ocorre no contexto social, sendo fundamental preparar as gerações para tal processo. A qualidade de vida que as crianças terão no futuro dependerá dos riscos e oportunidades que experimentarem durante a vida, como também da maneira como as gerações futuras irão cuidar de seus idosos, 131 oferecendo ajuda e apoio mútuo. Esta é a razão pela qual interdependência e solidariedade entre gerações são princípios fundamentais para o envelhecimento ativo (CAMARANO, 2004). É interessante observar que os entrevistados relacionam as políticas assistenciais prioritariamente as questões de saúde, reforçando a idéia de velhice como um processo de perdas funcionais e decadência, em que os indivíduos ficariam relegados a uma situação de abandono, de desprezo e de ausência de papéis sociais, o que justificaria a necessidade de políticas assistenciais. Pode-se analisar que o problema social que representa a velhice nas sociedades modernas é um exemplo paradigmático da forma como certas perspectivas, científicas e não científicas podem contribuir para o deformar pela difusão de idéias e representações já construídas do que seja a velhice. As “pessoas idosas” – como estereótipo socialmente produzido e facilmente reconhecível – enquadram uma categoria de indivíduos cujas propriedades, relativamente homogêneas, são normalmente identificadas com isolamento, solidão, doença, pobreza e, mesmo, exclusão social. Esta definição institucional não tem sido adaptada às transformações sócio-demográficas mais recentes. Com o surgimento da terceira idade, que é quando, ao passar à categoria de aposentado, o “jovem velho” encontra as condições para adquirir as propriedades que não são socialmente imputadas à velhice. Assim, a figura do idoso/terceira idade não é relacionada às políticas assistenciais, visto que, para os entrevistados, o idoso tem plena condição de lutar pelos direitos e, como está incluso na sociedade, não carece ser contemplado pelos direitos dos velhos. Este fato é visto no dia-a-dia quando se presencia o questionamento da população sobre certas prioridades direcionadas ao idoso (fila de banco, supermercado, passe-livre), 132 quando ele apresenta condições físicas e/ou econômicas para estar em igualdade com a população adulta. Então, quando alguém se refere à questão das políticas do idoso, a qual idoso quer referir-se? Do velho reivindicativo que briga com todos, exigindo seus direitos ou do passivo que aceita seu destino sem reclamar? Do idoso engajado, ativo e divertido ou do outro deprimido e solitário? Daquele que vive em família ou do que foi destinado a um asilo? Da idosa elegante que passeia nos bairros nobres, ou da faxineira que ainda ajuda criar os netos? Do velho que trabalha ao lado ou daquele que renunciou a lutar? Dos que se vêem na fila do banco ou no banco da praça? Do sábio? Do doente? Dos poderosos ou dos marginalizados? Fala-se de todos eles já que todos estão presentes no dia-a-dia das pessoas, mas fundamentalmente por meio desta análise se percebeu que se fala também do velho que está dentro de cada pessoa, daquela velhice a que se pode chegar, da velhice que se teme e da que se deseja. Mas, se se concorda que cada sujeito tem sua velhice singular, as velhices então são incontáveis. Assim, para definição de políticas de velhice, mostra-se necessária uma formulação mais rigorosa e objetiva dos problemas do envelhecimento e uma análise exaustiva da diversidade de realidades sociais, o que poderá proporcionar as correções necessárias para que as futuras gerações de idosos possam vir a viver melhor do que as que as antecederam. 133 CONSIDERAÇÕES FINAIS “No fim tudo dá certo. Se não deu é porque ainda não chegou no fim.” (FERNANDO SABINO.) Cabe aqui sintetizar o que a pesquisa possibilitou concluir sobre as representações sociais dos profissionais responsáveis pelos programas de assistência ao idoso no município de Divinópolis em torno da condição do velho, idoso, velhice, envelhecimento e de que forma essas concepções influenciam em suas práticas. Embora as políticas e os programas direcionados a este segmento utilizem o critério etário para definir o idoso, uma das questões destacadas foi justamente a dificuldade de estabelecer-se quem seja o idoso, ou não, dentro da assistência. Essa dificuldade sugere que significados atribuídos ao idoso são influenciados por pontos de vista históricos, sociais, culturais e individuais, os quais abrigam outros, tais como: vivências pessoais, nível de conhecimento, ressentimentos, preconceitos que orientam as experiências dos entrevistados. Uma questão importante para ser destacada foi o esforço em utilizar-se a terminologia “idosa”, associada a modelos positivos para conceituar o envelhecimento de forma pessoal, entretanto, quando este conceito é redirecionado para as políticas de assistência, emerge o estereotipo de “velho” com as características negativas do envelhecimento. Para os entrevistados a relação com as questões da produtividade e a atuação participativa na sociedade mostram-se como fatores mais significantes, e estes ainda parecem ser os mais efetivos fatores no reconhecimento dos direitos do idoso, como é caso das aposentadorias. É importante ressaltar que, em relação ao conhecimento das políticas direcionadas ao idoso, foi evidenciado que existe um desconhecimento da temática de forma consistente. A 134 assistência para os entrevistados ocorre dentro de uma lógica, de que as políticas do idoso são destinadas à população idosa carente, dependente e adoecida. Esta idéia contrapõe-se ao modelo do Estado neoliberalista, que transfere para o idoso as responsabilidades que ele deveria assumir, e ao mesmo tempo formula um novo discurso sobre a velhice, sem que as questões básicas de assistência sejam resolvidas, o que agrava a situação. Este posicionamento nega a heterogeneidade da velhice, fruto de um construto social produzido sob efeito das influências culturais, sociais e políticas e propõe um tratamento massificante para a questão. Um tema abordado que necessita ser refletido é que as políticas do idoso não façam parte apenas de uma política especifica, mas, sim, que ela volte para outros segmentos populacionais. Desta forma, os idosos poderiam ser incluídos dentro da assistência desde sua infância. Assim, o envelhecimento populacional brasileiro será um problema ou não, dependendo dos caminhos que a própria sociedade e o Estado escolherem para lidar com a questão que o idoso vem representando. 135 A VERDADE Carlos Drummond de Andrade A porta da verdade estava aberta, Mas só deixava passar Meia pessoa de cada vez. Assim não era possível atingir toda a verdade, Porque a meia pessoa que entrava Só trazia o perfil de meia verdade, E a sua segunda metade Voltava igualmente com meios perfis E os meios perfis não coincidiam verdade... Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta, Chegaram ao lugar luminoso Onde a verdade esplendia seus fogos. Era dividida em metades Diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. Nenhuma das duas era totalmente bela E carecia optar. Cada um optou conforme Seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 136 REFERÊNCIAS ABIGALIL, A.; COSTA, N. E., MENDONÇA, J. M. Políticas de assistência ao idoso: a construção da política nacional de atenção a pessoa idosa no Brasil. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. ALMEIDA, A. M. O.; Cunha, G. G.. Representações sociais do desenvolvimento humano. Psicologia Reflexão e Crítica, 16(1), 2003, 147–155. ALONSO, F. R. B. O idoso ontem, hoje e amanhã: o direito como alternativa para consolidação de uma realidade para todas as idades. Kairós, v. 6, n. 2, 2005, 37–50. ARAÚJO, L. F.; CARVALHO, V. A. M. L. Velhices: estudo comparativo das representações sociais entre velhos de grupos de convivência. Textos sobre envelhecimento. Rio de Janeiro, 2004, 7(1). Disponível em: <www.unati.uerj.br>. Acesso em: 3 jun. 2007. ARAÚJO, A. R. O cuidador familiar de idosos: uma abordagem compreensiva. 2003. 185 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem Comunitária.) – Universidade Federal do Ceará /UFC. Fortaleza, 2003. ARENDT, Hannah. A condição humana. São Paulo: Forense/Edusp, 1987. ASSIS, M. Aspectos sociais do envelhecimento. In: SALDANHA, A. L.; CALDAS, C. P. Saúde do idoso: a arte de cuidar. Interciência, 2004. BARROS, M. M. L. Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. BARDIN, L. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977. BEAUVOIR, Simone. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1970/1990. BELTRÃO, K. I.; CAMARANO, A. A.; KANSO, S. Dinâmica populacional brasileira na virada do século XX. Rio de Janeiro: IPEA, ago. 2004. (Texto para discussão, 1034). BERQUÓ, E. Algumas considerações demográficas sobre o envelhecimento da população no Brasil. Anais do I Seminário Internacional Envelhecimento Populacional. Brasília: MPAS/SAS, p. 16–34, 1996. BRASIL. Lei n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm>. Acesso em: maio 2007. BRASIL. Portaria n.º 1.395/GM, em 10 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a política nacional de saúde do idoso. Disponível em: <portal.saúde.gov.br>. Acesso em: maio 2007. 137 BRASIL. Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/2003/L10.741.htm>. Acesso em: maio 2007. BORN, T. Pensando no futuro dos idosos. Revista Desafios, São Paulo mar. 2008, p. 38–45. CALDAS, C. P. Envelhecimento com dependência: responsabilidades e demandas da família. Cadernos de Saúde Pública Fiocruz, Rio de Janeiro 19(3), 773–781, maio/jun. 2003. CAMARANO, A. A. Pensando no futuro dos idosos. Revista Desafios, São Paulo, mar. 2008, p. 38–45. CAMARANO, A. A.; PASINATO, M. T. A transição para a vida adulta: novos ou velhos desafios? Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/bcmt/mt_021j.pdf.>. Acesso em: mar. 2008. CAMARANO, A. A. Como vive o idoso brasileiro? Rio de Janeiro: IPEA, 1999. CAMARANO, A. A. Envelhecimento da população brasileira: uma contribuição demográfica. Rio de Janeiro: IPEA, 2002. (Texto para Discussão, 858). CAMARANO, A. A.; KANSO, S.; MELLO, L. J. Como vive o idoso brasileiro? In: CAMARANO, A. A. (Org.). Os novos idosos brasileiros: muito além dos 60? Rio de Janeiro: IPEA, 2004. CAMARANO, A. A. Mecanismo de proteção social para população idosa brasileira. Rio de Janeiro: IPEA, 2006. CHAIMOWICZ, F. A saúde dos idosos brasileiros às vésperas do séc. XXI: problemas, projeções e alternativas. Revista Saúde Pública, 1997; 31:184–200. CATTANI, R. B.; PERLINI, N. M. O. G. Cuidar do idoso doente em domicílio na voz dos cuidadores familiares. Revista Eletrônica de Enfermagem, 2004; 6(2). Disponível em: <www.fen.ufg.br>. Acesso em: 23 dez. 2007. CENEVIVA, W. Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: a terceira idade nas alternativas da lei. A Terceira Idade, v. 15, n. 30, p. 7–23, 2004. COUTRIM, R. M. E. Idosos trabalhadores: perdas e ganhos nas relações intergeracionais. Sociedade e Estado, Brasília, 2006, 21(2): 367–390. DATASENADO. Pesquisa de opinião pública: o Estatuto do Idoso três anos após sua promulgação. Brasília, ago. 2006. Disponível em: <www.senado.gov.br/sf/senado/centralderelacionamento/sepop>. Acesso em: fev. 2008. DEBERT, G. G. A reinvenção da velhice. São Paulo: EDUSP, 1999. DEBERT, G. G.; SIMÕES, J. A. Envelhecimento e velhice na família contemporânea. In: FREITAS, V. E. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2006. 138 ______. A antropologia e os estudos dos grupos e das categorias de idade. In: LINS DE BARROS, M. M. (Org.). Velhice ou terceira idade? Estudos antropológicos sobre identidade, memória e política. Rio de Janeiro: FGV, 2007. DIOGO, M. J. E. Modalidades de assistência ao idoso e a família: Impacto sobre a qualidade de vida. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. DRAIBE, S. As políticas sociais brasileiras: diagnósticos e perspectivas. In: IPEA/IPLAN. Para década de 90: prioridades e perspectivas de políticas publicas. Brasília: IPEA/IPLAN, 1990. FEATHERSTONE, M. O curso de vida: corpo, cultura e imagens do processo de envelhecimento. In: G. G. Debert (Org.). Antropologia e velhice. Textos didáticos. 2. ed. Campinas: IFCH/ UNICAMP, 1998. p. 45–64. FERNANDES, F. S. As pessoas idosas na legislação brasileira: direito e gerontologia. São Paulo: LTR, s/d. FORTES, Meyer. Age, generation, and social estructure. In: KERTZER, D.; KEITH, J. Age and anthropological theory. Ithaca: Cornell University Press, 1984. FONTE, I. B. Diretrizes internacionais para o envelhecimento e suas conseqüências no conceito de velhice. Minas Gerais, 2002. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. População idosa em Minas Gerais e políticas de atendimento. Belo Horizonte, 1993, v. 1: Perfil da população idosa e políticas de atendimento na Região Metropolitana de Belo Horizonte. FUNDACAO PERSEU ABRAMO; NÉRI, Anita Liberalesso (Org.). Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na 3.ª idade. São Paulo: Núcleo de Opinião Pública / Fundação Perseu Abramo; Edições SESC/SP, 2007. FREITAS, E. V; PY, L; CANÇADO, F. A. X.; DOLL, J.; GORZONI, M. L. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. GARRIDO, R.; MENEZES, P. R.. O Brasil está envelhecendo: boas e más notícias por uma perspectiva epidemiológica. Revista Brasileira de Psiquiatria, 24(supl. I), 2002, p. 3–6. GOLDMAN, S. N. Universidade para terceira idade: uma lição de cidadania. Olinda, Pernambuco: Livro Rápido, 2004. GOLDMAN, S. N. Envelhecimento e inclusão digital. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. GOHN, M. G. M. Movimento sociais ONGs e terceiro setor: perspectivas para solução das questões da velhice no Brasil. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. 139 GOLDANI, A. M. Arranjos familiares no Brasil dos anos 90: proteção e vulnerabilidades. In: CAMARANO, A. A. (Org.) Como vai, idoso brasileiro? População brasileira. Brasília: IPEA, ano III, n. 3, p. 14–23, dez. 1998. GOMES, J. M. A articulação das políticas de saúde e assistência social sob a ótica intersetorial na assistência ao idoso dependente no município de Belo Horizonte. 2005. 181 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) – Fundação João Pinheiro. Minas Gerais. 2005. GONDIM, L. M. P. (Org.). Pesquisa em ciências sociais. Fortaleza: UFC Edições, 1999. GROISMAN, Daniel. A infância do asilo a institucionalização da velhice no Rio de Janeiro da virada do século. 1999. 124 f. Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) – Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999. GRAEFF, L. Representações sociais da aposentadoria. Textos envelhecimento v. 4, n. 7. Rio de Janeiro: UNATI, 2002. GROISMAN, D. A velhice, entre o normal e o patológico. História Ciências Manguinhos, 9(1): jan./abr. 2002, p. 61–78. GUERREIRO, P. A universidade para a terceira idade da PUCCAMP. 1993. Monografia de graduação. UNICANIP-IFCH. GUIMARÃES, J.R.S. Envelhecimento populacional e oportunidades de negócios: o potencial mercado da população idosa. XV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, Minas Gerais. 2006. Disponível em: <http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_540.pdf>. Acesso em: 23 nov. 2007. HADDAD, E. G. M. A ideologia da velhice. São Paulo, Cortez, 1986. KARSCH, U. M. S. A questão dos cuidadores. Consenso de gerontologia. São Paulo; SBGG, 1998. p. 35. LASLETT, Peter. A fresh map of life: the emergence of the third age. Cambridge: Harvard University Press. 1991. LEME, L. E. G. O envelhecimento: mitos e verdades. São Paulo: Contexto, 1997. LESSA, I. Epidemiologia das doenças crônicas não-transmissiveis versus terceira idade. In: LESSA, I. (Org.). O adulto brasileiro e as doenças da modernidade: epidemiologia das doenças crônicas não-transmissíveis. São Paulo; Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 1998. LIMA-COSTA, M. F.; BARRETO, S. M.; GIATTI, L. Condições de saúde, capacidade funcional, uso de serviços de saúde e gastos com medicamentos da população idosa brasileira: um estudo descritivo baseado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro v. 19, n. 3, p. 735–743, 2003. Disponível em: <www.scielo.br> Acesso em: 18 dez. 2007. 140 LIMA-COSTA, M. F. F. Diagnóstico da situação de saúde da população idosa brasileira: um estudo da mortalidade e das internações hospitalares públicas. Informe Epidemiológico do SUS, v. 9. n. 1, 2000. MASCARO, S. A. O que é velhice. São Paulo: Brasiliense, 2004. MAGALHÃES, D. N. A invenção social da velhice. Rio de Janeiro: Papagaio, 1987. MINAYO, M. C. S.; COIMBRA JR., C. E. Entre a liberdade e a dependência: reflexões sobre o fenômeno social do envelhecimento. In: MINAYO, M. C. S. Antropologia, saúde e envelhecimento. Rio de Janeiro. Editora Fiocruz, 2002. MINAYO, M. C. S. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em saúde. 8. ed. Rio de Janeiro: Hucitec-Abrasco, 2004. MINAYO, M. C. S. Violência contra idosos: o avesso do respeito à experiência e à sabedoria. 2. ed. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2005. MONTEIRO, M. F. G.; ALVES; M. I. C. Aspectos demográficos da população idosa no Brasil. In: VERAS, R. P. (Org.). Terceira idade: um envelhecimento digno para o cidadão do futuro. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, UNATI/UERJ, 1995. MOREIRA, E. Análise de conteúdo: duas perspectivas metodológicas para interpretação de variáveis qualitativas e quantitativas. Disponível em: <http://www.funesc.com.br\engenho2\textos\ecul_x02.htm em 18\01\2008>. Acesso em: 20 nov. 2007. MOTTA, L. B. Repercussões médicas do envelhecimento. In: VERAS, R. Terceira idade: alternativas para uma sociedade em transição. Rio de Janeiro: Relume-Dumará/RJ/NATI, 1999. p. 107–124. NÉRI, A. L. Envelhecer num país de jovens – significados de velhos e velhice segundo brasileiros não idosos. Campinas: Editora da Unicamp, 1991. NÉRI, A. L.; FREIRI, A. S. E por falar em boa velhice. São Paulo: Papirus, 2000. NÉRI, A. L. Qualidade de vida no adulto maduro. Interpretações teóricas e evidências de pesquisa. In: NÉRI, A. L. (Org.). Qualidade de vida e idade adulta. 2. ed. Campinas: Papirus, 1999. p. 9–56. NÉRI, A. L.(Org.). Qualidade de vida e idade madura. Campinas: Papirus, s/d. NÉRI, A. L. Atitudes em relação a velhice: Questões cientificas e políticas. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. NETTO, M. P. O estudo da velhice no século XX: histórico, definição do campo e termos básicos. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. 141 NETTO, M. P.; YUASO, D. R.; KITADAI, F. T. Longevidade: desafio no terceiro milênio. Especial: os desafios da longevidade. Revista O Mundo da Saúde. 2005; 29 (4), p. 594–607. NOVAES, M. R. V.; DERNTL, A. M. As imagens da velhice: o discurso do sujeito coletivo (DSC) como método de investigação. Revista O Mundo da Saúde. 2002 26(4), p. 503–508. ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU) (2001). World Population Prospects. The 2000, Revision. PACHECO, J. L., CARLOS, S. A. Relações do homem com o trabalho e processo de aposentadoria. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. PASINATO, M. T. M. Reforma do sistema previdenciário brasileiro: a previdência complementar e o papel do estado. 2001. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro, 2001. PASCHOAL, S. M. P. Autonomia e independência. In: NETTO, M. P. Gerontologia: velhice e o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo: Atheneu, 2002. PALMORE, Erdman; Ageism: negative and positive. New York: Springer Publishing Company, 1999. PAMPEL, F. C.; WILLIAMSON, J. B. Age, class, politics and the welfare state. Cambridge: Cambridge University Press, 1989. PAZ, S. F. Trabalho na velhice: uma relação possível? Diversidade – avanço conceitual para a educação profissional e o trabalho – ensaios e reflexões. Brasília: OIT, 2002. PAZ, S. F. Espelho, espelho meu! Ou as imagens que povoam o imaginário social da velhice o idoso. In: PAZ, S. F. Envelhecer com cidadania: quem sabe um dia. Rio de Janeiro: CBSSIS/ANG, 2000. PEIXOTO, C. Entre o estigma e a compaixão e os termos classificatórios: velhos, velhote, idoso, terceira idade. In: MORAES, M; BARROS, L.; DEBERT, G.; PEIXOTO, C. Velhice ou terceira idade? Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2007. PELLEGRINI, V. M. C.; JUNQUEIRA, V. Trajetórias das políticas de saúde. A saúde coletiva e o atendimento ao idoso. In: PAPALÉO NETTO. Gerontologia. São Paulo: Atheneu, 1996. p. 373–382. QUEIROZ, Z. P. V. Cuidando do idoso: uma abordagem social. Revista Mundo da Saúde, 1999, 24, n. 4. p. 246–247. RAMOS, L. R.; ROSA, T. E. C.; OLIVEIRA, Z. M.; MEDINA, M. C. G.; SANTOS, F. R. Perfil do idoso em área metropolitana na região sudeste do Brasil: resultados de inquérito domiciliar. Revista Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 27, n. 3, p. 87–94, 1993. RAMOS, L. R.; VERAS, R. P.; KALACHE, A. Envelhecimento populacional uma realidade brasileira. Revista Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, 1987. 142 RIGITANO, M. E. C. Da política e suas atribuições. Disponível em: <www.portalrp.com.br/bibliotecavirtual/autoresetitulos/l-p.htm>. Acesso em: dez. 2007. RODRIGUES, N. C. Conversando com Nara Costa Rodrigues sobre gerontologia social. Passo Fundo: UFP, 2000. SÁ, J. L. M. A formação de recursos humanos em gerontologia: fundamentos epistemológicos e conceituais. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2006. SÁ, C. P. Núcleo central das representações sociais. Rio de Janeiro: Vozes, 1996. SANTOS, S. S. C. Gerontologia e os pressupostos de Edgar Morin. Textos envelhecimento. Rio de Janeiro, v. 6, n. 2. 2003. SILVA, L. R. F. Da velhice à terceira idade: o percurso histórico das identidades atreladas ao processo de envelhecimento. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 155–168, jan./mar. 2008. SILVA, M. J. Autonomia e saúde mental. O desafio para uma velhice bem sucedida. 2001. 287 f. Dissertação (Doutorado em enfermagem) – Universidade Federal Ceará, Fortaleza, 2001. SIMÕES, J. A. A maior categoria do país: o aposentado como ator político. In: BARROS, M. M. L. (Org.). Velhice ou terceira idade? 4. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 2007. SIMÕES, J. A., DEBERT, G. G. Envelhecimento e velhice na família contemporânea. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2006. SIMSON, O. R. M.; NÉRI, A. L.; CACHIONI, M. (Org.). As múltiplas faces da velhice no Brasil. 2. ed. Campinas: Alínea, 2006. UVO, R. T.; ZANATTA, M. de L. A. L. O ministério público na defesa dos direitos do idoso. A Terceira Idade, v. 16, n. 33, 2005. VARGAS, S. M. Conselhos municipais de saúde: a possibilidade dos usuários participarem e os determinantes da participação. Ciência e Saúde Coletiva. v. 3 n. 1, p. 5–7, 1998. VERAS, R. P. País jovem com cabelos brancos: a saúde do idoso no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. VERAS, R. P. Terceira idade: gestão contemporânea em saúde. Rio de Janeiro: UNATI/Relume Dumará, 2002. VERAS, R. P.; LOURENÇO, R.; MARTINS, C. S. F. Novos paradigmas do modelo assistencial no setor saúde: conseqüência da explosão populacional dos idosos no Brasil. In: 143 VERAS, R. P. (Org.). Terceira idade: gestão contemporânea em saúde. Rio de Janeiro: UNATI-Relume-Dumará, 2002. VELOZ, M. C. T.; NASCIMENTO-SCHULZE, C. M.; CAMARGO, B. V. Representações sociais do envelhecimento. Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 12, n. 2, p. 479–501, 1999. VIEIRA, E. B. Manual de gerontologia: um guia teórico prático para profissionais, cuidadores e familiares. Rio de Janeiro: Revinter, 1996. YAMAMOTO, A.; DIOGO, M. J. E. Os idosos e as instituições asilares do município de Campinas. Revista Latino-Americana Enfermagem. v. 10, n. 5, p. 660–666, 2002. YOSHITONE, A. Y. Avaliação da qualidade da estrutura de instituições asilares de uma região da cidade de São Paulo. 2000, 138 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 2000. 144 ANEXO 1 ROTEIRO DE ENTREVISTA 1) Quando você pensa sobre o envelhecimento, a velhice e o idoso, o que vem à mente? 2) Como você percebe as formas com que a sociedade divide as faixas etárias na organização e formulação de políticas e programas de ações de saúde? 3) Para você haveria critérios ideais para divisão de faixas etárias para tais políticas de assistência? 4) Existe para você dificuldade de definir o idoso e assim pensar nas demandas de saúde para esta população? 5) Considerando o envelhecimento, que parâmetros seriam necessários para identificar as demandas políticas e programas no âmbito da assistência ao idoso? 6) Que programas de assistência você percebe como prioridade para o segmento idoso? 7) Em sua opinião como se deve organizar o cuidado ideal ao idoso na comunidade? 8) Em sua opinião o que deveria servir de base na formulação de políticas assistenciais dirigidas aos idosos? 9) Como você percebe a questão do idoso na organização das políticas assistenciais de saúde no Brasil? 10) Na sua visão qual é o papel da família e do Estado na assistência ao idoso? 11) Como você percebe a inclusão do idoso nos serviços de saúde do Município? 12) O que o(a) senhor(a) sabe sobre o Programa de Atenção a Saúde do Idoso? 13) O que os órgãos de saúde de Divinópolis têm oferecido aos idosos? 14) O que o(a) senhor(a) considera que falta para uma melhor assistência à saúde do idoso? 15) Qual o seu conhecimento sobre a Política Municipal de Saúde do Idoso? 145 ANEXO 2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO Prezado (a) Sr (a), Estou realizando uma pesquisa sobre A REPRESENTAÇÃO DA ATENÇÃO ASSISTENCIAL OFERECIDA AO IDOSO NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS (MG), sob a orientação do professor Paulo César Miranda e co-orientação da professora Eliete Albano. Esta pesquisa visa a analisar as políticas de assistência ao idoso no município de Divinópolis, com base nas políticas públicas preconizadas no Brasil. A pesquisa será desenvolvida no período de dezembro do ano de 2007 a abril do ano de 2008. O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) a participar, por meio de uma entrevista individual, respondendo a perguntas sobre a utilização dos serviços de saúde do município de Divinópolis, bem como as ações de assistência que este município desenvolve para o idoso. As informações das entrevistas serão gravadas, se assim for permitido. O(A) Sr.(a) poderá recusar-se a responder, em qualquer instante da pesquisa, sem qualquer prejuízo para o(a) Sr.(a). A sua identidade será preservada e sua participação na pesquisa não trará qualquer prejuízo para a sua pessoa. Garantimos que os dados aqui colhidos serão utilizados exclusivamente para os objetivos de nossa pesquisa, e que as fitas gravadas serão arquivadas por este pesquisador durante o período de cinco (5) anos, podendo ser disponibilizada para o Sr.(a) em qualquer data durante este período. O(A) Sr.(a) receberá uma via deste termo de consentimento livre e esclarecido, onde consta o contato do pesquisador e orientadores para caso de surgir alguma dúvida. Pelo presente, declaro que estou ciente dos objetivos da pesquisa e que concordo livremente em participar respondendo as perguntas dirigidas a mim. Divinópolis, ______ de ___________________ de ____________. _______________________________________________ Sujeito da pesquisa _______________________________________________ Fernanda Maria Francischetto da Rocha Contatos: – Fernanda Maria Francischetto Rocha – Tel: 37–3222.8973 / 37– 8808.8973. – Eliete Albano – Tel: 37–3242.1203. – Paulo César Miranda – Tel: 31–3463.1853.
Download