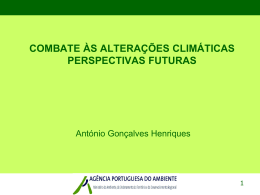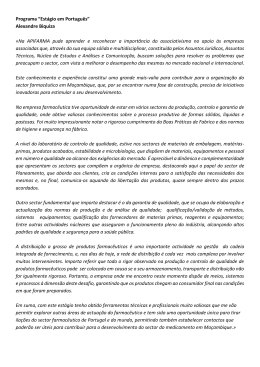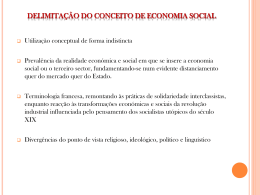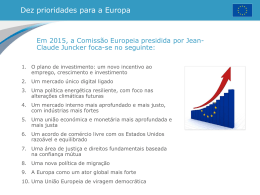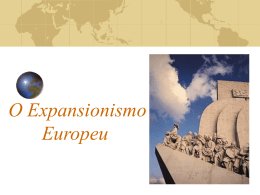CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL MESA REDONDA A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PORTUGUESA (Organizado pelo Conselho Económico e Social e realizado na sua sede, a 24 de Maio de 2001) Lisboa, 2002 Lista de Participantes Professor Doutor Vítor Santos, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia Dr. José da Silva Lopes, Presidente do Conselho Económico e Social Dr. Luís Neto, Presidente do ICEP Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos, Universidade Católica do Porto Professor Doutor Luís Valente de Oliveira, Universidade do Porto, Membro do CES Senhor Henrique Neto, Presidente da Ibermoldes Professora Doutora Maria João Rodrigues, ISCTE, Consultora do Primeiro-Ministro, Membro do CES Dr. João Salgueiro, Presidente da Associação Portuguesa de Bancos, Vice-Presidente do CES Eng.º Rui Nogueira Simões, Vice-Presidente da Confederação da Indústria Portuguesa - CIP, Vice-Presidente do CES Dr. Fernando Marques, Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses – CGTPIN Eng.º João de Deus, União Geral de Trabalhadores - UGT, Membro do CES Eng.º Luís Mira, Secretário-Geral da Confederação dos Agricultores de Portugal CAP, Membro do CES Dr. Cortez, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal - CCP Dr. Heitor Salgueiro, Director Adjunto da Confederação da Indústria Portuguesa CIP, Membro do CES Eng.º Luís Mira Amaral, Administrador do BPI Dr. Mendonça Pinto, Assessor do Presidente da República Eng.º João Bártolo, Fórum de Administradores de Empresas Dr. Henrique Salles da Fonseca, Director-Geral do Fórum para a Competitividade Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta, Instituto Superior Técnico Eng.º João Cravinho, Deputado à Assembleia da República Professor Doutor João Ferreira do Amaral, Instituto Superior de Economia e Gestão - ISEG 2 Índice 1.ª Sessão Intervenção do Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia, Professor Doutor Vítor Santos Modelos de crescimento: qualitativo ou quantitativo? Vectores de orientação para o crescimento português Exemplos recentes de decisões concretas A internacionalização da economia portuguesa 10 11 13 16 Intervenção do Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. José da Silva Lopes O conceito de competitividade O crescimento do PIB e a evolução do emprego A produtividade O equilíbrio externo As consequências da insuficiente competitividade 18 18 19 20 22 Intervenção do Presidente do ICEP, Dr. Luís Neto Introdução A recente evolução da BTC em Portugal O Investimento Directo Estrangeiro: evolução recente, pontos fortes e pontos fracos O sucesso do turismo em Portugal A imagem de marca de Portugal A relação com Espanha 26 26 26 30 30 32 Debate Senhor Henrique Neto Os malefícios dos meios de comunicação Questões relativas à internacionalização 34 34 Professor Doutor João Ferreira do Amaral A necessidade de quantificar os objectivos relativos à exportação 35 Dr. João Salgueiro A performance portuguesa e a má gestão 3 36 Dr. Mendonça Pinto Haverá justificação para o apoio público a investimentos de empresas portuguesas no exterior? 37 Dr. João Salgueiro Comparação entre IDE em Portugal e noutros pequenos países europeus 38 Dr. Luís Neto Comparação entre IDE em Portugal e noutros pequenos países europeus 39 Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta A existência de capital de risco em Portugal 39 Dr. Luís Neto Discussão privada versus discussão pública A internacionalização e Espanha A orientação do ICEP A internacionalização e o Brasil 39 40 40 40 Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia, Professor Doutor Vítor Santos A política de internacionalização A internacionalização e Espanha Os efeitos de uma desvalorização competitiva O trade-off produtividade/desemprego O sentido da mudança 41 42 43 43 44 2.ª Sessão Senhor Henrique Neto 47 Debate Eng.º Luís Mira Amaral A importância de um enquadramento saudável à actividade empresarial A dinamização da sociedade portuguesa A concorrência no sector energético 53 53 54 Eng.º Rui Nogueira Simões O sector da construção 54 Dr. João Salgueiro O sector bancário 55 4 Professora Doutora Maria João Rodrigues Três vias práticas para enfrentar a questão da competitividade 56 Eng.º João Cravinho Tratamento fiscal do agente que inova 57 Dr. Fernando Marques A experiência irlandesa A Segurança Social e a concorrência desleal A reforma fiscal 57 57 58 Senhor Henrique Neto O sector da construção O sector bancário A modernização dos sectores tradicionais Benefícios fiscais para os agentes que inovam A experiência irlandesa A necessidade de uma orientação nacional 58 58 59 59 59 59 Intervenção do Professor Doutor Luís Valente de Oliveira, Qual o benchmark relevante? Inovação incremental e inovação radical A importância da produtividade da Administração Pública Outros mecanismos para assegurar a competitividade: regime cambial e regime fiscal O trade-off produtividade-desemprego 61 62 63 65 66 Intervenção do Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos Em que competem os países na sociedade do conhecimento? A necessidade de alterar os métodos Um ambiente saudável é um ambiente com dificuldade A exigência do cliente enquanto factor de competitividade 67 68 69 70 Debate Eng.º Luís Mira Amaral Consequências de um aumento drástico dos salários A importância de um ambiente com dificuldades 73 735 Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta Termo à subsídio-dependência Aposta no capital humano Desenvolvimento das infra-estruturas físicas 5 74 74 75 Dr. Fernando Marques Aumentos salariais como forma de estimular a inovação 75 Dr. José da Silva Lopes Subsídios fiscais ou subsídios financeiros Consequências de um aumento drástico dos salários 76 76 Eng.º João Bártolo A falta de exigência da sociedade portuguesa 76 Eng.º Rui Nogueira Simões Racionalizar os institutos públicos 77 Eng.º Luís Mira Amaral Incentivos financeiros ou fiscais e as falhas de mercado Tributar o trabalho e não o capital? 77 78 Eng.º João Cravinho A exigência do Estado enquanto produtor e comprador 78 Dr. João Salgueiro Erradicar ou encorajar? Condições de sucesso: responsabilização dos agentes, programação e calendarização das medidas e, monitorização dos resultados 79 80 Professora Doutora Maria João Rodrigues Benchmarking e convergência real 81 Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos O papel do mercado e da competição para nos pôr à prova 82 3.ª Sessão Intervenção da Professora Doutora Maria João Rodrigues A União Europeia: benchmark e alavanca O Programa Integrado de Apoio à Inovação As apostas chave do programa A necessidade de trabalhar em parceria 84 86 87 88 Intervenção do Dr. João Salgueiro Como aferir a competitividade de um país A competitividade: desafio essencial A deslocalização das actividades produtivas Perspectivas para o futuro: atitude, benchmarking e exigência 6 90 90 92 93 Consequências da actual má gestão Indicadores de benchmarking 95 96 Debate Professor Doutor Luís Valente de Oliveira Parcerias, benchmarking, governância e regionalização: quatro aspectos a desenvolver 98 Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos A unidade de análise da competitividade A inovação sempre foi um factor de competitividade A cultura do consumidor nacional Exemplo dos benefícios da concorrência 99 99 100 101 Dr. Mendonça Pinto Como compatibilizar a eficiência económica e a competitividade com a justiça social e coesão social? 102 Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta O desafio da educação 102 Dr. Henrique Salles da Fonseca As falhas dos elementos estatísticos Menos Estado para que haja melhor Estado Portugal e a Asean 103 103 104 Eng.º João Bártolo Não ignorar o papel das instituições no processo inovatório 104 Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos A inovação e o papel do mercado A falta de informação do indicador “taxa de desemprego” 105 106 4.ª Sessão As posições das organizações de trabalhadores e de empregadores: CGTP; UGT; CAP; CCP e CIP Intervenção do Dr. Fernando Marques – CGTP O desequilíbrio externo da economia portuguesa Os condicionantes e a melhoria da produtividade O baixo nível de qualificação Processos produtivos que não favorecem a inovação Carências importantes na gestão e organização das empresas 7 108 108 109 109 109 O papel do Estado Que modelo de desenvolvimento? 110 110 Intervenção do Eng.º João de Deus – UGT Competitividade, emprego e desenvolvimento Reforçar a produtividade e competitividade nacionais Vias para melhorar a produtividade e a competitividade Como medir a produtividade? Conclusão Intervenção do Eng.º Luís Mira – CAP A competitividade do sector agro-florestal em Portugal Condicionantes externas da competitividade nacional Condicionantes internas da competitividade nacional 111 111 112 113 113 115 115 117 Intervenção do Dr. Cortez – CCP Aspectos fundamentais da nova economia do imaterial O PROINOV e o Programa Operacional de Economia A envolvente externa e o enquadramento da actividade das empresas 120 121 122 Intervenção do Dr. Heitor Salgueiro – CIP A competitividade portuguesa e a inércia no passado recente Quatro aspectos fundamentais: produtividade, inflação, política orçamental e educação Carências dos indicadores quantitativos A participação da sociedade civil 123 123 125 125 127 Programa 8 1.ª Sessão 9 Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia, Professor Doutor Vítor Santos Modelos de crescimento: qualitativo ou quantitativo? Poderia ter optado por fazer hoje uma intervenção de natureza académica estruturada em torno de uma reflexão sobre as determinantes da competitividade. No entanto, decidi partilhar hoje aqui convosco um pouco daquilo que faço todos os dias, as perplexidades, preocupações, dúvidas e angústias que vou tendo, mas também alguns aspectos positivos e motivadores da actividade que desenvolvo no dia-a-dia. A par dos Tigres Asiáticos, da Espanha e da Irlanda, Portugal foi uma das poucas economias que, nas últimas quatro décadas emergiu como economia desenvolvida: • • • • Divergimos, em termos reais, durante todo o século XIX e só iniciámos o nosso processo de convergência nos anos 30, após termos restabelecido os equilíbrios macroeconómicos na segunda metade dos anos 20; Verificou-se uma aceleração no nosso processo de crescimento económico com a adesão à EFTA e a promoção, nos anos 50 e 60, de políticas desenvolvimentistas. Nos finais dos anos 60, o nosso modelo de desenvolvimento económico estava esgotado pela envolvente política inibidora; Estagnámos e chegámos mesmo a divergir de 1974 a 1985, na sequência da instabilidade política e da condução de políticas macroeconómicas marcadas pela instabilidade e a indisciplina orçamental. Numa perspectiva menos economicista e, porventura, mais adequada à realidade, este foi o ónus que tivemos que assumir para estabelecer um sistema democrático em Portugal; A consolidação do nosso sistema democrático, a estabilidade macroeconómica e o nosso envolvimento activo no projecto de construção europeia criaram as pré-condições para reiniciarmos, a partir de 1986, de forma sustentada, o nosso processo de convergência real. A economia portuguesa funcionou, durante muitas décadas, segundo uma lógica proteccionista protagonizada por um Estado que não se limitava a ter uma função reguladora do funcionamento do sistema económico mas que assumia, claramente, uma postura voluntarista de grande envolvimento, condicionando, quase sempre, o potencial do mercado enquanto mecanismo de afectação de recursos. A liberalização progressiva do comércio internacional e dos movimentos de capitais, o aprofundamento e consolidação do mercado único, a criação da União Económica e Monetária e até os progressos verificados nos transportes e nas tecnologias da informação vão contribuir para reforçar e acelerar o processo de integração internacional em curso da economia portuguesa. Os choques decorrentes das sucessivas vagas de internacionalização da economia portuguesa foram apenas parcialmente 10 absorvidos pelo nosso tecido produtivo, estando ainda a decorrer o correspondente processo de ajustamento e reestruturação industrial. A evidência empírica existente sugere que, nos últimos 15 anos, o processo de crescimento da economia portuguesa foi devido a uma utilização intensiva dos factores produtivos e não ao aumento da eficiência global do sistema. Esta aposta na quantidade, em detrimento da qualidade, está a conduzir a uma situação de rendimentos marginais decrescentes que tornará o actual modelo de desenvolvimento não sustentável. Aliás, a evolução recente da economia portuguesa tem sido muito marcada por linhas tendenciais que permitem validar esta percepção da realidade económica e social: • • • • Exibindo uma taxa de desemprego abaixo dos 4%, portanto abaixo da chamada taxa natural de desemprego, é relativamente consensual que a economia portuguesa se encontra numa situação de pleno emprego; O Saldo da Balança Corrente e, em particular, o Saldo da Balança de Mercadorias têm vindo a sofrer uma degradação nos últimos anos; A taxa de crescimento da produtividade da indústria transformadora tem sido menor do que a dos nossos parceiros comerciais e também bastante menor do que a taxa de variação dos salários. Um pouco em resultado de tudo isto, as margens de lucro unitárias no sector exportador têm tido uma evolução negativa. O crescimento tem sido “puxado” pelos sectores produtivos com menor conteúdo de inovação e mais baixa produtividade. A evidência empírica existente para a economia portuguesa, para as últimas décadas, sugere, de algum modo, que a estratégia de desenvolvimento da nossa economia foi muito sustentada na quantidade e não na qualidade dos recursos utilizados. A performance actual da economia portuguesa indicia que o actual modelo de crescimento extensivo mostra sinais claros de esgotamento. Com efeito, estando numa situação de pleno emprego, a manutenção do mesmo modelo de crescimento só pode resultar no agravamento dos desequilíbrios externos e/ou no aumento da inflação. É, por isso, necessário passar de um modelo de crescimento extensivo, muito marcado pela aposta na quantidade e na realização de “mais do mesmo”, para um modelo de crescimento intensivo em que o objectivo é claramente produzir mais, mas sobretudo, produzir melhor, com mais qualidade e mais rápido. Vectores de orientação para o crescimento português A constatação de que, nos últimos vinte anos, se apostou mais numa utilização intensiva dos factores produtivos e menos na qualidade e na eficiência dos sistemas produtivos e organizacionais torna imprescindível uma mutação estratégica que tenda a reafectar os recursos disponíveis a utilizações mais eficientes, a focalizar a atenção nas reformas estruturais como factor dinâmico de transformação e de mobilização da 11 sociedade portuguesa, a valorizar o território e as instituições como elementos catalisadores essenciais para a promoção da inovação e da eficiência dinâmica. No que diz respeito à afectação dos recursos, e face ao facto de cerca de 50% do nosso PIB ser gerado no sector público, reúne cada vez mais consenso a ideia de que a sociedade portuguesa beneficiaria se uma parte desses recursos fossem canalizados para o sector privado. Também na linha de uma utilização mais eficiente de recursos, há que dar prioridade política à gestão do ciclo de vida das empresas, promovendo iniciativas que tornem possível a reafectação de recursos entre as empresas mais ineficientes e aquelas que exibem um desempenho mais promissor; estamos a pensar em acções que visem a minimização das barreiras à entrada, que tornem mais operativa a política de concorrência e que agilizem a saída do mercado. A necessidade de privilegiar a qualidade dos factores produtivos e de promover a oferta de bens públicos que contribuam para melhorar o ambiente em que coexistem as empresas, situa-se na linha de preocupações do chamado crescimento endógeno. Esta abordagem perspectiva o estímulo à “produção de ideias e de conhecimento” e o incentivo à difusão de inovações como sendo formas de intervenção que permitem superar a lei dos rendimentos decrescentes e desbloquear o processo que conduz ao esgotamento dos modelos de crescimento dos países. Situam-se nesta linha de preocupações, a promoção de políticas de educação e formação que preparem as pessoas para a mudança, a consolidação das infra-estruturas tecnológicas e de formação, a focalização nos centros de saber. Estado e mercado devem ser encarados como dois instrumentos complementares de afectação de recursos: os mercados e as acções descentralizadas desenvolvidas pelos agentes económicos (e, pelas empresas, em particular) devem assumir o protagonismo inerente a quem continua a revelar enormes virtualidades como mecanismo de afectação de recursos sem, contudo, esquecer que os mercados exibem imperfeições que exigem, por parte dos governos, a promoção de acções correctoras. Sem pôr em causa esta postura de princípio, devemos procurar resistir a uma imagem redentora do Estado que, muitas vezes, é encarado como sendo um ditador benevolente que, dotado de informação completa e perfeita sobre o funcionamento da economia, age de forma a maximizar o bem estar social. Na realidade, existe um número crescente de autores que focalizam a sua atenção nos fracassos do Estado que, nesta linha, é perspectivado como sendo uma entidade colectiva complexa e heterogénea em que coexistem interesses e objectivos diferenciados e, por vezes, contraditórios, dotado de informação deficiente sobre o funcionamento dos mercados e o comportamento dos agentes e que, por todas estas razões é fortemente condicionado e, mesmo capturado, pela dinâmica dos mercados. O crescimento económico português foi influenciado pela alteração na dotação de factores produtivos como aconteceu, por exemplo, com o aumento substancial da oferta de trabalho decorrente do retorno de portugueses de África ou o estímulo ao investimento resultante dos fundos estruturais. Mas também beneficiou de alterações 12 políticas, institucionais ou da promoção de políticas públicas, como sejam, a consolidação da democracia, todas as decisões políticas que reforçaram o processo de internacionalização, as privatizações, a estabilidade macroeconómica que terão contribuído para, apesar de tudo, melhorar a eficiência global do sistema. Fica a ideia de que todos estes factores se revelaram insuficientes e de que é necessário, agora, ir mais longe e proceder às reformas estruturais (educação, saúde, justiça, administração pública) de forma a superar o actual esgotamento do nosso modelo de desenvolvimento. É preciso ter também presente a ideia de que uma estratégia de desenvolvimento não pode surgir descontextualizada da noção de território enquanto espaço em que se localizam as pessoas e as actividades económicas e onde também ocorre a difusão das inovações e do conhecimento. Nesta perspectiva, o desafio dos decisores públicos é serem capazes de escolher uma organização económica do território que constitua um bom compromisso entre, por um lado, a necessidade de criar centros onde se concentre um conjunto de actividades (e, pessoas) que permitam sustentar uma base económica competitiva nacional e, por outro, criar condições para que as assimetrias regionais, que daí possam resultar, não ponham em causa a necessária coesão nacional. É hoje consensual que a produção e a difusão de inovação e de conhecimento constituem processos muito complexos, fortemente condicionados por diferentes tipos de fracassos de mercado e que não tendem a fluir facilmente, de forma linear e de modo uniforme, no tecido económico. Por isso mesmo, é imprescindível estabelecer os chamados sistemas nacionais de inovação que constituem quadros institucionais que promovem os avanços tecnológicos e estimulam a difusão das inovações, as parcerias e o trabalho em rede. Uma estratégia de desenvolvimento económico para Portugal passa pela aposta nas empresas e no mercado como espaços privilegiados de transformação e afirmação da economia portuguesa, a ênfase na internacionalização e na cooperação, a necessidade de estender as actividades produtivas da empresa a montante (áreas de I&D e concepção dos produtos) e a jusante (marketing e distribuição), a inevitabilidade da adopção de uma postura pró-ambientalista por parte das empresas e um envolvimento do Estado orientado sobretudo para as áreas em que haja externalidades ou fracassos de mercado. Exemplos recentes de decisões concretas Feito este enquadramento muito sintético, começarei por realçar dois fenómenos ou dois factores novos que terão certamente uma grande relevância na configuração do desenvolvimento económico em Portugal. Em seguida, darei exemplos de algumas políticas ou de acções que apontam nesse sentido e que estão a ser implementadas no Ministério da Economia Quanto a dois factores novos e que devem ser devidamente considerados, o primeiro que gostava de referir aqui é o Programa Integrado de Apoio à Inovação – PROINOV. É uma iniciativa assumida e coordenada directamente pelo Senhor Primeiro-Ministro em termos políticos e pela Professora Maria João Rodrigues em termos técnicos, com toda 13 a competência que se lhe reconhece. Do ponto de vista prático e do ponto de vista simbólico, é uma acção inovadora por aquilo que já aconteceu e, sobretudo, por aquilo que esta iniciativa pode fazer acontecer. Mas aquilo que eu gostava de dizer é que o PROINOV nos coloca duas questões. A primeira ideia é que o conceito de inovação, não deve ser circunscrito à inovação tecnológica, mas também a inovação organizacional. Não há aqui uma matéria específica do sistema nacional de inovação ou das infra-estruturas tecnológicas. Na realidade, fazer acontecer inovação é um estado de espírito que deve ser transversal a toda a sociedade portuguesa. Por outro lado, o envolvimento do Senhor Primeiro-Ministro na coordenação desta iniciativa, além do carácter simbólico e da correspondente visibilidade que esta iniciativa teve, constitui um sinal claro para a necessidade de desenvolver políticas horizontais, integradas e multisectoriais, políticas que envolvam diferentes departamentos, nomeadamente diferentes departamentos da Administração Pública. A título meramente exemplificativo, referirei algumas iniciativas que estão a decorrer no âmbito do Ministério da Economia e que são o follow-up desta iniciativa. Em primeiro lugar, foi promovido um debate interno e foram criadas as condições para um envolvimento, neste debate, de todas as instituições do Ministério da Economia. Não estamos a falar dos laboratórios do Estado, mas sim de todas as instituições, pois a inovação, sobretudo a inovação organizacional, é uma matéria que tem a ver com todas as instituições do Ministério. Depois, há iniciativas que são emblemáticas de algumas das novas características do Programa Integrado de Apoio à Inovação – PROINOV. Por exemplo, uma nova dimensão na política de atracção de investimento directo estrangeiro, que é a aposta nas empresas de base tecnológica sustentada numa parceria ICEP e Agência de Inovação. Uma outra nova iniciativa que vamos lançar é a PME Digital. Trata-se de um conjunto de acções extremamente importante que visa, basicamente, preparar, através de um quadro institucional apropriado, as empresas, em particular as pequenas e as micro empresas, para acederem às plataformas electrónicas. É um trabalho de vulto pela sua importância, pela implicação que tem em termos organizacionais no seio das próprias empresas e pelo facto de ser um trabalho cuja execução se irá concentrar nos próximos dois anos. Uma outra iniciativa que vamos desenvolver, desde já, é a adopção do formato electrónico no relacionamento entre os nossos front offices e as empresas. Esta iniciativa de e-government será iniciada nas Direcções Regionais, por serem as instituições do Ministério da Economia que estão na linha da frente do contacto com as empresas. Por exemplo, as diferentes formas de licenciamento vão passar, muito rapidamente, a ser feitas em formato electrónico. Um outro exemplo duma orientação nova e que resulta da filosofia que está subjacente ao PROINOV, é a política que estamos a definir para o sector automóvel que poderemos desenvolver posteriormente, na fase de debate. Um segundo facto novo, são os passos que temos dado no sentido de concretizar uma perspectiva, hoje dominante na sociedade portuguesa, de que devem ser criadas as pré- 14 condições para que se faça a passagem de um estado intervencionista para um estado que seja cada vez mais regulador. Isto significa que, quando se fala de competitividade e da produtividade, o governo e a administração pública têm um papel importante a desempenhar, mas nesta temática não podemos deixar de pensar que, para além das políticas públicas, a sociedade civil deverá assumir um papel cada vez mais relevante na construção de uma estratégia de desenvolvimento sustentado. Pensamos que há que criar cada vez mais espaços para as iniciativas da sociedade civil. Pensamos também que há que estabelecer uma divisão de trabalho entre as iniciativas públicas e as iniciativas que possam ser protagonizadas pela sociedade civil, pelas empresas, pelas associações empresariais, pelas associações sindicais, pelo movimento associativo no seu conjunto. Tem que haver, aqui, uma divisão de trabalho muito clara, evitando sobreposições, apostando na complementaridade. O estado deve apenas procurar suprir as falhas de mercado e as instituições que emergem da sociedade civil devem procurar fazer aquilo que sabem fazer melhor, numa aplicação estrita do princípio da subsidiaridade, numa óptica de partilha de custos e riscos, por um lado, e também de oportunidades. Para avançarmos de forma decisiva nas políticas e nas acções que possam emergir da sociedade civil é importante que se gerem consensos em torno da temática da produtividade. Parece-nos que a metodologia adequada para que se gerem sintonias em torno da produtividade é evitar que o debate se focalize nas questões que tenham a ver com aspectos de repartição, – numa terminologia menos adequada, menos tecnicista, na partilha do bolo – mas, sobretudo, na busca de saber quais são as soluções que nos permitem aumentar a dimensão do bolo. Temos de passar de uma lógica de jogo de soma nula, para uma aposta muito grande num jogo de soma positiva. Eis alguns exemplos de matérias que estamos a procurar desenvolver no contexto do Ministério da Economia e que apontam, no fundo, para os vectores de orientação que vos referenciei inicialmente. A primeira questão, é a do ciclo de vida das empresas. Pensamos que, não utilizando uma linguagem muito tecnicista, as empresas, tal como as pessoas, devem nascer bem, devem viver num ambiente saudável e devem morrer tranquilamente, quando for caso disso. Estou perfeitamente consciente que esta afirmação pode ter algum conteúdo de alguma polémica, mas estou perfeitamente à vontade para assumir isso. Até porque o Governo tem procurado ter uma postura muito pró-activa, no sentido de tudo aquilo que tem a ver com a reestruturação de empresas que acabem por nos dar alguma garantia de viabilidade e sustentabilidade, no futuro. Que é que nós pretendemos significar com a ideia de que as empresas devem nascer bem? Penso que é claro por si só, mas gostava de enunciar algumas iniciativas. Há sempre aquela bandeira que se chama CFE’s, e sobre isso não vou dizer muito mais. Há também iniciativas legislativas importantes neste sentido como, por exemplo, a transferência de competências para os municípios. É uma coisa sobre a qual estamos a trabalhar e a ponderar e aí a aposta é, no fundo, balancear de alguma maneira a eficácia ao nível de todos os processos de licenciamento, de fiscalização, por um lado e, por 15 outro lado, apostar decisivamente na proximidade entre os municípios e as empresas. Já referi anteriormente uma outra iniciativa extremamente importante, que é o formato electrónico nas Direcções Regionais. Uma outra aposta nesta matéria, relacionada com o financiamento, é uma redefinição que está a ser feita ao nível de um instrumento fundamental que é o capital de risco. A articulação com o sistema financeiro, aposta numa maior profundidade dos fundos de capital de risco, numa maior integração de iniciativas, numa maior integração de fundos, explorando economias de escala e economias de gama e na focalização dos fundos de capital de risco, numa reorientação dos fundos de capital de risco para aquilo que é importante, que são os start-ups, nomeadamente os de base tecnológica. Para além de nascerem bem, as empresas devem viver num ambiente saudável. De facto, este aspecto é extremamente importante e, também aqui, há novidades, há novos desenvolvimentos a serem concretizados no Ministério da Economia. A título de exemplo, gostaria de realçar o trabalho que estamos a desenvolver no sentido de ser criada a “Autoridade de Política de Concorrência”. Parece que estamos todos de acordo que, em matéria de concorrência, a questão essencial, em Portugal, não é a lei de concorrência mas sim o quadro institucional que está associado à sua aplicação. Vamos, aqui, proceder a alterações profundas. Já foi também anunciada publicamente a extensão da regulação do sector eléctrico ao gás natural, estando, para muito breve, a criação da nova entidade reguladora de âmbito mais alargado. A internacionalização da economia portuguesa Sobre a internacionalização, queria dizer que é qualquer coisa sobre a qual nós estamos a fazer alterações, estamos a rever alguns aspectos essenciais. Agências públicas, empresas, associações empresariais, associações sindicais, todos estamos a aprender sobre esta matéria. É uma questão nova em Portugal, tendo sido cometidos alguns erros a todos os níveis. É necessário aprender com os erros cometidos, fazer uma reflexão sobre a reorientação das políticas nesta matéria. Neste aspecto, as empresas acabaram por revelar maior agilidade na alteração, na transformação das suas estratégias. Por seu lado, as agências públicas têm tido menor agilidade por razões várias, algumas das quais têm muito a ver com o facto de as políticas de internacionalização acabarem por ser muito marcadas pelo andamento e pelo enquadramento dos sucessivos quadros comunitários de apoio. Sobre isso, há a seguinte novidade. O reconhecimento da necessidade de uma maior articulação e integração entre as acções orientadas para a imagem de Portugal e o apoio directo à internacionalização das empresas. São dois aspectos interactivos, duas áreas em que há sinergias que serão, certamente, cada vez mais exploradas. Segundo aspecto, a internacionalização não é um objectivo, é um instrumento. Depois, uma terceira matéria, sobre a qual há algumas dúvidas, a todos os níveis, nomeadamente ao nível da Comissão Europeia. E nós pensamos que, sobre isso temos 16 argumentos que nos parecem muito sólidos e que sustentamos e que vamos continuar a sustentar. Continua a fazer sentido, haver uma política voluntarista na área da internacionalização! Porquê? Porque há gaps de produtividade a superar, gaps de produtividade entre Portugal e os seus parceiros. Em segundo lugar, continua a fazer sentido apostar numa política voluntarista, ao nível da internacionalização, porque o desafio da internacionalização da economia portuguesa é um bem público, é um projecto de âmbito nacional que suscita elevados riscos de implementação para aqueles que abrem caminhos, para aqueles que são mais ousados. Não podemos penalizar os mais ousados, as empresas que avançaram primeiro para o processo de internacionalização. Em terceiro lugar, faz sentido continuar a ter uma política de internacionalização porque os diferentes Estados-Nação têm uma postura competitiva nesta matéria. Naturalmente, o Governo deve assumir também, nesta questão, uma postura pró-activa. Também, ainda em matéria de internacionalização, pensamos que há toda a necessidade, ao nível dos instrumentos e também dos instrumentos financeiros, de fazermos um esforço de maior integração. Isso é verdade também para o capital de risco, por exemplo. Termino como comecei, salientando que não pretendi fazer uma abordagem exaustiva da competitividade da economia portuguesa. Face à constatação de que existe um esgotamento do modelo de desenvolvimento da economia portuguesa, optámos por identificar as reorientações da política pública daí decorrentes e por destacar alguns exemplos concretos de actuações que reflectem uma nova postura do governo face aos desafios da competitividade. 17 Intervenção do Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. José da Silva Lopes O Conceito de Competitividade O conceito de competitividade faz sentido e é de aplicação corrente quando aplicado a empresas. Sem competitividade estas não podem sobreviver. A transposição desse conceito para o plano das economias nacionais dos países levanta dificuldades e controvérsias. Os países normalmente designados como pouco competitivos não desaparecem. O que lhes pode acontecer é viverem com baixos níveis de rendimento e terem fraco crescimento económico. Por isso, muitos economistas consideram que não se ganha muito em falar de competitividade entre países. O que interessa é focar a atenção sobre a produtividade dos factores produtivos como condição para a melhoria de vida e para o progresso económico (Vd., por exemplo, Paul Krugman, Pop Internationalism, MIT Press, 1996). Está porém muito divulgado o conceito segundo o qual a competitividade dos países ou nações está ligada não só à produtividade, mas também a uma balança de contas externas sustentável a prazo. Um país em que o défice externo seja substancial e tenha que vir a ser reduzido, em consequência de dificuldades na obtenção dos financiamentos internacionais necessários, tem o seu crescimento económico futuro ameaçado. É por isso que será apropriado dizer-se que num tal país a competitividade é inadequada. Nestas condições, o conceito de competitividade da economia portuguesa, utilizado no presente texto, é o que reflecte a capacidade para aumentar a produção, assegurar elevados níveis de emprego, melhorar a produtividade e manter as contas externas dentro de limites sustentáveis a prazo. Com base nesse conceito, interessa começar por analisar quatro indicadores de competitividade: o crescimento do PIB; a evolução do emprego; o comportamento da produtividade; e o equilíbrio externo. O Crescimento do PIB e a evolução do emprego A expansão do PIB de Portugal processou-se durante a década de 1990 à taxa média de 2,7% ao ano. Como a população quase nada aumentou, a taxa de subida do PIB per capita foi praticamente a mesma. No decurso da mesma década, o PIB e o PIB per capita do conjunto dos países da União Europeia progrediram às taxas de 2,0% e 1,3%, respectivamente. Pode assim considerar-se que o crescimento económico português, apesar de ter sido relativamente medíocre, permitiu uma convergência significativa em relação à média da União Europeia. A verdadeira situação poderá ser ainda mais favorável, na medida em que, por razões abaixo apontadas a propósito da produtividade, o crescimento estimado do PIB tenha sido inferior ao real. A componente da competitividade da economia portuguesa 18 pelo crescimento do PIB não nos traz assim preocupações sérias, embora não nos dê motivos para apreciações triunfantes. Os indicadores de emprego proporcionam-nos notícias claramente mais animadoras. Portugal foi, durante todos os anos da década de 1990, um dos países com mais baixas taxas de desemprego em toda a Europa. Nesses anos, o desemprego esteve sempre, entre nós, de 3 a 5 pontos abaixo da média da União Europeia. E isso apesar de a população activa representar entre nós uma percentagem da população em idade de trabalhar superior à da maioria dos outros países daquela União, sobretudo em virtude de a proporção de mulheres portuguesas a trabalhar exceder significativamente a média europeia. A Produtividade Em contrapartida, os indicadores de produtividade deixam-nos uma imagem da competitividade portuguesa muito pouco encorajadora. É sabido que os cálculos sobre a produtividade dos factores são sempre difíceis e imprecisos. Mesmo que se recorra ao indicador de produtividade mais frequentemente utilizado – o da produtividade de trabalho – não se conseguem evitar diferenças entre fontes estatísticas alternativas, nem revisões frequentes. Isto sem falar de várias deficiências estruturais nas estimativas sobre a produtividade do trabalho. Em primeiro lugar, é possível que o crescimento real do PIB seja subestimado, em virtude de as estimativas das taxas de variação na produção não entrarem suficientemente em conta com as melhorias de qualidade dos bens e serviços (subestimação que a Comissão Booskin calculou em cerca de 1 ponto de percentagem ao ano para os Estados Unidos da América e que em Portugal será provavelmente maior). Em segundo lugar, os cálculos do PIB não cobrem adequadamente a economia paralela e as produções a que correspondem rendimentos declarados para efeitos fiscais inferiores à realidade. Em terceiro lugar, a inclusão do sector da Administração Pública nos cálculos da produtividade global da economia distorcem os resultados a que se chegue, uma vez que não há maneira de medir a produção naquele sector e esta é, por convenção da contabilidade nacional, avaliada com base naquilo que se gasta. Ora, dar-se-á muitas vezes o caso de se estar a gastar mais produzindo menos (sendo provável que em Portugal situações desse tipo ocorram com frequência). Em quarto lugar, as estimativas da produtividade referem-se frequentemente à produção por trabalhador, sendo por isso baseadas no volume de emprego total, quando o que é mais correcto é calculá-las em relação ao número de horas de trabalho. Como em Portugal, e também noutros países, o número médio de horas de trabalho por trabalhador tem estado a diminuir, os valores sobre a produtividade por trabalhador mostram melhorias inferiores aos da produtividade por hora trabalhada. Apesar de todas estas dificuldades, a falta de indicadores mais satisfatórios obriga a trabalhar com indicadores de produtividade obtidos a partir dos dados da contabilidade 19 nacional e do volume total de emprego. Segundo esses indicadores, a produtividade de trabalho terá crescido em Portugal, durante a década de 1990, à taxa média anual de 2% ao ano. Essa taxa excede apenas em 0,4 pontos de percentagem a taxa média de 1,6% ao ano, estimada para o conjunto dos países da União Europeia. É verdade que, por causa das deficiências apontadas, é provável que a melhoria da produtividade no conjunto da economia sem a Administração Pública tenha aumentado significativamente mais do que os 2% que acabam de ser apontados. Mas como nos outros países da União Europeia, aquelas deficiências tiveram efeitos semelhantes, e como além disso a evolução da produtividade média na Administração Pública tem sido aparentemente decepcionante (não sendo mesmo de excluir que ela tenha baixado), poderá supor-se, com razoável segurança, que as melhorias efectivas da produtividade do trabalho no conjunto da economia portuguesa não excederão, em média, por uma margem de muito mais de 0,5 pontos de percentagem ao ano as do conjunto dos países da União Europeia. Com um diferencial de 0,5 pontos de percentagem ao ano, poderia projectar-se que nem daqui a um século, os trabalhadores portugueses atingiriam os níveis de produtividade – e consequentemente os níveis de salários – da média da União Europeia. O facto de Portugal ter estado a convergir mais depressa para a média europeia no PIB per capita do que na produtividade por trabalhador causa, à primeira vista, certa estranheza. Todavia, a explicação é simples: a produtividade do trabalho em Portugal é extremamente baixa em comparação com a média europeia e tem progredido pouco mais do que essa média, porque entre nós a proporção entre o volume de emprego e a população total aumentou mais do que na maioria dos outros países da União Europeia. Essa explicação levanta uma questão: será preferível ter uma produtividade mais alta, salários mais altos e menos emprego (como na Espanha) ou uma produtividade mais baixa, salários mais reduzidos e mais gente a trabalhar, menos desemprego e mais mulheres no mercado de trabalho (como em Portugal)? A opção da Espanha parece preferível, salvo no que diz respeito às altas taxas de desemprego que se têm observado naquele país. O problema é que, em Portugal, não existem condições tecnológicas, nem de organização empresarial, que permitam conseguir a curto prazo níveis de produtividade média semelhantes aos da Espanha. A única maneira de se conseguir, entre nós, um nível de vida que não difira ainda mais da média europeia do que o actual, é manter altas proporções da população a trabalhar, enquanto não se atingirem níveis de produtividade mais satisfatórios. Tudo isto mostra como é fundamental para o futuro da economia portuguesa que a produtividade venha a progredir no futuro bastante mais depressa do que na última década. O equilíbrio externo Dos quatro indicadores de competitividade aqui apresentados, o mais alarmante é claramente o do equilíbrio externo. 20 Os défices da balança de transacções correntes foram baixos durante a primeira metade dos anos 90, mas a partir de 1996 começaram a aumentar vertiginosamente. No ano 2000, chegaram a quase 11% do PIB. E isso apesar das substanciais transferências financeiras recebidas dos Fundos Estruturais da União Europeia e das remessas de emigrantes, que ainda têm um peso substancial. Uma parte do agravamento do desequilíbrio externo ficou a dever-se ao encarecimento do preço do petróleo. A causa fundamental esteve, porém, na incapacidade de a produção nacional de bens e serviços transaccionáveis (preponderantemente da agricultura, da indústria e do turismo) acompanhar a respectiva procura. Estima-se, embora em termos muito grosseiros, que entre 1990 a 2000 a procura interna de bens transaccionáveis baixou de 50% para 45% do PIB, mas a parte da correspondente produção em relação ao mesmo produto caiu ainda mais, de 43% para 33%. Desse modo, o saldo negativo da balança de transacções de bens e serviços, que correspondia a 7% do PIB em 1990, tenha chegado a 12% em 2000. O que estes números significam é que o crescimento das produções agrícolas e industriais aumentou bastante menos que a procura interna dos mesmos produtos. No turismo, a evolução foi um pouco mais positiva, mas ficou longe de poder compensar as deficiências da oferta nacional das demais categorias de bens e serviços transaccionáveis. A evolução do sector das indústrias transformadoras é particularmente digna de nota. Faltam estatísticas dignas de suficiente confiança sobre o que terá sido essa evolução. Os dados mais acessíveis – os do Índice da Produção Industrial publicados pelo INE – indicam que o volume daquela produção estava em 1996 quase ao mesmo nível de 6 anos atrás; que ele aumentou depois 14% nos 2 anos de 1996 a 1998, graças sobretudo à entrada em funcionamento do projecto da Auto-Europa; e que estagnou por completo de 1998 a 2000. Estes resultados, se estiverem próximos da realidade, são alarmantes. Eles mostram que o sector das indústrias transformadoras portuguesas tem estado a perder competitividade em face da concorrência externa, nomeadamente no quadro da União Europeia. O progresso da produtividade do trabalho nesse sector – estimado em cerca de 4% ao ano, em média – foi conseguido basicamente à custa da redução dos efectivos da mão-de-obra utilizada. Estima-se, com efeito, (embora com dificuldades por causa de quebras nas séries estatísticas) que o emprego nas indústrias transformadoras caiu de 1,3 milhões de trabalhadores em 1990, para pouco mais de 1 milhão em 2000, ou seja uma redução em 10 anos da ordem dos 20%. As melhorias da produtividade assim conseguidas por uma via que não foi de forma alguma a mais desejável, ficaram todavia longe de assegurar uma competitividade adequada a muitos dos ramos da indústria nacional. E que os encargos salariais expressos em euros subiram muito mais depressa entre nós do que no conjunto da Zona Euro, sem que a diferença tenha podido ser compensada por um excesso igual do crescimento da produtividade portuguesa em relação à média da União Económica e Monetária. 21 Não admira, por isso, que as produções industriais em Portugal tenham merecido muito pouco interesse por parte dos investidores estrangeiros ou que os grandes grupos económicos nacionais pouco ou nada tenham procurado fazer pelo progresso industrial. Não admira também que as quotas de mercado de produtos portugueses nos principais países para onde se dirigem as nossas exportações tenham, segundo estimativas da OCDE de Dezembro de 2000, caído quase 8%, no conjunto dos 3 anos de l998, 1999 e 2000. As consequências da insuficiente competitividade Se a situação competitiva da indústria nacional nos anos mais recentes não for rapidamente melhorada, as perspectivas para a economia portuguesa a médio prazo serão extremamente sombrias. O endividamento externo não pode continuar a crescer indefinidamente. Mais tarde ou mais cedo, embora não se saiba quando, serão atingidos limites para esse endividamento que imporão reduções dos défices da balança de pagamentos correntes. A concretização de tais reduções implica que a oferta de bens e serviços transaccionáveis aumente mais do que a correspondente procura. Por outras palavras: para se chegar a uma situação sustentável a prazo nas contas externas, a produção de bens e serviços transaccionáveis terá de passar a aumentar mais depressa, ou então a procura interna desses bens e serviços terá de passar a subir mais devagar, podendo mesmo ter de cair. O fraco dinamismo e a insuficiente competitividade, que a indústria e a agricultura nacionais têm revelado em anos recentes, fazem recear que, a curto e a médio prazo, será muito difícil conseguir um crescimento muito mais acelerado nas produções desses sectores. É que, mesmo com muita determinação, as melhorias da competitividade não se conseguem de um dia para o outro, já que não é possível recorrer a ajustamentos das taxas de câmbio. Como os preços e os salários não são perfeitamente flexíveis, os aumentos da competitividade dependem, fundamentalmente, de modificações estruturais que só ao fim de bastantes anos produzem os resultados esperados. A curto e a médio prazo, é natural por isso que a via do reequilíbrio da balança de pagamentos correntes tenha de assentar essencialmente na travagem da produção interna, ou até na sua redução, se as condições forem especialmente desfavoráveis. A contenção da procura interna contribuirá para melhorar as contas externas, na medida em que reduzirá as importações, ou pelo menos o seu crescimento, e poderá levar alguns produtores que vendem os seus bens e serviços no mercado interno a procurar escoar parte das suas vendas através das exportações. O grande problema é que as reduções da mesma procura tem, ao mesmo tempo, efeitos negativos sobre a produção nacional de bens e serviços, quer transaccionáveis, quer não transaccionáveis. Os sectores que, como os da construção, do comércio e da banca, até aqui têm vivido com grande prosperidade, graças ao apoio que indirectamente lhes tem sido proporcionado pelos financiamentos externos à procura 22 interna, tenderão a ser ainda mais atingidos que os dos bens e serviços transaccionáveis. Os riscos de o desemprego se agravar em proporções perigosas são, desse modo, extremamente sérios. As únicas hipóteses de evitar um cenário tão pouco prometedor são: - que urgentemente se apliquem as medidas de reforço da competitividade, que mais depressa possam dar resultados, sem esquecer as que são indispensáveis numa perspectiva de mais longo prazo; - continuar a procurar obter financiamentos externos para a balança de pagamentos correntes, mas de forma mais controlada, o que implica a travagem significativa, embora na medida do possível gradual, da procura interna, nomeadamente através de reduções substanciais na despesa pública. Qualquer destas hipóteses são de execução extremamente difícil. Ambas encontram a resistência de poderosos interesses – empresariais, corporativos, políticos e outros – que têm estado a distorcer, em grande escala, o eficaz funcionamento da economia portuguesa. Nessas hipóteses poderá talvez conseguir-se a transição progressiva para uma situação de maior equilíbrio (soft landing), que aliás já começou a verificar-se, de forma ainda tímida, em 2001. Mas essa transição não evitaria afrouxamentos do crescimento do PIB, algum aumento do desemprego, dificuldades para um bom número de empresas e menores aumentos dos rendimentos dos agentes económicos. Poderá todavia esperarse que estas consequências negativas de uma transição gradual sejam mantidas dentro de limites moderados. Mesmo assim, como ela conduz a um cenário pouco favorável, é praticamente certo que ela seria ferozmente atacada, quer no plano político, quer pelos parceiros sociais, quer pela opinião pública em geral. O problema é que se não for possível conseguir o soft landing que pode ser proporcionado por uma solução desse tipo, em combinação com as medidas de reforço da competitividade referidas na primeira hipótese acima mencionada, não se descortina como será possível escapar a um hard landing que terá consequências verdadeiramente ameaçadoras e até aos riscos de uma estagnação duradoura do desenvolvimento da economia nacional e da sua convergência para a média europeia. 23 FACTORES DE COMPETITIVIDADE I. PRODUTIVIDADE 1.1 Qualidade da mão-de-obra - Níveis de formação escolar da população activa portuguesa - Insuficiências quantitativas e qualitativas nos sistemas de formação profissional - Aprendizagem ao longo da vida - Adaptabilidade dos trabalhadores para responder aos desafios da globalização, das novas tecnologias e da sociedade do conhecimento - Esquemas de reciclagem e de reemprego de trabalhadores afectados pelas mudanças. 1.2 Eficiência das empresas e da gestão - Pequena dimensão e fraca especialização das empresas - Deficiente formação dos gestores, nomeadamente em PMEs e insuficiente capacidade de adaptação às mudanças 1.3 Situação geográfica Contexto em que se desenvolve a actividade empresarial - Estabilidade macroeconómica - Legislação sobre empresas ou que as afectam em escala significativa - Regulamentações sectoriais - Sistema de justiça - Apoios e incentivos a actividades empresariais - A eficiência da Administração Pública e os problemas da burocracia 1.4 Progresso tecnológico - Despesas de R e D no Estado e nas Empresas - Incentivos à inovação - Imperativos das novas tecnologias e da sociedade do conhecimento 1.5 Infra-estruturas - Transportes - Energia - Comunicações 24 1.6 - A Administração Pública Influência da produtividade da Administração Pública sobre a produtividade do conjunto da economia II. PREÇOS DOS FACTORES PRODUTIVOS E INPUTS 2.1 Concorrência - A defesa e a promoção da concorrência - A iniciativa de Cardiff 2.2 Custos do trabalho - Salários - Regulamentações laborais - Encargos fiscais e não fiscais sobre os salários - Mobilidade geográfica dos trabalhadores entre funções, entre sectores e entre regiões 2.3 Incentivos ao trabalho e à criação de empregos Política fiscal e orçamental - Carga fiscal - Efeitos de impostos específicos sobre a competitividade III. COMPETITIVIDADE E COESÃO ECONÓMICA E SOCIAL 25 Intervenção do Presidente do ICEP, Dr. Luís Neto Introdução Dado que o ICEP Portugal, Instituto a que presido, cobre essencialmente quatro áreas, todas elas muito importantes no interface de Portugal com o exterior, a minha exposição abordará cada uma delas individualmente. Começarei por falar um pouco da balança comercial, essencialmente do lado das exportações. Em seguida, farei uma pequena análise daquilo que se passa em termos de pontos fortes e de pontos fracos na área do investimento estrangeiro. Cruzarei depois alguma informação e alguma visão sobre a evolução do sector do turismo que tem sido , aliás, pouco coberto na discussão pública sobre as matérias económicas de Portugal. Terminarei com uma quarta área horizontal à qual damos grande prioridade e que, infelizmente, não tem sido amplamente discutida nem tem merecido a importância que, na minha opinião pessoal e institucional, merece e que é a imagem de Portugal. A recente evolução da BTC em Portugal Em relação à balança comercial, eu pouco adiantaria. O deficit da balança comercial atingiu, no ano 2000, cerca de 11% do PIB o que constitui um máximo em relação à história recente de Portugal. O saldo da antiga balança de transacções correntes situouse, no mesmo ano, em 13,3%, um record praticamente ao mesmo nível. A boa notícia é que havia já em 2000 indícios claros, objectivos e subjectivos, que indicavam que esta situação se estava a inverter, apesar de tal ser insuficientemente tratado na imprensa da especialidade. Do agravamento, por exemplo, da balança comercial em 2000, cerca de 320 milhões de contos resultam directamente da balança do saldo líquido dos produtos energéticos, portanto, do aumento do preço do petróleo. E estamos a falar apenas no impacto directo, portanto subestimando impactos indirectos. O que leva praticamente a uma estabilização do saldo da balança comercial em 2000. Não vi este assunto tratado na nossa imprensa com a importância que ele tinha, pois sugere uma inversão de tendência que, aliás, o INE e o Banco de Portugal acabam de confirmar no primeiro trimestre deste ano, em que se verifica já, para o mesmo saldo da antiga balança de transacções correntes, uma diminuição com algum significado (cerca de 7,9%) do saldo global negativo registado face ao período homólogo de 2000. Obviamente que, em função da evolução de toda a economia interna do país, nomeadamente do abrandamento do consumo, estamos efectivamente numa fase em que, pelo menos, a problemática, que enche títulos dos jornais, do desequilíbrio externo pode, efectivamente, estar no limiar de uma alteração. O Investimento Directo Estrangeiro: evolução recente, pontos fortes e pontos fracos Como disse o Professor Silva Lopes, há várias maneiras de corrigir este deficit externo. Antes de entrar na área respeitante ao endividamento dos bancos, gostava de 26 vos falar um pouco no IDE, pois o IDE é uma das vias não só de cobertura ou de financiamento deste deficit estrutural da economia portuguesa, mas também um factor de competitividade e de inovação da economia portuguesa. O IDE teve um comportamento relativamente estável, relativamente optimista, até há cerca de três anos atrás. Entretanto, não têm sido anunciados projectos de IDE pois vivemos numa fase complicada que o Professor Maximiliano Martins poderá explicar. Trata-se de uma estrutura que não foi montada pelo Ministério da Economia de um dia para o outro, nem assim o poderia ter sido. Durante o ano 2000, muitas das intenções de investimento estrangeiro que buscavam neste país, como buscam em países concorrentes, incentivos de natureza financeira e de natureza fiscal, estiveram obviamente no pipeline. Havia primeiro que assentar, acabar, finalizar as negociações com Bruxelas. Havia depois que estabilizar toda a regulamentação das diversas medidas, processo que está muitíssimo adiantado, mas não completado devido à sua complexidade. E, em terceiro lugar, dar-se-ia a apresentação das candidaturas e sua análise. É nesse ponto que nos encontramos. O ano de 2000 foi um ano atípico no sentido de aprovação e contratualização de iniciativas de investimento estrangeiro. De facto, os projectos que foram aprovados em 2000 foram de pequena dimensão. No entanto, verificou-se no fim do ano, nomeadamente no último trimestre, uma aceleração com a aprovação de quatro projectos de investimento estrangeiro. Já foi anunciado publicamente que estamos em fase de análise de um volume significativo de investimento estrangeiro que será, provavelmente, anunciado e contratualizado no mês de Junho. Só para vos dar uma ideia, o investimento estrangeiro em 2000 terá significado a criação de 1000 postos de trabalho. Este investimento totalizou cerca de 45 a 50 milhões de contos e consistiu, essencialmente, em investimento produtivo, industrial ou na área de serviços. No último trimestre foi possível avançar com quatro projectos num total de treze milhões e meio de contos, dos quais dois corresponderam a novas entradas em Portugal de multinacionais estrangeiras. E estão, neste momento, em análise projectos que vão ser contratualizados em Junho no valor de cerca de oitenta milhões de contos, com a criação de 500 postos de trabalho. Nota-se, desde logo, um indício claro de que a política oficial não dá prioridade a investimentos de mão-de-obra intensiva. Estamos perante investimentos de capital intensivo, como se pode ver pelo ratio 80 milhões de contos face a 500 postos de trabalho, que se compara, por exemplo, com 45 milhões de contos do ano passado e a criação de 1000 postos de trabalho. Em relação ao investimento estrangeiro, gostava de dizer que a matéria é bastante complexa e quem se debate com estes problemas no terreno tem, obviamente, de alguma forma sistematizada essa matéria. Começaria pelos pontos fracos para a captação de IDE: Portugal tem uma localização geográfica periférica, factor que, obviamente, se constitui como factor negativo. A dimensão do mercado nacional é um problema estrutural também para quem olha para Portugal como localização de 27 investimento estrangeiro. A rigidez do sistema laboral, que tem sido várias vezes referido em público, é, também, um ponto fraco do nosso sistema. E temos aquilo a que eu chamaria uma burocracia ao nível da administração pública, que também é um problema estrutural em Portugal e que, eventualmente, poderá ter tido agravamentos recentes, nomeadamente ao nível da administração fiscal e ao nível do sistema judicial. Como pontos fortes para a captação de IDE, penso que Portugal tem, apesar de tudo, no seio da concorrência internacional, um bom sistema de incentivos financeiros e fiscais que não vou, obviamente, abordar em pormenor porque penso não ser de interesse e ser do conhecimento geral. Temos, apesar de tudo, um sistema de incentivos relativamente competitivo, com excepção de países em fase de pré-adesão, países emergentes, nomeadamente do centro e leste europeu que, beneficiando já de vantagens que lhes são concedidas pela União Europeia, não estão ainda sujeitos aos constrangimentos e aos limites na oferta de determinados benefícios. É público que alguns desses países oferecem benefícios fiscais ilimitados, por períodos de dez, quinze anos o que está vedado a um membro da União Europeia. É certo, também, que temos alguma flexibilidade na nossa mão-de-obra. A chamada capacidade de adaptação ou de improvisação que é característica do nosso povo e que, ao nível técnico, pode ser chamada de inteligência emocional é apontada, por alguns investidores no nosso país, como uma vantagem. A estabilidade é um dado adquirido por fazermos parte da União Económica e Monetária. Temos uma agência de investimento que funciona, pelo menos no passado recente, como one stop shop. Apesar do factor negativo que é a burocracia de algumas máquinas da administração pública em Portugal, a legislação que saiu e o modo como foi conduzida a criação desta one stop shop, permitiu ao investidor estrangeiro ter apenas um diálogo em Portugal com um Instituto, o ICEP Portugal. O investidor tem, em princípio, as suas pontes de ligação com a administração pública central, regional ou mesmo com entidades privadas, absolutamente facilitadas, evitando andar de instituto em instituto, como se passava no passado. Obviamente, que temos aqui uma série de oportunidades, mas temos também muitíssimas ameaças. De entre as oportunidades eu ressaltaria os custos laborais que ainda são competitivos face à União Europeia, o cluster automóvel – já aqui mencionado pelo Senhor Secretário de Estado –, as oportunidades no sector dos serviços que são, de facto, oportunidades efectivas e que estão a demonstrar alguma atractividade face ao investimento estrangeiro. Por último, referiria a oportunidade de exploração do mercado ibérico e tratando-o como mercado interno alargado, matéria sobre a qual voltarei a pronunciar-me no final desta intervenção. No campo das ameaças, temos uma forte concorrência da Europa de Leste e do Norte de África, nomeadamente nos sectores de mão-de-obra intensiva. É certo que o modelo que procuramos, faz com que a maior parte, por exemplo, do desinvestimento industrial em Portugal seja desinvestimento de mão-de-obra intensiva, pelo que, por aí, não nos devemos preocupar. Mas a verdade é que o alargamento da União Europeia está a criar um grupo de países com proximidade geográfica a países de excelência industrial, com 28 qualificação de mão-de-obra e com um grau de incentivos que podem afectar países extremamente periféricos como Portugal ou até países menos periféricos e mais fortes, como por exemplo, a vizinha Espanha. Outra ameaça é o decréscimo da taxa de desemprego e a falta de mão-de-obra especializada. Mais uma vez, estamos aqui com um problema, um constrangimento, na minha opinião, estrutural. Em termos de ranking internacional, situamo-nos bem ao nível da escolaridade mínima obrigatória ou ao nível da formação superior. O número de formados nas nossas universidades compara muito bem, em termos relativos, com a União Europeia e com outros países, nomeadamente europeus. Onde nós perdemos francamente é no ensino intermédio e na mão-de-obra especializada, com um certo grau de qualificação. Nesta matéria, estamos a concorrer com países que apresentam bastante melhores índices. Temos, para localizações industriais e localizações de serviços, uma oferta imobiliária pouco competitiva, pois é pouco diversificada, pouco desenvolvida e cara. As principais localizações em Portugal são, neste momento, caras, comparadas com outros centros, nomeadamente europeus. E temos, obviamente, uma concorrência internacional crescente e muitíssimo agressiva. Diria que o IDE tem sido incapaz, nesta fase, de ser, um vector significativo de alimentação e de financiamento do deficit estrutural da chamada BTC. Se os investimentos de carteira e os outros investimentos, nomeadamente os investimentos de bancos, sobram para cobrir este financiamento, não é só por aí que vamos resolver o assunto, e este tem sido resolvido, de facto, por endividamento dos bancos. Curiosamente, talvez devido à minha experiência ligada à banca na área internacional, gostava de dizer que entendo que a menos boa performance do investimento de carteira e o endividamento da banca estão, obviamente, ligados. Tem a ver com a inexistência, em Portugal, de um mercado de capitais forte. A opinião público-jornalística aponta como factor, por exemplo, a reforma fiscal e a criação de mais valias sobre a transacção de acções. Não me pronunciarei sobre isso. O que direi, até por experiência própria, – fiz parte do Conselho de Administração da Bolsa de Valores de Lisboa durante três anos, – é que as perspectivas de falta de competitividade da Bolsa de Valores de Lisboa e Porto e do mercado de capitais em Portugal era e é um problema estrutural e um problema de difícil ultrapassagem. Acresce que o fortíssimo consumo privado que tivemos em Portugal e o financiamento da expansão de grandes empresas portuguesas no estrangeiro está, essencialmente, assente no balanço dos bancos. Os bancos nacionais foram-se concentrando em vários grupos, buscando permanentemente a conquista de quota de mercado, introduzindo no seu activo créditos sobre empresas, muitas vezes com margens de intermediação abaixo das praticadas no mercado internacional, o que terá facilitado o acesso ao crédito. 29 O sucesso do turismo em Portugal Relativamente ao turismo, considero que este é um caso continuado, parece que estrutural, de sucesso no passado recente em Portugal, não justamente considerado, na minha opinião, pela imprensa. O sector de turismo pode ter um lugar importante a desempenhar em Portugal, pois apresenta factores de competitividade que são opostos a alguns factores negativos apontados para a indústria. No turismo, estamos já num modelo de crescimento diferente daquele que seguimos, por exemplo, no sector industrial. Indicaria, por exemplo, que existe uma política de turismo em Portugal e que essa política tem sido orientada não para o crescimento do número de turistas, mas sim para um salto qualitativo, em que o objectivo claro (e que está a ser conseguido nos últimos anos) é a diversificação e requalificação da oferta e o aumento das receitas de turismo. Só para dar um exemplo significativo, no ano 2000, o número de turistas entrados em Portugal aumentou uns meros 3,2%, o que é inferior à média mundial de 7,4%. No entanto, o nosso aumento de receitas oriundas do turismo, gastos directos dos turistas em Portugal, na hotelaria e não só, cresceram 16%, contra um crescimento a nível mundial de apenas 4,5%. Parece que estamos aqui no sentido correcto, pois não estamos a desenvolver uma política de turismo no sentido de um crescimento quantitativo que poderia levar, em Portugal, a rupturas na própria oferta, nas comunicações, etc. mas sim a apostar numa qualificação. A promoção turística, em perfeita articulação com a política da Secretaria de Estado do Turismo, tem consistido em fazer uma publicitação e uma promoção do turismo em Portugal, através da diversificação geográfica e temporal, da integração, da criação de novos produtos, o que, penso, que tem sido feito com sucesso. Um factor desconhecido da opinião pública é que Portugal, com a sua pequenez geográfica, é o 16º destino mundial em termos absolutos de turistas, o que eu penso ser uma boa posição no conjunto de cerca de duas centenas de nações. E mais, se compararmos o ratio número de turistas/população residente num país, Portugal apresenta, em 2000, um valor de 1.2, doze milhões de turistas para dez milhões de habitantes, o que nos coloca em 6º lugar no conjunto das nações. A imagem de marca de Portugal O problema do brand building, o problema da imagem e da marca Portugal prendese com a necessidade de criarmos uma marca abrangente. Portugal pertence a um universo de países que competem entre si para atrair investimento, turistas e promover as suas exportações. A concorrência é hoje absolutamente global em termos de unidades nacionais e a globalização, bem como a convergência política e económica que actualmente se verificam, aumentam a necessidade de um trabalho de marketing de nação, uma vez que diminui a diferenciação dos países, diluindo as especificidades de cada país. Obviamente que a globalização não diferencia e, nesse sentido, Portugal, cuja 30 marca retira normalmente valor aos produtos que oferece, tem que dar um salto qualitativo para, de facto, aumentar valor. A não gestão de uma marca é uma não cobertura de um risco, seja ele financeiro ou estratégico. A sua não gestão não implica que a marca não exista, mas sim que esta ande à deriva e que seja aquilo que, obviamente, terceiros países dela queiram intuir. Nesse sentido, entendo que jogar com a imagem de qualidade de Portugal, cobrir o gap que existe entre a imagem percebida de Portugal, na sua oferta e nas suas qualificações, e a realidade actual é um factor prioritário a que nós temos dado grande importância. A construção de uma pirâmide de valores, a construção de uma marca de Portugal é uma tarefa de médio prazo que já vem sendo feita há uns anos com o envolvimento de muitas das pessoas que, em Portugal, mais estão vocacionadas para esta matéria e considero-a como uma absoluta prioridade, porque tenho tido acesso e tenho conhecimento do que países bem europeus, como a Espanha e o Reino Unido estão a fazer, de forma intensíssima, nesta matéria. Considero que Portugal tem um problema grave, que também é estrutural, mas com uma agravante conjuntural muito grande ao nível do brand building e ao nível da imposição do seu nome como fonte de acrescento de valor à sua oferta, que consiste no facto da auto-estima interna ter níveis muito baixos. É muito difícil os agentes económicos portugueses, as empresas portuguesas ou mesmo um Ministério ou um Instituto que está de alguma forma a investir, a vender, a introduzir-se hoje nos mercados internacionais e a realizar acções externas, fazê-lo de uma forma convicta, eficiente e eficaz, quando na retaguarda o cenário a que se assiste é negativo. A discussão pública, a discussão jornalística, a discussão dos media e a discussão política que se verifica neste país, coloca-se a níveis substancialmente inferiores aos que se verificam noutros países da União Europeia. Tal faz diminuir a auto-estima dos portugueses de forma significativa e penso que Portugal só se pode impor no estrangeiro em todas as áreas, se houver um consenso nacional dos agentes económicos, dos agentes intelectuais, dos líderes de opinião, da própria comunicação social, a este nível. Geralmente, os valores positivos nunca são mencionados em detrimento dos valores negativos. Quando ocorrem alterações estruturais, os anteriores factores negativos deixam de aparecer nos jornais, passando a aparecer só os novos negativos que aí vêm, sem que qualquer melhoria seja mencionada. Obviamente que há sempre coisas negativas, mas o que não se observa é um diálogo construtivo, na praça pública e noutros forá, sobre estas matérias. Portugal não pode impor-se em determinadas matérias, não pode aumentar a sua competitividade face aos seus concorrentes externos, sem ter uma auto-estima interna forte e que se junte à volta de valores comuns que interessam a todos os portugueses, independentemente do seu posicionamento intelectual ou outro. 31 A relação com Espanha Acabaria, quanto a esta matéria por dar um exemplo concreto. Espanha é um parceiro irreversível para Portugal e o ICEP Portugal já trata Espanha como um mercado interno alargado. O modo ligeiro como é abordada a problemática de Espanha na nossa comunicação social ou por líderes de opinião, até por alguns empresários, fazendo a invocação permanente de valores históricos e de perigos, podem levar a um imobilismo perigoso por parte dos agentes económicos portugueses face a Espanha. O “escorregamento” da economia espanhola para Portugal, após a adesão simultânea à CEE, em 1986, é irreversível. É o chamado complexo de amputação que Saramago diz que Espanha tem em relação a Portugal, que se preenche imediatamente entrando as empresas espanholas rapidamente em Portugal e juntando mais uma região aos seus canais de distribuição. A reacção de uma menor economia, encostada a uma maior economia é mais difícil, daí as comparações públicas que se fazem: 3000 empresas espanholas em Portugal, contra 300 portuguesas em Espanha e o crescimento do deficit. Deficit esse, aliás, que parece também estar a atravessar uma nova fase do seu desenvolvimento, com algum abrandamento e mesmo estabilização. Estamos, claramente, numa segunda fase em que Portugal tem que se impor como parceiro não só da Espanha em si, como das regiões espanholas, como as empresas portuguesas têm que buscar parcerias e cooperação com empresas espanholas para desenvolvimento de oportunidades no mercado ibérico e nos mercados europeus, nomeadamente os mercados emergentes e futuros aderentes à União Europeia e em terceiros mercados, como na América Latina ou no Magrebe. O que não se pode ter é uma postura reactiva, negativa em relação a Espanha, nomeadamente por pessoas com responsabilidade, porque entendo que, nesta fase, um imobilismo e a criação de um atavismo em relação ao investimento em Espanha, parceria com empresas espanholas, etc., conduz a um desequilíbrio crescente do nosso relacionamento com a Espanha, esse sim será completamente inconveniente e muito estruturalmente gravoso para o futuro. 32 Debate 33 Senhor Henrique Neto* Os malefícios dos meios de comunicação Discordo de alguns aspectos, entre eles as referências aos malefícios dos meios de comunicação. É da história dos homens que quando não se gosta das mensagens se mata o mensageiro. Mas o mensageiro não tem culpa das mensagens e dos emissores das mensagens. De uma vez por todas acabemos com a história dos meios de comunicação e com a auto-estima dos portugueses. A auto-estima dos portugueses desenvolve-se com realidades e não com subjectividades. A primeira questão, relacionada com a auto-estima, é que só podemos resolver os problemas que realmente achamos que existem. Se, sistematicamente, passarmos a vida a negar as realidades e as evidências e os problemas existentes, nunca os poderemos resolver. Questões relativas à internacionalização A segunda questão tem a ver com a internacionalização e a questão da Espanha. O Senhor Secretário de Estado referiu que todos nós cometemos erros, mas há erros e erros. O Senhor Secretário de Estado também disse que a internacionalização é um instrumento – com o qual eu estou perfeitamente de acordo – mas é um instrumento para quê? E a política oficial do Estado de investimento no Brasil: foi feito um investimento para quê? Qual o seu resultado e quando se irá verificar? Actualmente, consideramos que tínhamos feito um erro e invertemos a óptica, começando a falar de exportação. Recordo que não se fala de exportação em Portugal, do ponto de vista político-social e pedagógico. Aquilo que mais me preocupa é o valor pedagógico das políticas, nos meios de comunicação, nos timings de comunicação. Mais recentemente, nomeadamente no ICEP, os jovens que eu conhecia, ferozes defensores da exportação, começaram a determinada altura a argumentar que Portugal é um grande investidor externo. A sua motivação para Portugal ser um investidor residia na facilidade: um técnico do ICEP chega a qualquer país e afirma que vem para investir e para fomentar o investimento nacional. E nós temos aqui gráficos que mostram quão bons nós somos no investimento externo, etc. Estamos a iludir um seríssimo problema nacional que é um problema de competitividade. Não estamos a atacar o problema real, estamo-nos a iludir e estamos, antipedagogicamente, a conduzir outros a irem num clima de facilidade. Agora porquê a Espanha? Temos que pensar é para o mundo, para o mercado global. Não tenho complexo algum em relação a Espanha, mas também não gostaria de ver dependências em relação a Espanha e o discurso oficial tem todas as probabilidades de criação de dependências. Acho que a Espanha é o nosso mercado natural, é um mercado * Texto não revisto pelo autor. 34 onde nós nos devemos bater com todas as nossas energias. No entanto, quando ainda outro dia fui a Espanha com o sector automóvel, aquilo que se procurava fazer era associações ou parcerias dado que, à partida, assumíamos que não tínhamos capacidade para vender em Espanha. Professor Doutor João Ferreira do Amaral* A necessidade de quantificar os objectivos relativos à exportação Gostaria de raciocinar em termos um pouco mais macroeconómicos, como fez, aliás, o Dr. Silva Lopes. Julgo que vale a pena ter uma noção do que é que significa, actualmente, em termos do desequilíbrio externo, a situação portuguesa e do esforço que é preciso fazer em termos de competitividade. Julgo que isso depois ajudará, eventualmente, à definição das políticas. Vamos supor que, de hoje em diante, as exportações aumentavam 10% ao ano, durante os próximos 10 anos. Isto pode parecer muito, mas o deficit externo não se reduziria significativamente porque uma parte substancial (mais de 50%) do aumento das exportações, dão origem a importações. Como há também toda a produção não transaccionável que decorre daí, não haveria uma grande melhoria em termos de deficit externo. De qualquer forma, assumamos que este era um objectivo posto em termos de política. A primeira questão que se punha era a de saber quais os sectores que poderiam exportar, isto é, como é que era possível desagregar as exportações em termos sectoriais e ver quais as oportunidades sectoriais. Julgo que este é um exercício que vale a pena fazer, supondo que provavelmente alguns sectores, nomeadamente o sector da fileira têxtil irá perder peso na exportação quer em termos relativos, quer em termos absolutos. Julgo que vale a pena fazer uma desagregação, em termos sectoriais, para ter uma ideia do tipo de actuações necessárias. Uma segunda questão era saber quem é que ia trabalhar nestas novas exportações. Se, por exemplo, admitíssemos uma produtividade de cerca de 5 vezes a média sectorial do país, isso implicaria mais 300.000 pessoas no sector de exportação. Não estou a dizer que tal não seja possível, mas simplesmente implicaria transferir pessoas de outros sectores, nomeadamente dos sectores não transaccionáveis para os sectores transaccionáveis. E isso levanta a questão de saber que estímulos é que se podem dar à actividade empresarial para, em vez de produzir não transaccionável, produzir transaccionável. O que é que fará, hoje, o empresário deixar de investir no comércio ou na construção? O que é que hoje um empresário tem como estímulo para isso? Serão suficientes os estímulos dados ao nível dos programas oficiais? Tenho fortíssimas dúvidas, dada a dimensão do problema, que os objectivos fossem atingidos. Uma terceira questão que seria preciso analisar, para saber se o objectivo seria exequível ou não, é a seguinte: que mercados é que poderão crescer, para * Texto não revisto pelo autor. 35 absorver duas vezes e meia mais as nossas exportações, daqui a dez anos? E isso também seria muito útil para se ver a intensidade das acções que seria necessário realizar. Portanto, a minha sugestão, é que se tentasse quantificar, em termos de política, os objectivos em relação à exportação porque, provavelmente, a correcção significativa do deficit, actualmente existente, implica objectivos cuja exequibilidade deve ser testada. Dr. João Salgueiro A performance portuguesa e a má gestão Levantou-se o problema da qualidade das estatísticas. Estas estatísticas portuguesas obviamente não são boas; mas suponho que a sua qualidade é uniformemente má, assim como a intenção de as melhorar é uniformemente boa. Acho muito perigoso classificar uns indicadores como piores que outros, especialmente quando eles se baseiam na mesma análise. As análises da produtividade agradam-nos menos do que as análises da convergência do PIB, mas a base de análise é rigorosamente a mesma, pois trata-se do produto dividido pelo número de pessoas. Apesar de tudo, a fiabilidade das estatísticas do emprego é melhor do que as do produto: é mais fácil contar cabeças do que contar o valor acrescentado. Mas imaginemos que as estatísticas eram de má qualidade e que a situação da produtividade não era tão preocupante. Mesmo assim, penso que não ficaríamos muito confortados pois as estatísticas noutros sectores (a que se chega por métodos diversos e que são até mais credíveis), como as da qualidade do ensino, dos indicadores de saúde ou da mortalidade nas estradas, são piores em Portugal do que noutros países e até são piores do que o PIB nos deixa perceber. Se chegássemos à conclusão que a nossa divergência em termos de produtividade não era tão grande, chegávamos à conclusão que o país está a ser ainda mais mal gerido do que nós imaginamos, uma vez que estamos a ter piores resultados ao nível dos sectores sociais e dos que revelam a maneira como se vive em Portugal. Parece-me que a situação é realmente preocupante e não vale a pena estarmos a fugir à realidade, apesar de haver uma tentação de considerar que as coisas não vão assim tão mal e que o tempo ajudará a resolvê-las. Não querendo dramatizar, acho que a actual situação tem semelhanças com a que vivíamos em 1971/72, em que o país tinha à vista um desafio que era alterar o padrão de relações coloniais e não foi capaz de o fazer. Sabemos o que isso representou. Actualmente, temos um desafio que é alterar o nosso padrão de vida e a maneira como nos organizamos, e não estamos a ser capazes de responder. Quando, por exemplo, dizemos que o nosso deficit agora não é o maior porque já foi maior em 1982, estamos a escamotear o essencial. Agora é realmente maior, porque em 1982 o peso do petróleo no deficit era duas vezes e meia maior do que é hoje, a dependência do petróleo e o nível dos preços eram ambos a desfavor e, além disso, não estávamos na União Europeia, com tudo que representa de contribuições para a nossa balança, nomeadamente em 36 termos de confiança, em termos de fundos estruturais, em termos da capacidade de atrair investimento, etc. Temos um quadro que é mais favorável agora e os resultados são comparavelmente piores. A situação de má gestão chegou a um ponto em que quando o Governo anuncia alguma iniciativa, assusta grande parte das pessoas. Normalmente, o anunciar de uma iniciativa tem o intuito de não resolver algum problema evidente e de fácil resolução mas simplesmente incómodo porque vai chocar com interesses. Normalmente, o Primeiro-Ministro aparece a anunciar uma grande medida – a paixão da Educação, a sociedade de informação, a net, ou outra coisa qualquer. Até já se anuncia a net para evitar encarar de frente a necessária reforma da administração pública. E esta campanha de investir em Espanha é de mau augúrio, no meu entender, porque se fosse sensata devia ter sido feita há uma ou duas dezenas de anos. Além disso, concentra-nos nos mercados a que temos acesso mais natural. A penetração em Espanha virá como acréscimo de uma estratégia de competitividade eficaz para as empresas. Não podemos estar a dizer aos portugueses que se concentrem no que é mais fácil. Ou quando há um problema elementar de literacia ou de não avaliação das escolas, falar nos benefícios de uma sociedade de informação, acho que é muito pouco credível. É preciso pegar nos problemas que existem e resolvê-los. Há vários mercados que estão de facto cartelizados; como não se querem resolver esses problemas, então fala-se numa outra questão. O sentido da minha intervenção era este: convém que nos situemos em relação aos problemas principais, com a agudeza que eles têm e não com álibis; e convém que vejamos que os problemas que têm que ser resolvidos, devem ser equacionados rigorosamente e não desfocar as atenções para outros. Dr. Mendonça Pinto Haverá justificação para o apoio público a investimentos de empresas portuguesas no exterior? O Dr. Silva Lopes começou por questionar se a competitividade era um problema de países ou de empresas. Queria deixar claro que eu partilho que é, claramente, também um problema dos países. Isso está patente mesmo na lista do Dr. Silva Lopes, quando está a reconhecer factores de competitividade nos factores de enquadramento que tem a ver, fundamentalmente, com a forma como funcionam as instituições de apoio ao desenvolvimento. Basta referir a atracção de investimento estrangeiro para ver que os países também têm aí um papel importante, havendo uma grande concorrência entre eles. Aliás, há um estudo recente, – do World Economic Forum – sobre a Competitividade das Nações que é um pouco preocupante para Portugal. Nos últimos três anos a posição da competitividade portuguesa caiu significativamente alguns lugares quando comparada com outros países. Isso sem descurar o problema da produtividade e acho que a distinção do Dr. Silva Lopes, entre sectores transaccionáveis e não transaccionáveis, é relevante para saber quando é que estamos perante um 37 problema de produtividade ou de competitividade, ou de ambos, que será a maior parte dos casos. Gostava agora de pedir ao Senhor Secretário de Estado para clarificar um pouco o que disse sobre a política voluntarista e de apoio directo à internacionalização de Portugal. É preciso saber do que é que estamos a falar. A internacionalização é uma via com dois sentidos. Em termos simples, podemos distinguir na internacionalização a promoção das exportações portuguesas e a atracção de investimento directo estrangeiro, que me parece altamente positivo, não só pelo contributo que dá para o problema do desequilíbrio externo, para a criação de postos de trabalho e para o aumento do produto. Onde tenho mais alguma dúvida é no apoio ao investimento de Portugal no exterior, que tem vindo a crescer ultimamente, tendo Portugal deixado de ser um país importador de capitais para ser um exportador líquido de capitais. É claro que esse investimento de empresas portuguesas pode ser para as apoiar no exterior e para, eventualmente, poderem exportar. Se assim for, liga-se com a primeira vertente e pode ser meritório, pode valer a pena apoiar. Mas pode haver também alguns investimentos de empresas portuguesas no exterior que são apenas justificáveis numa perspectiva estritamente empresarial, para as empresas melhorarem a sua base de sustentação, para serem eventualmente mais viáveis, em que os benefícios são fundamentalmente privados ou empresariais. Nesse caso, fará sentido dar incentivos e apoiar quando se sabe, também, que isso vai representar um peso no Orçamento de Estado? Como disse o Dr. Luís Neto, parte destes investimentos estão a ser financiados com crédito bancário interno, que por sua vez está a aumentar o endividamento, a curto prazo, dos bancos no exterior, que atinge já montantes mais ou menos preocupantes. Concluindo, dizer genericamente que se tem que apoiar a internacionalização é vago e pode não ser inteiramente correcto. O que pedia era se podia clarificar um pouco mais a política do Governo nesta matéria, de forma mais selectiva, porque também estou preocupado com o facto de haver pouco investimento directo estrangeiro em Portugal. Os 80 milhões de contos que anunciou parecem-me relativamente pouco e muitos dos pontos fortes e fracos que foram referidos não são novidades e há uns anos atrás o investimento vinha e agora não vem. Porquê? É capaz de ser necessário passar a uma análise um pouco mais fina. Dr. João Salgueiro Comparação entre o IDE em Portugal e noutros pequenos países europeus O Dr. Luís Neto tem elementos para comparar o investimento directo estrangeiro em Portugal, com os outros pequenos países europeus? O que está a acontecer nos países do centro da Europa e na Irlanda? 38 Dr. Luís Neto Comparação entre o IDE em Portugal e noutros pequenos países europeus É uma matéria que me preocupa porque nesta área uma das vertentes essenciais da nossa actuação é estarmos permanentemente ao corrente do que se passa com os concorrentes, quer ao nível da sua condução estratégica, quer ao nível dos efeitos. Mas, infelizmente, não disponho desses números com carácter satisfatório, neste momento. Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta A existência de capital de risco em Portugal O Senhor Secretário de Estado mencionou um aspecto relativo à dinamização do capital de risco, que é um aspecto muito importante quando tratamos destas questões. Por experiência, sei que o problema do capital de risco é um problema de saída e não de entrada. Não existe capital de risco em Portugal de forma efectiva, se não houver condições dos mercados financeiros para que a saída das empresas de capital de risco possa ser feita tendo em consideração as legítimas expectativas de quem o faz. Ora, eu gostava de saber como é que o Ministério da Economia está a equacionar este problema: se quer incentivar o capital de risco, como é que está a equacionar este problema com a situação da Bolsa e dos Mercados de Capitais. A hipótese de se fazer capital de risco em Portugal é cada vez menor e o capital de risco é, indiscutivelmente, uma alavanca importante no que disse. Dr. Luís Neto Discussão privada versus discussão pública Eu começaria logo pela primeira questão do Dr. Henrique Neto em relação à imprensa e à comunicação social. Longe de mim, defender a existência de uma nãoimprensa. O que disse é que obviamente os níveis de desequilíbrio externo têm que ser reconhecidos por toda a gente, – empresários, entidades públicas, governos, oposições, jornalistas, etc., – como preocupantes. Tecnicamente eles são preocupantes e devem ser discutidos. Não me parece que o grau ou o nível da discussão desses problemas seja o adequado, nomeadamente quando são tratados na praça pública. Quando são pessoas inteligentes e competentes, fazem-no muito bem em privado. Não me parece que, na praça pública, eles sejam bem tratados, nomeadamente quando são abordados por pessoas que pouco deles percebem. E aí, devo dizer que, também na comunicação social, há pessoas que pouco deles percebem. 39 A internacionalização e Espanha Em relação à Espanha, eu também não defendo uma exclusividade o que seria absolutamente inaceitável. Não penso que fosse essa a intenção do Senhor Primeiro Ministro quando falou do desígnio Espanha. Situando-se no mercado ibérico, estando perante uma maior economia, Portugal não pode deixar de conviver com Espanha de uma forma algo semelhante, – não digo tecnicamente igual – à que a Holanda se habituou a conviver com a Alemanha, ou o Canadá com os Estados Unidos, cada um com os seus modelos de desenvolvimento e com as suas interacções biunívocas. O que Portugal não pode fazer é esquecer Espanha. De modo nenhum eu defendo uma teoria exclusiva em relação a Espanha que, como é evidente, seria suicidária. A orientação do ICEP Pelo que conheço do ICEP, pode ter havido alguma tentativa no passado, de algumas estruturas de esquecer um bocadinho o core business da Instituição, que era exportar, atrair investimento estrangeiro, promover o turismo e a imagem. Começa, aliás, na segunda-feira, no Porto, o Fórum da Internacionalização – Exportar 2001, em que vamos trazer 20 delegados de todo o mundo (não há exclusividades para Espanha). Teremos trinta a quarenta oradores representando instituições e empresas privadas que, de uma forma ou de outra, colaboram no processo de exportação, desde transitários, seguradoras, bancos, tudo o que tem a ver com qualidade, Instituto da Qualidade, propriedade industrial, alfândegas, etc. Tudo o que se relaciona com a exportação estará lá, precisamente porque percebemos que a exportação, não pode deixar de ser um substrato importantíssimo da actividade do ICEP e, sobretudo, casa bem com o seu futuro estratégico que é um condutor, um indutor de informação estratégica para as empresas. Internacionalização e o Brasil Em relação ao Brasil, eu não me pronuncio: pessoas aqui presentes conhecem muito melhor a experiência de internacionalização no Brasil. Reflecti apenas sobre o impacto que isso teve no endividamento da banca portuguesa. Gostaria de dizer que me parece correcto qualquer política oficial, deste ou de outro Governo, defender que a internacionalização em força das empresas portuguesas não se concentre num país, seja ele qual for, especialmente se esse país estiver num continente como a América e, neste caso concreto, num sub-continente como a América Latina, muito atreito e muito sensível a ciclos, quer de desvalorização da moeda, quer a problemas económicos graves. Parece-me mal que, num país, se possa defender a teoria de que no futuro deveríamos estar concentrados num país. Todos os esforços de diversificação me parecem correctos. Parece-me que há oportunidades claras no Magrebe, há oportunidades claras noutros países da América Latina. O Centro e Leste Europeu tem 40 sido lido muito mais como uma ameaça, que é, do que como a oportunidade que também é, na minha opinião. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia, Professor Doutor Vítor Santos A política de internacionalização Relativamente à política de internacionalização, penso que as respostas terão que ser, tal como as questões, telegráficas. No que concerne à política de internacionalização do Governo, houve um balanço das iniciativas que foram tomadas anteriormente e houve uma refocalização de objectivos. Disse, e mantenho aquilo que disse, que a internacionalização não deve ser um objectivo, mas sim um instrumento. Quando se pensava nas políticas de internacionalização havia, basicamente, os seguintes vectores. Por um lado, aquele que é neste momento o vector essencial, havia uma grande focalização e uma forte concentração de esforços na atracção de investimento directo estrangeiro. O investimento estrangeiro não deve ser avaliado em quantidade, como por vezes acontece, mas sim pela sua qualidade. O investimento directo estrangeiro, quando tem natureza estruturante pode ser perspectivado como um bem público, pelas externalidades que gera a montante e a jusante. O melhor exemplo que podemos ter disso é o caso do sector automóvel: as externalidades positivas beneficiam não apenas as empresas fornecedoras, mas também os centros de saber, as infra-estruturas tecnológicas e o sistema nacional de inovação. Esta aposta mantém-se com uma postura cada vez mais pró-activa do próprio ICEP. Relativamente às outras dimensões da política de internacionalização fizemos um balanço da experiência recente e há, de facto, uma mudança de postura relativamente a outros vectores de intervenção ao nível da política de internacionalização. Naturalmente que é importante corrigir gaps que existem, de produtividade, de competitividade das empresas e há duas dimensões que continuam a ser importantes, embora não com a ênfase que, neste momento, atribuímos à atracção de investimento directo estrangeiro. Estou a pensar na deslocalização de segmentos produtivos de algumas empresas, que possam contribuir para assegurar a sua competitividade-custo. Trata-se de iniciativas empresariais que em muitos casos podem ter efeitos estruturantes em termos sectoriais, com reflexos positivos na dinamização da actividade económica. Justifica-se também que se faça alguma análise casuística relativamente a tudo aquilo que tenha a ver com a política comercial das empresas, associada à política de internacionalização. Um dos problemas das empresas portuguesas relaciona-se com a difusão generalizada de um modelo de concepção da actividade industrial reduzido ao núcleo central das actividades de transformação. Em consequência disso, a cadeia de valor está centrada no ciclo de produção, descurando-se, a montante, a inovação e a concepção do produto, e a jusante, 41 o marketing e a distribuição. Estes dois aspectos devem ser devidamente potenciados através da política pública, nomeadamente tudo aquilo que está a jusante da produção. E a internacionalização tem muito a ver com isso. O restabelecimento de filiais comerciais e a partilha de redes de distribuição podem ser, em determinados casos, iniciativas interessantes. A internacionalização e Espanha Uma questão que foi aqui suscitada é a questão de Espanha e também a questão do Brasil. Embora neste momento se faça uma aposta estratégica nas exportações para Espanha, tal não significa que não haja, embora de uma forma ponderada e contida e devidamente limitada, outros mercados estratégicos. Espanha, tal como no passado recente terá sido o Brasil, não é a nossa única aposta e isso já foi aqui muito claramente explicitado pelo Senhor Presidente do ICEP. Temos um problema com Espanha, que temos que superar e se não fomos capazes de o fazer até agora, teremos que ser capazes de o fazer no futuro. O nosso comércio interindustrial com Espanha é-nos claramente desfavorável. Um dos objectivos desta aposta em Espanha é transformar as nossas transacções em transacções do tipo intraindustrial, em detrimento daquilo que são hoje em dia e que se caracteriza, basicamente, pelo comércio interindustrial. Temos um perfil de especialização que é, claramente, diferente do espanhol. Os espanhóis têm grande facilidade em colocar os seus produtos no nosso país porque o nosso nível de especialização ainda é muito marcado, pelos sectores tradicionais – têxteis, vestuário e calçado, etc., – cujos produtos são dificilmente colocáveis em Espanha. Os produtos em que a economia espanhola é mais competitiva têm uma colocação mais fácil aqui em Portugal. O comércio interindustrial acaba por nos conduzir a uma situação de desequilíbrio, em termos de balança de mercadorias, no nosso relacionamento com Espanha e aquilo que há que fazer, apostando em políticas activas de internacionalização, em políticas de imagem, no reforço da nossa plataforma competitiva nacional e na alteração do nosso perfil de especialização. Estas actuações têm que ocorrer paralelamente. O nosso objectivo relativamente a Espanha é alterar a concentração que existe no relacionamento de tipo interindustrial, passando para um relacionamento do tipo intraindustrial, que seria muito mais vantajoso para a nossa economia e para as nossas empresas. Como tal, pensamos que faz sentido concentrar esforços, não apenas na política de imagem, nas chamadas políticas de internacionalização, mas também ao nível das políticas de competitividade que visam tornar mais competitivos e que visam alterar o nosso perfil de especialização. Naturalmente que reconhecemos como sendo uma evolução positiva, a emergência das cerâmicas e de alguns novos sectores, ou o papel relevante que tem vindo a assumir o cluster automóvel, mas quando falamos de alteração do perfil de especialização, estamos também a falar de outra coisa que é a manutenção dos mesmos sectores, mas com a concomitante ascensão na cadeia de valor, na pirâmide da qualidade. 42 Os efeitos de uma desvalorização competitiva São sempre análises muito lúcidas, aquelas que nos são propostas pelo Dr. Silva Lopes e a questão que esteve subjacente a toda a sua intervenção, foi a seguinte: vamos cortar na despesa ou vamos apostar na competitividade? A nossa resposta só pode ser uma: vamos apostar na competitividade. Naturalmente que há, reconhecemos, no nosso património comum, uma baixíssima taxa de desemprego e uma elevadíssima taxa de actividade, o que aparentemente para a economia e para as empresas talvez não seja tão bom quanto isso, pois acaba por ser uma restrição ao crescimento. Temos problemas ao nível do saldo da balança corrente, particularmente no saldo da balança de mercadorias, temos tido um crescimento puxado pelos sectores produtivos, com menor conteúdo de inovação e com mais baixa produtividade e estamos a ter uma taxa de crescimento da produtividade da indústria transformadora que tem sido menor do que a dos nossos parceiros comerciais. No fundo acabámos por ser alvo de um processo indirecto de desvalorização competitiva nos últimos anos, não induzido pela política pública, mas induzido exogenamente. A respeito da desvalorização competitiva lembro o debate que ocorreu no início dos anos 80, relativamente aos efeitos nefastos das desvalorizações competitivas. As desvalorizações competitivas têm efeitos nefastos sobre a eficiência do sistema produtivo, a eficiência das empresas. São um estímulo à ineficiência empresarial, na medida em que criam uma envolvente que é pouco exigente, sendo por isso penalizantes. Não podemos ter o melhor de dois mundos: por um lado, beneficiar da desvalorização competitiva e, por outro lado, não ter um clima envolvente que seja exigente e que permita que as nossas empresas avancem. Temos de saber optar e a nossa opção – do meu ponto de vista, correcta – foi por não podermos induzir processos do tipo desvalorização competitiva. O trade-off produtividade/desemprego Há outra coisa que foi aqui dita e que é polémica. O Senhor Professor Silva Lopes falou aqui de uma coisa que é extremamente importante e que todos nós reconhecemos: há claramente um trade-off, no curto prazo e não no longo prazo, entre desemprego e produtividade. Enfim, o que aconteceu é que houve um compromisso que a sociedade portuguesa escolheu (e digo a sociedade portuguesa porque este compromisso entre produtividade e desemprego tem alguma consistência intertemporal e não resulta das escolhas políticas dos governos, que conjunturalmente são apoiados por determinados partidos, sendo algo que se tem vindo a manter em Portugal nos últimos quinze anos) que tem suporte social, tem uma base social de apoio, porque tem consistência intertemporal. Agora, temos de saber se podemos alterar isto. Eu penso que a realidade acaba por se estar a impor um pouco por si e, por sua imposição, teremos provavelmente que alterar este compromisso. Não digo que tal seja consensual. É óbvio que tendo resultado de políticas e acções consensuais, desenvolvidas no sentido de 43 preservar este equilíbrio e este compromisso entre desemprego e produtividade, este compromisso radica nas preferências mais profundas da sociedade portuguesa. O sentido da mudança Do que aqui foi dito, há recomendações que apontam claramente para a mudança que penso que já está a ser devidamente incorporada. Por exemplo, penso que a estrutura que foi pensada e as inovações que foram introduzidas no Programa Operacional da Economia – POE (que começou a ser concebido há dois anos) revelam já algumas das preocupações que foram aqui devidamente explanadas. O POE e muitas das iniciativas referidas inicialmente, está agora a ser lançado e estas decisões vão ter impactos. Quando procuramos avaliar e estabelecer prioridades em termos de formulação de políticas, pensamos sempre em duas coisas, na intensidade do impacto e nas políticas que atingem mais rapidamente os objectivos: eficiência e eficácia. Algumas destas políticas e o facto destas preocupações já estarem a ser endogeneizadas na formulação de políticas, ainda não se reflectiram sobre a performance e o comportamento dos indicadores económicos. Mas estamos certos que isso vai acontecer, embora com os desfasamentos temporais que normalmente caracterizam as políticas estruturais. Retomando e sintetizando algumas das medidas que foram referidas anteriormente, quais são as principais alterações que estão a acontecer? A necessidade de reafectação de recursos a aplicações mais eficientes. Em termos empresariais significa, basicamente, que devemos procurar incentivar, estimular, novas ideias, novas iniciativas que sejam, de facto, inovadoras e portadoras de mudança. Na linha de algumas intervenções que foram feitas, tem havido, cada vez com mais intensidade, uma maior concentração de acções de política pública nos sectores produtores de bens transaccionáveis. A aposta na qualidade dos factores produtivos, a aposta na envolvente. No fundo, trata-se de identificar as acções de política pública que, desse ponto de vista, possam ser mais eficazes. Há, claramente, instrumentos que podem ser mais potenciadores de novas dinâmicas, mais potenciadores da competitividade e da produtividade, do que outros. Em termos mais concretos e pensando apenas nas políticas que são desenvolvidas no contexto do Ministério da Economia, temos os sistemas de incentivos. Os sistemas de incentivos são matéria muito polémica, sujeita a muito debate, havendo quem neles acredite e quem seja muito crítico da sua eficácia, mas o que é certo é que as propostas que foram feitas, foram muito bem acolhidas pelas empresas. Até ao momento presente, houve um conjunto de 16000 candidaturas que foram submetidas ao Plano Operacional da Economia e os investimentos que estão subjacentes a essas candidaturas são da ordem 1.7 mil milhões de contos. Tal significa que este instrumento corresponde às 44 necessidades e às expectativas das empresas. Vamos, naturalmente, ser selectivos no sentido de potenciar e de valorizar a qualidade do investimento. Ao falarmos da qualidade do investimento, não podíamos ignorar a qualidade da mão-de-obra. É uma aposta não apenas do Ministério da Economia, que tem sido feita em parceria com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade. Do nosso ponto de vista, o problema da economia portuguesa não é apenas de criar emprego, não é apenas de compatibilizar as qualificações que resultam da oferta do sistema formal de ensino com as necessidades do mercado de trabalho. A este nível, o que é importante é preparar as pessoas para a mudança. A aposta muito forte que é feita no Sistema Nacional de Inovação, que vem agora reforçada pelo PROINOV. Trata-se de uma matéria que será certamente retomada mais adiante pela Prof. Maria João Rodrigues. A simplificação administrativa é um factor essencial. Esse aspecto surge sempre como sendo uma das prioridades, um dos aspectos cimeiros na lista de preferências de áreas que devem ser corrigidas, no contexto da economia portuguesa. A utilização mais intensiva das novas tecnologias de informação, tudo aquilo que está a ser feito no sistema energético, são aspectos verdadeiramente estruturantes, não apenas nas opções, não apenas nos aspectos que têm a ver com a reestruturação empresarial, mas também nos aspectos que têm a ver com a liberalização, com a regulação. Penso que há aqui um conjunto de iniciativas que conduzem a novos caminhos. 45 2.ª Sessão 46 Intervenção do Senhor Henrique Neto A questão da competitividade da economia portuguesa deve ser vista no contexto da relação com os outros países ou regiões e não isoladamente. Se é verdade que, no plano social e no plano económico, Portugal progrediu muito depois do 25 de Abril, devemos considerar o facto de que os outros países não estiveram parados. E, neste contexto, a evolução da competitividade da economia portuguesa é preocupante, nomeadamente quando comparamos essa evolução com outros países, como a Irlanda, a Finlândia, a Holanda, a Espanha, a Hungria, a Coreia, Singapura. Para alterar positivamente esta situação e sem desconhecer que a competitividade das nações é o resultado da competitividade das suas empresas, devemos reconhecer que a acção do Estado tem sido o principal factor da baixa competitividade da economia portuguesa. Digamos que, sendo fácil reconhecer que as empresas portuguesas não adicionam suficiente competitividade à economia, é todavia certo que a acção do Estado contribui objectivamente para a sua redução. Alguns exemplos: - Ausência de liberdades públicas, condicionamento industrial e sistema educativo incipiente, antes do 25 de Abril; - Falta de estabilidade e clima de grande incerteza durante o período após o 25 de Abril; - Nacionalizações em 1975 e correspondente desorganização da economia, nomeadamente do sector produtivo; - Privilégio do sector financeiro, na fase da reconstrução (1985 a 1992) com juros muito elevados, níveis de intermediação financeira excessivos, valorização forçada da moeda nacional e limitações ao crédito externo; - Crescimento rápido da grande distribuição, sem medidas de substituição - ou incentivos à criação de empresas de intermediação – dos organismos de coordenação económica existentes antes do 25 de Abril, o que em presença da pulverização da oferta, abriu a porta às importações, nomeadamente do sector alimentar; - Fuga de grupos económicos no sector produtivo (agricultura, indústria, pescas), devido às condições mais favoráveis criadas pelo Estado e pela conjuntura aos sectores financeiro, distribuição, imobiliário e obras públicas; - Explosão escolar anárquica, nomeadamente no ensino universitário, além de negligente relativamente às necessidades do mercado de trabalho e sem a preocupação de desenvolver competências e comportamentos estratégicos. Erros de orientação e de gestão do sistema que provocaram a fuga de jovens aos cursos de engenharia e das ciências exactas em geral; - Abandono dos cursos profissionais existentes antes do 25 de Abril; 47 - Atraso no desenvolvimento do ensino politécnico e confusão entre o ensino politécnico e o universitário; - Chegada tardia a Portugal dos cursos de gestão e má qualidade da generalidade dos cursos existentes, ainda que com excepções honrosas; - Incentivos do Estado para a desorganização da economia, nomeadamente: • Estado mau pagador; • Estado mau regulador; • Estado mau cobrador de impostos; • Estado criador de dependências; • Justiça inoperante; • Indisciplina generalizada, nomeadamente no controlo dos fundos da União Europeia; • Clima de festa e de descontentamento, sem relação com a realidade nacional; - Coexistência do Estado, e mesmo interacção com os sectores mais conservadores e mais retrógrados da economia portuguesa, desde as empresas inviáveis à construção civil, da pulverização do comércio aos clubes de futebol; - Má qualidade dos serviços públicos e promiscuidade com os interesses privados; - Erros de política económica, com excesso de incentivos ao consumo; falso modelo de internacionalização da economia portuguesa (Brasil); abandono das políticas de incentivo à exportação; ausência de políticas activas de atracção do investimento estrangeiro; excessiva concentração temporal de obras públicas; - Inexistência de uma definição estratégica para a economia portuguesa e para o papel de Portugal no mundo, de que resulta, entre outras coisas, um consumo sem critério dos enormes recursos recebidos da União Europeia. Entretanto, para as pessoas cuja visão mais liberal da economia tenda a considerar excessiva a listagem feita e, principalmente, o papel do Estado na competitividade da economia portuguesa, recordo três factos: a) o papel que o Estado desempenha na sobrevivência de empresas obsoletas e inviáveis; b) o papel que o Estado desempenha na subordinação do movimento associativo e empresarial aos objectivos e interesses do Estado; c) o papel que o Estado desempenha na degradação dos níveis éticos e profissionais dos empresários portugueses. Em presença dessa realidade, tenho hoje a convicção profunda de que existem, na sociedade portuguesa, bloqueios ao progresso sustentado de Portugal, que são difíceis de ultrapassar sem uma participação responsável das elites nacionais. Sendo que a tarefa 48 mais urgente é saber por onde vai Portugal, onde a questão essencial é a definição estratégica, a exemplo, aliás de outros países entre os quais recordo o caso do Japão do final da guerra 1939-1945. (Fig. 1). 1946 “No futuro a tecnologia representará o papel principal na economia japonesa.” “O sentido principal da reconstrução da economia japonesa é na direcção da democratização da economia e na elevação dos níveis tecnológicos.” 1956 “O período do após guerra terminou” “O aumento do investimento através da inovação tecnológica será o elemento principal do crescimento económico.” Por outro lado, é falso que os países mais liberais do mundo, USA, Alemanha ou Coreia não possuam uma definição estratégica. Esta existe, frequentemente sob a forma da soma das estratégias dos grandes grupos económicos, cuja racionalidade económica e ligação a centros de debate estratégico garantem a coerência global de uma estratégia nacional, ainda que nem sempre expressa. Nesse contexto, é absolutamente essencial, como já dito, que aprofundemos o debate sobre o papel da economia portuguesa no mercado global, em que uma síntese estratégica deve assumir um papel relevante para que o debate possa ser mais fácil e suficientemente mais participado. (Fig. 2) 49 O desenvolvimento económico e social de Portugal, no contexto da União Europeia e da globalização, passa pelo desenvolvimento e modernização dos sectores de bens transaccionáveis, geradores de produtos desejáveis nos mercados externos, que privilegie a inovação e a diferença. O factor humano qualificado, culto e com a adequada formação científica, mais o acesso fácil, rápido e barato ao mundo através das comunicações e de transportes de última geração, são os recursos essenciais. O nosso atraso e dependência actuais relativamente à Europa, justifica relações privilegiadas da nossa economia e do nosso sistema científico e tecnológico com mercados e parceiros exigentes, nomeadamente os Estados Unidos e o Japão. Há algum tempo, para clarificar os conceitos sobre o que são sectores modernos da economia, durante uma visita de parlamentares europeus, escrevi uma pequena história que pretende ser um exemplo prático da estratégia preconizada. (Fig. 3) UMA HISTÓRIA EXEMPLAR Um cidadão francês, ou sueco, que queira comprar um bom fato, de que precisa com alguma urgência, dirige-se a uma cadeia de lojas chamada “Taylor”, onde o espera uma máquina em que as formas e as dimensões exactas do seu corpo são registadas tridimensionalmente. No monitor da máquina o cliente vê depois simular diferentes modelos de fatos e diversos tipos de fazendas, até se decidir sobre o que pretende. Minutos mais tarde, a informação assim registada na referida máquina, chega por via digital à fábrica de confecção localizada no Vale do Ave e pouco depois uma outra máquina pode cortar o tecido escolhido pelo cliente, com um rigor inimaginável para qualquer alfaiate humano. Segue-se a confecção propriamente dita e ao fim do dia o fato está pronto para ser enviado por uma das várias empresas de entregas rápidas que operam no mercado e o cliente recebe o fato no dia seguinte. Da próxima vez que o mesmo cliente necessitar de um outro fato já não precisará de sair de casa. Bastará telefonar, ou escolher o que pretende no terminal do seu computador. Recentemente, o Governo colocou na agenda política o objectivo da exportação, abandonando a versão anterior da internacionalização pela via do investimento no estrangeiro, o que é positivo, mas devemos compreender que a questão essencial é a 50 insuficiência de produtos ou serviços de origem nacional, desejáveis no exterior, sem o que esta decisão do Governo não terá consequências significativas. Assim sendo, defendo três vias práticas para enfrentar a questão da competitividade da economia portuguesa e a sua relação de troca com o exterior, no sentido da síntese estratégica definida anteriormente: 1. Política activa de atracção de investimento estrangeiro, nomeadamente de empresas integradoras. Trata-se de trazer o mercado dessas empresas para dentro do País, principalmente de produtos em fase madura, na medida em que os custos de entrada no mercado para as empresas portuguesas, são insustentáveis. 2. Fomento da cooperação entre empresas nacionais com vista ao desenvolvimento de produtos finais inovadores, desejáveis nos mercados externos, numa óptica de reforçar as cadeias de valor da economia portuguesa, clusters. 3. Planear o futuro dos apoios a Portugal da parte da União Europeia, para além de 2006, através da apresentação, em Bruxelas, de grandes projectos de interesse europeu, adequados às necessidades da sociedade europeia do futuro, que possam ser enquadrados nas chamadas tecnologias intermédias, ou seja, ao alcance das competências nacionais. Exemplos: rede de transporte ferroviário de alta velocidade, para passageiros e automóveis; rede de transporte de mercadorias por camião em plataformas sobre carris, com entradas e saídas simultâneas e laterais; sistema de transporte marítimo de costa de camiões de mercadorias; sistema de recolha e de aproveitamento económico de resíduos sólidos urbanos; sistema modular das infra-estruturas do subsolo das grandes cidades, etc. Estas propostas baseiam-se na convicção de que tudo o resto – sistema de ensino, sistema científico e tecnológico, mercado do trabalho, etc. – se transformará no sentido da sua modernização por força da orientação da procura. Em resumo: de acordo com a tradição, a cultura e a realidade nacionais, o papel do Estado é determinante na melhoria da competitividade da economia portuguesa. Assim sendo, a questão estratégica e a modernização do Estado devem ser objectivos essenciais das elites portuguesas. 51 Debate 52 Eng.º Luís Mira Amaral A importância de um enquadramento saudável à actividade empresarial A minha experiência governativa diz-me que as políticas sectoriais, designadamente o programa operacional da economia, só conseguem ter efeito se houver um enquadramento saudável e se, do ponto de vista jurídico, educativo e fiscal, se der o enquadramento favorável à actividade empresarial. Estes programas podem ser úteis, podem ser um complemento, a menos que se observem sinais perfeitamente adversos. O que se passa, por exemplo, com aquilo a que chamo de pseudo-reforma fiscal, é um exemplo exactamente ao contrário do saudável enquadramento que referi, dado que Portugal vai ficar à revelia do mercado de capitais europeu. Não há a preocupação de discutir o que vai acontecer quando taxamos um factor móvel como o capital e, como consequência, acabaremos por taxar o trabalhador por conta de outrem, pois é aquele que não foge, que não é móvel e que vai cá ficar. O sistema financeiro europeu ou os fundos europeus estão a afluir a Espanha, a fazer capital de risco privado, quer espanhol, quer estrangeiro, de facto com um boom espectacular, enquanto em Portugal corremos o risco de perder essa matéria. Outro aspecto relativo ao enquadramento tem a ver com o sistema de ensino. Chocame extremamente ver sinais perfeitamente perversos, por parte do Governo, quando não aceita serem publicados rankings de escolas melhores e piores. As pessoas e os sistemas só funcionam na base de prémios e de castigos, tendo que haver recompensas, méritos e deméritos. O igualitarismo não leva a lado nenhum. O que está a acontecer no ensino superior universitário é outra coisa que me choca extremamente: há uma corrida para se fazerem licenciaturas, mestrados, doutoramentos (formação para se ficar na waiting list para a classe política) mas não se forma gente para trabalhar, como quadros intermédios, nas empresas. E isto é altamente nefasto, perverso, por mais e melhores programas que se arranjem. Concordo com a questão da Auto Europa, no sentido de empresas empregadoras. Aliás, acho que o país pode estar em risco de perder a Auto Europa e eu acho até que necessitávamos de outro investimento do mesmo tipo, a seguir à Auto Europa. Estamos em risco de a indústria de componentes, que teve um surto interessante nessa matéria, com a Auto Europa, perder esse dinamismo, porque não se conseguiu outro investimento complementar à Auto Europa que era fundamental. A dinamização da sociedade portuguesa Há um aspecto que foi referido pelo Senhor Henrique Neto e que eu gostaria de salientar. Acho que, no projecto Porter, se conseguia motivar a sociedade. Primeiro, Porter falava em inglês e quando as coisas são ditas em inglês têm um impacto maior do que aquilo que se dizia em português. Segundo, porque aquela filosofia das task force e dos grupos pela acção podiam englobar aquilo que eu acho que é saudável como 53 possibilidade estratégica entre o Estado e o mercado para a competitividade, para jogar ao ataque. E, portanto, não posso estar mais de acordo com o Senhor Henrique Neto. Considero que foi um manifesto sectarismo político, terem acabado com o projecto Porter nesse sentido. Até porque tive extremo cuidado, à frente do Fórum para a Competitividade, de não ter partidarizado a questão, patrocinando uma pessoa que na altura era Vice-Presidente do partido da oposição, com grande ligação à indústria, o Prof. Bayão Horta, para presidente do Fórum para a Competitividade. Eu não vi o programa PROINOV, certamente será muito interessante, mas não vejo aqui essa capacidade de motivação e de dinamização da sociedade portuguesa que é necessário numa matéria destas. No modelo de hoje de uma economia de mercado, de sociedades abertas e de democracias, a gestão das respectivas motivações são muito importantes. Depois, o aspecto mecânico da qualidade técnica das medidas é útil e é complementar. Mas sem isto, eu acho que não vamos lá. Entretanto, a questão que eu ponho é que não vi, mesmo na sequência dos anúncios públicos e de iniciativa do Senhor Primeiro-Ministro, qualquer eco na sociedade portuguesa de uma motivação nesta matéria, que nos permita avançar. Não discuto se o cluster é bom ou mau, o modelo não é o que está em causa, mas sim a motivação que o projecto Porter conseguia e que não está actualmente feita. A concorrência no sector energético Terminava, discordando do que disse o Senhor Secretário de Estado numa matéria. É que considero que, no sistema energético – a meu ver – andou-se muito para trás, em termos de concorrência e de competitividade. Os sinais de liberalização e concorrência, porventura tímidos, ainda insuficientemente produzidos num sistema que, há uns anos, era de monopólios públicos, foram invertidos. Esta é uma matéria de extrema importância, não será certamente para discutir nesta mesa, mas é uma nota que gostaria de introduzir em manifesta discordância, em relação aquilo que o Senhor Secretário de Estado disse sobre a energia. Eng.º Rui Nogueira Simões* O sector da construção Gostaria de esclarecer alguns pontos relativos ao sector da construção civil, mencionado pelo Senhor Henrique Neto. O crescimento da facturação da construção é menos de metade do crescimento da mão-de-obra no sector. Relativamente aos acidentes de trabalho de que também falou, o Inspector-Geral do Trabalho afirmou que, se os acidentes de automóvel crescessem na * Texto não revisto pelo autor. 54 mesma proporção que os da construção civil, estaríamos actualmente com metade. Na construção civil cresceu o número de trabalhadores e diminuíram os acidentes. É fundamental que começássemos a ver este problema. Este sector tem trabalhado muito bem, está tecnologicamente muito mais evoluído do que se pensa e cumpre a sua missão neste país, facturando 5.000 milhões de contos, sem nunca ter sido apoiado através de subsídios. O que há a fazer com este sector, do qual se fala sem o conhecer? O país não pode progredir se este sector não trabalhar melhor e mais depressa. O país tem anos de atraso em relação a qualquer país civilizado da Europa. O mercado das rendas nunca foi actualizado, porque nunca ninguém o quis. Os Governos tiveram sempre medo de fazer qualquer coisa sobre isso. Nós gostaríamos, não que nos dessem subsídios, mas que nos tirassem a burocracia, que nos deixassem trabalhar. Agora até já temos um instituto que já vai em duas centenas de pessoas e, provavelmente, vai chegar aos milhares. Se se deixasse isto tudo, faríamos muito mais e melhor. Dr. João Salgueiro O sector bancário Não me parece verdade que a banca tenha beneficiado de condições excepcionais durante algum tempo. O que se passou, objectivamente, foi que as margens da banca, que eram da ordem dos 5%, são agora de menos de 2%. Mas, nessa altura, dois terços eram absorvidos pelo crédito mal parado, consequência de a banca estar a apoiar empresas que estavam em situação desastrosa. Podia ter-se sido mais selectivo, evidentemente e outros países teriam optado por provocar mais falências, o que talvez até nem fosse pior. Mas o que se passou não foi em benefício da banca, mas sim em benefício dos sectores que estavam em crise para evitar desemprego e falências generalizadas. Adicionalmente, o Banco de Portugal obrigava a manter reservas obrigatórias, não remuneradas, de 17% dos depósitos, o que obviamente alargava a margem. Mas isto era uma condição para o Estado se financiar barato e cobrar impostos por uma via mais fácil e, ao mesmo tempo, travar a espiral inflacionista. A banca é um dos poucos sectores que se modernizou e pode ficar a ideia que se modernizou em prejuízo dos outros. A razão por que se modernizou não foi por ter margens elevadas, porque, como expliquei, as margens foram consequência de políticas alheias. A razão por que se modernizou foi porque teve sempre uma atitude de tentar antecipar a mudança e não manter protecções ou praticar a caça ao subsídio. Não há memória no sector financeiro de alguém andar a caçar subsídios ou pedir adiamentos da concorrência. Os conflitos com o Governo têm sido sempre porque se pede que as mudanças sejam antecipadas e não o contrário, o que levou a uma procura sistemática dos melhores valores humanos, 55 através do recrutamento dos melhores alunos dos vários cursos, e de uma política maciça de investimento tecnológico. O sistema de pagamentos electrónico português é dos melhores da Europa. Tal não teve a ver com proteccionismo, mas, pelo contrário, teve a ver com o facto de se ter criado a tempo uma exigência de modernidade. A provar a existência de concorrência, verificamos que alguns bancos, mesmo estando todos nacionalizados, se tornaram inviáveis e desapareceram. O Banco Nacional Ultramarino, o Banco Fonsecas & Burnay, o Borges & Irmão, desapareceram porque não tinham viabilidade. Portanto, mesmo no sector público, houve concorrência o que noutros sectores, infelizmente, não aconteceu. Um sector pode modernizar-se, independentemente de estar em situação difícil ou não, desde que use uma estratégia adequada. Gostava de felicitar o Senhor Henrique Neto pela forma como enunciou o elenco dos problemas que a intervenção do Estado na economia tem criado ao sector empresarial. Penso que é um tipo de mentalidade que, infelizmente, é escasso entre nós. Quando aparece um problema, criamos um mito. No Congresso, o Primeiro-Ministro chamou mitos a realidades. Porque quando diz que a inflação, o desequilíbrio da balança de pagamentos ou o atraso da nossa economia são mitos, está a dizer o contrário do que devia dizer, porque são factos; e, em seguida, apresenta situações mitológicas para resolver alguns problemas. Obviamente, temos uma reconhecida falta de iniciativa empresarial, mas com o nosso enquadramento desfavorável, as consequências só podem ser tornar ainda mais precária essa já insuficiente iniciativa. Professora Doutora Maria João Rodrigues Três vias práticas para enfrentar a questão da competitividade Gostava de me reportar às três grandes prioridades avançadas pelo Sr. Henrique Neto, dizendo que é exactamente isso que se procura concretizar agora: 1) A alteração em matéria de política de internacionalização, dando uma prioridade mais vincada à frente de exportações e às exportações para mercados exigentes. 2) O relançamento de um trabalho em base de clusters. Estou de acordo com o que diz o Eng.º Mira Amaral porque justamente o processo em base de clusters é uma boa forma de fazermos as parcerias que permitem construir novos factores competitivos. Há aqui um problema de identificação de prioridades, de partilha de esforços e é uma priorização que, actualmente, é vital. Essa construção de parcerias em termos de prioridades mais claras, é absolutamente vital no ponto de encruzilhada em que nos encontramos. Aí é fundamental tirar partido da experiência anterior. 3) Finalmente, a apresentação de propostas de âmbito europeu. Se, de facto, queremos ser considerados membros do núcleo duro da Europa é um aspecto absolutamente vital, porque reforça a nossa capacidade negocial em todas as 56 outras frentes. Vimos isso na Agenda 2000: A estratégia seguida foi não nos limitarmos a reivindicar mais fundos para Portugal. Apresentámos uma proposta global de equação da negociação da Agenda 2000 que, na altura, era, um grande quebra-cabeças. O mesmo foi feito, recentemente, com a Cimeira de Lisboa, cujo objectivo foi preparar a Europa para ser uma economia baseada na inovação e no conhecimento, capaz de compatibilizar isso com mais e melhor emprego e coesão social. E é nessa triangulação que a Europa, eventualmente, poderá ir mais longe do que os Estados Unidos. Em qualquer caso, é um desafio que está por ganhar. Eng.º João Cravinho* Tratamento fiscal do agente que inova Suponho que um dos pontos fracos desta reforma recente é não ter abordado centralmente a questão do tratamento fiscal de quem investe e inova. Países como a Inglaterra e outros, dão lugar privilegiado ao tratamento fiscal da inovação e do investimento, no ponto de acção. Não estou a falar daquela velha conversa, que todos nós conhecemos, no sentido de se dizer que o que é preciso é que a Bolsa funcione. A Bolsa portuguesa é o que é e não vale a pena ter quaisquer ilusões. Agora, uma coisa diferente é o acesso dos portugueses a capitais, não necessariamente, exclusivamente pela Bolsa de Lisboa. O que está em causa é o tratamento fiscal, do ponto de vista do actor que investe e que inova. Dr. Fernando Marques A experiência irlandesa Por várias vezes o Senhor Henrique Neto referiu a experiência da Irlanda. Penso que a experiência da Irlanda não pode ser transposta para a situação portuguesa, pelo que gostaria que a pudesse aprofundar, nos aspectos que considera que são mais positivos do modelo irlandês. A Segurança Social e a concorrência desleal Concordo com a observação que foi feita sobre as situações de concorrência desleal derivada ao não pagamento pelas empresas à Segurança Social e aos impostos, e ao não cumprimento de normas de trabalho, etc. De facto, há distorções da concorrência. Gostaria de lembrar o que aconteceu com o chamado Plano Mateus. Disse-se que era a última oportunidade para as empresas regularizarem a sua situação face à Segurança Social e ao fisco. No fundo, verificou-se que não era a última oportunidade, era apenas mais uma oportunidade. Creio que o que se passou com o Plano Mateus é exemplar, * Texto não revisto pelo autor. 57 porque tem a ver com toda a realidade portuguesa. Nós fazemos bons diagnósticos, fazemos razoáveis programas, mas depois não há coragem para aplicar medidas. O que se passa aqui é o mesmo que se passa com a sinistralidade laboral, é o mesmo que se passa com a sinistralidade rodoviária, etc. A reforma fiscal Não vejo que seja viável no futuro, a não ser que queiram eliminar os sindicatos, por exemplo, que se procure basear o sistema fiscal apenas em contribuições sobre os trabalhadores por conta de outrem, isto é, aqueles que não podem fugir aos impostos. É urgente de facto fazer uma reforma fiscal porque esta situação é inviável. Dizer-se que o capital não pode ser taxado porque é móvel e que, portanto, têm de ser os trabalhadores a ser taxados porque não são móveis, não faz sentido. Senhor Henrique Neto* O sector da construção Gostaria de esclarecer o Eng.º Nogueira Simões que não tenho nada contra o sector da construção civil. É um sector muito importante da economia portuguesa que, diferentemente do sector financeiro ou do sector da distribuição, não aproveitou as condições particulares que teve para se modernizar. Em determinada altura dava-se, nas escolas de gestão, a questão de Sines como exemplo de como não devia ser feito um determinado projecto. Agora, o Metro do Porto pode ser dado como exemplo, em qualquer escola de gestão, de como não deve ser feito um projecto. O facto de, num espaço de trabalho que não é uma fábrica, mas é um estaleiro, não haver um responsável pelo que lá acontece mas sim dez responsáveis (a empresa consórcio e depois as hierarquias das empresas subcontratadas) é preocupante. Na grande generalidade dos acidentes de trabalho, as famílias não recebem compensação porque os tribunais não conseguem determinar quem é o responsável. Frequentemente diz-se que há revisões de preços porque não se sabia o que estava no subsolo. Mas, para isso, há estudos de engenharia. Enfim, há todo um conjunto de desculpas, que passam de empresa para empresa, de dono da obra para chefe de projecto, de chefe do projecto para os trabalhadores. O sector bancário A banca tornou-se um factor da competitividade da economia portuguesa e dos empresários portugueses, porque hoje temos crédito competitivo, em boas condições, temos ajuda na internacionalização, temos informações. Tanto a banca, como o sector * Texto não revisto pelo autor. 58 da grande distribuição, são hoje sectores competitivos da nossa economia. É só neste sentido que eu falo. A modernização de sectores tradicionais Ainda não consegui motivar os poderes públicos para fazerem um programa para a digitalização do corpo humano e produção de vestuário e calçado, com base em entregas individualizadas de produtos individualizados. São ideias facilmente praticáveis, para as quais há tecnologia, das quais dependem sectores estratégicos, no sentido de importantes para a competitividade da economia portuguesa. Porter acentuou que todos os sectores são passíveis de modernização, todos os sectores são passíveis de se tornar competitivos, mesmo os mais tradicionais, e, mesmo assim não há grande interesse. E, nesse sentido, acho que nos preocupamos com muitas coisas e não com o essencial. Benefícios fiscais para os agentes que inovam A questão fiscal no campo da inovação que o Eng.º Cravinho levantou já está, felizmente, bem tratada. A Agência de Inovação, com o Dr. Lino Fernandes e o Ministério da Ciência e Tecnologia, trabalharam nesse sentido. E está a acontecer uma coisa: as empresas portuguesas nunca pensaram que podiam, nas suas contas, individualizar as despesas de inovação e investigação. Na minha empresa não o fazíamos, mas a partir do momento em que a lei saiu – há coisa de um ano ou dois – passámos a fazê-lo, e, agora, já sabemos quanto é que gastamos. E as estatísticas da inovação vão melhorar, de certeza. Na minha empresa, garanto-vos que são reais os custos de inovação e, portanto, isso está a melhorar. A experiência irlandesa Quanto à Irlanda, lamento dizer que não tem nada de diferente de nós. Se tem, era para pior. Eu fui à Irlanda, a primeira vez há cerca de 35 anos a convite do ICEP, numa daquelas missões empresariais que se faziam, tendo sido recebido ICEP da Irlanda. Ficámos espantados com a determinação do ICEP da Irlanda, com a estratégia que tinham já nessa época: prioridade absoluta aos bens transaccionáveis ou, se quiserem, ao sector produtivo; prioridade absoluta à educação ao nível pré-escolar e secundário. Mas tiveram que apostar fortemente. Durante quinze anos andaram a apostar o dobro das despesas médias europeias, por jovem, em ensino secundário. Diz-se, muitas vezes, que os Estados Unidos foram lá investir. Mas fizeram-no por razões muito concretas, e que se devem a haver emigrantes. Mas, nós temos emigrantes em todo o lado e ainda não conseguimos fazer isso. A necessidade de uma orientação nacional Continuo a insistir que seja a síntese estratégica – que eu aqui proponho – seja outra, reconheçamos que tem que haver uma mensagem nacional, uma mensagem de direcção 59 e de sentido. Essa mensagem tem que ser lançada por alguém que tenha visibilidade pública: o centro normal destas coisas é o Estado, é o Primeiro-Ministro, são os Ministros. Ora, o que o Senhor Secretário de Estado, com todo o respeito, aqui nos fez hoje, foi uma listagem. Com certeza coerente, bem feita e bem pensada, mas o que é que nós levamos para casa, o que é que os portugueses, que ouvirem ou que leiam os jornais, retiram daquilo? É que há muitas coisas para fazer. Isto é que dá cabo da auto-estima nacional. É a partir de uma mensagem simples, consistente, coerente, que seja fácil de entender por toda a gente e que trace objectivos claros, que a auto-estima se pode desenvolver, com esses objectivos claros e não com o Euro 2004, que nos vai custar um dinheirão e não vai trazer grandes resultados, salvo erro. Quando defendo a prioridade às relações com os Estados Unidos e com o Japão, não estou a defender a fuga às nossas responsabilidades europeias. Estamos na Europa e temos que aproveitar todos os apoios da Europa. No entanto, temos que reconhecer que a Europa é um espaço conservador e que os novos produtos que vão surgir nos próximos dez, quinze anos, não serão oriundos da Europa, mas sim do Japão ou dos Estados Unidos. E se nós queremos dar saltos qualitativos, temos que acompanhar o nascimento das novas coisas que, não sabendo quais são, tenho pelo menos uma convicção de que sei donde elas vêm. Esta reflexão baseia-se um pouco na experiência vivida na indústria de moldes. A indústria nacional de moldes é, hoje, uma indústria relativamente interessante, porque nasceu nos Estados Unidos, porque criou o seu mercado nos anos sessenta nos Estados Unidos e conviveu com as tecnologias americanas e com os métodos de trabalho americanos. Mesmo nesses grandes projectos que referi, a parceria com os Estados Unidos é possível, até porque os Estados Unidos e o Japão têm necessidade de se integrarem na Europa. E Portugal não é periférico, – como disse o Senhor Secretário de Estado – está no centro do mapa, visto do ocidente, não do oriente. O problema é de comunicação e de transportes, por isso é que os recursos essenciais daquela estratégia, que eu preconizo, é a comunicação e são os transportes. 60 Intervenção do Professor Doutor Luís Valente de Oliveira Qual o benchmark relevante? Começaria pela questão da competitividade dos países ou das empresas. No relatório económico anual respeitante a 1997, a Comissão Europeia define o que considera como país competitivo em termos internacionais. De acordo com a CE têm que verificar-se, simultaneamente, as seguintes três condições: a sua produtividade aumentar a um ritmo semelhante ao dos seus principais parceiros comerciais com um nível de desenvolvimento comparável; tem de manter um equilíbrio externo, no quadro de uma economia aberta de mercado livre e deve manter um nível de emprego elevado. Ora, para Portugal, os principais parceiros são os países da União Europeia. Com efeito, 79,4% das nossas exportações vão para países da União Europeia (dados de 2000), sendo o principal destino a Espanha, seguida da Alemanha e da França. O mesmo se passa em termos de importações. É, naturalmente, de sublinhar o facto de a Espanha se ter tornado, com destaque, o nosso primeiro parceiro comercial. Os próprios países da União Europeia, têm-nos a nós e aos outros países europeus como parceiros, mas a União não está isolada no mundo, funcionando em circuito fechado. No quadro mundial tem de fazer face à concorrência que a todos é movida pelos Estados Unidos e pelo Japão e, em relação a muitos sectores, produtos ou serviços, por países como a China ou a Índia, para só mencionar os maiores e mais populosos. A competitividade é um conceito relativo. Não se é competitivo sozinho, havendo sempre um referencial para aferir. Para nós, como aliás para todos, os referenciais são mais ou menos directos. Competimos directamente com os nossos parceiros comerciais, mas também o fazemos indirectamente com outros parceiros, presentes ou potenciais, dos nossos parceiros, que nos podem substituir a todo o momento se não continuarmos a assegurar as vantagens comparativas de que dispomos num dado momento. A competitividade é, assim, um conceito relativo, na sua essência. Este facto conduznos a uma constatação óbvia: se não queremos ser surpreendidos por uma irradiação súbita do seio dos nossos parceiros comerciais temos de os ter a eles directamente, e indirectamente a outros parceiros seus, sob observação, nomeadamente no que respeita à sua produtividade. Citando Churchill, tal como nas relações internacionais, nas trocas comerciais não há amizades, mas interesses. Se outros produzirem a melhor preço, com melhor qualidade, com design mais apelativo ou oferecerem produtos ou serviços mais interessantes, descobrir-se-á que a fidelidade não existe. Há, assim, que possuir a informação relevante acerca de todos e praticar sistematicamente a comparação com os referenciais que interessam, ou seja, fazer o benchmarking. Estes referenciais não tem de ser, em todos os casos, os correspondentes às economias mais evoluídas, aliás, não há nenhum país que seja mais competitivo em relação a todos os produtos e a todos os serviços. Algumas vezes, isso tem a ver com os recursos próprios de cada um. Portugal 61 não pode oferecer, de modo competitivo, turismo de neve, nem a Suíça turismo de sol e praia. Outras vezes, há aptidões especiais dos seus recursos humanos: os indianos e os chineses são, de facto, bons em matemática e lógica e, por isso, bons no desenho de software. Há também tradições que potenciam a manutenção continuada na linha da frente, como ilustra o exemplo italiano de excelência no domínio da moda. Em muitos casos as barreiras são inultrapassáveis: em Portugal nunca haverá neve para praticar desportos de Inverno, em moldes que permitam concorrer com a Suíça. Nestes casos impõe-se a procura de outras alternativas, completamente diversas mas satisfazendo propósitos idênticos. Noutros casos, impõe-se a persistência. Em todos os casos é fundamental a observação permanente da produtividade dos outros e a prática sistemática do benchmarking. A produtividade tem de representar uma preocupação constante para as empresas, para cada departamento dentro de cada empresa e também para os serviços da administração pública, porque tudo concorre para a competitividade de um país. Não é suficiente a comparação com a média. A comparação tem sempre de se fazer em relação àqueles com quem queremos competir. Cito o exemplo de José Maria Aznar que, quando refere a Espanha, nunca a compara com a média europeia, mas sim com o máximo que pode comparar. Nós ficamos contentes com a média. Aqui, há uma diferença de estímulo que convém sublinhar. Há povos que fixam a fasquia junto aos melhores enquanto outros se contentam com uma situação facilmente ao seu alcance. Não admira que os primeiros sejam ganhadores frequentes ou sistemáticos e que os segundos fiquem em posição sempre modesta. Inovação incremental e inovação radical Em relação às empresas limitar-me-ei a sublinhar a importância de tenderem, em regime de permanência, à inovação incremental, que respeita fundamentalmente aos processos. Esta, garante a permanência no mercado, através de aumentos gradativos de produtividade, que permitem prolongar a viabilidade económica da actividade em causa. Ela decorre da preocupação de fazer sempre melhor do que os outros, indo buscar economias pequenas mas repetidas, ou melhorias de qualidade. Os seus protagonistas são os tecnólogos, os engenheiros, os investigadores ou os técnicos de produção que procuram incessantemente fazer melhor, ultrapassando problemas, aperfeiçoando técnicas, transferindo conhecimentos de outros ramos, que permitam economizar tempo, materiais, mão-de-obra, ou aperfeiçoar e melhorar a qualidade. A inovação incremental, que permite, na maior parte dos casos, continuar no mercado, representa um imperativo mas não conduz a alterações de fundo, características do surgimento de inovações radicais. Estas correspondem ao escorvamento, em novos produtos ou serviços, de um fluxo acumulado de conhecimentos e de competências. Produz-se uma descontinuidade que abre a porta a novos produtos ou serviços. Não é natural, contudo, que um salto desta natureza ocorra em ambientes em que não se pratica, como regra, a inovação incremental. Esta fornece o caldo de cultura no qual costumam ocorrer as inovações 62 radicais. Têm de se praticar todos os dias uns pequenos passos para que, de vez em quando, se assista a um que seja grande. Para nós, que temos uma tradição muito débil da realização de actividades de investigação e desenvolvimento dentro das empresas ou por elas encomendada, impõe-se uma acção multímoda a esse respeito. É necessário forçar a cooperação entre as empresas e os centros de investigação, apoiar a fixação de doutores, de mestres e de licenciados dentro das empresas, robustecer as instituições de charneira entre as universidades e as empresas, estimular a participação em projectos internacionais ou comunitários no domínio da investigação pré-competitiva como instrumento de indução de acções de investigação competitiva no seio das próprias empresas, desenvolver parques de ciência e tecnologia onde se cruzem interesses de empresários e de investigadores. Refiro, de passagem, o sucesso do Tagus Parque que, em boa hora, foi levado para diante. O objectivo geral é forçar a inovação incremental como preocupação sistemática na esperança de que, em alguns domínios, ocorram algumas inovações radicais de produtos ou de serviços para poder consolidar, durante algum tempo, a competitividade em relação ao que nos tornarmos aptos a oferecer. A história económica ensina-nos que não há situações monopolistas que sempre durem. Em alguns casos são as descobertas de novas jazidas de minérios, noutros a substituição de mineral, em certas situações é a moda que tudo muda e noutras, ainda, a alteração decorre do enquadramento político, ambiental, de segurança, etc. A única maneira de promover a permanência de vantagens comparativas é procurar e possuir as informações relevantes para poder estabelecer cotejos com situações de referência e para trocar a inovação incremental como método, perseguindo a inovação radical com aplicação. A importância da produtividade da administração pública Para a competitividade geral de uma cidade, de uma região ou de um país, conta muito a produtividade da sua administração pública. Na realidade, à competitividade importa muito o enquadramento das empresas e as diversas ordens de economias externas às empresas de que estas possam beneficiar, a fluidez das comunicações e dos transportes, a existência de instituições de formação profissional, de educação e de investigação, a disponibilidade de serviços complementares diversos. Mas, no âmbito desse enquadramento assumem relevância as relações com muitos órgãos públicos ou parapúblicos de que dependem as empresas. É fácil e rápido o processo de constituição de uma empresa? Ou a declaração da sua falência? As numerosas licenças de que uma empresa necessita para operar são obtidas com prontidão e diligência, seguindo regras de todos conhecidas? Ou a sua obtenção é emperrada e casuística? As ligações da água, do gás e da electricidade, da fibra óptica e dos esgotos são estabelecidas com rapidez? E as avarias resolvidas prontamente? As empresas não se instalam de uma forma autosuficiente numa ilha deserta. Elas localizam-se em zonas habitadas, onde desejavelmente dispõem de contingentes de mão-de-obra devidamente preparada e onde esperam que todos os serviços externos às próprias empresas sejam fornecidos, sem elas terem de se ocupar com isso de forma demorada e dispendiosa. Grande parte desses 63 complementos externos são da responsabilidade de órgãos da administração pública. Os que são da alçada de outras empresas inserem-se no âmbito das relações directas entre empresas e têm de ser avaliadas pelos gestores de todas elas, como condicionantes da sua operação. Mas as relações com as instâncias públicas afectam todas as empresas e são para estas unidireccionais: todas se viram para a administração pública. Há numerosos órgãos da administração local, regional e central que ainda não se aperceberam da importância da saúde da base económica do espaço sob sua jurisdição, senão mesmo para a sua sobrevivência. Adoptam, muitas vezes, uma atitude arrogante de quem dispõe do poder e de todo o tempo deste mundo, sem considerar o tempo e a fazenda dos outros. As queixas em relação à falta de sentido operacional da administração são comuns a muitas partes do mundo. Em alguns casos os investidores estrangeiros que querem aproveitar as vantagens comparativas expressivas de certas zonas (como custos de mão-de-obra, subsídios, recursos naturais) chegam a fazer provisões para a lubrificação da máquina administrativa com quem têm de lidar. Mas, esse tipo de relações é sempre muito instável, porque as empresas nessas circunstâncias costumam ter pressa em retirar os frutos esperados e o capital que investiram, não consolidando raízes nem contribuindo de modo seguro para um processo de desenvolvimento estável da região ou do país em que se localizam. A única maneira de assegurar a todas as empresas um ambiente de acolhimento propiciador de estabilidade e prosperidade corresponde, neste campo de relações com a administração, à generalização de uma reputação de eficiência e seriedade, demonstrando que todos estão cientes da importância da base económica para a manutenção e melhoria do nível e da qualidade de vida da população. Ora, isso impõe, também, na administração pública a preocupação com o benchmarking, com a inovação permanente e com a criação de uma imagem operacional dinâmica e muito responsável, que ajude a atrair o investimento produtivo e dê a segurança aos empreendedores de que não verão a sua actividade cerceada por qualquer forma de deseconomia externa. Tanto a inovação como a produtividade dependem de modo determinante da preparação dos recursos humanos. É a qualidade destes que se revela fulcral para assegurar que se está a conseguir fazer progressos contínuos em matéria de produtividade e a aproveitar todas as oportunidades para introduzir inovações. Trata-se de um domínio complexo, porque a educação e a formação não se limitam somente aos conhecimentos que se transmitem. É preciso começar por assegurar que todos têm capacidade para pensar, por sua conta e risco, para comunicar e para saber o seu lugar no tempo e no espaço. Posto isto, é necessário transmitir a cada profissional os conhecimentos de que ele precisa para exercer a sua actividade. Mas tem de se fazer isto na perspectiva da formação contínua que a obsolescência rápida das formações muito especializadas e que o progresso científico e tecnológico nos impõe. A preocupação com a aprendizagem recorrente tornou-se a regra. Ninguém aprende para toda a vida, todos têm de aprender todos os dias para não contraírem nenhuma das muitas formas de exclusão que nos espreitam a todos. Todavia, nem isso chega para garantir a uma sociedade ou, de uma forma mais restrita, a uma 64 economia a capacidade para se manter competitiva face aos seus parceiros comerciais habituais. O sistema educativo, as famílias e a sociedade em geral, devem contribuir para que os valores, as atitudes e os comportamentos, que se instalam numa larga maioria dos seus membros, estimulem a sua capacidade de iniciativa, o seu sentido de organização e a preocupação com o fazer bem. Qualquer destes três elementos representa um vector da competitividade. A capacidade de iniciativa é determinante do aproveitamento de todas as oportunidades para inovar e para empreender. Progredir-seá, assim, no modo como se faz, de forma que se acabará por criar riqueza e, simultaneamente, o emprego que assegurará a paz social indispensável para que o maior número se concentre na exploração dos caminhos inovadores e que evitará que um grande caudal de recursos materiais se tenha de orientar para a segurança social, antes o fazendo para o investimento. O sentido de organização é indispensável para optimizar a afectação daqueles meios e a preocupação com a excelência e com a perfeição do que se faz, e contribui para se alcançar a mais alta qualidade nos produtos e nos serviços que se oferecem. A educação e a formação representam uma aposta nas pessoas que tem de ser levada a cabo, estimulando o seu sentido de responsabilidade. O facilitismo, a ausência da prestação de contas, o aborrecimento do esforço, o repúdio das comparações e a ilusão de que outros hão-de cuidar de nós, contribuem, todos em conjunto, para a debilidade da sociedade. Isto vem a propósito, naturalmente, da avaliação das escolas e nas escolas. A competitividade de uma economia não é assegurada por nenhuns consultores estrangeiros que se contratem, repousando fundamentalmente nos seus agentes internos, empresários, empregados, professores e alunos, fornecedores e clientes, administradores públicos e funcionários, quadros e executantes. Por isso, são tão importantes a sua educação e formação e o seu comportamento no quadro do sistema que a todos integra. Outros mecanismos para assegurar a competitividade: regime cambial e regime fiscal Finalmente, há países em que é possível recorrer a mecanismos preguiçosos para assegurar a competitividade, durante uns tempos. Houve um período em que estes se praticaram em Portugal com carácter recorrente, nomeadamente a desvalorização da moeda. A integração no sistema monetário europeu impede-nos de lançar mão desse mecanismo ilusório, cuja validade vai sempre parar perto. Não estou a discutir o carácter súbito da aplicação, nem o carácter escalonado. A verdade é que este mecanismo foi aplicado e hoje já não pode ser. Para a competitividade ser consistente reclama esforço. É sempre de desconfiar dos mecanismos de aparente facilidade que acabam por sempre ter um preço. É evidente que o sistema fiscal e aquilo a que poderíamos chamar os regimes para-fiscais, têm a maior influência na competitividade. Um regime fiscal que desincentive o investimento, penaliza a criação de emprego, gera instabilidade social e faz ter de orientar para o domínio da segurança social meios mais avultados do que os aconselháveis, além de pôr 65 a prazo o problema da sua viabilidade. A definição do nível da carga fiscal suportável pelas empresas e propiciador do reinvestimento que estimula a sua produtividade e, por conseguinte, a sua capacidade para competir, representa um exercício de equilíbrio difícil. Existe uma relação entre essa carga fiscal e a capacidade ou vontade de investir, quer em novas actividades, quer na modernização das existentes, o que tem consequências evidentes sobre a competitividade das empresas. O trade-off produtividade-desemprego A preocupação com a criação de emprego e com a manutenção de um nível de desemprego baixo, tem a ver por um lado com a instabilidade social que o desemprego gera e com um estilo de vida de uma sociedade socialmente assistida e, por outro, com o volume de recursos que essa assistência reclama e que vem sempre da mesma fonte, que é o bolso dos contribuintes, sejam eles os indivíduos, as empresas ou os consumidores. Há, na Europa, uma tendência visível, especialmente no último quartel de século, para a substituição do trabalho por capital, como forma de estimular o aumento da produtividade. Ora, enquanto houver capital ou for possível atraí-lo, esse processo conduz efectivamente à melhoria da produtividade, mas, também, ao agravamento do desemprego. Nos Estados Unidos, ao contrário, tem-se apostado mais no progresso técnico e na inovação como forma de estimular a produtividade. Fomentando a inovação incremental e a inovação radical, a economia americana conseguiu, durante muito tempo, conciliar o recurso ao capital e ao trabalho, expandindo-os de forma paralela. De outro modo, o crescimento económico gerou emprego. É certo que muito dele é de nível modesto, mas há, também, muito que não o é. O aumento da produtividade por via do progresso técnico é socialmente muito mais atraente, embora reclame maiores esforços individuais e colectivos e economicamente muito mais sustentável, porque se cria mais riqueza susceptível de investimento e, por consequência, de mais emprego. A inovação como método parece ser, assim, o caminho mais acertado para estimular a competitividade sem cair nas muitas armadilhas e complicações que algumas das outras vias apresentam. 66 Intervenção do Professor Eng.º José Fernando José Pinto dos Santos Em que competem os países na “sociedade do conhecimento”? Estou muito contente por, nesta reunião, não estarmos a falar de dimensão como acontecia em anteriores reuniões deste género. Aí diagnosticava-se que o nosso problema era a dimensão. Precisávamos de ser grandes e de ter “núcleos duros”, o mercado era pequenino e as empresas eram pequeninas. Hoje em dia já não falamos disso, o que é, só por si, fantástico. Para mim, que há muitos anos luto pela qualidade e pela inovação, trata-se de um avanço enorme. Infelizmente, a qualidade parece ser um mito, havendo uma série de coisas de que nos devemos envergonhar. Acima de tudo, quem deve ter uma enorme vergonha são os dirigentes políticos de Portugal. Deviam ter vergonha por continuarem a dizer o que se deveria fazer, quando seria útil que se limitassem a dizer por que razão não conseguiram fazer aquilo que queriam fazer. O sector público – o funcionamento do Estado – é talvez o último sector de monopólio em Portugal (hoje em dia já não é propriamente um monopólio local porque uma parte já está em Bruxelas) em que a qualidade parece não interessar a não ser no discurso. A produtividade do sector público, dizem os especialistas, é baixíssima. Felizmente, hoje já não estamos a falar com teorias erradas, porque a teoria que baseava o nosso desenvolvimento na dimensão era uma teoria errada que correspondia a uma má compreensão da realidade. Falamos já das coisas que talvez sejam mais certas, como a qualidade e a inovação, mas continuamos a praticar outras, aparentemente sem vergonha. Nós, “as elites”, como dizia o Henrique Neto, não temos vergonha na cara e temos o descaramento de falar mesmo em gestão da imagem, que eu acho uma coisa absolutamente deliciosa. Os países não competem nos negócios como competem as empresas. Mas os países também competem. A minha primeira contribuição – que é um pouco “académica” – consiste em clarificar o que queremos dizer, quando referimos a competitividade de Portugal. Porque Portugal como país, como nação – os portugueses – compete, por exemplo, para a localização de certas actividades. Aliás, o que hoje observo é que até as cidades competem. Hoje em dia, Genève, por exemplo, dá subsídios para a instalação de actividades de investigação e desenvolvimento e dá subsídios parecidos com aqueles que nós, por exemplo, dávamos há uns anos para o estabelecimento no nosso país de fábricas. Portanto, as cidades e os países competem e a competitividade de um país deveria ser mais rigorosamente determinada. Estamos a falar de competitividade em quê? Na sociedade para que entramos, a que alguns chamam entre nós “sociedade do conhecimento”, o que parece determinante é a capacidade de desenvolver e atrair ou reter os talentos. E os países vão competir neste sentido. Aquilo que considero mais espantoso quando visito a Califórnia, quando visito o Silicon Valley – que é uma espécie 67 de versão actual daquilo que Manchester foi há cerca de século e meio – não é o facto de ver ali um aglomerado de determinadas actividades complementares , até porque isso já se via em Manchester, em 1850. Aquilo que é extraordinário é que uma parte importante dos empreendedores não são americanos, são indianos, tailandeses, chineses, franceses, italianos e até portugueses. A capacidade de empreendimento e de inovação tem como actores principais não-americanos. Porquê? Porque aquela zona atrai: as pessoas vão para lá como iam há muitos anos quando se procurava ouro no Oeste. É nesta capacidade de atracção que os países competem. Será que nós estamos a cuidar dessa capacidade de atrair e de reter os talentos, considerada como um factor muito importante na tal “sociedade do conhecimento”? A “sociedade do conhecimento” vai trazer uma série de problemas às teorias convencionais dominantes, o que acontece quando há alguma mudança no mundo. A necessidade de alterar os métodos Na “sociedade do conhecimento” as empresas vão ser mais pequenas e mais especializadas do que hoje. Quando digo mais pequenas, quero dizer que vão ter muito menos trabalhadores dedicados a tempo inteiro e vão ter activos fixos, de sua propriedade, em valor muito inferior ao actual, ao da sociedade dita “industrial”. Quando isto acontece nós temos que mudar o modo como medimos, por exemplo, a produtividade e o valor da produção porque todas estas medidas, bem como o país como unidade de análise, foram desenvolvidas e úteis durante uma certa época (a economia do tangível) e eu pergunto-me se continuarão a ser válidas na época seguinte (a economia do intangível). O país não é uma unidade de análise adequada na “sociedade de conhecimento”, porque o conhecimento não reside nos países, mas sim em locais bem mais pequenos que os países. Por exemplo, o conhecimento sobre programação de computadores na Índia, concentra-se em três ou quatro locais. E, portanto, se continuarmos a usar medidas que partem do princípio que o país é a unidade de análise mais relevante, estaremos a utilizar medidas com menos utilidade na acção. Continuamos a falar na produtividade média ou na balança de transacções, sem ao mesmo tempo termos, por exemplo, uma ideia das fases das cadeias de valor em que o país está a participar. Concluindo, algumas das unidades de análise e das medidas do passado, que nos guiam e orientam a nossa análise e a nossa acção, poderão ter que alterar-se. E isto tem a ver também com a competitividade do país. Saber se as empresas em Portugal são menos produtivas ou não do que noutros países ou se a mão-de-obra portuguesa é, em média, mais ou menos produtiva do que a francesa é muito pouco informativo. Seria preferível saber se as boas empresas portuguesas, aquelas que conseguem competir nos mercados internacionais, têm produtividade igual ou superior às boas empresas francesas similares. Defendo que saber como se compara a produtividade das empresas “más”, em Portugal, com as 68 empresas espanholas ou francesas é mais importante do que sabermos da média da produtividade ou da média dos custos. Conhecer a variância da produtividade ou a variância dos custos permite sermos capazes de responder, por exemplo, a estas perguntas: por que razão as empresas “más” continuam a sobreviver? Por que razão as empresas “boas” não se podem tornar ainda melhores? Isto, para mim, é muito mais importante do que discutirmos se a nossa média é mais baixa do que a outra média. Talvez possamos focar a nossa discussão da competitividade em problemas de método e não propriamente no conteúdo das coisas. O que é fantástico é que as acções contidas no programa “inovar para crescer, inovar para vencer” e, note-se que são só as principais, são dezassete. Isto quer dizer que ninguém as sabe de cor ou então será alguém que não tem mais nada que fazer senão saber de cor as acções principais do programa. Depois vi um documento chamado “Programa para consulta pública”. Estive a ver este documento e tenho a impressão que está aqui tudo, ou seja, não sei se poderíamos inventar alguma coisa para acrescentar. Isto poderia ser um plano de fomento do mundo, mas é apenas o programa integrado de apoio à inovação. Há também, aqui, um problema de método, no sentido de “quem faz o quê?”. Se nós queremos talvez aumentar a competitividade portuguesa, em vez de passarmos a vida a listar o que devemos fazer para promover o que é bom, talvez nos devêssemos entreter a listar o que devemos garantir que é eliminado, o que é uma coisa totalmente diferente. Isto é, em vez de afirmarmos “vamos promover a inovação”, por decreto, porque é que estes programas não têm apenas medidas que começam com a palavra “eliminar”? Não é assim porque se os programas fossem do estilo “eliminar ...”, era fácil verificar o seu cumprimento e, como nós temos dirigentes nacionais incompetentes, uma das coisas que os dirigentes incompetentes tendem sempre a fazer é ter objectivos e projectos que são muito difíceis de avaliar e cujo sucesso é praticamente impossível de assegurar. Gostaria era que fosse garantido que eram eliminados quaisquer subsídios a uma empresa que não pudesse demonstrar que era já inovadora, por exemplo. Depois, podemos discutir como é que uma empresa mostra que é inovadora. E se uma empresa não é já inovadora não recebe qualquer subsídio. Desta forma, estaremos a conseguir aumentar a capacidade de inovar em Portugal, garantindo que aquelas empresas que não inovam não são beneficiadas nem protegidas, antes mais facilmente eliminadas. A minha contribuição é dizer que a resposta a esta consulta, que foi feita aqui ao CES, seja a de discutir método e processo, começando desde logo por discutir o que é competitividade nacional – que não é competitividade das empresas. Um ambiente saudável é um ambiente com dificuldade Para terminar, queria apenas referir duas coisas, que têm agora a ver com o conteúdo das coisas que discutimos. Primeiro, um desabafo. Eu continuo a ficar, de certa forma, triste porque, apesar de hoje já não falarmos de “dimensão”, continuamos a falar de 69 “salários”. Como é que é possível perdermos tanta energia a discutir salários e se estes devem crescer 2,5% ou 3% ou 3,5%? Quando comecei a trabalhar aprendi, pouco a pouco, que talvez a principal causa do atraso enorme que nós tínhamos eram os baixos salários. Hoje em dia quase tenho pena de que em 1975 os salários não tivessem aumentado 3.000% porque, provavelmente, hoje já tínhamos uma economia muito mais sã. E nós podemos aumentar os salários, sendo outras coisas muito difíceis de fazer. Porque razão não decidimos, há anos, colocar os nossos salários ao nível europeu? Acabava-se, ao menos, a discussão dos salários e passávamos a discutir outras coisas interessantes (só me permiti dizer isto porque “não sei” economia...). Porque é que essas pessoas competentes, que lutam por coisas em que acreditam, não discutem a tecnologia que se usa, tecnologia no sentido amplo da palavra? Porque é que continuamos a discutir médias? As boas empresas não estão à espera de contratos colectivos para fixar os seus salários e, principalmente, fixar os salários das pessoas que contam. Os verdadeiramente preocupados com os salários são as empresas ineficientes, que não interessam absolutamente para nada. Portanto, devemos aumentar os salários. Os trabalhadores vão depois para o desemprego quando as empresas fecharem, mas irão encontrar outras empresas ou estabelecer as suas empresas. As empresas devem viver num ambiente saudável, e com certeza a principal característica de tal ambiente é a dificuldade. Em competição, a única característica que determina que o ambiente é saudável é a dificuldade. Devemos, por isso, garantir que o ambiente é difícil. Como? Subindo os salários, colocando os salários iguais à França e depois vamos ver, quem se aguenta, aguenta, quem não se aguenta, não se aguenta. Garanto-vos uma coisa, a inovação em Portugal aumentaria de forma extraordinária e não seria preciso o “Programa Integrado para a Inovação” para nada. A exigência do cliente enquanto factor de competitividade Quando falava de qualidade, há cerca de vinte anos, e tentava lutar pela qualidade e pela inovação, não percebia uma coisa que entretanto aprendi pela minha experiência e investigação. Na listagem dos factores de competitividade que temos aqui presente, falta, na minha opinião, o mais importante: a exigência do cliente. Este é um factor de competitividade e é um dos mais importantes factores de inovação. Hoje começamos a perceber o papel do cliente no processo de inovação. Sobre o papel do empreendedor e do cientista temos mais conhecimento do que sobre o papel do cliente. Por que razão é que nós temos hoje os ladrilhos do soalho do aeroporto de Lisboa partidos e sujos, quando gastámos milhões de contos a renovar aquelas instalações? Porque houve, provavelmente, quem projectou mal o tipo de material do novo soalho do aeroporto e quem aceitou o projecto, isto é, quem comprou o projecto, aceitou um projecto deficiente – o cliente não foi exigente. Depois, aquele projecto foi dado a uma empresa de construção civil que foi comprar os materiais. Provavelmente, os materiais que comprou têm especificações abaixo dos que estavam no projecto. Quem construiu e 70 montou o ladrilho, não recusou a obra, alegando a falta de qualidade do projecto ou do material. Isto, porque a empresa de construção não está preocupada em dizer “isto não tem qualidade, logo, não faço”. Os trabalhadores certamente têm muito pouca responsabilidade no assunto, mas os gestores têm muita responsabilidade no assunto. Temos de trabalhar no sentido de garantir que a exigência do cliente, em Portugal, aumenta dramaticamente. Por que é que sobem as importações de certos bens e serviços? Porque o consumidor português passou a poder de facto escolher – e escolhe os produtos estrangeiros. No entanto, há coisas que o consumidor não pode escolher e nessas temos que ter cuidado. Por exemplo, não pode escolher o Estado. Hoje em dia a situação é melhor do que no passado, porque hoje em dia quem não estiver bem, pode mudar-se com mais facilidade do que há trinta anos. Se a empresa não está bem porque o regime fiscal não é bom, pode lutar para que o regime fiscal mude ou sair daqui, mas não deve pedir um regime fiscal que lhe dê vantagem. Por que é que, hoje em dia, não temos que discutir as taxas de juro? Porque se a empresa portuguesa não consegue obter financiamento em Portugal, obtém no estrangeiro. A exigência do cliente torna-se muito mais objectiva quando o cliente pode escolher. Nos bens não transaccionáveis essa escolha é, às vezes, muito difícil, começando pelos bens públicos, pelos serviços do Estado. São esses que têm que nos preocupar em primeiro lugar. Como é que nós podemos garantir que somos, enquanto povo, mais exigentes? Não sei. Certamente não será com campanhas de imagem. Talvez no dia em que o Primeiro Ministro diga que tem vergonha de passar no aeroporto e talvez no dia em que o Primeiro Ministro mande mudar o soalho do aeroporto. Gostaria de terminar manifestando que teria que dedicar muitos anos a tentar perceber como é que isto se faz. Agora, o que já percebi é a importância da exigência do consumidor e do cliente neste processo todo e esta não está na lista dos factores de competitividade que nos apresentam. 71 Debate 72 Eng.º Luís Mira Amaral Consequências de um aumento drástico dos salários Tenho de discordar de algo que o Professor Pinto dos Santos referiu, citando uma coisa que aprendi no Instituto Superior Técnico, que é o princípio da continuidade da energia. Que significa isto? É que a realidade não evolui por descontinuidades, evolui por uma forma contínua. Isto significa que, em termos de políticas sociais, temos de ser reformistas e, portanto, em termos de salários, é totalmente irrealista pensar que, de um dia para o outro, passaremos para o nível dos salários europeus. Se assim fosse, teríamos uma situação de hiper inflação se não estivéssemos na União Monetária ou, estando na União Monetária, com taxas de câmbio fixas, teríamos uma situação de hiper-desemprego de um dia para o outro pois que o tecido social não aguentaria. O Professor Pinto dos Santos é realista quanto ao objectivo final, mas discordo da forma brusca que propõe para o atingir. O Ministro da Economia argentino, professor de economia, apresentou numa sessão do World Economic Forum as séries estatísticas desde 1830 e mostrou que os dois únicos períodos em que a Argentina progrediu, desenvolveu-se e teve indústria, foram os dois períodos em que teve estabilidade cambial, não teve oscilações da moeda. O primeiro Governo Menem introduziu a convertibilidade da moeda para a ligação ao dólar, para ter estabilidade cambial. No entanto, não teve tempo de, em seguida, fazer o segundo programa que era o programa de produtividade e de competitividade. E qual é o problema que a Argentina tem agora? Não tem a nossa sorte, está ligada ao dólar, tem os vizinhos brasileiros que desvalorizam, tem salários muito mais altos do que os brasileiros e, portanto, não vai conseguir aguentar-se, de facto com a situação que tem, de convertibilidade ao dólar. A nossa sorte é, estando na União Monetária, termos os fundos comunitários para nos aguentarem, e de facto temos uma situação diferente da Argentina. Mas isto mostra que não é com desvalorizações competitivas que se lá vai e aí estou de acordo com o que foi dito. A importância de um ambiente com dificuldades Gostaria, também, de dizer que é inteiramente verdade que uma empresa só evolui se estiver num ambiente competitivo. Devo dizer que, quando era Ministro do Trabalho, usava o seguinte truque: quando queria dizer algumas coisas mais neo-liberais ou mais anglo-saxónicas, citava políticos de esquerda, cobrindo-me à esquerda. Carlos Salchaga, Ministro das Finanças espanhol, dizia sempre que uma pessoa só é eficiente no posto de trabalho se tiver alguma insegurança nele. Sempre que queria dizer que tinha que haver alguma flexibilidade nos mercados de trabalho, citava este socialista espanhol para me cobrir à esquerda. Ao explicar isto numa reunião com o Eng.º Belmiro de Azevedo, este respondeu-me da seguinte forma: “agora já percebi porque é que vocês eram mais eficientes num Governo minoritário, do que são num Governo maioritário”. 73 Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta Quando falámos, há alguns meses, sobre a produtividade tive oportunidade de dizer que achava que estávamos numa situação assimptótica e que era indispensável pegarmos na assimptota e puxá-la para cima para termos outra mais alta, para nos colocarmos a outro nível. É evidente que a assimptota não vai para cima sem nós criarmos um clima de ambição, de inovação e de esforço. Não é por geração espontânea que se fazem esses movimentos contrários às leis da natureza e nada sobe sem esforço. As leis da física são inexoráveis. Por isso, a inovação é fundamental e não adianta muito fazer um text book com todos os aspectos que são necessários. Focarei três aspectos polémicos que acho essenciais para essa alteração qualitativa e conceptual. Realidades insofismáveis são, primeiro, que só o homem consegue inovar e, segundo, o homem não inova sem ter o enquadramento adequado para isso e a motivação para isso. Termo à subsídio-dependência Em primeiro lugar, acho que se devia acabar imediatamente com a subsídiodependência. Há que terminar com os programas de apoio às empresas por comprarem mais uma máquina ou por conseguirem certificar-se pela ISO 9002, ou ISO 14.000, ou poupar um Kw/H. Tudo isto tem de se conseguir todos os dias. Todos os programas que alimentam a subsídio-dependência são, na minha opinião, contrários ao que estamos aqui a falar. Esta situação deveria ser terminada rapidamente. Devia-se, em alternativa, proporcionar, por exemplo, incentivos fiscais em aspectos de formação profissional ou fomentando acordos complementares de empresas (ACE’s) para determinadas actividades, no IDE, etc. Não estou de acordo com o que Henrique Neto disse acerca dos incentivos fiscais, dentro da reforma fiscal. Esta foi predominantemente pensada no combate à evasão, que é importante, mas tomou-se essa parte pelo todo e a reforma fiscal é paupérrima na parte positiva que é preciso fazer. Aposta no capital humano Em segundo lugar, os fundos assim libertados deviam ser investidos nas pessoas. É indispensável dar às pessoas as capacidades habilitantes para elas poderem viver, vencer e progredir dentro das dificuldades. O nosso sistema educativo, é altamente deficitário em termos de qualidade. Felizmente, já não se fala no problema da quantidade. Há que fazer um grande esforço em pôr os fundos disponíveis nesta área, em vez de estar a espalhar por inúmeros programas e empresas. Isto teria, evidentemente, reflexos implícitos e explícitos. Certamente toda a gente conhece os explícitos, mas os implícitos são, por exemplo, o grau de exigência dos consumidores, ou a capacidade com que se encaram as diferentes fases da vida, é tudo. Esta acção devia ter uma componente de desafio às instituições de ensino, sobretudo secundário e politécnico, público e privado, para se candidatarem a apoios em determinados vectores da sua actuação. Por exemplo, 74 pôr algumas universidades a fazer cursos que não sejam de cinco anos de licenciatura, mas de três. É evidente que a promoção social do não-universitário é um aspecto fundamental da nossa sociedade. A ideia de que a pessoa tem o canudo ou não vale é muito limitativa. Por que é que não se faz uma lei do mecenato educativo, como se fez do mecenato cultural? Hoje em dia, a resposta cultural do País é completamente diferente da que era há uns anos e para tal a lei do mecenato cultural deu o seu contributo. Em resumo, a libertação de fundos da maneira tradicional de subsidiar cria esta anestesia e esta subsídio-dependência. Os fundos deviam ser usados na pessoa e nas Instituições que potenciam as suas capacidades porque a pessoa é que vai inovar, não é mais ninguém. Desenvolvimento das infra-estruturas físicas O terceiro aspecto é evidentemente a continuação do esforço de infra-estruturas físicas não só de transportes mas, também, noutras infra-estruturas funcionais, quer de comunicações, quer a energética. O que se fez recentemente na área energética foi um retrocesso significativo. Não tenho nenhuma esperança que a nossa infra-estrutura energética seja eficaz. Se se anular a concorrência, metendo tudo no mesmo saco, gás, electricidade, petróleo, etc., não vamos ter, certamente, uma situação eficaz e isso é um problema grave e limitador do nosso futuro. Resumindo, apostar na pessoa criando desafios, tratando o sistema educativo como produtor de bens transaccionáveis com competição entre eles, eliminar abruptamente a subsídio-dependência, manter obviamente o esforço de financiamento do Estado para atrair investimento estrangeiro, para determinados projectos considerados importantes, estruturantes, que não têm necessariamente que ser realizados por estrangeiros, manter o apoio do Estado à criação das infra-estruturas, principalmente emendando o erro energético, e indo para aquelas que têm sido negligenciadas e que são importantíssimas. O que se passa hoje nos nossos portos ou no transporte ferroviário, por exemplo, é insustentável. Dr. Fernando Marques Aumentos salariais como forma de estimular a inovação Apenas queria tranquilizar-vos: a CGTP não vai propor aumentos salariais de 400% e mesmo que propusesse só 40% imaginem o que diria o Governador do Banco de Portugal. A questão é saber se um nível mais elevado de salários não seria um estímulo para o desenvolvimento da inovação e, portanto, da produtividade. Não creio, que numa hipótese dessas, fosse absolutamente necessário cair-se no trade-off entre produtividade e desemprego. 75 Dr. José da Silva Lopes Subsídios fiscais ou subsídios financeiros Queria manifestar uma pequena discordância em relação ao Professor Bayão Horta porque ele, por um lado, afirma que devemos acabar com a subsídio-dependência mas, por outro lado, diz que devemos ter mais incentivos fiscais. Os incentivos fiscais também são uma forma de subsídios. Discute-se muito é se o Estado deve estimular as empresas com subsídios fiscais ou com subsídios financeiros. Pessoalmente, penso que os subsídios financeiros são preferíveis aos fiscais, são talvez de administração mais complicada, mas são mais transparentes, podem ser mais selectivos e ajustam-se mais directamente aos objectivos. Partilho a ideia que, infelizmente, hoje, o nosso aparelho empresarial está excessivamente dependente dos subsídios, havendo certos sectores onde parece que caçar o subsídio é mais importante do que produzir. Consequências de um aumento drástico dos salários Em relação ao problema dos salários que foi aqui posto, aquilo que disse o Senhor Professor Pinto dos Santos seria razoável se nós pudéssemos dar saltos de 200% na produtividade, de um dia para o outro. Mas, como disse o Eng.º Mira Amaral, infelizmente as coisas andam de maneira contínua e se a produtividade não aumentar e se aumentarem os salários, o que acontece é um aumento da taxa de desemprego. Eng.º João Bártolo A falta de exigência da sociedade portuguesa Eu confesso que entendi a apresentação do Prof. Pinto dos Santos como uma sucessão de metáforas para fundamentar a tese, que julgo que procurou desenvolver, de que o nosso problema é um problema cultural: de exigência. Subscrevo por inteiro essa tese. Julgo que, independentemente das medidas que possamos tomar à esquerda ou à direita, há um problema global, cultural para a sociedade portuguesa, de exigência. Quando falamos de inovação, obviamente que estamos a propor um método para ser exigentes e para atingir um objectivo de qualidade e de competitividade. Em qualquer caso, se ele não for escorvado numa atitude permanente de exigência em todos os níveis da sociedade, muito dificilmente a inovação vai acontecer. Penso, naturalmente, que é um exercício que tem que ser dinamizado pelas elites e, portanto, o facto de as elites se aperceberem dessa realidade é um primeiro passo. Mas é um processo que tem que ser assumido em termos sociais. E, portanto, temos que ter a eficácia de encontrar os mecanismos que consigam induzir, na sociedade, atitudes de exigência. Há sectores onde não é possível transformar, de um dia para o outro, uma cultura de “Português Suave” numa cultura exigente, em que o cidadão saiba exigir, em cada local onde está, o produto ao qual tem direito. Mas julgo que, se conseguirmos 76 identificar alguns vectores-chave de actuação para conseguir modificar este comportamento tradicional da sociedade portuguesa, estaremos a dar passos significativos em frente. E, se tivesse que eleger, entre todos, um sector para actuar, não teria nenhuma dúvida em que assestaria todas as minhas baterias no sector do ensino, porque é aí que se formam os cidadãos, é aí que a qualidade e o conhecimento podem ser inseminados, e a todos os níveis. Não teria nenhuma dúvida em o definir estrategicamente, para conseguirmos ter uma atitude e uma resposta diferente do país. Concentrar no ensino institucional, em primeiro lugar, fazendo uma reflexão profunda sobre a forma de converter a exigência num valor social. Nesse sentido, penso que a sua intervenção foi altamente estimulante e apontou o dedo para um aspecto fundamental da sociedade portuguesa que tem que ser substancialmente alterado se quisermos sair do pantanal cultural, de atitude e de vontade, em que nos encontramos neste momento, e me preocupa, também. Enfim, as boas notícias são que, enquanto a Tabaqueira foi portuguesa, manteve a marca Português Suave. Foi comprada pela Philip Morris e acabou o Português Suave. Pode ser que isso seja um bom sinal, em termos da internacionalização da economia portuguesa e do que, daí, possa resultar. Eng.º Rui Nogueira Simões* Racionalizar os institutos públicos Concordo perfeitamente com o Professor Bayão Horta nos três pontos que referiu. Pedia autorização para acrescentar mais um ponto: começar-se, desde já, a acabar com quatro Institutos por cada Conselho de Ministros, para que ao fim de um ano tivéssemos isto já quase direito. Eng.º Luís Mira Amaral Incentivos financeiros ou fiscais e as falhas de mercado Tive dez anos de experiência de incentivos, aliás, muitas vezes ou quase sempre em conjunto com o Professor Valente de Oliveira e a minha opinião sobre a matéria é a seguinte. Para a estrutura empresarial existente, os incentivos fiscais são mais líquidos de ineficiência, porque são dados a posteriori àqueles que tiveram lucros e têm um prémio sobre isso. O drama que tivemos com a gestão dos fundos comunitários é que o incentivo fiscal é uma despesa fiscal. Portanto, tínhamos fundos para incentivos e a Comunidade, pela burocracia de Bruxelas que não conseguíamos ultrapassar, não nos permitia comparticipar essa despesa fiscal implícita nos benefícios fiscais. Porque, se isso tivesse sido possível, teria acabado com muito incentivo financeiro e tinha passado para incentivos fiscais que, para mim, é muito mais líquido de ineficiência. Em todo o caso, o incentivo à criação de coisas novas tem que ser dado através de incentivos * Texto não revisto pelo autor. 77 financeiros, não podendo ser fiscal dado que não há lucros ainda. Desta forma, eu não seria tão radical como o Professor Bayão Horta. Não faz sentido na época do Euro, com taxas de juro europeias, as empresas portuguesas beneficiarem de incentivos públicos para apoio à compra de equipamento produtivo. Faz sentido nas chamadas falhas de mercado da vida económica, situações em que o mercado é míope, podermos dar um incentivo para ajudar as empresas a fazerem aquilo que o mercado espontaneamente não pode fazer. Portanto, nesses casos de falhas de mercado, em termos de teoria económica, aceito alguns incentivos. É só apenas nesse sentido que mudaria ligeiramente aquilo que disse. Terminava dizendo duas coisas. Primeiro, fala-se muito de ensino. Acho que há aqui uma grande preocupação de tempo, os nossos jovens cada vez sabem menos matemática e a matemática é essencial na economia digital. Não podemos ser competitivos sem matemática. O problema é que a matemática dá trabalho, tem que se estudar. Tributar o trabalho e não o capital? Não sou defensor de taxar a mão-de-obra. Afirmei que o caminho que o país está a percorrer conduz a que seja o trabalhador por conta de outrem, que irá pagar a factura. Considero que não é exclusivo da esquerda a consciência social. Não me choca nada pagar de IRS 40%, porque sou um privilegiado na sociedade portuguesa. O que me choca é que, de facto, o dinheiro que estou a pagar seja mal utilizado e não seja utilizado para ajudar aqueles que precisam e para desenvolver o país. Isto mostra a minha consciência social, sendo de centro-direita. Considero que na época em que estamos de liberdade de circulação de factores de produção, e a pseudo-reforma fiscal está-nos a conduzir a um processo em que não atraímos capitais a Portugal e em que o trabalhador por conta de outrem, por exigências do Estado, cada vez vai ser mais taxado para acorrer ao sorvedouro de dinheiros públicos que existe no Estado. Concordo com a CGTP, mas estou convencido que divergimos é na maneira de taxar o trabalhador por conta de outrem, porque temos modelos sociais diferentes. Eng.º João Cravinho* A exigência do Estado enquanto produtor e comprador Do que o Eng.º Pinto dos Santos disse, eu destacaria a questão da qualidade e da exigência do cliente, porque acho que, de facto, um dos grandes problemas que nós temos é que os nossos sistemas são movidos pela oferta. Por exemplo, os professores ensinam aquilo que sabem e não aquilo que os alunos precisam, criam-se cursos de mestrado, de doutoramento, de acordo com aquilo que o professor gosta de ensinar. * Texto não revisto pelo autor. 78 O Estado, em Portugal, como noutros países, tem um papel económico e social de que todos estamos conscientes. O Estado é péssimo comprador de serviços, porque compra mal, compra caro e, sobretudo, induz a existência de maus fornecedores para todo o sempre, que depois subsidia, directa ou indirectamente. Do ponto de vista da oferta de certos serviços, nomeadamente, por exemplo, educação ou saúde, como do ponto de vista da compra de bens e serviços no mercado, se o Estado tivesse uma exigência de qualidade e fosse ele próprio bom cliente e estivesse submetido à pressão dos clientes exigentes quando fornece seja lá o que for, isto mudava tudo. A questão é saber por que é que não muda. Os políticos, em geral, são endógenos e as suas intervenções são puramente endógenas. Portanto, por que é que isto não muda? Por que é que a educação é o que é, quando toda a gente sabe, pelo menos, como é que se deveria começar? Dr. João Salgueiro Erradicar ou encorajar? O Professor Pinto dos Santos referiu que lhe parecia ser mais útil haver um elenco de situações a erradicar do que situações a encorajar, pois as situações a erradicar são mais facilmente controláveis do que as situações a encorajar e, portanto, que a responsabilização dos proponentes dos programas pela positiva são mais diluídas. No essencial, penso que tem razão, mas quando olhamos para a realidade portuguesa, vemos que uma série de mudanças que são indispensáveis, urgentes e reconhecidamente aceites, não podem continuar a ser adiadas. E há outras que têm sido levadas a cabo e não correspondiam necessariamente a situações para erradicar. Por exemplo, quando Portugal negociou a entrada na Comunidade Económica Europeia foram assumidos diferentes compromissos, em dezasseis dossiers, que foram integralmente levados a cabo − tínhamos que introduzir o IVA, que liberalizar os movimentos de capitais, introduzir práticas de concorrência, defesa do consumidor, ou autorizar o investimento estrangeiro. Os dezasseis dossiers continham muitas medidas pela positiva. E foram todas cumpridas. Mais tarde, quando houve a decisão de aderir à moeda única, também tomámos numerosos compromissos. Neste caso tínhamos que desinflacionar a economia, que introduzir a capacidade de uma política monetária do mercado, em vez de ser administrada pelo Banco de Portugal, tínhamos que alterar os mecanismos do mercado de capitais, criar novos instrumentos financeiros. Tratava-se de um elenco muito pesado em que tivemos um bom desempenho, melhor que o da Espanha, Itália, da Grécia e, em alguns aspectos, até melhor que o da Alemanha. Porque é que houve tão bons resultados em algumas áreas até mais difíceis e exigentes, e noutros casos, por exemplo, o caso da Justiça, da Saúde, da Educação, da Reforma Administrativa, da Reforma Fiscal, se registam tão maus resultados? 79 Condições de sucesso: responsabilização dos agentes, programação e calendarização das medidas e, monitorização dos resultados Nestes casos em que houve sucesso estavam preenchidas várias condições que não estão presentes nos outros. Quando o Professor Pinto dos Santos refere que é mais facilmente controlável, tenho impressão que está aí o segredo. Nos dois casos em que assumimos compromissos internacionais, – e já tinha acontecido assim com o Fundo Monetário Internacional, em que os compromissos foram respeitados – os Governos tomaram e assumiram o ónus político de ser julgados pelos objectivos a que aderiam. No último caso, que foi o mais flagrante, assumiram perante o país o compromisso de estar no primeiro grupo de países que aderissem à Moeda Única. Isso foi um compromisso solene e os Governos iam ser julgados por conseguirem ou não conseguirem atingi-lo. Em relação à reforma da Justiça ou à reforma da Saúde, não há esse compromisso. Diz-se que há uma paixão; uma paixão pela Justiça ou pela Educação, ou outras coisas vagas. Esta é a primeira condição: um compromisso de ser julgado objectivamente. A segunda foi a tradução do objectivo num programa de medidas realistas. As negociações com a CEE já tinham concretizado um elenco de medidas; e o Banco de Portugal (com o apoio do Ministério das Finanças) foi capaz de traduzir o elenco de regras que era necessário alterar para aderirmos à Moeda Única, um elenco de medidas definido e calendarizado. Sabíamos em 1992 que, para aderir à Moeda Única, tínhamos que ter resultados finalizados em 1997, caso contrário não entraríamos. E, portanto, calendarizaram-se para aqueles cinco anos as medidas que eram necessárias. A terceira condição foi que os Governos prestaram contas, periodicamente, dos resultados que estavam a conseguir: como é que estava a evoluir a inflação, o que é que já se tinha feito para liberalizar o mercado de capitais, quais eram os progressos na consolidação bancária, e por aí adiante. Comum aos dois casos é a existência de um exercício de benchmarking efectivamente assumido. No caso da Moeda Única foi particularmente exigente, ao desejar estar na primeira linha desse processo, alinhando integralmente pelo maior desafio. Uma parte do problema que temos agora não é só do exercício de adiamento, mas também de uma completa desorientação da vida política. Porque esse benchmarking que, na prática, resultou do processo de integração europeia, mas que, de algum modo deu consistência à vida nacional, foi apresentado ao país como um grande objectivo: aderir à Comunidade Europeia e, posteriormente, aderir à Moeda Única. Actualmente, não há um grande objectivo. Há umas “fantasias” apresentadas, mas não convincentes. O único objectivo possível era o da convergência real ou o da competitividade, mas devidamente assumida e traduzida em factos. No entanto, esse benchmarking não está presente na vida das pessoas, nem estão a tirar as consequências. Considero que tem 80 toda a razão em insistir que há, no fundo, um exercício de responsabilização, eficaz nuns casos e ineficaz noutros. Mas penso que, também, se pode actuar pela positiva. Professora Doutora Maria João Rodrigues Benchmarking e convergêngia real Está a haver um progresso no método de benchmarking adoptado na União Europeia, na medida em que, neste momento, a União Europeia tem, para além do método conhecido de benchmarking relativo à convergência nominal, baseado nos indicadores que nós monitoramos constantemente, um benchmarking baseado em trinta e cinco indicadores de convergência real. Estes trinta e cinco indicadores foram os adoptados recentemente pela Cimeira Europeia de Nice. Baseiam-se na selecção de uma bateria muito mais vasta de indicadores, com cerca de cem indicadores, que cobrem mais em detalhe cada uma das áreas. O problema que se punha era fazer uma selecção politicamente relevante que merecesse a apreciação dos próprios líderes europeus. A selecção a que se chegou incide, para além dos indicadores económicos gerais, em quatro áreas: emprego, inovação e desenvolvimento, reforma económica e coesão social. Estas quatro áreas retratam, digamos assim, as prioridades estratégicas que foram adoptadas na Cimeira de Lisboa. Entre esses mais de cem indicadores que referi, estão também os indicadores do processo de Cardiff “Reformas Económicas”. É uma adopção muito recente, pelo que ainda é cedo para dizer quais os seus resultados. Neste momento, a União dispõe não só de uma monitoragem da convergência nominal, cujo dispositivo é bem conhecido, mas acaba justamente de adoptar um dispositivo de monitoragem da convergência real. Os anos recentes mostram que é exactamente nas áreas em que há compromissos externos assumidos pelo Estado Português, que nós temos verificado progressos mais evidentes. A questão reside em saber se este sistema de benchmarking que está em montagem vai produzir os mesmos resultados nas áreas novas em que se propõe incidir como, nomeadamente, política de educação, política de formação, política de empresa, política de investigação e desenvolvimento, política de inovação e, inclusive, política de reforma dos mercados financeiros. Será possível identificar, por comparação não só com a média europeia, mas justamente com os países mais avançados na União Europeia, as posições frágeis de Portugal. Em termos de estratégia nacional, teremos toda a vantagem em tirar partido da alavanca que advém dos nossos compromissos com a União Europeia porque isso temse mostrado extremamente produtivo. Em parte, a Cimeira de Lisboa foi utilizada deliberadamente para criar o enquadramento externo mais exigente. Tal trará possivelmente grande vantagem para um país como Portugal, porque a força da alavanca externa tem sido provada pela experiência dos anos anteriores. 81 Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos O papel do mercado e da competição para nos pôr à prova Julgo que há tradução portuguesa para benchmarking: avaliação por comparação com um padrão, ou calibre, ou pôr à prova. São tudo traduções possíveis de benchmarking, aliviando o discurso de termos em inglês. Estou totalmente de acordo com o que disse o Dr. João Salgueiro. A minha defesa de medidas negativas baseia-se no facto de serem mais fáceis de controlar internamente. Quando se fala das medidas que assumimos como, por exemplo, as medidas em relação à nossa adesão ou as medidas em relação à União Monetária Europeia, verdadeiramente não éramos nós que nos púnhamos à prova, nós éramos postos à prova por outrem. A metáfora de sermos “bons alunos”, é muito útil pois éramos bons alunos porque havia um professor, um mestre, que nos deixava passar (ou não) no exame. O problema é que, quando nos pomos, a nós próprios, à prova, temos habitualmente um problema. É por isso que defendo aquilo que defendo. O mercado ou a competição entre empresas são a forma mais eficaz que conhecemos de pôr à prova as empresas. Quando temos que inventar dezenas ou centenas de indicadores, quer isso dizer que temos uma qualquer dificuldade de ver uma forma mais simples e, habitualmente, aquelas que perduram são muito mais simples do que estas complicações técnicas. O mercado e a competição põem à prova muito bem. A nossa preocupação deve ser em termos daquilo que o mercado não consegue pôr à prova. É aí que eu julgo que nós deveríamos trabalhar, até porque, na “sociedade de conhecimento”, a distinção entre bem transaccionável e bem não transaccionável vai ser muito mais enriquecida. 82 3.º Sessão 83 Intervenção da Professora Doutora Maria João Rodrigues A União Europeia: benchmark e alavanca Considero mais salutar exactamente assumir o problema na sua amplitude e na sua gravidade e, portanto, gostava de referir que o diagnóstico apresentado pelo Professor Silva Lopes é utilíssimo, porque nos dá o retrato da amplitude do problema e nos serve de ponto de partida. O problema é basicamente este: estamos num novo regime económico, marcado por uma moeda única, que nos coloca perante a evidência de que a única forma sustentável e credível de elevarmos os nossos níveis de vida é a resolução de um problema estrutural de competitividade, sem mais subterfúgios ou soluções superficiais, como a política de desvalorização. Estamos, sem mais esses subterfúgios, perante um problema de como acelerar a mudança estrutural, de como construir novos factores competitivos. Sucede, justamente, que a União Europeia está, neste momento, dotada de um método de benchmarking que nos permite não só seguir um processo de convergência nominal, mas o processo de convergência real. É um método adoptado muito recentemente, pelo que ainda é muito cedo para se saber se vai ser eficaz. Mas, em qualquer caso, se tivermos em conta a lista de indicadores que foi agora distribuída verificamos que, aparentemente, o país está relativamente bem em matéria de taxas de emprego, embora esta seja uma situação algo ilusória, na medida em que sabemos que a base de sustentação é frágil e que a qualidade do emprego é baixa. Já na área da coesão social, o país tem problemas ainda marcantes ao nível das taxas de pobreza e da taxa de abandono escolar. Quanto às áreas de reforma económica tem uma situação desigual, estando próximo da média europeia em certos indicadores mas distante noutros. Onde se torna evidente a maior fragilidade é, exactamente, na zona chamada inovação. Observa-se que o lugar de Portugal é, de uma forma bastante sistemática, dos últimos da União Europeia num conjunto de indicadores que são chave, justamente, para uma dinâmica de inovação e de criação de outros factores competitivos. Devo dizer que é útil que nos possamos ver a este espelho para fazer uma medida das nossas fragilidades e das nossas insuficiências, que nos possa servir de acicate para a assunção de responsabilidades e capacidade de mudança ao nível interno. Sucede, ao mesmo tempo que, em termos de União Europeia, está neste momento em curso – com as dificuldades que são inerentes a uma certa fragilidade da liderança europeia – uma determinada estratégia de modernização económica e social. Gostava de aproveitar para dizer, embora se tenha a ideia de que a Cimeira Europeia de Lisboa aprovou apenas uma estratégia para a sociedade de informação, que na realidade o que foi aqui aprovado foi uma estratégia para a modernização económica e social da União, baseada na ideia chave de que a Europa tem que se preparar para a transição para uma economia baseada no conhecimento e na capacidade de inovação, fazendo-o de acordo com os valores próprios do projecto europeu. Tal traduz-se em três grandes apostas: i) políticas mais ambiciosas na área da sociedade de informação, mas também na área da 84 investigação e desenvolvimento, ii) reformas económicas que visam não só acelerar o mercado interno europeu, mas reforçar o potencial de crescimento da economia europeia à base da inovação e, finalmente, iii) uma atitude mais ousada em matéria de reforma do chamado modelo social europeu, com uma aposta mais clara na qualificação das pessoas, mas também uma activação do Estado de Providência europeu. Actualmente, por força dessas decisões, – isto não é ainda muito visível porque a cadeia de decisão, de facto é longa e demorada em termos da União Europeia – o que se está a verificar é que, por força desses compromissos, os Estados-membros estão a adaptar essas orientações, ao nível europeu, às suas próprias políticas nacionais. Num país como o nosso, o plano europeu para a sociedade de informação está hoje traduzido na chamada Iniciativa Internet, as políticas de investigação e desenvolvimento estão hoje já a ter uma tradução ao nível nacional e o plano nacional de emprego está consonante com a política europeia. O mesmo movimento está a verificar-se na área da educação ou da exclusão social, onde em breve serão apresentados planos nacionais de combate à exclusão social, em toda a União Europeia. Há, neste momento, um processo mais concertado de modernização económico-social embora com a preocupação de adaptar as políticas europeias às características de cada país. Naturalmente que, por exemplo, um plano de sociedade de informação para a Alemanha terá que ser necessariamente diferente daquele que nós teremos que aplicar aqui. Temos, hoje, uma alavanca externa, que é muito importante potenciar, justamente porque ela tem provado ser eficaz. Com as características de governabilidade do nosso país, esta alavanca externa tem-se revelado de uma importância muito particular e, portanto, deve ser potenciada expressamente. Se temos compromissos externos, há que concretizá-los, se temos um sistema de benchmarking que expõe as nossas fragilidades em termos de indicadores estatísticos, mais vale assumir o problema de frente e ver como lhe dar uma resposta. Portanto, neste momento estamos a viver este enquadramento, mas evidentemente que o desenvolvimento de um país depende de uma combinação bem montada entre essa alavanca externa e a alavanca interna. A alavanca interna depende daquilo que nós, que estamos a actuar a nível nacional, consigamos fazer. Ora, exactamente, no quadro deste raciocínio tornou-se absolutamente incontornável o assumir que a questão da produtividade tem que ser prioridade número um não só de qualquer Governo mas, na realidade, de toda a sociedade portuguesa. Há aqui um problema mais vasto que gostava de colocar no fim, que é um problema do que se chama, hoje, governação. Em que medida é que o sistema de governação do país, tal como ele está organizado, e entrando em conta com os vários actores-chave, está em condições de abrir uma trajectória de futuro e está em condições de afrontar, de forma eficaz, este problema de fundo que é a fragilidade competitiva da economia portuguesa? 85 O Programa Integrado de Apoio à Inovação Foi, de certa maneira, por essa razão que recentemente o Governo tomou a iniciativa de lançar este programa chamado PROINOV, Programa Integrado de Apoio à Inovação à consulta pública. Evidentemente que a competitividade é um fenómeno extremamente complexo, dependente de inúmeros factores, não se pretendendo com este programa dar uma resposta completa e cabal a essa diversidade de factores. Este programa está mais centrado na construção de factores qualitativos, factores dinâmicos de competitividade. Depois há muitos outros aspectos que, evidentemente, não devem ser subestimados e devem vir para cima da mesa. Trata-se de um programa que, na realidade, é transversal aos outros programas nacionais e, em particular, ao Quadro Comunitário de Apoio III. Deve ser visto como um processo de afinação de prioridades no quadro dos programas que já estão em curso e isto também pela simples razão de estarmos a jogar os últimos cartuchos em termos de apoios estruturais importantes provenientes da União. Independentemente do que possa ser a negociação do pós 2006, será certamente muito mais complexa do que foi a negociação da Agenda 2000. Estamos neste momento numa fase crítica de lançamento de um QCA III, que tem que ser conduzido com uma visão muito precisa de quais devem ser as apostas nacionais. O programa PROINOV visa, através de um trabalho conjunto entre o Governo e a sociedade civil, proceder a essa afinação mais precisa de quais devem ser as prioridades. Há que reconhecer em Portugal a existência de um deficit de factores qualitativos de competitividade e, para atacar esse deficit, tem que haver uma política consistente horizontal de apoio à inovação, entendendo nós inovação como a capacidade de criar ou incorporar novos conhecimentos na produção, com vista a aumentar o valor acrescentado, portanto, com um propósito claramente económico e competitivo. Um programa destes tem o seu foco nas empresas porque são elas o protagonistachave num programa desta natureza. Sucede, – e isto é uma das dificuldades que um programa destes terá certamente – que temos um tecido empresarial profundamente heterogéneo: empresas claramente internacionalizadas, perfeitamente informadas das tendências dos mercados, das tecnologias ao nível internacional, com capacidade de iniciativa ao nível internacional, são uma minoria que coexiste com a grande massa das empresas, que têm uma atitude mais passiva em relação à inovação, só o fazendo por uma necessidade premente de sobreviver, de imitar a concorrência. Muitas vezes inovam porque vem o equipamento e atrás do equipamento vêm novas rotinas de produção. E, no meio, começamos a ter um contingente de empresas que têm uma atitude um pouco mais activa, estão mais informadas, têm a preocupação de renovar regularmente a sua organização, a sua tecnologia, recorrem a consultoria mais actualizada, etc. Quando se diz “pôr o foco nas empresas” a política tem que ser modelada em função dos segmentos que vão ser tidos em conta nessa política de apoio à inovação. 86 As apostas chave do programa Em qualquer caso, há algumas apostas-chave neste Programa. A primeira é tirar o devido partido – e esse é hoje, um aspecto crucial para nós furarmos a nossa condição periférica – do que se pode fazer hoje em comércio electrónico, porque justamente, toda a economia internacional está a ser reorganizada em sua função. Hoje temos de ter um outro atlas à nossa frente que não é só o mapa-mundo, mas sim o atlas de quais são os market places decisivos, aqueles em que valerá a pena apostar do ponto de vista da tomada de posição de empresas portuguesas. Um outro aspecto, é a reorientação de política em matéria de internacionalização. Queria acrescentar que, para além da nova orientação em matéria de captação de investimento directo estrangeiro e aposta na exportação para mercados mais exigentes, há todo o problema de estimular o up-grading das empresas portuguesas nas cadeias internacionais. Vê-se isso, por exemplo, muito claramente no cluster automóvel. Outro aspecto-chave é o reforçar a capacidade de I&D nas empresas portuguesas, dando, ao mesmo tempo, a maior atenção a tudo que tem a ver com promoção da qualidade. Porque, como dizia o Professor Valente de Oliveira, temos que conseguir combinar muita inovação incremental com alguma ambição, também, de inovação radical. A inovação incremental é aquilo que está à medida da grande massa das nossas empresas, é pura e simplesmente fazer dinheiro, através de novos objectivos de qualidade. Isso implica mais acesso a informação e, outro aspecto que se tem revelado crucial é o acesso a consultoria de facto adaptada às necessidades das pequenas e médias empresas portuguesas, o que, como sabemos, tem muito que se lhe diga. Uma outra aposta importante nessa área é tudo o que tem a ver com empreendedorismo. Há uma enorme experiência de incubadoras a nível internacional. O nosso problema, aqui em Portugal, para além de conseguirmos incubadoras com maior taxa de sucesso, é colocarmos as incubadoras onde há melhores plataformas de recrutamento de gente qualificada, capaz de lançar empresas de conteúdo ou base tecnológica. Nada disto será possível se não houver reorientação em matéria de recursos humanos. Estamos a falar do calcanhar de Aquiles da sociedade portuguesa, é aqui o nosso ponto mais fraco: se queremos uma política de qualificação das pessoas para a inovação, isto implica – vou apenas citar três exemplos – reorientar as prioridades da formação ao ensino superior, confrontar as instituições do ensino superior com as responsabilidades que elas têm nesta matéria, fazer face ao deficit que é evidente hoje de qualificados ao nível médio – e é exactamente por isso que há a ideia dos certificados de especialização tecnológica, que deverão ser promovidos por uma diversidade de instituições – e, finalmente, a formação dos próprios empresários por modalidades que sejam acessíveis e que sejam compatíveis com a grande falta de tempo que, naturalmente, os empresários têm. A tudo soma-se a preocupação de responder a um problema mais profundo, que temos na sociedade portuguesa, que é o acesso da população a reais oportunidades de 87 aprendizagem ao longo da vida. Não vou desenvolver isso, mas como é sabido, o indicador de maior fragilidade de Portugal comparado com a Europa é, na minha opinião, exactamente este. Enquanto a maioria da população na Europa tem ensino secundário, a maioria da população em Portugal tem apenas ensino primário o que faz uma diferença radical, com repercussões sobre tudo o resto. Finalmente, uma nota sobre o problema das infra-estruturas. O problema é mais complexo do que a escolha certa em matéria da rede rodoviária ou de transporte ferroviário, porque tem a ver com a dimensão da logística. Não é possível fazer-se uma aposta no comércio electrónico se ela não for acompanhada de um enorme salto da capacidade logística da nossa rede de transportes, associada à rede de telecomunicações. Um outro aspecto-chave diz respeito ao acesso a novas fontes de financiamento e, aqui, temos vários problemas críticos, que, aliás, já foram referidos. Não temos ainda dispositivos de acesso ao capital de risco, nem de prática de acesso ao capital de risco. Mas, para além dessa questão temos ainda uma outra que me parece igualmente crucial: temos que, a pouco e pouco, evoluir de uma lógica de recurso ao subsídio, ao incentivo ao investimento, para uma lógica do empréstimo reembolsável. Esta é uma lógica bem mais saudável que, aliás, está mais consonante com as perspectivas que nos esperam no pós QCA III. Finalmente, todo o enquadramento regulamentar. Se há área em que se justifique um benchmarking muito preciso, é exactamente na simplificação da carga administrativa sobre as empresas que, evidentemente, é um obstáculo maior à capacidade de iniciativa. Um outro aspecto que gostaria de referir é que – e isto é um dos paradoxos da situação portuguesa – temos hoje uma rede de instituições de apoio à inovação que é relativamente diversificada, tendo o país feito um esforço nesse aspecto. Há toda uma panóplia de instituições que fazem a investigação, desenvolvimento e formação (centros tecnológicos, institutos de novas tecnologias, laboratórios públicos, instituições educativas) que compõem um sistema de inovação de um país mas que, no nosso caso, não funcionam como um sistema: os interfaces trabalham mal. A necessidade de trabalhar em parceria E, com isto, quero desembocar na última questão que gostaria de levantar para debate. Um problema central que temos, actualmente em Portugal, diz respeito exactamente à capacidade de trabalhar em parceria em torno de apostas e escolhas claras, com uma identificação clara de responsabilidades. É exactamente por isso que se está a preparar o desenvolvimento deste programa. Não só na óptica clássica de aplicar acção por acção e medida por medida, mas também na óptica à base de clusters, na medida em que o cluster permite, de uma forma mais concertada entre empresas, instituições de ensino, formação, de I&D, identificar quais são os problemas competitivos de um determinado cluster, quais devem ser as prioridades e construir em conjunto novos factores competitivos, novas competências a partir daquelas que já temos. 88 Vou apenas ilustrar com três ou quatro exemplos. Se um país como Portugal tem competências na área do calçado e do têxtil, o desafio que há pela frente é fazer um upgrading das competências para conseguir ter algum embrião daquilo que se chama hoje de indústria de moda e que é de facto muito mais exigente, porque requer competências em design, em distribuição, em contacto com o consumidor. Se o país tem competências, por exemplo, no cluster do turismo, o desafio que há pela frente é evoluir para um conceito mais lato, mais ambicioso de indústrias do lazer. Se o país tem, competências na área da cerâmica, dos artigos metálicos, o desafio que há pela frente é fazer evoluir essa capacidade para aquilo que hoje se pode chamar a indústria do habitat, tudo aquilo que pode ter repercussões sobre o ambiente em que vivemos ou trabalhamos. E assim por diante. Esta metodologia tem dado resultados numa série de países. A literatura internacional prova de forma abundante que esta abordagem, em certas circunstâncias, é de facto uma abordagem fecunda. Mas tem, claramente, dois pressupostos: um em termos de atitude, outro em termos políticos. Em termos de atitude esta metodologia remete-nos para uma cultura de parceria, uma cultura de benchmarking, no sentido de não ter medo de ser posto à prova. A atitude de voluntariamente pôr-se à prova, aprender com os outros não está muito cultivada em Portugal, mas é absolutamente crucial e explica o sucesso irlandês. Depois, há um requisito político, que é o seguinte: independentemente das responsabilidades que um Governo possa ter, há um problema mais vasto que é o de saber se o sistema de governação que Portugal tem está hoje em condições de abrir essa trajectória de futuro. Quando refiro sistema de governação, estou a pensar no que os actores-chave podem fazer de maneira concertada, depois de divergências, depois de debate, naturalmente. Ao nível nacional, esse aspecto condiciona aquilo que os actores podem fazer, de maneira concertada, ao nível regional. E espero bem que essa frente de acção possa ser estimulada, porque também é decisiva para um país como Portugal. Mas também àquilo que é discutido ao nível europeu que, cada vez mais, tem influência sobre o que se passa no nosso país e onde nós temos de participar de forma activa com posições próprias. É o efeito concertado do nível europeu, do nível nacional e do nível regional que pode contribuir, melhor ou pior, para desbravar essa trajectória de futuro. Não querendo de modo algum subestimar a responsabilidade que um Governo possa ter, penso que é chegado o momento, à semelhança do que se debate actualmente na Europa nessa perspectiva, de olharmos de forma mais vasta para os diferentes actores que contribuem para que uma sociedade se possa auto-governar, porque a tradução de governance é exactamente isso. 89 Intervenção do Dr. João Salgueiro Como aferir a competitividade de um país O meu conceito de competitividade é idêntico ao que outras pessoas já enunciaram hoje. Penso que, para aferir a competitividade, temos que a medir em função de três normas. O primeiro critério é a capacidade que uma empresa, uma região ou um país têm de assegurar altas remunerações aos factores de produção que utiliza. O segundo critério consiste na sustentabilidade deste alto padrão de remuneração, não só a curto prazo, mas também a médio e longo prazo. Por último, essa capacidade de remunerar os factores utilizados deve ser obtida em clima de concorrência aberta. Isto põe o problema da capacidade de concorrer no curto e no longo prazo, e de concorrer num mundo que sabemos tem desafios, que não são aqueles que escolhemos, mas sim aqueles que existem. Por vezes, algumas das nossas opções têm que ver com o desejável e não com a realidade, como acontece, por exemplo, com parte das questões relativas à reforma fiscal. Raciocinamos em termos do que seria teoricamente desejável e não do mundo onde vivemos; e tudo o que se tem passado ultimamente, nomeadamente a alteração das políticas do governo americano e o inflectir de pontos de vista, só confirma que o mundo não é realmente aquele que gostaríamos que fosse. A competitividade: desafio essencial É evidente que muito se tem feito em Portugal nos últimos anos para transformar a nossa realidade − e já referi exemplos positivos da adesão à CEE e ao Euro. Temos hoje um quadro de taxas de juro e de estabilidade cambial que constitui uma grande vantagem para as empresas em geral. Era legítimo que os empresários se queixassem das altíssimas taxas de juro que tiveram ou da instabilidade cambial que os impedia de fazer cálculos a longo prazo, quer para a exportação, quer para o investimento. Houve grandes progressos recentes. Mas defrontamos agora um desafio essencial de que o país não assumiu toda a gravidade − como, aliás, aconteceu com a descolonização. Este desafio será menos dramático mas, de algum modo, é mais essencial, pois anteriormente discutia-se a periferia e agora discute-se a base da sociedade portuguesa. A dimensão deste desafio deve-se a uma conjugação de dificuldades. Antes de mais, porque devíamos estar agora num período de alta realização económica, pois temos vivido estes últimos anos com recursos excepcionais, muito acima dos nossos recursos normais. É bom que tenhamos esta noção porque alguma da inflexão que é agora necessária vem de termos estado a viver acima dos recursos estáveis. Por um lado, tivemos a descida da taxa de juro, que significou um enorme alívio para o Estado, possibilitando todo o reequilíbrio que se fez das contas públicas. O seu efeito é mesmo maior do que a redução que teve lugar no deficit das contas públicas. 90 Também os custos das empresas beneficiaram muito da redução do preço dos capitais alheios. Por vezes tínhamos taxas acima dos 35%, enquanto que agora estão sempre abaixo dos 10% ou até mesmo dos 6%. Há uma grande redução de custos que criou, também uma oportunidade aos particulares de atingirem níveis de dívida que até aí eram incomportáveis. Passámos de um dos países menos endividados ao nível dos particulares, para estarmos agora acima da média europeia. Estamos agora acima da dívida média da União Europeia e a taxa de juro já atingiu o patamar de um regime novo monetário, − equivalente ao que era o regime do marco, em substituição do regime do escudo. Adicionalmente, o Estado tem tido uma enorme folga, de 500 milhões de contos por ano, com as receitas das privatizações o que, naturalmente, não é sustentável. Quinhentos milhões de contos é muito dinheiro em qualquer parte do mundo; e dois mil milhões de contos, que foi o montante em que os particulares se endividaram em cada um dos últimos anos, é muitíssimo dinheiro, em qualquer parte do mundo. A segunda razão por que penso que o desafio da competitividade tem de ser assumido de uma forma muito clara, decorre do facto de estarmos a caminhar para desafios que são incontornáveis e que são bem mais difíceis do que aqueles que temos hoje. O alargamento da União Europeia alterará completamente o quadro em que vamos viver. As tendências do comércio internacional e de todos os movimentos internacionais, de capitais, de serviços, etc. são no sentido de uma liberalização plena. Por sua vez, a evolução demográfica vai pesar mais, no futuro, do que pesa hoje. Existe, assim, uma conjugação de factores que são muito pesados e que vão no sentido de tornar mais difícil a nossa competição nas próximas décadas, ou mesmo dentro de cinco ou seis anos. O terceiro aspecto que sublinho é o facto de termos usado dados que são optimistas para avaliar o que foi a nossa convergência, desde que entrámos na União Europeia. A nossa convergência não foi aquela que os números revelam e é bom que tenhamos essa noção. Não por uma questão de pessimismo mas porque tal nos podia dar uma ilusão de que fomos inteiramente bem sucedidos. Há vários factores que explicam que os números da convergência que estamos a usar não são os verdadeiros: Em primeiro lugar, houve uma reavaliação das contas nacionais que inclui agora uma estimativa da economia paralela. É provavelmente mais realista, mas o que é facto é que não corresponde aos números que mediram o início da convergência, e já então existia economia paralela. Por outro lado, o ano de 1985 que constitui a base da análise foi um dos pontos mais baixos da nossa conjuntura. Em 1991 atingimos um nível que já tínhamos tido em 73 e 81, havendo uma mera recuperação do passado. Verificou-se também a entrada da RDA que representa cerca de dois pontos de convergência dado que com a sua entrada a média da comunidade baixou dois por cento. A população portuguesa é também 3% inferior ao que se estimava quando se apresentaram as primeiras capitações. 91 Além disso, uma grande parte do aumento do nosso produto baseia-se no crescimento da administração pública, cujo valor acrescentado se avalia pelo custo dos funcionários públicos. Se isso representa ou não um aumento de produto é uma discussão para fazer. A acreditar nos números que nos dão, o funcionalismo público aumentou em 50.000 pessoas nos últimos anos, o que significa que o nosso produto aumentou um montante igual ao dos custos envolvidos. Não sei se esta é verdadeiramente uma convergência no sentido que temos que assegurar no futuro. A deslocalização das actividades produtivas Gostava de lembrar três coordenadas que são indispensáveis para equacionarmos o problema da competitividade – lugares comuns, mas que não podemos deixar de ter presentes. Quando olhamos para o futuro, parece-me inequívoco que o peso das fronteiras económicas tende a desaparecer, certamente dentro da Europa e, provavelmente, também fora da Europa. Não vale a pena qualquer comentário porque as consequências são evidentes. Em segundo lugar, o grau de aceleração da mudança é também um dado adquirido. Estamos a viver a crise bolsista das novas tecnologias da informação, mas nada deixa prever qualquer desaceleração das inovações tecnológicas que estão em curso e, certamente vão continuar. Aliás, a actual evolução é semelhante ao que foi a selecção natural das empresas de construção de automóveis na Europa do princípio do século XX, ou dos caminhos-de-ferro na Inglaterra do século XIX, em que centenas de empresas desapareceram como resultado do progresso crescente. Se conjugarmos estes dois factores – o desaparecimento das fronteiras e a aceleração da mudança – com uma terceira característica que devemos lembrar, veremos que temos um problema para que importa encontrar resposta. Esta terceira característica é a da forma como a localização das actividades económicas se tende a processar nos grandes espaços. A teoria económica tem justificado muito bem, em termos de mercado, as vantagens que se ganham com os grandes espaços, quer seja o comércio mundial, quer sejam os movimentos de integração económica. Ganha-se em produtividade, ganha-se em economias de escala, ganha-se em efeito de difusão da tecnologia, em maior facilidade de investimento estrangeiro, etc. Os grandes espaços facilitam o progresso económico, sem dúvida nenhuma. Mas o que a teoria económica não nos diz – e às vezes esquecemo-nos disto – é que os resultados dessa maior eficiência se repartem uniformemente em todo o espaço. Pelo contrário, tendem a concentrar-se ou polarizar-se. As experiências históricas mostram que há um forte efeito de polarização. Implicitamente, mas sem ninguém o dizer, assumimos que o facto de estarmos na União Europeia nos ia fazer beneficiar dos progressos existentes de forma automática. Se a teoria da polarização se confirmar, – a polarização que se faz nos centros mais desenvolvidos, com melhores condições e posição mais central em relação ao respectivo mercado – nós podemos assistir, com a 92 desaparição das fronteiras e a aceleração da mudança, a uma deslocalização de actividades para fora de Portugal. O que é que isto nos traz como tópico para estudo da competitividade? É fácil concluir que, se temos condições de competitividade superiores à média da União Europeia ganhamos com a integração, mas se temos condições piores que a média da União, perdemos porque a deslocalização se fará contra nós. O fenómeno é já notório na Península Ibérica: armazéns estão a transferir-se para Barcelona e representações de multinacionais para Madrid. Uma grande parte das empresas que foram compradas por capitais espanhóis vão reduzir a produção em Portugal, para ganhar mercado para as suas maiores unidades. Perspectivas para o futuro: atitude, benchmarking e exigência Relativamente ao futuro, temos de adoptar uma atitude de resposta e não uma atitude de tentar arranjar mitos ou falsas soluções. Em primeiro lugar, a atitude que resulta da ideia de que vamos a reboque da União Europeia. Nós temos adoptado o padrão do bom aluno e, implicitamente, pensamos que se nos adaptarmos melhor às regras da União Europeia temos a ganhar, com maior volume de fundos comunitários, por o país ser cumpridor na adaptação das obrigações comunitárias. Mas, isso é apenas uma parte do problema e cada vez menos relevante, uma vez que as ajudas de transição já desapareceram e os fundos comunitários tem algum fim à vista. Não precisamos de uma atitude de resignação, de importarmos apenas as mudanças que vêm de fora, mas sim de uma atitude de afirmação. O espaço europeu, como o espaço mundial, pode ser um espaço de resignação ou pode ser um espaço de afirmação. Outros pequenos países têm conseguido afirmar-se, como a Dinamarca, a Finlândia, a Holanda ou a Irlanda e mesmo nações não independentes, como a Catalunha, o País Basco ou a Galiza, têm seguido uma estratégia de afirmação dentro do espaço europeu. Nós não temos uma estratégia de afirmação nesse espaço europeu tão explícita e tão clara. Temos vindo a aceitar as mudanças como se fossem inevitáveis de fora para dentro, mas não temos uma estratégia conjugada de afirmação própria nesse espaço. A própria lógica estratégica deve ser uma estratégia global de benchmarking e não uma lógica de recuperar atrasos. A filosofia que foi posta no imaginário dos portugueses é que tudo anda bem se recuperarmos 1% do atraso em relação à média comunitária. Isto é uma lógica de mediocridade. Qualquer empresa ou qualquer sector que pusesse como objectivo recuperar o atraso em relação aos concorrentes em algumas décadas, estaria falida. Se a banca tivesse feito isto, tentando recuperar o atraso em 30 anos em relação às condições de exploração em França, que provavelmente era a média da eficácia bancária, teríamos inevitavelmente um mau desenlace. O que se fez foi identificar o que se fazia de melhor noutros países e adoptar esses procedimentos, no mais curto prazo − alguns meses, quando muito de dois ou três anos. Foi também o que se fez nas grandes superfícies, nos seguros, ou nas telecomunicações: adoptar no mais 93 curto prazo possível as melhores práticas, e não apenas procurar recuperar a prazo atrasos em relação a médias. Como terceiro aspecto para o futuro, gostaria de referir que não faz sentido continuar sistematicamente a recorrer a apoios do Estado. Fazia sentido recorrer à corte portuguesa quando havia diamantes ou ouro do Brasil. Ainda fazia sentido quando havia algumas receitas de África e as empresas portuguesas queriam contar com o espaço protegido pelas fronteiras coloniais. Mas se a lógica agora é de concorrência, não há mais um espaço protegido e não há benesses a distribuir; acabados os fundos comunitários, não faz qualquer sentido depender do apoio do Estado. Temos que ter a noção que temos milhões de agentes económicos – sete milhões de consumidores, talvez um milhão ou um milhão e meio de produtores, pequenos, médios e grandes – e o comportamento desses agentes económicos é livre, cada vez mais no espaço europeu. Muito pelo contrário, é necessário garantir um quadro favorável à competitividade. O quadro tem que ver com os incentivos e com os desincentivos e, aqui, estou muito de acordo com o que já foi dito: que é preciso acabar de erradicar os desincentivos e criar incentivos. É pela positiva e é pela negativa. Temos tido um quadro que, na prática, desencoraja a competitividade. Por um lado, as empresas que não cumprem estão a ser objectivamente favorecidas. Na melhor das hipóteses, pagam mais tarde e sem juros os impostos que deviam ter pago atempadamente e, às vezes, nem sequer os pagam. Por outro lado, a burocracia é muito superior à média europeia, desencorajando as melhores empresas. Também os factores de produção que se estão a lançar ao nível da mão-deobra não são os melhores. O quadro que se está a oferecer às nossas empresas não é encorajador de comportamentos de eficácia. É simultaneamente, por um lado e por outro, desincentivador e incentivador no mau sentido. Esse quadro de incentivos e desincentivos exige várias mudanças. É comum dizer-se que se devia começar pela educação. Logicamente faz todo o sentido, mas na prática, quem vai formar? Serão formadores que têm a mesma cultura? Uma revolução cultural, normalmente não se inicia com boas intenções. Inicia-se pela concorrência, porque quem é deitado à água tem que sobreviver, ou porque há uma descontinuidade que obriga as pessoas a alterar a sua conduta. No entanto, verifico que as instituições que regulam o funcionamento da nossa sociedade estão a ajudar a perpetuar o quadro actual. As infracções ao Código da Estrada nos grandes centros urbanos (por exemplo, ao nível do estacionamento) na proximidade da polícia ou em locais como a residência oficial do Primeiro-Ministro, são flagrantes. Quando os condutores se habituam ao grau de incumprimento do código que se pratica nos grandes centros, por que razão é que, depois, hão-de respeitar um traço contínuo ou deixar de fazer uma ultrapassagem numa curva, quando a regra é de se habituarem a não cumprir? Esta cultura de falta de exigência tem que ver com as orientações erradas que são dadas e com a falta de credibilidade política que condiciona toda a nossa realidade social. Na mesma altura em que se fala do rigor nas despesas públicas, mantemos 94 administração pública em triplicado. Temos os serviços normais da administração pública, as numerosas assessorias dos ministros, que duplicam e desqualificam a administração e, agora, há ainda uma geração nova de organismos – institutos e fundações – que triplica as funções. Não me parece que fosse necessária grande imaginação para corrigir esta situação. Sublinha-se a necessidade de combater a evasão fiscal e é dado como exemplo de rigor fiscal o caso do ex-presidente do Benfica. Mas o que se conclui é que, durante dois anos, as autoridades sabiam que havia clara evasão e que isso foi tolerado. Há atrasos crescentes nos pagamentos por parte do Estado em sectores como o da Saúde. Há uma política de gestão da mão-de-obra mais que lamentável porque, se por um lado não se podem liberalizar alguns despedimentos para não criar desemprego, por outro lado estamos a recorrer a imigrantes por não termos mão-de-obra suficiente, criando graves problemas no futuro. Não compreendo como há falta de mão-de-obra, não só na construção civil mas também na enfermagem, estando a recorrer-se a enfermeiros de um país que tem salários que são o dobro dos nossos. Esta incapacidade perante problemas concretos desqualifica quaisquer anúncios de medidas grandiosas susceptíveis de salvar o país. Não se está a corrigir aquilo que está à vista, o que põe em causa o quadro da nossa vida política. O Parlamento não representa realmente os cidadãos, não há uma ligação suficiente entre o Parlamento e os cidadãos, não podendo estes pedir responsabilidades aos seus representantes. Relativamente ao financiamento dos partidos, há cumplicidades objectivas que se estabelecem quanto a decisões de elevados montantes e parece que a prática é penalizar quem o denuncia. Não há uma preocupação de investigar, mas sim uma preocupação de escamotear e parece que os culpados são os que chamam a atenção para esses factos. Por outro lado, nos últimos meses algumas das principais polémicas têm a ver com a excessiva centralização dos modelos de gestão para a saúde e para a educação, quando seria do interesse nacional que se diversificassem esses modelos e que se criasse uma concorrência interna nos sistemas, para avaliar qual a melhor capacidade e qual a melhor resposta. Tem havido uma preocupação de estatizar mais e de manter disciplina burocrática em sectores onde a alternativa é possível. Não será possível na justiça, mas na saúde, na educação e noutros sectores sociais, é-o certamente. Consequências da actual má gestão O problema da competitividade, constitui desafio que nos próximos anos tende a tornar-se ainda mais preocupante. Hoje, o grau de endividamento do País e das famílias é já muito elevado. Não é preocupante em si mesmo se a situação for bem gerida mas, obviamente, uma má gestão pode potenciar os riscos. O mesmo se passa em qualquer empresa: uma empresa pode gerir bem um grau de endividamento elevado mas, se passa a ser mal gerida, o mesmo endividamento pode tornar-se explosivo. Ora, algumas eventuais das dificuldades na consolidação orçamental a que estamos obrigados, podem passar de mera repreensão, verbal, como aconteceu este ano, para alguma sanção 95 efectiva. Isso pode ser um desencadeador de perda de confiança dos mercados financeiros quanto a Portugal. O julgamento dos mercados é um bom critério de realismo prático. Foi o critério que seguimos em Portugal nos últimos anos, em que todas as fantasias acabavam por levar a uma desvalorização. Qualquer resultado negativo obrigava a desvalorizar para apagar os erros e voltar a ganhar competitividade. Actualmente, a correcção é muito mais complicada, porque não havendo possibilidade de desvalorização, se traduz por desemprego e falências – não uns meses depois (como até agora) mas uns anos depois. Por outras palavras, algumas das decisões que estão agora a fazer-se, escamoteando irresponsabilidade financeira, remetem o ajuste de contas para o futuro, para desemprego daqui a três ou quatro anos, importando pois, no meu entender, criar com urgência mecanismos de correcção automáticos. Indicadores de benchmarking Relativamente aos indicadores de benchmarking que a Senhora Professora nos deu, gostaria de dizer que considero um número muito grande de indicadores, o que pode desfocar as atenções. Adicionalmente, alguns destes indicadores têm que ver com despesas e não com resultados. Ora, uma despesa elevada não assegura que os resultados sejam bons, assegura apenas que se está a gastar muito dinheiro e, provavelmente, que se vai gastar ainda mais. Considero que seria necessário, por outro lado, identificar quais destes indicadores de resultados (e não de despesas) podem contribuir para alterar a situação em Portugal num prazo curto, ou seja, para identificar o que é que vai representar um desafio efectivo. O que se deve fazer é encorajar mecanismos de concorrência mais exigentes e generalizados que, automaticamente, levem os agentes a comportar-se de maneira diferente. 96 Debate 97 Professor Doutor Luís Valente de Oliveira Parcerias, benchmarking, governância e regionalização: quatro aspectos a desenvolver A Senhora Professora Doutora Maria João Rodrigues referiu que a razão para o sucesso da Irlanda, foi a conciliação de uma cultura de benchmarking combinada com uma cultura de parceria. Eu estou de acordo, o que me desencoraja enormemente, pois Portugal não tem tradição, quer na vontade que temos de nos pormos à prova, confrontando-nos com os melhores – fazer o benchmarking – quer na debilidade tradicional da nossa sociedade civil, resultante de sermos demasiado individualistas. Isto tem, naturalmente, as suas vantagens a muitos títulos mas coloca grandes dificuldades em termos associativos devido à fácil quezília dentro do movimento associativo. Há uma proliferação de pequenas associações (o que é positivo), todas elas muito ciosas do seu papel mas que, infelizmente, não sabem articular-se. Como gerar uma cultura da parceria? Suponho que não temos muitos exercícios de governância entendida como “a capacidade para uma sociedade se auto-governar, ou governar em termos adequados”. Propunha que analisássemos a forma de elaborar um programa para reforçar esta prestação de contas e exigência generalizada, exigência mútua, exigência de cada um em relação a si próprio, que passa por muitas coisas como, por exemplo, o bom funcionamento de associações de defesa do consumidor. O segundo ponto prende-se com a forma de combinar ou generalizar uma cultura de benchmarking com os propósitos genéricos que nos preocupam. Em terceiro lugar, a questão das parcerias. Estas têm que contrariar muitas coisas profundamente enraizadas em Portugal, como o individualismo e a desconfiança própria das culturas de cepa rural. Há que desenvolver a formação pessoal, a confiança em si próprio, a certeza de que tem os mecanismos mentais suficientes para abordar racionalmente um problema e resolver e confrontá-lo com o do outro. Por último, considero que, mais cedo ou mais tarde, não podemos deixar de voltar à questão da regionalização, que foi mal enterrada e mal tratada. Na altura, houve muitos equívocos e politizou-se muito, não se olhando para as questões que, realmente, estão no fundo, como o extracto intermédio enterrado por Costa Cabral, pelo Dr. Oliveira Salazar e por outros que, efectivamente, tinham uma inclinação grande para a centralização. Se pudermos olhar para a história do século XIX e do século XX, em Portugal, a centralização só nos fez piorar em termos de governância. De maneira que, acho que a governância é um bom tema para o Conselho Económico e Social. 98 Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos A unidade de análise da competitividade Voltando à questão da competitividade e de qual é a unidade de análise, a definição que foi feita pelo Dr. João Salgueiro, a questão da remuneração dos factores que um país utiliza, parece-me muito bem. Faz-me, por exemplo, voltar a recordar os tempos em que comecei a conhecer a Itália melhor do que conhecia antes, para ter compreendido, por exemplo, que há regiões no país que têm altíssima competitividade. A região entre Veneza e Milão, grosso modo, é uma das zonas mais ricas da Europa, onde há maior remuneração dos factores aí utilizados. Coloca-se a questão de saber se a unidade de análise, quando falamos de competitividade, é o país, a grande região dentro do país, ou a pequena região dentro do país. Voltou-me esta dúvida, que gostaria novamente de expressar, porque está em causa a competitividade. A inovação sempre foi um factor de competitividade Gostava de falar com a máxima sinceridade para dizer que, se fico contente por ver falar de inovação e ver muito utilizada a palavra inovação, ao mesmo tempo volto a repetir que o método que está a ser seguido não é diferente de outros que já foram seguidos, no passado, para tentar conseguir coisas parecidas. Temo que não iremos longe a não ser na satisfação de parecer que estamos a fazer grandes coisas. Por exemplo, acho notável que se diga “a inovação é cada vez mais um factor chave da competitividade”. Isto está errado, porque a inovação sempre foi o factor chave da competitividade. Quando um documento intitulado “Resolução do Conselho de Ministros” começa com uma afirmação errada, tenho um problema. E diz-se ainda: “O esforço feito nos últimos cinco anos começa a dar resultados significativos. Portugal está a recuperar de forma acelerada o atraso científico”. O atraso científico? Eu estudei na universidade portuguesa, no final dos anos sessenta e não me consta que a universidade portuguesa estivesse atrasada cientificamente. Aquilo que, na altura, me ensinaram era aquilo que se ensinava nos sítios onde, supostamente, se fazia a melhor ciência. Portanto, não percebo o que é que isto quer dizer e não percebo o que é que isto tem a ver com os últimos cinco anos. Esta introdução faz-me lembrar aquilo que já foi dito hoje sobre o mito e a realidade. Acho extraordinário que pessoas que têm treino científico passem a utilizar o cor-derosa para pintar estes quadros da realidade. Voltando a falar de método, fico preocupado porque as acções principais do programa são dezassete e, como já disse, julgo que não há ninguém que as saiba de cor. E o programa para consulta prática parece-me uma enciclopédia, com o defeito de não estar ordenada por ordem alfabética e, portanto, ser de consulta difícil. Repito que depois de uma leitura rápida não consigo ter ideia nenhuma que cá não esteja. 99 A Senhora Professora Maria João Rodrigues disse um conjunto de coisas com as quais não podia deixar de estar de acordo, mas tudo aquilo que disse já se dizia há mais de vinte anos em reuniões parecidas com esta. Desde uma famosa reunião na Póvoa do Varzim, subsidiada pela National Academy of Sciences dos Estados Unidos, onde estava, por exemplo, o actual Primeiro Ministro, o Eng.º João Cravinho, o Professor Silva Lopes, o Dr. João Salgueiro, o Sr. Henrique Neto, eu próprio. Tudo aquilo que disse aqui, disse-se na altura. Aquilo que considero útil não é que a Senhora Professora utilizasse a sua capacidade para nos dizer mais uma vez o que é que devemos mais, porque pelo menos desde então já se sabia, mas sim por que razão é que ainda não o fizemos. A cultura do consumidor nacional Por que é que se continua a dizer que “em Portugal” algumas empresas vão à frente, estão internacionalizadas, têm grande informação, quando a maioria não tem? É assim em Portugal, é assim nos Estados Unidos, é assim no Japão, é assim por todo o lado. Por que é que havemos de querer ser diferentes? Em todos os países há algumas empresas que fazem algo e há a grande maioria que não faz. É esse o estado de coisas de qualquer economia. Por que é que nós achamos isto um problema? Não percebo. Porque é que temos aqui, mais uma vez, inúmeros indicadores para nos mostrar que, em média, estamos no fim da cauda, coisa que já sabíamos há muitos anos. Mas, por exemplo, já fiquei satisfeito com este papel “Situação da Inovação em Portugal comparativamente à União Europeia”, que ainda que meça a inovação como eu acho, exactamente, que não se deve medir, tem uma coisa extraordinária: há uma linha em que nós estamos acima da média europeia. No que diz respeito à “percentagem de venda de produtos novos no mercado” estamos em sexto lugar. Esta linha, na minha opinião mostra que os consumidores portugueses são profundamente cultos e não ignorantes. Podemos não exigir certas coisas, exactamente porque temos a convicção de que o custo da exigência é superior à vantagem de termos exigido. Como somos um povo culto, aprendemos que não vale a pena exigir, nalgumas condições, porque se exigirmos alguém vai meter dinheiro ao bolso, à custa da nossa exigência. Um povo culto não exige nessas condições, mas quando esse mesmo povo se comporta como consumidor e encontra alternativas, tem possibilidade de escolha, escolhe. E, portanto, porque é que temos uma alta “percentagem de venda de produtos novos no mercado”? Porque quando os consumidores portugueses, supostamente ignorantes, têm à sua disponibilidade a escolha, escolhem. E, por isso, é extraordinário que se veja, em Portugal, onde temos 26% de pessoas sem qualificação académica e 51% das pessoas apenas com o ensino básico, tal utilização do pagamento automático das coisas, por exemplo? Vejo constantemente as pessoas nos ATM a fazer pagamentos fantásticos, cheios de códigos, coisa que não se vê em países supostamente mais avançados. Portanto, fico muito contente que estejamos em sexto lugar nesta coisa da percentagem de produtos novos no mercado, porque prova que, quando se mede a 100 inovação pelo lado da procura, saltamos logo do fim. O problema surge quando se mede pelo lado da oferta. Os consumidores portugueses não são ignorantes, antes pelo contrário, a nossa cultura é rica porque nós aprendemos. O que é necessário é que o custo de exigir não é superior à vantagem resultante da exigência. A inovação não é “capacidade de integrar novos conhecimentos nos processos produtivos para aumentar o valor”. Isto é capacidade de absorção, que é ou não é vital. A inovação não é uma capacidade mas sim a produção de uma coisa nova. E não é uma capacidade, é uma execução, uma acção, é a própria produção de coisa nova. Porque se a definirmos como capacidade, aí estamos a definir uma coisa que nunca mais vamos poder medir bem. As empresas não são o cerne da inovação. Os indivíduos são. Como é que é possível ter um quadro cheio de setas, na página 19 dum texto, em que não há pessoas mas sim empresas, sistema financeiro. Os empresários e alguns gestores e trabalhadores empreendedores é que inovam. Ser empreendedor é não esperar pelo problema para encontrar a solução. Ser empreendedor é não esperar pela pergunta para dar a resposta. Ser empreendedor é encontrar a solução, encontrando, também, a pergunta, o problema, a exigência. Em resumo, fico muito contente que a inovação seja trazida para a discussão, mas fico apreensivo por ver coisas erradas ditas sobre o que é inovação e , principalmente, com o método que utilizamos. Quando há concorrência, quando as empresas têm face a si, por exemplo, o mercado, então inovam, não havendo qualquer problema. Os consumidores escolhem os produtos mais modernos, mais adequados, mais valiosos, mostrando a sua cultura. Exemplo dos benefícios da concorrência Deixem-me terminar só com um exemplo de uma indústria que é de PME’s, em Portugal, e que de acordo com quase todas as teorias já não devia existir. Esta indústria, que conheço muito bem dada a minha actividade profissional no passado, é a da torrefacção de café. A qualidade do café que, hoje, se bebe em Portugal, é quase incomparável com a do passado. Nós bebemos um óptimo café, comparativamente com o que bebíamos há vinte ou trinta anos. A quantidade do consumo aumentou substancialmente porque, entre outros motivos, a qualidade do produto aumentou substancialmente. Por exemplo, hoje em dia, o café é embalado em Portugal de acordo com as melhores regras de embalagem de café do mundo. Nos anos setenta, embalávamos o café em celofane, que era uma coisa absurda tecnicamente e absurda até do ponto de vista do cliente. A mudança deu-se porque uma ou duas empresas estrangeiras vieram para Portugal, começaram algumas práticas, puseram à prova os produtores portugueses, habitualmente PME’s, sem génios de I&D, mas que foram capazes de integrar novos conhecimentos nos processos produtivos para aumentar o valor. Pequenas e grandes empresas foram capazes de fazer isto porque, quando o consumidor começou a escolher, as empresas estrangeiras passaram a ser o padrão de 101 referência. Quando isto acontece, não é preciso dar incentivos às empresas e não me lembro que tenha havido um único incentivo às empresas de café. O que é preciso, de facto, é não se preocuparem tanto com as empresas e com os gestores e garantir que há uma competição séria. Devíamos era preocupar-nos com os sectores em que a produção não tem concorrência, a começar pela actividade do Estado e daqueles outros serviços em que a concorrência – e o uso do mercado como forma de colocar à prova a capacidade dos dirigentes – é impossível. Dr. Mendonça Pinto Como compatibilizar a eficiência económica e a competitividade com a justiça social e coesão social? Partilho de muitos dos pontos de vista do Professor Pinto dos Santos. O seu modelo, baseia-se uma cultura de exigência que, associada à competição sem limites e à escolha do consumidor, asseguram a eficiência económica e a competitividade. Mas certas mudanças radicais nem sempre são exequíveis e acarretam custos, nomeadamente na área social e na área ambiental. No seu modelo, à falta de melhor expressão, será possível compatibilizar a eficiência económica e a competitividade com uma preocupação de justiça social, de solidariedade, de coesão social? Professor Eng.º Ricardo Bayão Horta O desafio da educação Se, de facto, a única “entidade” no mundo que consegue inovar são as pessoas que podem trabalhar em empresas ou não, e não as próprias empresas e pela própria natureza do que é a inovação – a inovação não se decreta, nem resulta de planos exaustivos de acções, que, em muitos casos por hábito ou por anestesia das dificuldades, vão contra a própria essência do que é inovação – tenho a esperança que o que está traduzido nestes documentos não venha a ser traduzido num PEDIP da inovação, porque se assim for, é um desastre. Primeiro, vai aparecer logo outro Instituto para avaliar isto. Segundo, a avaliação por funcionários administrativos será uma tarefa impossível, onde haverá toda a arbitrariedade possível e imaginária, porque estamos a falar de aspectos que não são quantificáveis facilmente, que têm graus e tempos de maturação diferentes. Penso que a maneira de fazermos algo, de facto, sobre a inovação, era criar competição, concorrência, no sistema que confere as capacidades habilitantes às pessoas que depois vão inovar. Cortem-se os subsídios, deixem as empresas seguir o seu caminho dentro de um quadro estável e, relativamente às pessoas, criem-se desafios no sistema de educação. Penso que era importante tentar seleccionar três a cinco desafios que fossem reptos ao País, às Instituições de Educação e também às empresas, que podem participar nesse esforço, para fazer uma melhoria significativa, em tempo muito curto, no sentido 102 de se começar a alterar os tais aspectos da cultura da exigência e de inovação. Com toda a franqueza, não creio que um plano nacional de inovação, com este espectro aqui enunciado (pode ser que a União Europeia o financie) tenha o impacto no País que todos desejamos. Temos de o focar nas pessoas, depois as empresas resolverão o problema. E estou a visar o secundário porque, é nele que se formam as pessoas médias do País que interessa mobilizar especialmente para os objectivos do processo de inovação. Dr. Henrique Salles da Fonseca As falhas dos elementos estatísticos Pertenço ao Fórum para a Competitividade e gostaria de referir que, recentemente, tive oportunidade de obter directamente de uma publicação da Comissão Europeia, (oriunda da Direcção-Geral das Empresas) estes índices da inovação em Portugal, comparativamente à União Europeia e de os distribuir numa pequena brochura aos associados do Fórum para a Competitividade e a mais algumas pessoas. Relativamente a estas patentes de alta tecnologia em função da população, onde nós estamos a zero e, consequentemente, em décimo quinto lugar, recebi reclamação de uma empresa portuguesa exportadora de princípios activos para toda a indústria farmacêutica dos Estados Unidos, que sistematicamente regista todas as patentes, sem que tal transparecesse nos dados. Estamos, portanto, a basear políticas em elementos estatísticos que traduzem uma situação destas, pelo que sugeria que houvesse mais cautela. Menos Estado para que haja melhor Estado Por outro lado, e agora aqui um pouco já em relação a outras matérias, tenho que referir, como o Senhor Dr. João Salgueiro há pouco disse, que mais dinheiro não é, obrigatoriamente, melhor. Posso referir que, por um estudo levado a cabo pelo Instituto Nacional de Administração, a pedido do Ministério da Saúde, em 1998, se concluiu que dois hospitais da rede pública, um administrado pelo Estado, o outro administrado por uma instituição não-pública, o doente saído vivo de cada um dos dois hospitais tinha uma diferença de 114 contos, a menos, no custo do hospital gerido privadamente. A taxa de mortalidade no sistema de saúde português é comparável ao de qualquer outro país civilizado. Tive oportunidade de fazer essas comparações a nível internacional, a partir dos elementos do Relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD. Considerando que, em 1998, saíram vivos dos hospitais portugueses 998.000 doentes, se tivesse sido feita a extrapolação de poupar 100 contos em cada uma, teria havido no orçamento do Ministério da Saúde uma poupança, naquele ano, de noventa e oito milhões e oitocentos mil contos. Portanto, mais dinheiro não é obrigatoriamente melhor política. 103 Portugal e a Asean A terceira e última consideração diz respeito ao benchmarking. Tive oportunidade de fazer um exercício de comparação de Portugal com os países da ASEAN, – concretamente, Brunei, Malásia, Indonésia, Singapura, Tailândia, Vietname e Filipinas – e nós não ficamos em primeiro lugar em cerca de uma vintena de itens que tomei em consideração. E isto foi feito numa perspectiva de identificar o que nós, como país produtor, poderemos de alguma forma ganhar com estes novos mercados, alguns dos quais emergentes. Não restam dúvidas de que, no que diz respeito aos bens transaccionáveis, não é fácil exportar têxteis daqui para lá, mas haverá outros produtos, relacionados com a inovação e com a tecnologia, em que poderemos eventualmente ter possibilidades, desde as tecnologias do ambiente, etc... Na certeza, porém, de que se toda a inovação corre o risco, como dizia o Senhor Professor Bayão Horta, de se fazer um PEDIP para a inovação, eventualmente vai deixar de haver inovação. Eng.º João Bártolo Não ignorar o papel das instituições no processo inovatório Gostava de comentar a questão da inovação e a ênfase que foi posta no indivíduo, agente fundamental do processo inovatório. Foi útil, mas julgo que ignorar as instituições, enquanto elemento de suporte dum processo inovatório, seria, certamente, uma falha importante no desenvolvimento da inovação em Portugal. Penso que há que estabelecer plataformas de apoio à inovação. Ocorre-me o exemplo do Parque de Ciência e Tecnologia Sophie Antipolis. Obviamente que estamos a falar de uma infraestrutura, em si, mas a circunstância de, na altura do seu lançamento, se terem criado condições para conviverem cientistas com empresários, permitiu que a inovação tivesse acontecido. É evidente que quem vai realizar e concretizar a inovação é o indivíduo que está na empresa, ou que estando no instituto de investigação depois pode comunicar com a empresa. Se não tivermos a capacidade de eliminar as resistências a este processo, criando plataformas de interface, a inovação terá, com certeza, mais dificuldade em acontecer, e não serão os impulsos do mercado que determinarão, exclusivamente, esse processo. Penso que quando há pouco se referia o Sillicon Valley se exemplificava uma situação em que foi possível reunir o conjunto das condições que eliminaram as resistências à inovação. Quando um indivíduo desenvolve uma ideia e a quer levar à prática, é importante que possa encontrar uma envolvente que predisponha à assunção do risco ligado ao acto inovatório, por exemplo do lado do sistema financeiro, do capital de risco,. Quando um indivíduo tem necessidade de investigar e só pode contar com os meios de que é detentor, não pode socorrer-se do instituto de investigação que está ao lado, que é público ou privado, para colaborar no processo inovatório, é evidente que o mesmo vai ficar prejudicado. Isto pressupõe que, efectivamente, a infra-estrutura que 104 suporta a inovação esteja desenhada e tenha capacidade para corresponder a essas solicitações. O que será também errado é que, de repente, o instituto científico tome por si próprio a iniciativa de lançar uma inovação errática, sem destino e sem objectivos de mercado. Desse ponto de vista, será certamente importante relevar o papel de agente inovador do indivíduo que está situado na empresa, mas também com capacidade para mobilizar os diferentes agentes da envolvente inovatória para que o processo seja acelerado e a inovação possa chegar ao mercado. Aquilo que, todavia, constatamos em Portugal, é que, na generalidade dos casos, essa comunicação inter-institucional não existe, não havendo porosidade, de tal maneira que os indivíduos possam comunicar. Provavelmente há que encontrar formas de vencer essas barreiras, há que pôr os indivíduos que estão de um lado a comunicar com os que estão do outro. É por isso que para mim é evidente que ter os indivíduos como centro da atenção, não dispensa o apoio às plataformas que se situam nas diferentes sedes relevantes para o processo inovatório, orientando-as no sentido de um relacionamento activo. Professor Eng.º José Fernando Pinto dos Santos Mais uma vez, gostaria de salientar que temos exemplos que nos devem, pelo menos, tornar curiosos. A relação entre gestores e universitários, em Itália, é provavelmente, pior do que em Portugal. O sistema universitário italiano parece-me mais fechado, mais auto-protector, mais corporativo ainda do que o português. Tal não invalidou que a região entre Milão e Veneza seja uma das regiões mais ricas da Europa. Ainda que eu reconheça a enorme importância da comunicação entre os gestores e os cientistas, por exemplo, não deixo de ficar curioso com a constatação da realidade em Itália, que me leva a perguntas a que não sei responder. A inovação e o papel do mercado Hoje em dia fala-se muito de mercado e de concorrência e parece que todos gostam imenso do mercado, mas o mercado não é uma instituição para a inovação. O mercado é uma instituição que promove a eficiência ou, se quisermos, aquilo a que alguns chamam a eficiência estática na economia. O empresário que inova, ou o inovador, é exactamente aquele que não “segue” o mercado. É aquele que lança um produto em que o mercado “não pensou”, aquele que utiliza um processo que mais nenhum pensou utilizar. O mercado é uma instituição extraordinária porque permite, melhor do que qualquer outra, a difusão de determinadas práticas que são postas à prova no mercado e que, quando adoptadas pelos consumidores, são imediatamente difundidas pelas empresas ou pelos agentes que nele competem. O mercado não serve para nos orientar para o futuro, mas sim para nos tornar muito eficientes no presente, pelo que tem que ser visto com algum cuidado. O que orienta a inovação descontínua é o sonho. O sonho, não o mercado. 105 A falta de informação do indicador “taxa de desemprego” Relativamente à questão do Dr. Mendonça Pinto, relativamente ao desemprego, gostaria de acrescentar o seguinte. Mais do que interessar saber se temos 4% ou 30% de desemprego, aquilo que verdadeiramente interessa, porque acredito muito no desenvolvimento e na dinâmica das coisas, é quantos empregos se perderam e quantos se criaram? Porque o desemprego é uma média e, além de ser uma média, é uma coisa estática. Não dá nenhuma indicação de velocidade de criação e destruição de emprego. Aquilo que gostava é que me dissessem que Portugal está muito bem porque no ano passado perderam-se 500.000 empregos mas criaram-se 498.000 empregos, que dão maior remuneração aos factores que se utilizam em Portugal. Isso é que gostava que me dissessem. Agora que me digam que temos 4% de desemprego… 106 4.ª Sessão 107 Intervenção do Dr. Fernando Marques - CGTP O desequilíbrio externo da economia portuguesa A CGTP-IN não minimiza as questões da competitividade da economia portuguesa. Consideramos que o endividamento externo constitui um dos problemas mais graves da actual situação económica. Este endividamento tem a sua origem essencial no défice da balança de mercadorias. Este défice não é de agora, tratando-se de um problema estrutural da nossa economia que se tem vindo a agravar fortemente nos últimos anos. Trata-se de um défice excessivo, não podendo o país recorrer à desvalorização monetária (tornando mais baratas as exportações) para enfrentar problemas de perdas de competitividade, porque pertencemos à moeda única (o euro) desde 1999. Por outro lado, os problemas não se reduzem à balança comercial. As perspectivas a médio prazo da balança de pagamentos não são positivas: as remessas de emigrantes mantêm uma trajectória de queda progressiva; o investimento directo estrangeiro tende a reorientar-se a favor dos países da Europa Central e de Leste; Portugal passou a ser um exportador de capitais (e o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia não nos convenceu do “bom fundamento” da actual política do Governo nesta questão); e, embora o país continue a ter acesso a importantes fundos comunitários no âmbito do QCAIII, que cobre o período de 2000 a 2006, o alargamento da UE poderá significar a perda de fundos estruturais após essa data. Os condicionantes e a melhoria da produtividade O sector produtivo enfrenta problemas que se reflectem em perdas de competitividade e numa baixa produtividade. É preocupante a estagnação do produto industrial, avaliada pelos índices de produção industrial, como foi salientado nesta Mesa Redonda. Acrescentamos também que existem atrasos na modernização das actividades económicas. Recordo aqui um estudo efectuado no âmbito do Observatório de Emprego e de Formação Profissional que mostra uma situação díspar, em termos de modernização económica nos vários sectores; e revela maiores progressos na introdução de novas tecnologias nas áreas comerciais, financeiras e administrativas em desfavor das áreas produtivas, de concepção e de desenvolvimento. As questões da competitividade estão pois associadas às da produtividade. Estas têm vindo a ser discutidas num Grupo de Trabalho na concertação social, incidindo até agora o esforço na identificação dos factores de competitividade, com vista a delinear uma estratégia para a superação dos principais condicionamentos. 108 O baixo nível de qualificação É pois vital identificar os principais estrangulamentos à melhoria da produtividade. A baixa qualificação dos trabalhadores é um dos mais importantes. Essa baixa qualificação está relacionada com um baixo nível educacional médio dos portugueses e com uma escassa participação em actividades de formação. E quanto aos jovens, atente-se no facto de, em 1999, 45% da população dos 18 aos 24 anos ter deixado o ensino com baixas qualificações face a 19% na média europeia. A melhoria da qualidade do ensino e um esforço sustentado para o aumento da qualificação dos activos são assim dois aspectos fundamentais. O acordo, subscrito este ano na concertação social, sobre educação, emprego e formação e o Plano Nacional de Emprego são instrumentos essenciais nessa perspectiva, se forem correcta e devidamente aplicados. Processos produtivos que não favorecem a inovação Um segundo grande estrangulamento tem a ver com processos produtivos que não favorecem a inovação. O número de empresas inovadoras é baixo como o é a despesa em actividades de I&D em relação ao produto. Estes dados traduzem uma ênfase posta na investigação académica e uma grande dificuldade de interacção com o sector produtivo. Uma directriz essencial terá de passar por desenvolver uma capacidade endógena para inovar nas empresas. Numa perspectiva de modernização produtiva e de introdução de novas tecnologias, a formação continua tem um papel essencial. Um aspecto estratégico respeita à capacidade de absorção das tecnologias pelos trabalhadores. A análise da situação portuguesa evidencia aspectos preocupantes: – um baixo grau de participação dos trabalhadores nos processos de introdução de novas tecnologias; – um escasso investimento das empresas em formação, patente na escassa despesa de formação revelada pelos Balanços Sociais; – muitas aprendizagens com as novas tecnologias são informais; – um escasso papel da formação de reconversão; – o recurso pelas empresas à saída precoce dos trabalhadores, em vez de apostarem na formação. Carências importantes na gestão e organização das empresas Em terceiro lugar, existem carências importantes na gestão e organização das empresas, que explicam diferenças importantes de produtividade entre empresas que utilizam as mesmas tecnologias e comercializam produtos semelhantes. O que é fundamental é aprofundar a reflexão sobre estas disparidades. 109 O Papel do Estado Por último, o Estado pode e deve ter um papel de relevo em vários níveis: numa política para o aumento da produtividade, como empregador, no desenvolvimento de infra-estruturas físicas e institucionais, etc. A CGTP-IN não avaliza discursos com base em slogans redutores e falsos, como “menos Estado, melhor Estado” nem o enfraquecimento do Estado a favor de conceitos ambíguos de parcerias do Estado com a “sociedade civil”. O país precisa de “mais Estado”, no sentido de políticas públicas eficazes que promovam o desenvolvimento económico, a produtividade e a coesão social. Mas não confunde despesa pública com eficiência, considerando que há que exigir políticas de qualidade. Por exemplo, o país tinha, segundo os dados do Eurostat, uma maior despesa em educação (avaliada em relação ao produto) que a média europeia. Será que estamos a obter resultados compatíveis com o esforço feito? E a mesma interrogação pode ser feita em relação às despesas com a saúde. Que modelo de desenvolvimento? Falou-se aqui, mais de uma vez, do exemplo da Irlanda. Ainda que não pense que esta experiência pode ser “transposta” para a realidade portuguesa, gostaria de sublinhar dois pontos que julgo importantes: primeiro, o esforço feito na educação, particularmente na educação secundária; segundo, a comparação com Portugal mostra uma maior qualidade das infra-estruturas institucionais. Não existe uma orientação estratégica clara, consistente e mobilizadora para uma política de desenvolvimento económico. Como outros já aqui afirmaram, quando são apresentados novos programas, o que nos fica é a ideia de que... há muito que fazer! Os portugueses são bons a fazer diagnósticos, legislação ou programas, mas não temos muitas vezes coragem para aplicar as medidas decididas. E não existe uma linha de rumo clara. Darei dois exemplos. O primeiro é o modelo de desenvolvimento. Existem largas zonas de consenso quanto ao esgotamento de um modelo de competitividade baseado em baixos salários. O Governo reconhece no Plano de Desenvolvimento Regional o esgotamento deste modelo, mas não vemos serem aplicadas medidas consistentes com esta apreciação. O segundo tem a ver com a política em relação à imigração. Não cremos que o recurso crescente e desregulado à imigração seja coerente com uma estratégia de maior qualificação, que, por exemplo, são pedras de toque do Acordo sobre Emprego e Formação subscrito na concertação social. O que fica é, uma vez mais, a ideia da insistência em mão-de-obra barata, sem direitos e com más condições de trabalho. 110 Intervenção do Eng.º João de Deus - UGT Competitividade, emprego e desenvolvimento É do conhecimento Público a Posição da UGT sobre a matéria e o assunto do seminário nomeadamente através dos documentos: - Documento apresentado no CPCS (no arranque da nova fase da Concertação Social) – Desafios Estratégicos para o País. - Todos os documentos aprovados regularmente pelos órgãos nacionais da UGT. A UGT entende que o desenvolvimento económico e social de Portugal tem de assentar numa estratégia consertada e sustentada para o emprego, para a competitividade e para o desenvolvimento. O nosso modelo de crescimento assentou e ainda assenta no baixo nível salarial como principal factor de competitividade das nossas empresas. Mas este modelo está esgotado, face à: - Internacionalização dos mercados, liberalização das trocas comerciais e financeiras, a globalização em geral da economia. Hoje há novas exigências em matéria de competitividade e de modernização das empresas nacionais. Terão que ser dadas novas respostas. Houve alguns progressos importantes: - Empresas e sectores que apostaram em factores de competitividade como a qualidade, a inovação tecnológica, a formação profissional e a internacionalização. - Há hoje em Portugal, se bem que ainda de forma insuficiente sectores e actividades ligadas às novas tecnologias de informação e de comunicação, caracterizados por melhores salários e elevada produtividade. Temos em Portugal um desenvolvimento dual: - Empresas competitivas e modernas - Empresas de sectores tradicionais Este modelo tem induzido assimetrias económicas e sociais importantes, como desigualdades salariais, riscos de desemprego, exclusão social, etc. Reforçar a produtividade e competitividade nacionais - São elementos nucleares do nosso desenvolvimento. Os nossos níveis de produtividade são fracos e permanecem abaixo da média europeia. - Em termos globais, a produtividade nacional é cerca de 60% da média comunitária – sector agrícola 44% e terciário 73,5%. 111 Aumentar a produtividade é fundamental para o País. Mas como conseguir melhorar a produtividade e a competitividade? Vias para melhorar a produtividade e a competitividade Quanto a nós, UGT, existem 4 vias possíveis: 1. Por via da melhoria das qualificações dos recursos humanos - Mais do que novos conhecimentos e competências, a mutação tecnológica exige uma mudança do próprio modelo de aquisição de conhecimentos de forma a garantir uma constante adaptabilidade dos nossos recursos humanos. O novo modelo tem de ser centrado numa aprendizagem ao longo da vida, cimentada por um conjunto transversal de conhecimentos em domínios como a informática, as línguas e a comunicação. 2. Por via da modernização da Organização de Trabalho - A modernização das Empresas exige uma postura dos agentes Económicos e Sociais perante a Organização do Trabalho, onde há Gestão consensualizada activa e preventiva da mudança. - A introdução das novas tecnologias tem de ser acompanhada de novos métodos produtivos e de novas formas de organização do trabalho, envolvendo os trabalhadores em todos estes processos. - A reorganização do tempo de trabalho é uma das matérias centrais no domínio da Organização do Trabalho. - Deve ser garantida a flexibilidade e a adaptabilidade necessárias ás Empresas tendo como contraponto a redução dos tempos de trabalho num quadro de maior compatibilidade entre a vida profissional e familiar. A redução deve ser articulada com os ganhos de produtividade alcançados. 3. Por via da melhoria competitividade dos factores institucionais que favoreçam a - Sistema de apoios e incentivos públicos à investigação e modernização empresarial; - Política fiscal; - Desenvolvimento dos capitais de risco. 4. Por via de uma concorrência leal e sã - Respeito pela legalidade e promoção da concorrência leal. - Não servem as soluções de curto prazo centradas na redução dos custos directos e indirectos do trabalho, no incumprimento de normas, leis e obrigações legislativas em matéria laboral, fiscal e de Segurança Social. 112 - Tem crescido o recurso a pratica que subvertem o nosso ordenamento laboral e fiscal e que ameaçam a sociedade como um todo quer em termos de justiça humana e social quer em termos económicos. - Forte desregulamentação, trabalho suplementar não pago, trabalho precário ilegal, temporário ilegal, contratação a termo generalizada, recibos verdes ilegais, fraude e evasão fiscal em sede de IRC. - Estas práticas prejudicam os trabalhadores e as empresas que cumprem as suas obrigações. Para a UGT o futuro terá de assegurar uma intensificação da convergência dos níveis salariais portugueses à média comunitária devendo o ritmo de crescimento dos salários estar associado aos ganhos de produtividade alcançados. Como medir a Produtividade? As estatísticas sobre a produtividade são muito frágeis. A UGT considera que existe uma sub-avaliação da produtividade provocada essencialmente pela sobre e subfacturação das contas nacionais. É usada a produtividade por pessoa, onde se inclui o trabalho a tempo parcial, o ocasional e o temporário e outras novas formas de trabalho, julgamos que a produtividade horária seria um indicador mais credível para aferir os ganhos de produtividade da nossa economia. Era importante que acordássemos no grupo da Concertação social sobre negociação sobre a produtividade, organização do trabalho e salários um aperfeiçoamento dos métodos de cálculo da produtividade. - Em matéria salarial não concordamos com posições que defendem que deve existir uma moderação salarial, chegando mesmo a referir-se que os salários devem crescer abaixo da inflação. - A UGT não aceita que sejam exclusivamente os salários a suportar os custos de eventuais choques externos, prolongando no tempo um modelo de ajustamento económico centrado nos salários. Conclusão A sociedade e a economia não podem continuar a permitir que a resposta às exigências de modernização, adaptação e reforço da competitividade das empresas continue a ser feito à custa dos trabalhadores, da perda dos direitos sociais, do incumprimento das normas de trabalho, do aumento do desemprego, do aumento da precariedade e da instabilidade do emprego, do afastamento do mercado de emprego de grupos de trabalhadores como os mais idosos, as mulheres, os menos qualificados, os jovens, do aumento da pobreza e da exclusão social, das desigualdades a da qualidade de vida dos cidadãos. A sociedade e a economia não podem continuar a permitir tais 113 situações que, para além de inaceitáveis socialmente, não são economicamente sustentáveis a médio e longo prazo. 114 Intervenção do Eng.º Luís Mira - CAP A competitividade do sector agro-florestal em Portugal Abordar a temática da competitividade do sector agro-florestal em Portugal é antes de mais, analisar um sector com uma natureza muito própria, pelo que há várias condicionantes que importa previamente ter em conta. Desde logo, convém ter presente que está em causa uma actividade associada a um muito elevado risco natural, exposta a factores fortuitos incontroláveis, dependente de longos ciclos produtivos e de grandes imobilizações de capital e vítima de cíclicas e desfragmentadas reformas de política agrícola, com inerente ausência de rumo estrutural. Por outro lado, e concretamente em termos de modernização e competitividade, a agricultura portuguesa não pode ser vista como um sector homogéneo, com características padronizadas. Resulta, isso sim de um espaço complexo, no qual coexistem segmentos produtivos modernos e competitivos com segmentos pouco desenvolvidos e pouco competitivos. A análise da CAP incidirá, no entanto, numa visão o mais global possível, partindo de dados publicados em 1999 pelo INE, da constatação dos agricultores e das reivindicações que diariamente fazemos relativamente ao estado do sector em Portugal. E desses dados, para que tenhamos uma noção exacta da relevância económica e social do sector, podemos desde logo destacar os seguintes números: o sector agro-florestal representa 11,2% da economia; ocupa 73% do território; congrega 17,4% do volume de trabalho total nacional e contribui com 13,8% das nossas exportações. Sucede, porém, que ao invés de se contribuir para o reforço da competitividade deste sector, cada vez mais sucede o fenómeno inverso. Paradigma do que afirmamos é o facto de o rendimento dos agricultores representar cerca de 1/3 da média europeia! Cumpre então perguntar quais as causas desta perda de competitividade nacional. O que está a funcionar e que urge ser mudado? O que é que se pode evitar para que não se agrave a situação actual? São vários os factores e soluções em causa, exógenos e endógenos, de fonte internacional ou interna. Vejamos muito rapidamente quais são. Condicionantes externas da competitividade nacional No plano internacional, a agricultura portuguesa está desde logo, e naturalmente, condicionada pelos mecanismos da PAC. Financeiramente, a BSE fragilizou a confiança dos consumidores e o equilíbrio do orçamento da União, potenciando a aceleração da alteração do modelo europeu de intervenção na agricultura, muitas vezes a cargo de sectores alheios aos problemas específicos da agricultura. De grande relevância é igualmente o facto de as fragmentadas e descontínuas reformas da PAC em nada beneficiarem a competitividade da agricultura portuguesa. 115 Em constante mutação, a PAC torna difícil aos Estados-Membros, como Portugal criar uma estrutura agrícola sólida e proporcionar uma confiança aos agricultores quanto ao momento, natureza e volume do investimento. Ainda a nível comunitário, também em conexão com a PAC, refira-se a premente questão do alargamento a Leste. O alargamento vai provocar um aumento de 29% na população agrícola, de 33% na superfície total, de 44% na superfície agrícola útil, de 55% nas terras aráveis e a duplicação do número de agricultores. Por outro lado, a agricultura e a silvicultura estão já identificadas como dos principais sectores que irão ser objecto de uma forte imigração. Ora é crível que, por razões orçamentais, o alargamento se venha a fazer à custa do sacrifício da própria PAC, no pressuposto de que não há uma vontade de alterar o quadro financeiro da União de modo a que este possa acomodar os novos encargos financeiros dele resultantes. Temem-se, pois, tempos ainda mais difíceis para a competitividade da agricultura portuguesa. Como se não bastasse tal condicionalismo, os tempos que se aproximam coincidem ainda com novos desenvolvimentos ao nível da OMC. No âmbito das negociações comerciais multilaterais que estão em curso, receia-se que se repita a experiência do pós-reforma da PAC de 1992, concretamente quando em 1994, no Uruguay Round, muito da reforma foi posto em causa. Espera-se agora que o acordo sobre a reforma da PAC concluído em 1999 no âmbito da Agenda 2000 não venha a ser desvirtuado e renegociado. Acordos feitos de forma fragmentada e descontínua só podem ter efeitos desfavoráveis para a nossa agricultura. Falamos de um sector cada vez mais sujeito a uma grande volatilidade dos preços mundiais, progressivamente definidos por multinacionais alheias ao sector, que pressionam os Estados-Membros da OMC. E diga-se que, infelizmente, esta organização supranacional, embora indispensável na regulação do comércio mundial e na defesa de uma sã concorrência, tem-se centrado na eliminação do apoio aos agricultores, sem ter em conta as circunstâncias que afectam os custos de produção. Ao transitarmos, rapidamente, para os factores de índole interna, façamos referência a um fenómeno que não deixa, no entanto, de ter origem internacional: a pouca aposta nacional na biotecnologia, designadamente os OGM: Apesar desta técnica de manipulação genética carecer de uma maior certeza científica quanto aos seus efeitos na saúde humana e no ambiente, certo é que dela podem resultar vantagens competitivas várias como a criação de novos produtos para o sector não alimentar e o aumento da produtividade, algo que no nosso país não tem sido aproveitado, em claro contraste com o que sucede designadamente na nossa vizinha Espanha. E em contraciclo com outros países, para onde se deslocalizarão as empresas de produtos biotecnológicos, se tardarmos em apostar nesta via! 116 Condicionantes internas da competitividade nacional No plano estritamente interno, identifiquemos apenas os problemas mais prementes e mais preocupantes. Em primeiro lugar, o estado da investigação agrícola e da experimentação agrária em Portugal: ambas estão moribundas, sem programa nem orientação coerente com as nossas necessidades. Em segundo lugar, enfatiza-se a situação da formação e educação agrárias: o ensino agrícola, nomeadamente ao nível universitário, nitidamente não proporciona uma formação eficaz aos técnicos agrícolas, não sendo, infelizmente, surpreendentes os dados do INE que apontam para um nível muito baixo de instrução dos produtores agrícolas portugueses, 55% dos quais com mais de 50 anos e com uma taxa de analfabetismo muito elevada. Em terceiro lugar, de relevante importância, refira-se o sistema fiscal. Com a entrada em vigor, no dia 1 de Janeiro de 2001, do novo sistema fiscal, a actividade agrícola caminha a passos largos para ser tributada como qualquer outra actividade económica, não se tendo em conta a sua estrutura e a sua natureza. Depois de em 1994 se ter deixado de prever um tratamento especial ao sector agrícola no âmbito dos impostos de circulação e camionagem, e não se conferindo qualquer redução ao nível do imposto automóvel, eis que no que respeita ao IRS e ao IRC se contribui cada vez mais para a diminuição dos rendimentos dos produtores agrícolas, com inerentes efeitos ao nível da poupança e do investimento, ou seja, influenciando a competitividade do sector agrícola. O exemplo do IRS é paradigmático: entre 1989 e 2000 não constituíam rendimentos sujeitos a tributação os resultantes de actividades agrícolas, silvícolas ou pecuárias com proveitos inferiores a 3000 contos e exercida em prédios rústicos cujo valor patrimonial total, para efeitos de contribuição autárquica fosse inferior a 500 contos. Com a nova reforma continuam a ser excluídos os rendimentos das mesmas actividades, mas apenas quando o valor bruto for inferior ao valor anual do salário mínimo mais elevado, o que perfaz 938 contos. E, refira-se que a percentagem de tributação, que hoje é de 60%, será total em 2005. Por outro lado, quer ao nível do IRS, quer ao nível do IRC, sendo o regime simplificado altamente penalizador para o sector agrícola – porque aplica coeficientes que recaem penosamente sobre os subsídios – é bom de ver que há muito poucos agricultores com contabilidade organizada, alternativa que se lhes apresenta ao regime simplificado. Cabe agora uma referência a um autêntico imposto disfarçado. Da reforma da PAC de 1999 surgiu a possibilidade de aplicação da modulação em Portugal, cuja entrada em vigor está prevista para 2002, o que, a suceder, pode agravar ainda mais o caos competitivo do sector agrícola nacional. Com efeito, o Decreto-Lei n.º 34/2001 de 8 de Fevereiro prevê um regime de modulação aplicável aos pagamentos concedidos 117 directamente (ajudas explícitas, que transitam do orçamento da União) aos agricultores, penalizando até 20% quem receba montantes superiores a 7500 contos. Este imposto disfarçado, que é de aplicação facultativa em cada Estado-Membro, a ser aplicado no nosso país será factor de divisões patrimoniais com consequentes deseconomias de escala e perda de capacidade competitiva internacional. A modulação penaliza claramente os empresários mais dinâmicos e activos, num país onde os menos produtivos abandonam a actividade, procurando outras nas quais possam rentavelmente aplicar os seus recursos. São óbvios, pois, os motivos da nossa preocupação. Não desarmaremos, todavia, diligenciando tudo o que estiver ao nosso alcance para travar esta autêntica retenção na fonte das ajudas directas, sem justificações das zonas rurais, e não assegura perspectivas de emprego no sector. Para o fim deixámos aquela que é a nosso ver, a mais premente das mudanças a fazer: importa sem demoras proceder a uma desburocratização e a uma simplificação da Administração Pública. Temos em Portugal uma máquina muito pesada e burocrática, à qual incumbem funções de legislar, aprovar projectos, dar-lhes prioridade; pagar subvenções; exercer um controlo de execuções. É bom de ver como a gestão dos fundos estruturais no sector agrícola – extraordinariamente dependente desta máquina – é prejudicada. Também aqui com óbvios efeitos ao nível da competitividade. O aparelho de Estado está cada vez mais caro e degradado, consumindo uma parte muito substancial do orçamento do MADRP: – Do orçamento total do Ministério da Agricultura, no qual se incluem todos os dinheiros do FEOGA, só cerca de 40% das verbas inscritas chega às nossas explorações agrícolas e pecuárias: a taxa de apoio à nossa agricultura é uma das mais baixas de toda a União, situando-se muito abaixo da média europeia e muitíssimo abaixo dos países do Norte da Europa. – As transferências do FEOGA correspondem, em média, a cerca de 60% do orçamento total do Ministério da Agricultura, valor que atinge bem mais do que 70% se não considerarmos as suas despesas directas de funcionamento (temos, pois, que o funcionamento do Ministério da Agricultura custa ao país um montante correspondente a cerca de 2/3 das ajudas às explorações agrícolas). Antes de terminar, impõe-se uma referência à fileira silvo-florestal, na qual o cenário também em nada é animador. Libertos que estão de uma política europeia comum, os decisores políticos nacionais a quem cabe a exclusiva formulação das adequadas medidas de desenvolvimento harmónico da floresta portuguesa e dos seus produtos, têm sido ineficientes, ao ponto de o país estar a perder competitividade externa a um ritmo galopante. Ora, sem uma máquina expedita e eficaz, perante os demais factores que elencámos, e se não se lutar para contrariar os legítimos receios que a nível internacional e europeu 118 já temos face ao futuro, a competitividade da agricultura e das florestas em Portugal só pode ser uma realidade se quem governa em Portugal criar as condições aos mais vários níveis, para que os agricultores realizem os seus investimentos menos dependentes das conjunturas e das vontades políticas. 119 Intervenção do Dr. Cortez - CCP Aspectos fundamentais da nova economia do imaterial O pressuposto de partida, para podermos abordar os constrangimentos e as áreas onde é fundamental investir para aumentar os níveis de competitividade da nossa economia, é assumirmos que o modelo económico subjacente ao desenvolvimento da sociedade industrial está esgotado e que os velhos paradigmas da teoria económica já não nos permitem analisar a realidade actual e os novos desafios que se colocam às empresas. Na realidade a nova economia do imaterial e do conhecimento assenta num novo relacionamento intersectorial e na emergência de novos factores competitivos que traduzem um cenário qualitativamente alterado em que é determinante saber distinguir os aspectos verdadeiramente estruturantes das meras manifestações exteriores em que o inovatório é visualizado. Neste sentido destacaria três aspectos fundamentais do novo modelo económico em gestação: - O poder económico deslocou-se para o mercado e, com a passagem de uma «economia da oferta» para uma «economia da procura», alterou-se a relação de forças intersectorial (a «guerra» entre fornecedores e distribuidores é expressão desta mudança); - A cadeia de valor vê reforçarem-se os seus factores de integração global ao mesmo tempo que se altera a sua repartição sectorial a favor dos serviços e da distribuição (ao nível dos PGC a relação entre indústria e comércio e serviços era nos anos 60 de cerca de 50% de valor criado para cada um e hoje situa-se nos 20% – 80% a favor do comércio e serviços). Ou seja, uma economia que pretenda aumentar o valor acrescentado daquilo que produz tem que controlar não a fabricação mas os serviços (a montante e a jusante) e o comércio (acesso ao mercado); - O aspecto anterior traduz-se ainda numa desmaterialização crescente da vida económica com um aumento do peso do imaterial nas vendas (os bens materiais em muitos casos – telemóveis, por exemplo – tendem a fazer parte de um «pacote» de bens e serviços, onde o aspecto decisivo são os serviços e o acesso aos mesmos, funcionando o “material” como meras plataformas que possibilitam esse mesmo acesso). Em resultado de tudo isto é necessário afirmar que o capital humano é hoje o factor produtivo fundamental, numa economia onde o saber e o conhecimento são os elementos de base de uma postura inovatória e orientada para os novos factores de sucesso competitivo. Assim, a situação com que nos confrontamos hoje em Portugal é a de que registamos um significativo atraso na assimilação destes novos dados comparativamente aos nossos parceiros (nomeadamente em relação à Espanha) e temos continuado a valorizar 120 erradamente uma estratégia industrialista, em competição directa com as economias emergentes do sudeste asiático. Acreditámos que o up-grading tecnológico era a chave do nosso desenvolvimento e desvalorizámos os factores organizacionais e a qualificação dos recursos humanos como elementos determinantes de uma estratégia competitiva centrada na produtividade e no valor acrescentado. Este atraso de décadas só pode ser suplantado com uma estratégia ousada que não vise recuperar as etapas perdidas, mas que aponte para o futuro e para uma dinâmica de investimento centrada nos novos factores estratégicos e com um elevado efeito disseminador sobre todo o nosso tecido produtivo e, em especial, sobre os segmentos mais dinâmicos das nossas PME. O sistema de ensino e formação é, neste contexto, uma área estratégica essencial pelo que a reforma deste sistema, na perspectiva de elevar as competências, no quadro dos novos factores de competitividade, é qualquer coisa de decisivo. Subscrevo assim algumas ideias que já foram aqui avançadas, no sentido de se reforçar, inclusivamente através dos meios financeiros adequados, esta área fixando nela a base da nossa competitividade futura. Uma das grandes causas da descolagem da Espanha relativamente a Portugal tem a ver com isto. Eles perceberam, há mais de três décadas, onde deviam apostar e, hoje, estão a tirar os melhores resultados disso. Nós, ainda estamos a pensar o que é que devemos fazer para projectar o nosso futuro daqui a dez ou quinze anos e podermos ir tirar resultados semelhantes, só que o nível de competitividade e de concorrência é diferente e portanto, já nada se pode repetir. O PROINOV e o Programa Operacional de Economia Em relação às políticas públicas de apoio, de base financeira, penso que é de saudar o programa PROINOV, sobretudo pelo diagnóstico rigoroso que faz dos problemas e da forma de os enfrentar. Surge num momento em que se assiste a alguma derrapagem em programas do QCA III e, em particular daquele que conheço melhor, que é o Programa Operacional da Economia (POE). Quando foi aqui dito, que existem 16.000 projectos e 1,7 mil milhões de contos já de candidaturas ao POE, verba que ultrapassa aquilo que é a dimensão financeira prevista para todo o programa até ao final do QCA, temos a noção de que algo não bate certo. Acresce que os 16.000 projectos apresentados se traduziram em meios e recursos gastos pelas empresas a preparar candidaturas, as quais alimentaram expectativas de poder beneficiar de apoios, tendo porventura sido adiados projectos e investimentos, à espera do Plano Operacional da Economia, e que agora (ou talvez daqui a uns meses), vão saber que não terão apoio nenhum. O impacto deste tipo de situação tem obviamente custos elevados e deve, também, ser equacionado. Acresce que no caso do POE, aquilo que são as medidas com natureza mais estruturante, estão em grande parte ainda por regulamentar. Estas medidas são, no fundo, aquelas que se aproximam da estratégia de criar áreas que têm a ver com os factores competitivos fundamentais da nossa economia, como sejam as acções de parceria que carecem de uma dinâmica de envolvimento do 121 Estado enquanto parceiro dos projectos. Penso que, face a recursos escassos, os projectos individuais deveriam ter um lugar claramente menor no Programa, e o esforço fundamental de um programa desta natureza deve ir para a criação de um conjunto de infra-estruturas de base, que sirvam, sobretudo, para dinamizar aquilo que são os factores competitivos essenciais das empresas. Por outro lado, deve seguir-se uma lógica de integração sistémica e de constituição de redes de empresas e essa tem que ser a linha fundamental de desenvolvimento das acções que venham a caber no POE, pois se se perder esta oportunidade e se as verbas deste III Quadro Comunitário tiverem uma aplicação que não permita criar um conjunto de estruturas que perdurem para além do período de vigência do III Quadro, perdeu-se uma oportunidade que talvez não se repita. A envolvente externa e o enquadramento da actividade das empresas Finalmente, e para terminar gostaria, de referir-me ao problema central da envolvente externa e do enquadramento da actividade das empresas. Em primeiro lugar pela criação de todo um ambiente concorrencial que é fundamental que exista. O Estado tem aqui uma responsabilidade inalienável garantindo que se crie toda uma cultura de concorrencialidade, o que significa, naturalmente, perceber que a realidade portuguesa é essencialmente centrada em pequenas e médias empresas e que o núcleo fundamental em que o país tem que estruturar o seu desenvolvimento e a sua competitividade tem que ser em torno dessas mesmas empresas. Em segundo lugar, é fundamental que o Estado defina o quadro regulamentar em que as empresas operam, de forma a que o mesmo não constitua um factor acrescido de descompetitividade mas que, salvaguardando o interesse público, favoreça a criação de um espaço propiciador de iniciativa e de uma dinâmica inovatória permanente. 122 Intervenção do Dr. Heitor Salgueiro - CIP A competitividade portuguesa e a inércia no passado recente Há praticamente unanimidade nas análises sobre a competitividade da economia portuguesa, seja qual for a proveniência dos economistas. Dado que há mais ou menos acordo sobre aquilo que é preciso fazer, por que razão não se entra rapidamente num catálogo de medidas que é necessário implementar urgentemente? Se há acordo no diagnóstico, por que é não se põe em prática as medidas necessárias? É um mistério que não consigo ultrapassar. Uma classificação que é dada pelo International Institute for Management and Development, da Suíça, mostra que, em dois anos, Portugal desceu rapidamente do 27.º para 34.º lugar. Hoje, após termos recebido fundos comunitárias há mais de dez anos e de termos beneficiado de uma redução das taxas de juro para níveis históricos, verificase uma grande convergência entre os analistas, sobre a situação económica portuguesa. As perspectivas são, realmente, pessimistas e a falta de credibilidade dos decisores políticos e uma completa ausência de definição quanto aos objectivos a atingir são aspectos que não melhoram em nada a situação. Aliás, pode perguntar-se se valerá, verdadeiramente, a pena insistir em relação a reformas estruturais, que são indispensáveis e urgentes, para depois surgirem reformas como aquelas que surgiram na segurança social ou em matéria fiscal, que trazem disposições que consideramos altamente prejudiciais ao desenvolvimento do país e às próximas gerações. Já foi acentuado e é um aspecto que eu acho que é essencial, que sempre foi óbvio o erro de o Governo, por inércia, não ter aproveitado, quando as condições económicas eram mais favoráveis, a possibilidade de contenção sustentável do orçamento. A CIP, aliás, insistiu muitíssimas vezes sobre este aspecto. Sobre este problema, referirei apenas os quatro pontos que me parecem mais fundamentais. Quatro aspectos fundamentais: produtividade, inflação, política orçamental e educação O primeiro é a produtividade que, como já foi acentuado, será a principal chave de tudo. Não entrarei em pormenores, não só porque é uma matéria complicada, mas também porque há um grupo de trabalho na concertação que está a tratar, quanto a mim, relativamente bem desta matéria. Esperemos que se possa chegar a um acordo, como já se chegou sobre duas outras matérias. O segundo aspecto, prende-se com a evolução da inflação e com a necessidade de adopção de uma política de rendimentos realista. Não vale a pena, também entrar em muitos pormenores sobre isto, mas parece inequívoco que a política salarial se assume como um vector fundamental da competitividade do país. Os agentes económicos e o Governo têm que se consciencializar definitivamente quanto a esta realidade. É crucial 123 que a política social seja condicionada pela evolução da produtividade, não só em Portugal, mas também tendo em conta a evolução da produtividade nos países que são nossos mais directos concorrentes, como já foi feito noutros países, nomeadamente na Bélgica. O terceiro ponto é a política orçamental que, actualmente, tem que ser uma política positiva. Neste ponto particular não posso deixar de referir alguns aspectos que, em matéria orçamental, têm, até agora, condicionado fortemente a competitividade das empresas. Entre eles contam-se o excessivo envolvimento do Estado na economia, continuando a intervir directamente em actividades que deveriam ser deixadas à iniciativa privada, por natureza mais eficiente, a não subordinação das despesas públicas a critérios de austeridade, eficiência e eficácia, a falta de racionalização nos investimentos públicos ao não privilegiar claramente os investimentos com efeitos directos na melhoria da competitividade global. O quarto aspecto é absolutamente fundamental: a aprendizagem ao longo da vida. O deficit que se regista, actualmente, em matéria de educação e formação, resulta em níveis muito baixos de produtividade, originando também grandes dificuldades na introdução de novas tecnologias e uma grande resistência à inovação. Este aspecto da melhoria das qualificações de recursos humanos é um aspecto absolutamente prioritário, sobretudo sabendo-se que, actualmente, a grande maioria das empresas ainda se defronta com grandes dificuldades na contratação de mão-de-obra com competências devidamente ajustadas às suas necessidades. Outros aspectos relevantes, que não aprofundarei, são a dimensão reduzida do mercado de capitais, a imagem pouco atraente de Portugal no exterior, as enormes lacunas em infra-estruturas ambientais, a existência de um nível de quadro de inovação, o contraste inaceitável entre as zonas litorais, urbanas e o interior, toda a problemática dos transportes, o péssimo funcionamento da justiça, a legislação inadequada ao nível laboral, fiscal e ambiental, etc. Concluiria com duas perguntas de cuja resposta poderiam resultar consequências, eventualmente, práticas e eficazes. A primeira é: se em Portugal o consumo privado está a crescer menos, se existe necessidade de controlar drasticamente a despesa pública, se as nossas exportações, na actual conjuntura económica do país, perderam vigor, quais são as realistas perspectivas económicas portuguesas? E a segunda pergunta é: Como atrair investimento estrangeiro de natureza estruturante, para um país onde a mão-deobra é pouco qualificada, onde a burocracia é enorme, onde a legislação laboral é demasiado rígida e não permite a rápida adaptação das empresas às variações do mercado, onde o sistema de saúde é caótico, onde a justiça é lenta e ineficaz e onde os impostos são mais elevados do que na maioria dos países directamente concorrentes? Terminarei a comentar dois aspectos que considero importantes, que foram abordados nesta mesa redonda. O primeiro refere-se aos indicadores quantitativos e o segundo à participação crescente da sociedade civil. 124 Carências dos indicadores quantitativos Quer a nível da União Europeia, quer a nível de Portugal, os representantes patronais têm tido uma luta enorme no sentido de afirmar que os indicadores quantitativos, por si só, não só não indicam nada ou muito pouco, como podem ter indicações contraproducentes e negativas. Em Portugal essa luta tem ocorrido especialmente a nível dos planos nacionais de emprego que anualmente são elaborados, com alguma participação (bastante lateral) dos parceiros sociais. Faria só uma pergunta para se perceber qual tem sido a luta dos representantes patronais, quer a nível europeu, através da UNICE, quer a nível nacional. Qual é o interesse de indicadores quantitativos, por exemplo, em matéria de formação profissional? Qual o interesse de o Governo ter, por exemplo, uma recomendação da Comissão ou das instâncias comunitárias, no sentido de ter acções de formação profissional, suponhamos para 30.000 pessoas? Nestas coisas, o nosso Governo é muito bom aluno e fica muito contente porque deu formação profissional não a 30.000, mas a 40.000 ou 45.000 pessoas. O que não significa nada, porque ao dar acções a 30.000, 40.000 ou 50.000, só poderia obter-se um resultado realmente significativo se se soubesse de quantas horas eram, para que eram, se estavam direccionadas para os verdadeiros interesses das empresas da economia nacional, etc. Temo-nos debatido no sentido de afirmar que os indicadores quantitativos podem ter algum interesse mas, sobretudo, servem nestes casos concretos para o Governo provar no exterior que está a fazer – mal, no nosso entender – muito mais que aquilo que constitui as recomendações da Comissão. A participação da sociedade civil O segundo aspecto refere-se àquilo a que chamo a governação europeia que, no fundo, se trata de criar ou de legitimar novas estruturas de participação da sociedade civil. Esta ideia já tem alguns anos, mas teve um incremento muito grande quando o actual Presidente, Romano Prodi, teve uma intervenção num congresso luterano no Sul da Alemanha. Nessa ocasião, terá afirmado que as estruturas de representação dos trabalhadores estavam ultrapassadas e não eram suficientemente representativas. Deu-se um grande apoio à ideia de aumentar a representação da sociedade civil através das ONG’s, havendo a nível comunitário, neste momento, uma activa secção de acreditar as ONG’s. Actualmente já estarão acreditadas umas trezentas ou quatrocentas e suponho que, dentro de algum tempo, estarão acreditadas quinhentas ou seiscentas. Subsiste, neste momento e a nível da Comissão Europeia, a dúvida de saber se estas novas estruturas representativas da sociedade civil devem ter poderes co-administrativos ou co-legislativos. Quando forem setecentas ou oitocentas podem, realmente, ter uma forte actividade dentro da co-legislação, a nível europeu. 125 Programa 126 MESA REDONDA A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA PORTUGUESA Lisboa, CES, 24 de Maio de 2001 PROGRAMA 1ª Sessão 09.15-11.15 Vitor Santos, Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Economia J. Silva Lopes, Presidente do Conselho Económico e Social Luis Neto, Presidente do ICEP 11.15-11.30 Pausa para Café 2ª Sessão 11.30-13.30 J. F. Pinto dos Santos, Universidade Católica do Porto L.Valente de Oliveira, Universidade do Porto Henrique Neto, Presidente da Iberomoldes 13.30-15.00 Almoço 3ª Sessão 15.00-16.30 Maria João Ministro Rodrigues, Consultora do Primeiro João Salgueiro, Vice-Presidente Conselho Económico e Social 16.30-16.45 Pausa para Café 4ª Sessão 16.45-18.45 As posições das organizações de trabalhadores e de empregadores: CGT P; UGT ; CAP ; CCP e C IP 127
Download