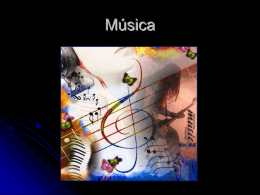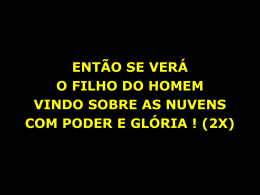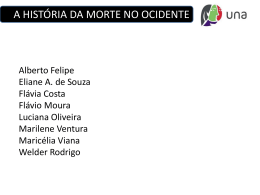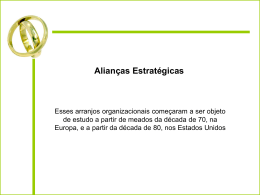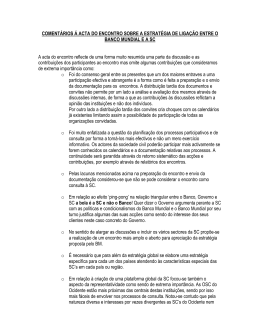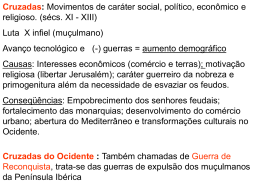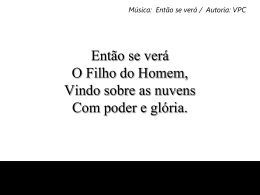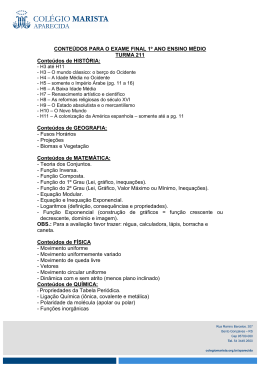Valores europeus ou ocidentais? Dinner Speech, Lisboa, 27 de maio de 2015 de Heinrich August Winkler Tradução do texto previamente distribuído I. O meu tema, “Valores europeus ou ocidentais?”, refere-se a um aspeto da identidade alemã e, suponho, também portuguesa. Ambos os países pertencem a associações de Estados que, frequentemente, se autodenominam “comunidades de valores”: a União Europeia e a Aliança Atlântica ou NATO. É comum a UE falar dos “valores da Europa” ou dos “valores europeus”. Mas este conceito será realmente tão claro quanto parece? No sentido geográfico, a Europa jamais formou uma comunidade de valores, pelo que será mais preciso falar em “valores ocidentais”. A diferença tornar-se-á mais clara pelas palavras do historiador vienense Gerald Stourzh: “A Europa não é (só) o Ocidente. O Ocidente vai para além da Europa. Mas a Europa também vai para além do Ocidente”. O Ocidente: é assim que se designa, para já, aquele parte da Europa que, durante a Idade Média (e, em alguns países, durante muito mais tempo), tinha o seu centro espiritual em Roma, que pertencia, portanto, à Igreja ocidental. Apenas esta parte da Europa tinha presenciado as duas formas pré-modernas da separação dos poderes, uma separação rudimentar entre os poderes espiritual e secular, entre o poder dos príncipes e o das corporações, e foi apenas aqui que, embora com intensidade variável, tiveram lugar, na época baixo-medieval e no início da era moderna, os processos emancipatórios do Renascimento e do Humanismo, da Reforma e do Iluminismo. Na região sob influência da Igreja oriental, de Bizâncio e, mais tarde, de Moscovo, embora não existisse o que se convencionou chamar de “cesaropapismo”, ou seja, os poderes espiritual e secular reunidos numa só pessoa, o primeiro encontrava-se de facto subordinado ao segundo. O Oriente ortodoxo ficou alheio ao que o historiador Otto Hintze em 1931 chamou de “espírito dualista” do Ocidente, o 3 germe do individualismo e do pluralismo e, assim, da Tradição da Liberdade ocidental. A separação de poderes medieval foi uma primeira etapa e um pré-requisito da separação de poderes moderna, a separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário – uma diferenciação que encontrou a sua expressão clássica na obra “O Espírito das Leis” de Montesquieu, publicada em 1748. Quase três décadas mais tarde, a 12 de junho de 1776, ou seja, três semanas antes da Declaração da Independência dos Estados Unidos da América, foi adoptada, em território colonial britânico na América do Norte, com a Virginia Declaration of Rights, a primeira Declaração dos Direitos do Homem. A partir da América, a ideia da existência de direitos humanos inalienáveis não tardou em transpor o Atlântico Norte chegando à Europa. Aqui, o Marquês de Lafayette, que tinha apoiado os americanos na sua luta pela independência, e Thomas Jefferson, embaixador especial dos Estados Unidos da América em França, co-signatário da Virginia Declaration of Rights, autor da Declaration of Independence americana e, mais tarde, terceiro presidente dos EUA, contribuíram de forma decisiva para os trabalhos preparativos da Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, aprovada em 26 de agosto de 1789 pela Assembleia Nacional da França revolucionária. As ideias dos direitos humanos inalienáveis, da separação dos poderes, do primado da Lei, da soberania popular e da democracia representativa têm raízes que remontam a tempos ancestrais. Uma das principais raízes, talvez até a mais importante de todas, foi a distinção entre leis divinas e leis humanas, que decorre de uma palavra de Jesus: “Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.” Esta resposta a uma pergunta insidiosa colocada pelos enviados dos fariseus trazia em si uma recusa a qualquer 4 espécie de domínio teocrático ou sacerdotal. A crescente diferenciação dos poderes divino e terreno significou tanto uma limitação como uma confirmação deste último; uma limitação, porque não lhe é concedido dispor sobre a esfera religiosa; uma confirmação, porque o poder terreno ganha autonomia. Não significou isto ainda a separação dos poderes espiritual e secular. Mas a resposta dialética de Jesus foi, ainda assim, a proclamação de um princípio em cuja lógica residia essa separação e, com ela, a secularização do mundo e a emancipação do Homem. II. As ideias que nortearam as duas revoluções atlânticas do fim do século XVIII, i.e. a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789, constituíram a soma política da Idade das Luzes. Juntos formam aquilo que designo por “projeto normativo do Ocidente”. Tratou-se, por assim dizer, de uma verdadeira co-produção transatlântica. Doravante, este projeto era a bitola pela qual qualquer Estado comprometido com as suas ideias devia ser medido. A minha tese é que a história do Ocidente antigo e novo, europeu e ultramarino (de que fazem parte, além dos Estados Unidos e do Canadá, também a Austrália e a Nova Zelândia) pode ser descrita em boa medida como uma história de lutas em torno da apropriação ou da rejeição deste projeto. Países europeus houve que, embora culturalmente pertencentes ao Ocidente, durante muito tempo ofereceram resistência à aceitação de algumas das consequências políticas que resultavam do Iluminismo, como os direitos humanos inalienáveis, a soberania popular e a democracia representativa. Um destes países era a Alemanha que só após ter sofrido uma derrota total na Segunda Guerra Mundial acabou por renunciar às suas reservas em relação às ideias políticas do Ocidente. O mesmo acontece com a Itália, que só depois de 1945 se tornou uma democracia parlamentar de 5 cariz ocidental, algo que em Portugal e em Espanha viria a acontecer apenas em meados dos anos 70, depois de superadas as respetivas ditaduras nacionalistas e autoritárias. No Ocidente, foi só na sequência das revoluções pacíficas de 1989 que a luta em torno da apropriação ou rejeição das ideias políticas de 1776 e 1789 teve o seu final provisório. Com estas revoluções, aquela parte do velho Ocidente que, em 1945, na sequência das decisões tomadas na Conferência de Ialta tinha sido incluída na esfera do domínio soviético, pôde abrir-se à cultura política do Ocidente. Tratou-se de uma cisão profunda na história da Europa – uma das mais profundas ocorridas desde a Revolução Francesa 200 anos antes. Em nenhuma altura, o projeto normativo do Ocidente correspondeu à realidade vivida nesse Ocidente. Entre os autores da primeira Declaração dos Direitos do Homem contavam-se senhores de escravos, e os escravos oriundos da África subsariana, tal como a população indígena, faziam parte dos grupos a quem esses direitos humanos eram negados. Quanto aos direitos cívicos, o mesmo se aplicava, em certa medida, às mulheres e aos trabalhadores. A história do Ocidente pode, portanto, também ser descrita como uma história de violações dos próprios valores. O colonialismo, o imperialismo e o racismo representam uma parte substancial do “rol de pecados” do Ocidente. Mas as Declarações dos Direitos do Homem eram mais inteligentes do que os seus autores muitas vezes reféns de preconceitos machistas e racistas. Grupos que, em todo ou em parte, eram excluídos do pleno gozo dos direitos humanos, podiam ainda assim invocar esses direitos e, com o passar do tempo, acabaram por ter sucesso. A história do Ocidente é, portanto, também uma história dos processos de aprendizagem, das autocorreções, da autocrítica produtiva. Por outras palavras: o projeto normativo deu lugar a um processo normativo. 6 III. Nos dias 2 e 3 de dezembro de 1989, cerca de três semanas após a queda do Muro de Berlim, realizou-se, na ilha de Malta, uma cimeira que juntou os governos norte-americano e soviético. Quando, nessa ocasião, o presidente George H. W. Bush exortou os presentes a “superar a divisão da Europa ... com base nos valores ocidentais”, Gorbatchov respondeu que se tratava, sim, de valores universais. Às explicações do ministro dos Negócios Estrangeiros James Baker no sentido de que, no contexto da reunificação alemã, os EUA teriam falado em “valores ocidentais” para realçar a importância da abertura e do pluralismo, o líder soviético respondeu com o seguinte reparo: “Esses valores também são os nossos.” Bush objetou que nem sempre terá sido assim. Baker propôs então que se falasse de “valores democráticos”, proposta que Gorbatchov acabou por aceitar. A Guerra Fria estava em vias de passar à história – foi esta a quintessência do debate soviético-americano em torno de valores, ocorrido na ilha de Malta no início de dezembro de 1989. Quase um ano depois, em novembro de 1990, um mês após a reunificação da Alemanha, reuniram-se em Paris os chefes de Estado e de Governo no âmbito da cimeira da Conferência sobre a Segurança e a Cooperação na Europa. O ponto alto da cimeira foi a assinatura da Carta de Paris, a 21 de novembro. Com a sua assinatura, todos os 34 Estados-membros comprometeram-se a “edificar, consolidar e reforçar a democracia como único sistema de governo das nossas Nações”. Num momento em que a Europa se encontrava “no início de uma nova era”, afirmaram assim o seu compromisso com o respeito mútuo pela sua soberania nacional e pela integridade territorial assim como com a resolução pacífica de conflitos. 15 anos após a assinatura da Acta final de Helsínquia da CSCE, os Estados signatários decidiram assim aprofundar as consultas a todos os níveis. Para o efeito, foi criado um conselho 7 dos ministros dos Negócios Estrangeiros o qual deveria reunir-se pelo menos uma vez por ano. A existir algo como uma data simbólica que marque o fim da época do pós-guerra para toda a Europa, terá sido esse 21 de novembro de 1990. IV. Hoje, decorridos 25 anos, pouco resta das boas intenções de novembro de 1990. Com a anexação da Crimeia em março de 2014 e a sua atitude agressiva no Leste da Ucrânia, Vladimir Putin procedeu de facto à anulação da assinatura que Gorbatchov colocara na Carta de Paris. As expetativas de então, i.e. de a prazo vir a formar-se um espaço de paz tricontinental que se estendesse de Vancouver até Vladivostok, acabaram por não se realizar. O ano de 2014 entrará na história como o ano das ruturas e talvez mesmo como o ano que marca o início de uma nova era: o ano em que as democracias ocidentais tiveram de deixar cair a esperança de que o seu projeto normativo pudesse vir a reunir apoio muito para além do seu âmbito de aplicação atual. Mas também por outras razões, o ano de 2014 poderá vir a ser encarado como o ano das ruturas. O avanço de um grupo de terroristas fundamentalistas islâmicos, o Estado Islâmico, na Síria e no Iraque já está a provocar uma deslocação dramática das linhas de conflito no Próximo e no Médio Oriente. Sob o signo da defesa contra o extremismo sunita, começa a formar-se uma aliança tática que junta dois antigos “arqui-inimigos”, o Irão xiita e os EUA: trata-se de uma autêntica revolução nas relações internacionais daquela parte do mundo. A progressiva globalização do terrorismo também faz com que os ataques de Nova Iorque e de Washington no dia 11 de setembro de 2001 ganhem um novo significado: surgem cada vez mais como o início de uma época de insegurança geral, como verdadeiro início do século XXI. 8 Nada há em comum entre a atitude agressiva da Rússia na Ucrânia e os atos terroristas perpetrados por extremistas islâmicos a não ser de, em ambos os casos, se tratar de desafios que visam o Ocidente e os valores ocidentais. Para o mundo em redor, esse Ocidente apresenta-se como uma entidade que muitas vezes não está em sintonia, discutindo sobre assuntos que fazem parte da essência da sua cultura política. As controvérsias resultam de interpretações diferentes dadas aos valores partilhados. Exemplo disso são as discussões em torno da pena de morte, da responsabilidade social do Estado ou do relacionamento entre a política e a religião, a que se junta, nomeadamente desde a proclamação da “guerra contra o terrorismo”, o debate sobre a relação entre segurança nacional, por um lado, e liberdade individual, por outro. Na opinião de muitos europeus, os Estados Unidos, ao invocarem o primado da segurança, põem em xeque os mesmos valores que estiveram na base da sua fundação e que se tornaram o fundamento normativo do Ocidente no seu todo. Aos olhos de muitos americanos, os europeus (e aqui, nomeadamente, os alemães) são os beneficiários egoístas dos esforços desenvolvidos pelos EUA em matéria de segurança. Na primeira década do século XXI, as divergências transatlânticas têm vindo a subir de tom, ao ponto de a historiadora americana Mary Nolan já falar do fim do “século transatlântico” – aquele “longo século XX” que, como defende, terá tido início na última década do século XIX com a intensificação acentuada das relações entre a Europa e os Estados Unidos. Mas talvez a época transatlântica não tenha ainda chegado ao fim. Em 2014, as democracias dos dois lados do Atlântico Norte voltaram a aproximar-se e fizeram-no pelas razões que determinaram que o ano fosse encarado como o ano em que ocorreu uma rutura histórica: Como nenhum outro acontecimento depois do 11 de setembro, terão sido a agressão russa na Ucrânia e a globalização do terrorismo islâmico a partir do Próximo Oriente que fizeram 9 com que o Ocidente percebesse com toda a clareza quais os valores de princípio que partilha. V. Um quarto de século depois da viragem de época ocorrida em 1989, o mundo não é nem bipolar, como na altura do conflito Leste-Oeste, nem unipolar, como nos anos 90 em que dominava uma só superpotência, ou seja, os Estados Unidos. O mundo voltou a ser multipolar (ou, como defende o politólogo americano Richard N. Haass, apolar). A República Popular da China, o maior credor dos EUA, é, ao mesmo tempo, o seu mais forte adversário no palco político mundial não hesitando em recorrer a uma política de poder de cariz mais confrontacional, sobretudo na região Ásia-Pacífico. Grandes potências regionais emergentes, como a Índia e o Brasil, enfatizam de forma demonstrativa a sua igualdade em relação às potências mundiais EUA e a China. Entre os aliados em todo ou em parte asiáticos dos Estados Unidos, contam-se dois, o Japão e a Turquia, que se distinguem pelo seu nacionalismo acentuado. Um nacionalismo forçado é o que carateriza também as políticas russa e chinesa. Mas nem assistimos à formação de campos ideológicos, como na altura da Guerra Fria, nem se vislumbra que as democracias ocidentais sejam postas em causa por uma ideologia coerente, comparável ao marxismo-leninismo. Para o Ocidente, esta constelação encerra o risco de conduzir a um relaxamento inteletual. VI. Visto no conjunto, o Ocidente transatlântico do início do século XXI talvez ainda seja uma imponente entidade económica, mas em boa verdade há muito que deixou de dominar o mundo. Muito daquilo que criou tem sido acolhido por outras culturas: as 10 suas modas, a sua tecnologia, a sua cultura popular, o consumo em massa, o modo de produção capitalista, a internet, a revolução digital e a crença na necessidade de um crescimento económico perpétuo, que muitas vezes também constitui um elemento não negligenciável da democracia, a determinação da vontade da maioria em eleições gerais e, já com menos frequência, a arquitetura institucional do sistema político do Ocidente no seu todo e, menos frequente ainda, os direitos humanos e cívicos enquanto programa político obrigatório. Uma das poucas exceções é, neste aspeto, Nelson Mandela, o fundador da África do Sul moderna. Ao longo da história, o Ocidente em muito contribuiu para minar a credibilidade do seu compromisso com os direitos humanos inalienáveis. Mas o que a prática do Ocidente, até à data, não conseguiu foi desmentir esse projeto. A eficácia da força corretora do projeto tem sido comprovada – mas está longe de esgotar-se – na contínua ampliação dos direitos cívicos, nas sempre renovadas tentativas de reduzir as desigualdades sociais, de domesticar o capitalismo e um fetiche de crescimento nefasto para o meioambiente. Em todos estes domínios, a necessidade de proceder a correções permanece. Inacabado é o projeto do Ocidente também no que respeita à universalidade dos direitos humanos. Tal com o Ocidente não pode impedir as sociedades não-ocidentais de repetir os seus erros, não pode nem deve impor os seus valores a outros. O melhor que pode fazer por eles é manter-se, ele próprio, fiel aos seus valores, criticando sem subterfúgios sempre que se registem desvios. A força de atração das ideias de 1776 e de 1789 e da sua versão “globalizada”, i.e. da Declaração Universal dos Direitos Humanos adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948, pemanece intata a nível mundial. A “Carta 08” chinesa, 11 cujo co-autor é o Prémio Nobel da Paz de 2010, Liu Xiaobo, e assinada por mais de 5000 artistas e inteletuais, é, tal como a Declaração dos Direitos do Homem proclamada no fim do século XVIII, um manifesto que nasceu do espírito da Idade das Luzes e um texto de importância histórica. Não há nada que sustente a opinião largamente difundida de que certas culturas, como por exemplo as de inspiração confuciana, seriam estruturalmente pouco recetivas à ideia dos direitos humanos. Na sua crítica ao “Clash of Civilizations” de Samuel Huntington, Amartya Sen, Prémio Nobel da Economia de origem indiana, alertou com razão para o perigo de se encarar uma cultura como uma prisão da qual não existe fuga possível. Parece de facto pouco provável que inteletuais do Leste asiático se venham a conformar a prazo com os pequenos nichos de liberdade que lhes são concedidos quer pelos chamados “valores asiáticos” dos quais falava o recentemente falecido Lee Kuan Yew, que durante muitos anos ocupou o cargo de primeiro-ministro da Singapura, ou seja, valores como a harmonia social, bem-estar coletivo, lealdade em relação a autoridades, quer pelo respetivo programa do partido comunista da China. Em “O 18 de Brumário de Louis Bonaparte”, escrito em maio de 1852, i.e. três anos após o fracasso da Revolução de 1848/49, Karl Marx depositava a sua esperança em que a revolução a que aspirava continuasse de forma perseverante, ainda que, por vezes, por vias travessas, a realizar o seu trabalho subversivo, até que, um dia, a Europa se erguesse para lhe gritar com reconhecimento: “bem cavado, velha toupeira!” Como é trabalho vez, das Lei, da sabido, o sonho de Marx não se veio a concretizar. O de toupeira do projeto normativo do Ocidente, por sua ideias dos direitos humanos inalienáveis, do primado da separação de poderes, da soberania popular e da 12 democracia representativa, esse está longe de chegar ao fim. Quando o Ocidente ganhar consciência de onde provém a sua coesão interna, nada o impedirá de afirmar-se também num mundo em que é desafiado por inúmeros adversários, mas já não pelo projeto alternativo, teoricamente exigente, de uma ordem social radicalmente diferente. 13
Baixar