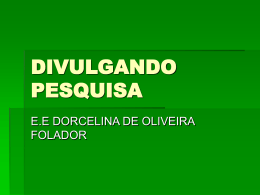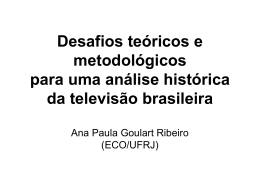Cornelius Castoriadis: pistas luminosas para pensar o humano Lílian do Valle «Ouvindo… coisas»? Perdoem-me se volto ainda, ao final do primeiro dia de atividades deste encontro, a seu título, tão sugestivo, que funciona aqui diz o folheto, como uma convocação a «experimentações sensíveis», tanto quanto à reflexão e à autoformação – e tudo isso sob a égide do imaginário: é que, pretendendo trazer algumas contribuições a partir do pensamento de Cornelius Castoriadis, pareceu-me que, talvez, este título pudesse fornecer um percurso suficientemente ilustrativo da relação que vimos mantendo com aquela que era, para este filósofo, a característica mais essencial e própria do humano: a imaginação. «Ela fica ouvindo coisas», diz-se de alguém que decididamente alucina, e afirma fazer a experiência direta de algo… que não tem existência, ou cuja existência, ao menos, jamais poderá ser provada. Mas, o que ouvia ela, quando só para ela se manifestavam essas «coisas»? Coisas que ela imaginava. Delírio. Ilusão. Fantasia. A imaginação se intromete, diz-se então, na relação simples, direta e estável que o indivíduo mantém com seus sentidos, pervertendo-a, introduzindo o falso, o irreal. A sensação é corrompida pela imaginação, de modo que, pondo-se a «ouvir coisas», é bem possível que a pessoa esteja entregue à sua imaginação, e não mais a controle. Perda de controle: os humanos decerto são dotados de audição, mas só aos loucos ocorre de ouvir coisas. Professora titular de Filosofia da educação da UERJ. Autora, entre outros, de Os enigmas da educação. Rio de Janeiro: Autêntica, 2002. …Ou não? Pois é sempre possível invocar ainda o caso dos artistas, naturalmente dados a transes e a fabulações. Que o diga o velho Olavo Bilac, que, contemplando o infinito, pretendia ouvir… estrelas! Estrelas existem – e, sobre este ponto, o poeta não se engana. Sobretudo este poeta, lídimo representante do movimento que pretendia denunciar os excessos do romantismo, e seguir por uma via mais racional, menos emotiva, intelectualizada! Mas eis que, também a ele, aconteceu de sua imaginação o inflamar; e ele, cedendo a ela, tal como um «tresloucado», se pôs, ele também, a ouvir coisas que não são ditas1. Ah, os poderes enganadores da imaginação, que confundem as exigências do real, fazendo com que o conhecimento seguro das coisas, aquele que se conquista na impessoalidade da razão, se altere e se perca em puro frenesi! O poeta definitivamente «perdeu o senso», ou neles perdeu-se, e encontra-se em um estado alterado; ele próprio confessa-se «pálido de espanto» – pois seu arrebatamento não o impede de reconhecer que de fato não esperava o que ouviu; e que, normalmente, ele não deveria ouvir o que ouve. Bilac se alinhava a um movimento que pretendia romper com as marcas, da excessiva sensualidade, do transe, do devaneio que romantismo havia imposto aos sentidos; mesmo assim, obrigou-se um dia a declarar que «…só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas.» Parece então que o problema é cultural, e que, pelos privilégios ou pelos sortilégios de nossa formação, somos irremediavelmente ligados às sensações – e é bem possível que assim o seja! Pois, as estrelas que outrora Bilac dizia ouvir, Quintana as tinha, ainda há pouco tempo, em sua boca2, convocando não mais a audição, mas o agora o paladar. Quintana sorri, e «um gosto de estrela», diz ele, vem à sua boca. As estrelas têm então um gosto, o gosto do sorriso. Mas, «Ora (direis) ouvir estrelas! Certo / Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto, / Que, para ouvi-las, muita vez desperto / E abro as janelas, pálido de espanto... E conversamos toda a noite, enquanto / A via láctea, como um pálio aberto, / Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, / Inda as procuro pelo céu deserto. Direis agora: "Tresloucado amigo! / Que conversas com elas? Que sentido / Tem o que dizem, quando estão contigo?" E eu vos direi: "Amai para entendê-las! / Pois só quem ama pode ter ouvido / Capaz de ouvir e de entender estrelas.» Olavo Bilac, “ViaLáctea”, Soneto XIII in Poesias, 1888. 2 «Não sei por que, sorri de repente. E um gosto de estrela me veio na boca». Mario Quintana, “Noturno” in: Poesia completa. Rio de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 2005, p. 204. 1 aparecendo do nada, sem razão de ser, as estrelas marcam a presença da sensação, quando lá já não está presente o objeto que as provocava. É sob a forma de lembranças que as estrelas abruptamente intervêm no passeio do poeta, lembranças que nos trazem de volta um cheiro familiar, uma imagem que já não vemos. Por isso mesmo, não é tanto uma sensação, mas, de novo, o poder de sua imaginação aquilo que que Quintana experimenta. Ao desdobrar os sentidos e prolongá-los na ausência do objeto que um dia os havia despertado (em nosso caso, as estrelas) a imaginação faz-se memória. Contudo, ainda nesta acepção a imaginação pode nos pregar algumas peças, nos fazendo reviver o que jamais vivemos, nos lembrar do que jamais aconteceu, ouvir o que jamais nos foi contado. Decerto não saboreamos, nem jamais poderemos saborear as estrelas! O resto é loucura. Ou então é poesia. Se não, apenas engano, mistificação. Tudo indica, portanto, que ali onde há experiência sensível, tanto quanto ali onde busca se realizar o trabalho da razão, imiscui-se a imaginação, e com ela o risco de perda de controle, ou pelo menos de deturpação da sensação ou da atividade racional. De forma que, convocando-nos a «ouvir coisas», este encontro parece, pois, nos expor a uma série de perigos, dos quais o mais extremo e mais evidente é o da perda da razão. Porém, mais cotidiana e insidiosamente, o risco que corremos é o de que, à percepção dos objetos sensíveis, nossa imaginação acrescente uma ideia, uma forma, uma imagem que lá não estava; e de que, à atividade puramente intelectual, venha se somar por obra ainda da imaginação como que a sensação que o objeto examinado não autorizou e não provocou em nós. Ora, a expressão «pista luminosa» – que aqui empreguei para assinalar as outras possibilidades de pensar o humano que, a meu ver, a obra de Cornelius Castoriadis oferece – é, não por acaso, empregada pelo autor em um artigo que tem por questão principal, justamente, a «descoberta da imaginação» 3. O termo «descoberta» não tem evidentemente aqui o sentido que lhe atribui usualmente a Cornelius Castoriadis, A descoberta da imaginação, in Encruzilhadas do labirinto II – Domínios do homem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, pp. 335-372. 3 ciência: não é da «invenção» de uma nova faculdade que Castoriadis vai falar, mas do encobrimento sistemático, em toda história do pensamento, da capacidade de criação humana. As «pistas luminosas» referem-se assim, neste artigo, à ruptura provocada nessa longa tradição filosófica, primeiramente pela elaboração de Aristóteles e, muitos séculos mais tarde, por Kant. Quanto ao encobrimento histórico, ele visou e visa ainda as duas faces da atividade criadora humana: na dimensão social-histórica, o imaginário radical, que é a forma social da imaginação, ou o imaginário instituinte das sociedades e dos tipos humanos que, a uma só vez, as fazem existir e por elas existem; e, na dimensão individual, a imaginação como forma de atividade psíquica, igualmente radical, porque capaz de fazer ser a alteridade, o novo. No plano social, isso implicou em excluir qualquer ideia de que a sociedade pudesse ser decorrente de uma atividade de auto-instituição, não se explicando nem pela vontade de Deus, dos deuses, nem pela força da natureza ou da história feita tradição ou feita Razão. A autocriação da sociedade foi inteiramente encoberta, absorvida por estas outras instâncias supra-humanas ou extra-sociais. Porém, no plano individual não era possível esconder a imaginação de forma tão acabada: aqui o encobrimento foi apenas parcial. Sob este aspecto, diz Castoriadis, a tradição limitou-se [e aqui eu passo a parafrasear o autor, para evitar a citação exaustiva] eu dizia, a tradição limitou-se a reproduzir a primeira formulação que a imaginação recebeu, no tratado [sobre a psique] de Aristóteles4: ali, inicialmente, o filósofo descreve a íntima relação que sempre se estabelece entre, por um lado, a imaginação e, por outro, a sensação ou a intelecção – descrição esta que, enfatizando o caráter simplesmente reprodutivo e recombinatório da imaginação, a concebe como inteiramente dependente da experiência sensível. É desse modo que os produtos da imaginação aparecem, ou Trata-se do De Anima, III, 3, onde Aristóteles «…fixa aquelas que se tornarão, a seguir, as convenções segundo as quais será pensada – ou seja, não será pensada – a imaginação.» C. Castoriadis, A descoberta da imaginação, in Encruzilhadas do labirinto III – Domínios do homem. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 346. 4 como inconsistentes, nada trazendo de novo à experiência, ou, na medida exatamente em que acrescentam algo que aí não estava, como ilusórios, falsos e delirantes.5 Apesar disto, como Castoriadis se preocupa em destacar, já nesta primeira formulação a posição aristotélica supera de modo definitivo a forma toda negativa pela qual a imaginação aparece no uso comum da língua – que a associa continuamente ao inexistente, ao sonho, ao delírio; e supera, muito especialmente, a concepção platônica – para a qual a imaginação era essencialmente uma imitação daquilo que existe, acrescida de uma «falsa crença». E, de fato, em Aristóteles a imaginação é, já de saída, instalada entre as potências por meio das quais o humano julga e conhece a realidade. Isto significa que a imaginação conquista, no pensamento aristotélico, e pela primeira vez, um status de positividade. Porém, não é essa ainda a «descoberta» a que se refere Castoriadis – já que, segundo esta definição, é essencial que a imaginação decorra da sensação, estando completamente subordinada a ela, tanto quanto à intelecção: de outra forma, a imaginação se faria apenas causa de erro e de ilusão – que são, repita-se, para Aristóteles, possibilidades, e não uma característica intrínseca à atividade imaginativa. 6 Mas para que serve, então, a imaginação, é justo que nos perguntemos, se tudo que ela faz se resume bem na simples reprodução e recombinação do que já está dado? No que consistiria o «avanço» identificado por Castoriadis no tratado sobre a psique? Ele reside na dupla função que a teoria aristotélica, contrariamente à platônica, concede à imaginação. E, de fato, no pensamento de Aristóteles a imaginação é, para começar, poder de fixação da sensação, sob forma da produção de um correlato psíquico, de uma «representação» que permanece mesmo quando a sensação já se foi. É essa representação, e não a própria sensação tal como se ela se produz nos órgãos sensoriais, que é retida pela psique. A imaginação se converte e realiza, portanto, a simples memória, que nada mais é do que retenção da experiência da sensação, agora transformada, 5 6 Id., p. 338. Id., p. 348. porém, em experiência psíquica. Pelo trabalho da imaginação, a memória se instala, permitindo ao sujeito a consciência das diversas experiências que faz – de si, dos outros e do mundo que o rodeia; pelo trabalho da imaginação, ele escapa, assim, da infinita repetição, da frívola reiteração de sensações e de experiências que se extinguiriam sem nada deixar para trás, que jamais se acrescentariam umas as outras, mas simplesmente passariam, condenando o humano ao silêncio desta imediatez, tornando-o prisioneiro de um instante de experiências sem qualquer valor duradouro. Mas Aristóteles atribui, ainda, uma outra função para a imaginação: a evocação ou, em seus termos, a reminiscência, isso é, a capacidade convocar e de tornar presente a experiência sensível, e isto independentemente do ato da sensação. Em outras palavras, a atividade realizada pela psique é agora inteiramente causada pela imaginação do sujeito – prescindindo do ato da sensação, tal como da presença do objeto sensível que o teria provocado. Era precisamente em virtude dessa possibilidade de presentificar o ausente, que a imaginação consistia, para Platão em uma forma de pensamento pouco seguro. Mas Aristóteles critica, como vimos, esta concepção: segundo ele, não faz sentido dizer que a evocação é falsa ou verdadeira, como se diria de um julgamento7. A fórmula aristotélica é bastante conhecida: a imaginação «é o movimento que sobrevém a partir da sensação em ato». Os termos nos são pouco familiares, por isso convém que nos expliquemos: a imaginação é movimento, isto é, é atividade que ocorre à psique, é a psique pondo-se em ação, em seguida à atividade sensível, ao ato de se ter a sensação de um objeto sensível. Em primeiro lugar, a imaginação produz aquilo que corresponde, na psique, à atividade direta dos órgãos de sentido – à audição, à visão, ao paladar, ao olfato e ao tato. O «movimento» ou a atividade da imaginação não é, pois, necessariamente falso ou ilusório, longe de lá: no caso da atividade que acompanha essas sensações mais simples, próprias a cada um dos cinco sentidos, a chance de erro é mesmo quase nenhuma. 7 Id., p. 350. Mas a coisa já se complica bem mais quando se trata, para a imaginação, de julgar sobre sensações combinadas – quando combinamos, por exemplo, a visão e a audição para imaginar a origem de um som ou, exemplo mais tradicional, quando vemos de longe uma sombra branca que imaginamos ser alguém que conhecemos… Neste caso, não é possível separar claramente a sensação da imaginação, pois nem sequer há um órgão sensorial que corresponda à experiência sensorial que condensa uma série de sensações simples. No que se refere à esta combinataória dos sentidos, o erro e a falsidade já não podem ser descartados. E assim emerge, repentinamente, no tratado aristotélico dedicado à psique, uma segunda acepção para a imaginação, em ruptura com a tradição que o próprio filósofo acabava de inaugurar. Nesta passagem de difícil interpretação, que parece contrariar o que foi dito anteriormente, o que a imaginação produz, como bem assinala Castoriadis, já não pode ser descrito como mera conservação ou repetição daquilo que foi dado pelos sentidos (já que tudo que estes forneceram foram suas sensações próprias) mas deve, pelo contrário, ser entendido como uma autêntica criação – como instauração de alguma coisa inteiramente nova, que não estava lá antes e que não tem outra fonte senão a própria atividade imaginativa. Os estreitos limites em que a imaginação se encontrava contida, como simples repetição e reiteração da sensação estão, segundo Castoriadis, rompidos, e essa ruptura é consolidada pela afirmação aristotélica de que o sujeito, ou a psique, jamais pensa sem imaginação8. Portanto, conclui Castoriadis, em tudo que fazemos, «sempre há fantasia, nós imaginamos sempre». Vê-se logo que já não é mais de uma atividade particular, de uma experiência pontual que se está falando, mas da própria constituição do humano, para quem viver é o mesmo que dar sentido, é o mesmo que fazer existir para si, como sentido – a si próprio, ao mundo, aos outros, às coisas, às ideias e valores, aos medos e aspirações. O termo grego é phantasía, que foi correntemente traduzido por «imagem»: no entanto, não se trata tanto do que a psique precisa ver, quanto daquilo a que ela deve, mais amplamente, fornecer sentido. Cf. C. Castoriadis, A descoberta da imaginação, op. cit., p. 356-361. 8 E eis que, de atividade derivada e secundária em relação à sensação, a imaginação se torna a condição necessária para que possa haver, para o sujeito, isso que se pode denominar de experiência sensível – e que vai sempre muito além do ato da sensação – e para que possa haver o que, de forma bastante ampla, podemos denominar de pensamento. Nos dois casos, a imaginação implica na fixação do sentido – na memória, entendida como capacidade de o sujeito se dar consciência – e na evocação deste sentido – na reminiscência, como livre possibilidade de mobilizar tal ou tal ideia ou noção, tal ou tal fantasia, ao invés de outra. Haveria, pois, diz Castoriadis, como atividade originária e constitutiva do sujeito, uma imaginação racional e deliberativa – pela qual se conhecem e se julgam os dados da sensibilidade – e uma imaginação sensível – pela qual somente se pode conhecer e dar sentido ao que, sem isto, seria uma abstração não correspondendo a nada.9 Mas não é exatamente a essa possibilidade de dar sentido ao que, de outro modo, não corresponderia a nada para nós, que alude o convite de que partimos, que enfatiza a necessidade de realização de «experimentações sensíveis»? Como, no humano, corpo e psique não são dimensões separadas, mas compostos, não existe para nós o que poderíamos chamar de uma «abstração pura», completamente independente da sensação, ou de um correlato psíquico que faça as vezes da sensação, da mesma forma que são inapreensíveis os objetos em sua «pura materialidade». É a imaginação que, a cada vez, realiza a possibilidade da apreensão, fornecendo o apoio necessário para que à materialidade, tanto quanto à abstração, corresponda um sentido pleno. Pela imaginação, o sensível e o inteligível se fundem na autoformação constante do composto humano. Nossas experimentações sensíveis não ocorrem, portanto, apesar de nosso pensamento, assim como nosso pensamento não se realiza «como se não tivéssemos corpo»: os dois só existem para nós como tal em virtude da atividade da imaginação radical. 9 Id., p. 355. De formaCastoriadis observa que, contrariamente à tradição filosófica, a sensação não é, para Aristóteles, pura receptividade de uma mente que passivamente registraria o que se passa por meio dos órgãos de sentido; e, mesmo quando é provocada pelo «encontro» do sujeito com o objeto sensível, a imaginação não é simples reprodução, ela acrescenta uma imagem, uma representação que não está no objeto. Como isto se dá já no nível mais elementar e aparentemente mais imediato da experiência sensível, acreditamos que o processo é automático e não percebemos que até mesmo a sensação é, no humano, instituída, que ela depende da imaginação. E, mesmo ali onde já não parece mais possível distinguir completamente a obra da imaginação da aquisição de uma noção, ou de um pensamento abstrato, a atividade criadora da imaginação tem um papel suplementar, que é, se assim posso dizer, o de integrar essa abstração, o conceito, a ideia em uma rede mais ampla de sentido, enfim, de unificá-la em um sujeito encarnado que todos somos, de forma que possa haver uma relação entre nossos pensamentos e nossos desejos, entre nossa atividade reflexiva e nossa vontade; de modo que possa haver, enfim, liberdade e deliberação. A má compreensão desta dinâmica, em grande parte alimentada pela tradição do pensamento, leva-nos a opor sensibilidade e inteligibilidade, acreditando que um possa existir sem o outro; leva-nos a supor que temos a opção entre a «pura abstração» e «realidade concreta», leva-nos a acreditar que possa haver uma apreensão do «puramente abstrato», assim como de «realidades concretas». Em um nível mais elementar, vale a pena repetir, a imaginação radical é o que permite que haja sensação, tanto quanto intelecção. Não há erro e, de modo geral, não há falha neste nível. Mas a atividade da imaginação não pára aí, pois ela é contínua e essencialmente um movimento de fazer existir a realidade sob a forma de sentido; de modo que a imaginação está na origem não apenas das percepções imediatas, das ideias mais simples, mas também de nossos pensamentos mais complexos, de nossa capacidade poética tanto quanto de nossa capacidade teórica. Mas, assim como em múltiplas pequenas e grandes ocasiões, parecendo falhar, o acordo normalmente operante entre corpo e psique a nós se revela, revelando a real indissociabilidade das duas «dimensões», da mesma forma, reitera-se para nós a exigência de sentido a cada vez que ele parece faltar, e que o que se apresenta formalmente a nós como ideia, conceito ou teoria não encontra nenhuma correspondência em nós. O que, sem que o percebamos, a cada vez se mostra deficitário são as condições em que se realiza a imaginação criadora (pleonasmo aqui necessário); e então o que se tem do pensamento abstrato, da teoria, é apenas a casca, que não serve, nem para nos apoiar em nossas ações e deliberações – coerência que fornece significação à atividade do pensamento – nem para nos permitir, como diriam os psicanalistas, «dar um destino às nossas pulsões», decidir sobre quem somos e quem pretendemos ser, sobre o queremos e o que pretendemos rejeitar. É a imaginação que faz com que possamos fazernos um com nossos pensamentos – e não ser apenas a imediatez de nossas sensações. Todas essas reflexões são, creio eu, de extrema importância para a formação humana, na medida em que nos indicam que, em toda parte, a existência humana é imaginação, é atividade criadora, ou auto-criadora. A «descoberta da imaginação» realizada por Aristóteles levou Castoriadis a insistir sobre o caráter instituído da sensação e da imaginação, abrindo assim uma enorme perspectiva para se pensar a educação. Não seria evidentemente possível tratar de todas as importantes implicações que uma «redescoberta da imaginação» teria para a crítica dos lugares comuns, dos limites e das falácias de muitas das teorias que vêm servindo correntemente à prática educativa, nem tampouco explorar toda a amplitude do verdadeiro programa investigativo que a questão da imaginação abre para aqueles que estão comprometidos com a prática da formação humana. Mas há ainda um aspecto da questão que não pode ser deixado em silêncio. Em virtude das necessidades de exposição, nos ocupamos até aqui da imaginação apenas da perspectiva da individuação, e deixamos de lado sua presença na outra face do mesmo processo de formação humana, que é a socialização. Fomos habituados a pensar que individuação e socialização se opõem, porque acreditamos que a singularização se dá como reação àquilo que, no indivíduo, deveu-se à influência da sociedade, ou que a construção comum se realiza sempre sobre os destroços da individualidade. Esta perspectiva, inteiramente falsa, é uma herança que recebemos da modernidade, que confundiu a autonomia do sujeito com seu isolamento e foi criticada por muitos autores da filosofia e da psicanálise. Mas Castoriadis, em especial, que levou esta reflexão muito longe, em toda sua obra, costumava repetir que a oposição indivíduo e sociedade é, rigorosamente falando, um equívoco. «A oposição, a polaridade irredutível e inquebrantável é a da psique e da sociedade. Ora, a psique não é o indivíduo.» 10 A psique, segundo a concebe Castoriadis, apresenta-se como uma mônada, uma instância fechada nela mesma, que para sobreviver precisa abrir-se ao «exterior». Ora, do ponto de vista da psique primitiva, são «exteriores» tanto o mundo quanto o próprio corpo. O processo de ruptura do fechamento monádico implica na primeira forma de produção pela imaginação, de tais correlatos psíquicos de que falávamos, correspondentes ao corpo e suas sensações (fome, dor, satisfação) e ao mundo, geralmente representado pela figura materna. Para que a psique sobreviva, é preciso, pois, que ela seja capaz de investir em outros «objetos» além dela própria; este objetos que eram do ponto de vista da psique primitiva, imperceptíveis, inapreensíveis, deverão pela instituição da sensações, passar a existir, encontrando, portanto, primeiramente o corpo como apoio. Mas esta abertura ainda situa o humano no nível das necessidades fisiológicas e das sensações mais simples, que a espécie compartilha com a maioria dos seres vivos; o processo de formação deve prosseguir, levando paulatinamente os sujeitos a instituírem outros objetos de investimento pulsional, até que sejam capazes de investir em objetos imperceptíveis aos sentidos, objetos socialmente instituídos, que só existem em e pela sociedade, encontrando aí prazer (no sentido psíquico) e sentido. Tudo isto pode se realizar em razão da extraordinária labilidade da psique humana, que é capaz de se dar novos objetos de investimento, ao invés de C. Castoriadis, Encruzilhadas do labirinto III. O mundo fragmentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992, p. 57. 10 persistir sempre nos mesmos. Esta labilidade permite a sublimação – que é a passagem dos objetos mais imediatos e privados de investimento aos mais mediatos e públicos – como a arte, a teoria, a justiça e a democracia. Mas labilidade, sublimação, deslocamento das pulsões e instituição de novos objetos de investimento pulsional – nada disso seria possível sem o poder da imaginação, que faz ser o novo. Creio que jamais deixarei de me surpreender e me maravilhar com este simples fato de que a socialização da psique implica que os sentidos que existem para o humano são, a um só tempo, próprios a ele, que os institui, e necessariamente comuns, já que sua constituição depende da experiência no mundo. Podemos, assim, entender que, se a sensação é, como dissemos, instituída, ela define, concomitantemente a um modo de sentir próprio do sujeito, uma sensibilidade comum – que, tal como a racionalidade, definem um modo de ser que ele partilha com a coletividade. É ainda aqui o milagre da imaginação, de nos permitir tecer juntos sensibilidade, vontade e razão, na construção de nossa autonomia individual; e o privado e o público na construção de um modo de ser, de agir, de esperar, de desejar que é nosso e que comprometemos na construção da autonomia coletiva. E é pelo milagre da imaginação que tudo isto que somos como indivíduos e como sociedade pode se oferecer constantemente à nossa reflexão: porque não estamos limitados ao aqui e agora, e não estamos presos à fatalidade do que somos, podemos ousar imaginar, para a frente, a alteridade, sob a forma de novas formas de sermos como sujeito e como sociedade.
Download