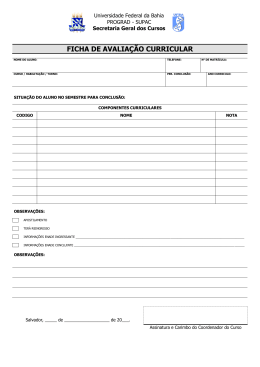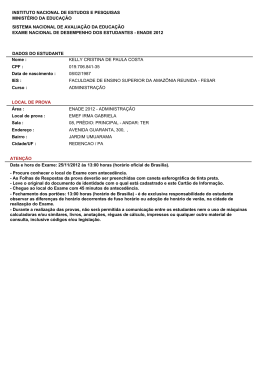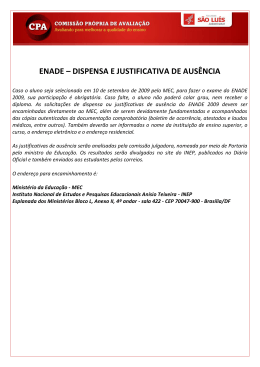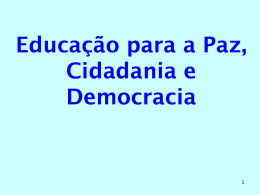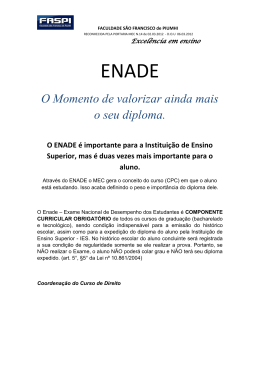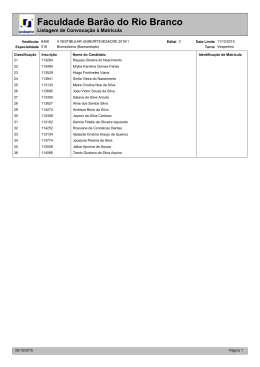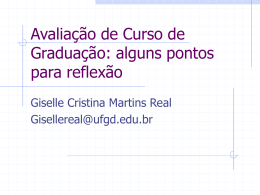2008 Letras Maria Eunice Moreira Marisa Magnus Smith Jocelyne da Cunha Bocchese (organizadoras) ENADE COMENTADO 2008 Letras Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Chanceler: Dom Dadeus Grings Reitor: Joaquim Clotet Vice-Reitor: Evilázio Teixeira Conselho Editorial: Antônio Carlos Hohlfeldt Elaine Turk Faria Gilberto Keller de Andrade Helenita Rosa Franco Jaderson Costa da Costa Jane Rita Caetano da Silveira Jerônimo Carlos Santos Braga Jorge Campos da Costa Jorge Luis Nicolas Audy (Presidente) José Antônio Poli de Figueiredo Jussara Maria Rosa Mendes Lauro Kopper Filho Maria Eunice Moreira Maria Lúcia Tiellet Nunes Marília Costa Morosini Ney Laert Vilar Calazans René Ernaini Gertz Ricardo Timm de Souza Ruth Maria Chittó Gauer EDIPUCRS: Jerônimo Carlos Santos Braga – Diretor Jorge Campos da Costa – Editor-chefe Maria Eunice Moreira Marisa Magnus Smith Jocelyne da Cunha Bocchese (Organizadoras) ENADE COMENTADO 2008 Letras Porto Alegre 2009 © EDIPUCRS, 2009 Capa: Vinícius de Almeida Xavier Preparação de originais: Marisa Magnus Smith Diagramação: Stephanie Schmidt Skuratowski Revisão linguística: dos autores Questões retiradas da prova do ENADE 2008 da área de Letras Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) E56 ENADE comentado 2008 [recurso eletrônico] : letras / Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith, Jocelyne da Cunha Bocchese (Organizadoras). – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : EDIPUCRS, 2009. 105 p. Sistema requerido: Adobe Acrobat Reader Modo de Acesso: World Wide Web: <http://www.pucrs.br/edipucrs/enade/letras2008.pdf> ISBN 978-85-7430-913-2 (on-line) 1. Ensino Superior – Brasil – Avaliação. 2. Exame Nacional de Cursos (Educação). 3. Letras – Ensino Superior. I. Moreira, Maria Eunice. II. Smith, Marisa Magnus. III. Bocchese, Jocelyne da Cunha. CDD 378.81 Ficha Catalográfica elaborada pelo Setor de Tratamento da Informação da BC-PUCRS Av. Ipiranga, 6681 - Prédio 33 Caixa Postal 1429 90619-900 Porto Alegre, RS - BRASIL Fone/Fax: (51) 3320-3711 E-mail: [email protected] http://www.edipucrs.com.br SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ..................................................................................................... 7 COMPONENTE ESPECÍFICO - QUESTÕES OBJETIVAS QUESTÃO 11 ........................................................................................................... 12 Regina Lamprecht QUESTÃO 12 ........................................................................................................... 15 Marisa Magnus Smith QUESTÃO 13 ........................................................................................................... 19 Vera Wannmacher Pereira QUESTÃO 14 ........................................................................................................... 22 Ana Maria Lisboa de Mello QUESTÃO 15 ........................................................................................................... 24 Gilberto Scarton e Marisa Magnus Smith QUESTÃO 16 ........................................................................................................... 26 Claudia Brescancini QUESTÃO 17 ........................................................................................................... 27 Jocelyne da Cunha Bocchese QUESTÃO 18 ........................................................................................................... 30 Sissa Jacoby QUESTÃO 19 ........................................................................................................... 33 Ana Maria Tramunt Ibaños e Jane Rita Caetano da Silveira QUESTÃO 20 ........................................................................................................... 36 Ana Maria Tramunt Ibanõs e Jane Rita Caetano da Silveira QUESTÃO 21 ........................................................................................................... 39 Heloísa Koch QUESTÃO 22 ........................................................................................................... 44 Gilberto Scarton QUESTÃO 23 ........................................................................................................... 47 Gilberto Scarton QUESTÃO 24 ........................................................................................................... 49 Jocelyne da Cunha Bocchese QUESTÃO 25 ........................................................................................................... 53 Ana Maria Tramunt Ibanõs e Jane Rita Caetano da Silveira QUESTÃO 26 ........................................................................................................... 56 Luiz Antonio de Assis Brasil QUESTÃO 27 ........................................................................................................... 59 Alice Therezinha Campos Moreira QUESTÃO 28 ........................................................................................................... 64 Marisa Magnus Smith QUESTÃO 29 ........................................................................................................... 67 Maria Eunice Moreira QUESTÃO 30 ........................................................................................................... 72 Alice Therezinha Campos Moreira QUESTÃO 31 ........................................................................................................... 77 Valéria Pinheiro Raymundo QUESTÃO 32 ........................................................................................................... 80 Ricardo Barberena QUESTÃO 33 ........................................................................................................... 84 Bruno Jorge Bergamin QUESTÃO 34 ........................................................................................................... 87 Maria Tereza Amodeo QUESTÃO 35 ........................................................................................................... 89 Maria Tereza Amodeo QUESTÃO 36 ........................................................................................................... 92 Marisa Magnus Smith QUESTÃO 37 ........................................................................................................... 96 Luiz Antonio de Assis Brasil COMPONENTE ESPECÍFICO - QUESTÕES DISCURSIVAS QUESTÃO 38 ......................................................................................................... 100 QUESTÃO 39 ......................................................................................................... 101 QUESTÃO 40 ......................................................................................................... 103 LISTA DE CONTRIBUINTES ................................................................................. 105 APRESENTAÇÃO Com a implantação, em 2004, do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior –, o processo de avaliação dos cursos de graduação, no Brasil, sofreu alterações, visando a alcançar, com o novo dispositivo legal, patamar de qualidade mais ajustado à realidade de um país complexo e multifacetado como é o Brasil. O sistema de avaliação decorrente da lei do SINAES passou a envolver procedimentos de natureza variada que, objetivamente, expressam-se em três dimensões: a) a avaliação interna e externa das instituições de ensino superior; b) a avaliação de desempenho dos alunos, através do ENADE – Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes; c) a avaliação de cursos. O ENADE integra, portanto, o sistema de avaliação dos cursos de graduação no Brasil, constituindo componente curricular obrigatório. Como se não bastasse sua importância como elemento para avaliação superior, decorrente de preceito legal, o ENADE condiciona a colação de grau do aluno à comprovação de participação nesse Exame. É significativo, portanto, destacar o ENADE como o mecanismo eficiente para avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação e o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, bem como aferir o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. Compõem o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes quatro instrumentos: uma prova, um questionário de impressões sobre a prova, um questionário socioeconômico – todos a serem respondidos pelos estudantes – e um questionário destinado ao coordenador do(a) curso/habilitação. Entende-se que todos esses instrumentos cumprem importante papel no contexto no SINAES; entretanto, é natural que, por sua especificidade e abrangência, a prova assuma destaque particular como meio de avaliar competências, habilidades e conhecimentos. Para atingir seus fins, o instrumento aplicado à área de Letras articula-se em 40 questões, das quais 30 se referem a conteúdo específico – de Língua Portuguesa, Literatura Brasileira, Linguística, ENADE Comentado 2008: Letras 7 Teoria da Literatura e demais disciplinas que compõem o currículo – e 10 relativas a temas de formação geral, comuns a todos os alunos dos diferentes cursos. Provas são instrumentos que merecem discussão, e as opiniões a respeito variam grandemente – de aluno para aluno, de professor para aluno e de professor para professor. Provas e exames suscitam comentários, opiniões, manifestações, discussões – enfim, toda avaliação é objeto de profunda reflexão. Afinal, só se avalia o que é posto em questão. Seguindo essa trajetória, o ENADE Letras tem sido objeto de estudo e reflexão de alunos e professores, em especial a prova realizada em novembro de 2008. Nesse contexto, surgiu a ideia de aprofundar esse estudo, com o convite a docentes e pesquisadores da Faculdade de Letras da PUCRS que atuam nas diversas áreas contempladas na prova para sistematizar essa análise em comentário sobre o tipo de questão, o conteúdo, as competências e habilidades envolvidas, avaliando cada questão de modo abrangente. A opção pelo formato eletrônico pareceu apropriada pela possibilidade de acesso universal e ágil à informação para todos os que têm interesse por temas relacionados à avaliação, seja na área de Letras, seja em âmbito mais abrangente, o da avaliação institucional. Espera-se, igualmente, que a análise minuciosa de cada questão constitua subsídio para qualificar ainda mais as provas do ENADE e, por extensão, o próprio SINAES. Este e-book apresenta, então, as questões objetivas da área de Letras, que compuseram a prova do ENADE 2008, acompanhadas de comentários redigidos por professores da FALE. As questões são apresentadas em ordem numérica, e vêm assinadas pelo(s) autor(es) do comentário, segundo sua perspectiva crítica e teórica, e seu foco particular de análise. A coordenação do trabalho ficou sob a responsabilidade das professoras Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese, que acompanharam esse desafio, no qual cada professor foi convidado a colocar-se primeiramente no lugar do estudante em situação de exame, e a partir daí exercer seu papel de especialista, procedendo à análise minuciosa de cada item, em termos de conteúdo e de formulação. 8 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Esta publicação eletrônica – ENADE Comentado 2008: Letras – insere-se na coleção da EDIPUCRS que tem o objetivo de analisar as questões das provas desse exame, qualificando-o como ferramenta pedagógica. Com essa proposta, possibilitase que esses conteúdos cheguem não apenas a todos aqueles que se preparam para exercer a função de professores, mas também aos que, em sua prática diária, buscam recursos inovadores para o ensino de Letras, nas instituições de ensino brasileiras. Maria Eunice Moreira Diretora da Faculdade de Letras/PUCRS ENADE Comentado 2008: Letras 9 COMPONENTE ESPECÍFICO QUESTÕES OBJETIVAS Texto para as questões 11 e 12 1 4 7 10 13 Shirley Paes Leme tem no desenho a alma de sua obra. Os galhos retorcidos e enegrecidos pela fumaça são seus traços a lápis, que ela articula ora em feixes escultóricos, ora em instalações. Produz também delicados desenhos com a sinuosidade da fumaça. Para fazer a peça em homenagem à companhia de dança goiana Quasar, Shirley conta ter se inspirado na grande concentração de energia no espaço necessária para que um espetáculo de dança se realize. “A idéia da coreografia só consegue ser concretizada com movimento porque todos ficam antenados para um trabalho conjunto”, diz. A obra de Shirley tem linhasgalhos que se movem em tempos diferentes, impulsionadas por motores ocultos. Território Expandido. Catálogo da Exposição em homenagem aos indicados ao Prêmio Estadão, 1999, p. 12-3 (com adaptações). ENADE Comentado 2008: Letras 11 QUESTÃO 11 A partir da interpretação do texto acima, assinale a opção correta a respeito dos processos de aquisição de língua materna. (A) A interpretação dos códigos visuais ocorre por especulação, ao passo que a aquisição das regras gramaticais que permitem o domínio do código lingüístico se dá pela sistematização que se ensina à criança. (B) Os erros e desvios da norma na aquisição da língua materna retardam o domínio completo do código; mas, para o domínio dos códigos visuais, os erros constituem o processo de amadurecimento da leitura. (C) A apreensão de significados na língua materna se dá, já nas primeiras palavras, pela relação não-ambígua entre significado e significante, ao passo que a indeterminação semântica é inerente aos textos visuais. (D) Tanto o domínio da língua materna quanto o de códigos visuais decorrem da inserção do sujeito da linguagem em mundos simbólicos, em uma interação em que a fala do outro imprime significados à própria fala. (E) O domínio da língua materna distingue-se do domínio da leitura de textos visuais, entre outros fatores, porque a aprendizagem de signos visuais se dá espacialmente e a interpretação dos signos lingüísticos se dá linearmente. Gabarito: D Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da alternativa correta. Conteúdo avaliado: Aquisição da língua materna. Autora: Regina Lamprecht Comentário: A resposta correta é a D: “(...) o domínio da língua materna (...) decorre da inserção do sujeito na linguagem... em uma interação em que a fala do outro imprime significados à própria fala.” Dentre as teorias de aquisição da linguagem reconhecidas atualmente temos a abordagem sociointeracionista – ou simplesmente interacionista (nome mais conhecido no Brasil: Cláudia de Lemos). Nessa visão, a linguagem emerge no ambiente. A criança insere-se na linguagem pela interação social; as regras gramaticais podem se desenvolver a partir de associações, de ‘especularidade’ dentro do contexto social. A fala dirigida à criança pelos adultos – mãe, pai, cuidadores - é importante, visa facilitar o desenvolvimento da linguagem; talvez seja até mesmo necessária, exigida, para esse desenvolvimento. O ambiente linguístico 12 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) é restringido por fatores que favorecem a aquisição da linguagem, para fornecer às crianças as experiências linguísticas necessárias. É enfatizado o papel do ambiente na produção da estrutura da linguagem. As demais alternativas estão incorretas pelas razões a seguir: A) A afirmação “(...) a aquisição das regras gramaticais (...) se dá pela sistematização que se ensina à criança” é incorreta porque ninguém – nem os pais, nem quaisquer outras pessoas do ambiente do bebê/criança pequena – ensina-lhe a língua materna. Conforme a teoria inatista (nome mais conhecido: Chomsky), a linguagem é uma característica inata da espécie humana. Tem forte base genética, e o ambiente tem um papel menor na maturação da linguagem. A aquisição dá-se espontaneamente, sem instrução. A visão errônea encontrada na alternativa A faz parte do behaviorismo (nome mais conhecido: B. F. Skinner), abordagem que explica a aquisição da linguagem por estímulo, reforço, condicionamento, treino cuidadoso pelos pais e imitação. B) A afirmação “(...) os erros e os desvios da norma (...) retardam o domínio completo do código” é incorreta porque o bebê/criança pequena não adquire a norma de uma língua, e sim o sistema, a gramática da língua. Usa-se o termo gramática, aqui, não no sentido de ‘gramática normativa’, mas como referência ao núcleo da linguagem: fonologia, morfologia, sintaxe, semântica. A criança abstrai a gramática da sua língua materna a partir dos dados linguísticos a que está exposta no grupo social em que se insere. Os ‘erros’ na fala da criança muitas vezes são evidências de conhecimento e não de desconhecimento, como, por exemplo, na produção eu sabo em lugar de eu sei, ou eu fazi no lugar de eu fiz. Nesses dois casos, a criança demonstra conhecimento da morfologia do Português ao aplicar a verbos irregulares o que sabe sobre a conjugação regular de verbos. C) A afirmação “A apreensão de significados se dá, já nas primeiras palavras, pela relação não ambígua entre significado e significante” é incorreta porque essa relação pode ser ambígua ou não ambígua, a depender da palavra. Isso se refere não só à fase da aquisição da linguagem, mas igualmente à língua na sua completude. E) A afirmação “a interpretação dos signos linguísticos se dá linearmente” é incorreta porque, em situação de comunicação, a interpretação se dá de maneira ENADE Comentado 2008: Letras 13 simultânea mediante o processamento em paralelo das informações. Somente na leitura a compreensão e interpretação dos signos/palavras se dá numa relação de um-após-o-outro. Referências SANTOS, Raquel Santana. A aquisição da linguagem. In: FIORIN, J.L. (org.) Introdução à linguística. I. Objetos Teóricos. São Paulo: Contexto, 2002. SCARPA, Ester Mirian. Aquisição da linguagem. In: MUSSALIM, F. & BENTES, A. C. Introdução à linguística. Domínios e fronteiras. São Paulo, Cortez, vol. 2, 2001. 14 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 12 Qual é a opção incorreta a respeito das relações semânticas do texto verbal? (A) Mudando-se o foco da ênfase, que está na autora,“Shirley Paes Leme” (l.1), para a ênfase na obra, “desenho” (l.1), a alteração da primeira oração do texto ficaria adequada da seguinte forma: Está no desenho a alma da obra de Shirley Paes Leme. (B) Na linha 5, a preposição “com” tem a função semântica introduzir uma característica para “delicados desenhos”. (C) Depreende-se do emprego do conector “ora (...) ora” em “ora em feixes escultóricos, ora em instalações” (l.3-4), que “feixes escultóricos” se transformam em “instalações” e “instalações” se transformam em “feixes escultóricos”. (D) A noção de reflexividade, ou seja, a de que agente e paciente de um verbo reportam-se ao mesmo referente, está presente tanto em “Shirley conta ter se inspirado” (l.7) como em “linhas-galhos que se movem” (l.12-13). (E) O desenvolvimento do texto permite depreender o significado da palavra “linhas-galhos” (l.12-13) a partir dos significados de galho e de linha. Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta INCORRETA. Conteúdos avaliados: Equivalência entre estruturas; papel do sintagma preposicionado; noção de reflexividade; compreensão de texto; relação entre orações no período. Autora: Marisa Magnus Smith Comentário: A resolução desta questão, pelo fato de ser solicitada a resposta incorreta, requer atenção redobrada. É interessante iniciar pela identificação das afirmativas corretas, eliminando-as até chegar à incorreta. A) A ordem direta das frases em língua portuguesa é sujeito – verbo – complemento – circunstâncias. Na ordem direta, portanto, estando presente o sujeito oracional, o tópico frasal (o item sobre o qual recai maior ênfase), é o sujeito oracional. No caso em questão, Shirley Paes Leme tem a alma de sua obra no desenho, o tópico frasal é o elemento negritado. As estruturas oracionais da língua ENADE Comentado 2008: Letras 15 portuguesa, entretanto, têm como característica a grande mobilidade de seus termos, de modo que a mesma ideia poderia assumir as formas seguintes: (1) A alma da obra de Shirley Paes Leme está no desenho. (2) No desenho está a alma da obra de Shirley Paes Leme. (3) Está no desenho a alma da obra de Shirley Paes Leme. A opção por uma construção alternativa à ordem direta geralmente não é gratuita, já que a ênfase se desloca de acordo com a topicalização operada, inconsciente ou deliberadamente, pelo autor do proferimento. Interessante, igualmente, observar o papel do verbo “ter”, que substitui o “estar” na proposta da alternativa A. Embora ele seja tradicionalmente considerado verbo transitivo direto, e na frase em questão venha acompanhado de complemento, “a alma de sua obra”, o verbo “ter” não se caracteriza como verbo de ação, o que explica poder ser comutado por um verbo de situação, no caso, “estar”. Por outro lado, “no desenho”, a par de sua conotação localizadora, apresenta importante traço predicativo em relação a “a alma da sua obra”, reforçando a relação entre o papel do “ter” e do “estar” nas frases em pauta. B) As preposições, ainda que não constituam lexemas, isto é, que não sejam portadoras de sentido pleno e não derivem outros vocábulos, carregam importantes traços de significação, e os sintagmas preposicionados que introduzem podem desempenhar variados papéis. A esse propósito, Cunha e Cintra (2001, p. 77) afirmam que não se deve confundir o conceito de significação linguística interna, aplicável aos morfemas gramaticais, com a ideia de morfema vazio, desprovido de conteúdo, infelizmente muito vulgarizada, e trazem como exemplo os efeitos de sentido produzidos pela oposição entre preposições em versos de Cecília Meireles (Obra poética. Rio de Janeiro: Aguilar, 1953): Hoje eu queria andar lá em cima, nas nuvens, com as nuvens, pelas nuvens, para as nuvens. (grifo nosso) 16 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Vejamos alguns exemplos de sintagmas iniciados pela preposição “com”, e as ideias a eles subjacentes: O jovem comia o sanduíche com vontade – modo como o jovem comia. O pescador pegou o peixe com um arpão – instrumento com que o pescador pegou o peixe. O estudante revisou o conteúdo com seu colega – companhia com quem o estudante revisou o conteúdo. Com fome, fica difícil raciocinar – condição para a / razão da dificuldade para raciocinar. Vimos um cachorrinho com camiseta de jogador de futebol – característica da veste do cachorrinho. No caso da frase “Produz também delicados desenhos com a sinuosidade da fumaça”, não é lógico imaginar que a sinuosidade da fumaça seja o instrumento com que o desenho teria sido produzido, porque ela é o próprio desenho. O lógico é entender o sintagma preposicionado como o qualificador de “desenhos”, algo que equivalente às estruturas explicativas “os quais têm a sinuosidade da fumaça” ou “que se assemelham à sinuosidade da fumaça”. C) A sequência “ora em feixes escultóricos, ora em instalações” remete à ideia de alternância entre duas possibilidades, mas não tem vida independente do ponto de vista semântico: é preciso verificar, no contexto, a qual ideia se ligam. Recuperando o período em que se encontra a sequência, temos: “Os galhos retorcidos e enegrecidos pela fumaça são seus traços a lápis, que ela articula ora em feixes escultóricos, ora em instalações.” Desdobrando as orações do período, temos duas ideias básicas: Os galhos retorcidos são os traços a lápis de Shirley Paes Leme. Shirley Paes Leme articula seus traços a lápis ora em (ou como) feixes escultóricos, ora em (ou como) instalações. Pelos recursos de coesão disponíveis, o nome da artista ficou subentendido no possessivo “seus” e o relativo “que” substituiu a expressão “seus traços a lápis”, aos quais se refere à dupla possibilidade de articulação da artista: ora em feixes, ora em instalações. Não há, portanto, transformação de uma forma em outra. Sendo a resposta incorreta, é a que deve ser indicada. ENADE Comentado 2008: Letras 17 D) A partícula “se” pode desempenhar variados papéis. No que diz respeito a funções pronominais, o “se” pode ser: (a) pronome apassivador, como em “Procurou-se uma solução conciliadora” (Uma solução conciliadora foi procurada.); (b) indicador de reciprocidade, como em “Beijaram-se longamente” (A beijou B e B beijou A) ou de reflexividade, como em “Maria machucou-se com uma faca” (Maria machucou Maria) e nos exemplos apontados na alternativa (D). Em geral, a distinção entre essas funções se dá a partir da transitividade verbal e do contexto. No caso das frases da alternativa D, não se pode entender como voz passiva nem como ação recíproca, estando, pois, correta a interpretação de “agente e paciente reportando-se ao mesmo referente”. E) A noção de “linhas-galhos” decorre da combinação sintático-semântica de “linhas que representam galhos”. De ordem sintática, porque se trata de uma composição por justaposição, em que o segundo elemento especifica o primeiro; de ordem semântica, porque se trata de uma unidade lexical, cujos constituintes – que apresentam aderência semântica – passam a denotar um só referente, aliás, neológico. Não se trata mais, apenas, de linhas para representar galhos, mas de unidades: linhas-galhos, tal a simbiose entre o processo e o produto. Contribuem fortemente para a consolidação dessa noção os vocábulos utilizados no desenvolvimento do parágrafo, tais como galhos, retorcidos, enegrecidos, fumaça, traços, lápis, feixes, desenhos, sinuosidade, fumaça, que remetem, simultaneamente, às noções de “risco” como linha e de linha como galho. Referências CUNHA, Celso; CINTRA, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. GARCIA. Othon. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: José Olympio. 18 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 13 Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de mundo. Leonardo Boff. A águia e a galinha: uma metáfora da condição humana. Petrópolis, RJ: Vozes, 1997, p. 9. Considerando o fragmento de texto acima apresentado, analise o seguinte enunciado. Na leitura, fazemos mais do que decodificar as palavras porque a imagem impressa envolve atribuição de sentidos a partir do ponto de vista de quem lê. Assinale a opção correta a respeito desse enunciado. (A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. (B) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda não é justificativa correta da primeira. (C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. (D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. (E) Tanto a primeira asserção quanto a segunda são proposições falsas. Gabarito: A Tipo de questão: Asserção e razão; escolha simples, indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Linguagem e cognição, processo de compreensão leitora, concepções de leitura. Autora: Vera Wannmacher Pereira Comentário: A escolha da opção correta tem início na leitura de um pequeno trecho inicial, de Leonardo Boff. Já aí pode ser encontrado o caminho, na medida em que esse fragmento indica que a leitura envolve olhos e visão de mundo. Metaforicamente, ENADE Comentado 2008: Letras 19 estão aí as duas proposições da questão – decodificação e sentidos decorrentes do ponto de vista do leitor. Na continuidade da questão, o leitor encontra a instrução, que faz referência ao fragmento inicial, o que confirma sua importância para o encontro da opção correta. O enunciado que segue é constituído de duas asserções ligadas pela conjunção porque, indicando a existência de uma relação causal ou explicativa. Procedendo-se à análise de cada asserção em separado, conclui-se que ambas são verdadeiras. Primeiramente, ler não se resume a decodificar. Se assim fosse, teríamos boas chances de chegar sempre a um único entendimento. Em segundo lugar, a leitura envolve não só componentes da língua, mas também do leitor (processos que utiliza, tendência de caminhos cognitivos, conhecimentos prévios, objetivos), do material de leitura (formato, gênero tipo) e do autor (percurso realizado na escrita, objetivo, visão de mundo). As cinco opções de resposta que seguem solicitam não apenas que se avalie cada asserção em separado, mas a possível relação causal entre elas. Considerando que as duas proposições do enunciado são verdadeiras, eliminam-se C, D, E, restando como possíveis A e B. Há que ver, então, se a segunda proposição justifica ou não corretamente a primeira. É bastante evidente que as proposições estão associadas, embora seja difícil concordar plenamente com a ideia de justificativa. Desse modo, B é eliminada e A, embora com restrições, é tomada como a opção correta. O conteúdo da questão 13 é importante. No entanto, há que rever o uso de asserção e proposição referindo-se ao mesmo segmento do enunciado, o que possibilita ao leitor raciocínios não convergentes. Há que rever também o uso da expressão justificativa correta, pois não parece plenamente adequado para o enunciado apresentado. 20 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Texto para as questões de 14 a 16 Canção 1 Nunca eu tivera querido Dizer palavra tão louca: bateu-me o vento na boca, 4 e depois no teu ouvido. Levou somente a palavra, 6 Deixou ficar o sentido. O sentido está guardado 8 no rosto com que te miro, neste perdido suspiro que te segue alucinado, 11 no meu sorriso suspenso como um beijo malogrado. 13 Nunca ninguém viu ninguém que o amor pusesse tão triste. Essa tristeza não viste, 16 e eu sei que ela se vê bem... Só se aquele mesmo vento fechou teus olhos, também. Cecília Meireles. Poesias completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1993, p. 118. ENADE Comentado 2008: Letras 21 QUESTÃO 14 Com base no poema acima, assinale a opção correta no que diz respeito à especificidade da linguagem literária. (A) Embora o texto seja um poema, sua linguagem não revela transfiguração artística nem opacidade. (B) Da linguagem denotativa do texto depreende-se que o poema é uma declaração de amor à pessoa amada. (C) A palavra, de acordo com o poema, não revela toda a força do sentimento que habita o eu lírico. (D) Sem os versos de sete sílabas e as rimas, a literariedade estaria ausente do poema. (E) Versos como “neste perdido suspiro que te segue alucinado” revelam a dimensão literal das palavras no contexto do poema. Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Linguagem poética; conceitos de literariedade, eu-lírico, denotação e conotação; interpretação do poema “Canção”, de Cecília Meireles, do livro Viagem (1939). Autora: Ana Maria Lisboa de Mello Comentário: A) Alternativa incorreta O poema transfigura as palavras, construindo imagens que sugerem os sentimentos que o eu-lírico quer expressar. A linguagem é conotativa, ou seja, remete a ideias e associações que se acrescentam ao sentido literal das palavras ou expressões, a fim de completar ou precisar a sua aplicação ao sentido proposto no poema. B) Alternativa incorreta No poema, predomina a linguagem conotativa, e não se pode depreender do poema que seja uma declaração amorosa remetida ao ser amado. O poema expressa sentimentos de amor e de tristeza, mas o eu-lírico duvida que possam ser compreendidos. O tu-intratextual não é receptor do texto, mas aquele que 22 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) representa o sujeito a respeito do qual o eu-lírico reflete e projeta seus sentimentos, em uma espécie de “monólogo” íntimo. C) Alternativa correta A linguagem do poema é cifrada e, por isso, não revela completamente o sentimento do eu-lírico. O significado que o sujeito poético quer transmitir a respeito de seus sentimentos nem é completamente explicitável, porque as palavras não conseguem traduzir o íntimo, apenas sugeri-lo, nem é decifrável pelo tu-intratextual a quem o eu-lírico se dirige. D) Alternativa incorreta Embora o poema seja composto por versos de sete sílabas (redondilha maior) e haja rimas, não é apenas esse aspecto que garante a literariedade do poema. O poema poderia ser composto por versos livres (de metro irregular) e versos brancos (sem rimas) e expressar a sua literariedade. Essa advém, sobretudo, do uso conotativo da linguagem, através da qual as palavras se afastam do seu significado literal, como, por exemplo, o vocábulo “vento” no poema “Canção”, que é deslocado de sua referencialidade cotidiana, para carregar-se de novos sentidos e expressar as impressões do eu-lírico. Esses deslocamentos provocam a plurissignifição textual, permitindo afirmar que, desse modo, o texto atinge a sua função poética. E) Alternativa incorreta Não há, no poema, pelas razões já expostas, uma ênfase no sentido literal das palavras. Trata-se de um texto que trabalha com a função poética da linguagem, que se caracteriza pelo deslocamento dos sentidos usuais das palavras e de sua lógica, para estabelecer novas relações, capazes de expressar sentimentos e impressões difíceis de verbalizar. Referências CARA, Salete. A poesia lírica. São Paulo: Ática, 1998. (Princípios) PROENÇA FILHO, Domício. A linguagem literária. São Paulo: Ática, 2008. REIS, Carlos. “A linguagem literária”. In: REIS, C. O conhecimento da literatura: introdução aos estudos literários. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. ENADE Comentado 2008: Letras 23 QUESTÃO 15 De acordo com abordagens da análise do discurso, a significação não se restringe apenas ao código lingüístico. Que versos evidenciam essa noção? (A) “Nunca eu tivera querido Dizer palavra tão louca” (v.1-2) (B) “bateu-me o vento na boca, e depois no teu ouvido” (v.3-4) (C) “Levou somente a palavra, deixou ficar o sentido” (v.5-6) (D) “Nunca ninguém viu ninguém que o amor pusesse tão triste” (v.13-14) (E) “Só se aquele mesmo vento fechou teus olhos, também” (v.17-18) Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Compreensão de texto. Autores: Gilberto Scarton e Marisa Magnus Smith Comentário: Teorias relacionadas à produção e recepção de textos têm demonstrado que os sentidos do que ouvimos, lemos, falamos e escrevemos se constroem a partir de fatores que ultrapassam em muito o componente linguístico presente nas interações verbais, dentre eles competências e habilidades de ordem referencial, textual, pragmática e discursiva. O sentido não está, pois, nas palavras ou no texto, tão somente. Tampouco existe correspondência estrita entre significante e significado: se é verdade que os processos de compreensão têm como estímulo e fio condutor os sinais sonoros e/ou gráficos, não é menos verdade que o sentido será definido, em última instância, por quem recebe esses estímulos e pelas circunstâncias em que se realiza a enunciação. No caso do texto escrito, do qual se ocupa a questão, é o leitor que, mobilizando uma série de estratégias e de saberes, (re)constrói o sentido. Tais saberes incluem, entre outros: a) o conhecimento de mundo: soma dos conhecimentos internalizados, advindas de nossas leituras e de nossas experiências; b) o conhecimento referencial: domínio mais ou menos preciso da temática desenvolvida no texto; 24 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) c) o conhecimento linguístico: saberes relacionados ao código linguístico, ao significado das palavras, à morfologia e à sintaxe; d) o conhecimento textual: noções de tipologia, gênero, fatores responsáveis pela textualização; e) o conhecimento pragmático: condicionamentos que encaminham as leituras possíveis, a partir de dados do contexto socioexistencial. f) o contexto de produção e de enunciação: conhecimento das circunstâncias em que o texto foi criado, tais como autoria, época, veículo e objetivo de edição. É na dicotomia palavra-sentido, como se viu, que se fundamentam os versos de Cecília Meireles: Levou somente a palavra deixou ficar o sentido. A dissociação entre forma (palavra) e conteúdo semântico (sentido) está aí tão evidente, que a resolução da questão dispensa qualquer “abordagem da análise do discurso” – mesmo porque as demais possibilidades (alternativas B, C, D e E) não se relacionam com o problema apresentado. Para além da contingência da prova, o leitor proficiente poderia “ler”, no contexto da enunciação, a expressão facial, os gestos, a linguagem corporal, metaforizados em versos como: O sentido está guardado No rosto com que te miro, Neste perdido suspiro (...) No meu sorriso suspenso. (...) Essa tristeza não viste, E eu sei que ela se vê bem... Fácil entender, pois, que só constrói o sentido de certas mensagens quem tem olhos para ver; quando esses não veem, o vento leva aos ouvidos somente as palavras, perdendo-se o sentido. ENADE Comentado 2008: Letras 25 QUESTÃO 16 Em qual das opções a seguir as duas palavras do texto estão sujeitas à redução do ditongo, fenômeno frequente no português falado no Brasil? (A) “eu” e “bateu-me” (B) “guardado” e “viu” (C) “louca” e “beijo” (D) “depois” e “sei” (E) “ninguém” e “bem” Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da alternativa correta. Conteúdo avaliado: Variação fonológica. Autora: Claudia Brescancini Comentário: Pede-se ao examinando que demonstre conhecimento sobre a diferença entre ditongos verdadeiros, aqueles que não variam com monotongos sem que haja perda do significado da palavra, e ditongos falsos, os que variam com monotongos sem prejuízo ao significado. São exemplos do primeiro caso os dados das alternativas A, B, D e E, pois eu, bateu-me, viu, sei não podem ter seus ditongos reduzidos a simples vogais, resultando em e, bate-me, vi e se, sem que tenham alterados seus significados. Nos casos de guardado, depois, ninguém e bem, a redução do ditongo resultaria em itens estranhos ao sistema do português brasileiro, como gardado, depos, ningue e be. Desse modo, a única alternativa que contém dois casos de ditongos falsos é a C, pois tanto louca quanto beijo são variavelmente produzidos por brasileiros como loca e bejo, sem que o significado das palavras se altere e sem que o resultado seja agramatical. 26 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 17 “Ao lermos, se estamos descobrindo a expressão de outrem, estamos também nos revelando, seja para nós mesmos, seja abertamente. Daí por que a troca de idéias nos acrescenta, permite dimensionarmo-nos melhor, esclarecendonos para nós mesmos, lendo nossos interlocutores. Tanto sabia disso Sócrates como o sabe o artista de rua: “conversando também conheço o que é que eu digo”. Recepção e interação na leitura. In: Pensar a leitura: complexidade. Eliana Yunes (Org). Rio de Janeiro: PUC- Rio; São Paulo: Loyola, 2002, p. 105 (com adaptações). A partir das reflexões do texto apresentado, assinale a opção correta a respeito da interação texto-leitor. (A) A aproximação, no texto, entre o que sabia Sócrates e o que sabe o artista de rua, é incoerente porque os respectivos horizontes de expectativa são diferentes. (B) A perspectiva apontada no texto favorece a vivência da leitura como autoconhecimento, em detrimento da leitura como identificação da expressão do outro. (C) A leitura como descobrimento pressupõe uma postura pedagógica que reforça a tradição de leitura como confirmação da fala de uma autoridade. (D) A interação texto-leitor deve ser evitada, por fugir ao controle do autor e favorecer uma espécie de “vale-tudo interpretativo”. (E) Para a leitura como descobrimento ser efetiva, é necessária a troca de idéias sobre a leitura; ler com o outro para nos conhecermos. Gabarito: E Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Concepções de leitura; interação texto-leitor no processo de compreensão leitora. Autora: Jocelyne da Cunha Bocchese Comentário: Nesta questão é solicitada e escolha da alternativa que melhor se relacione com as ideias contidas num fragmento do texto Recepção e interação na leitura, de Maria Helena Martins, retirado da obra Pensar a leitura: complexidade, organizada por Eliane Yunes. Envolve, portanto, mais do que o conhecimento do conteúdo sobre o papel do leitor no processo de compreensão leitora, a capacidade de ler e entender o texto citado. ENADE Comentado 2008: Letras 27 Vejamos, pois, o que diz o texto. De início, a autora parte da concepção de leitura como processo interativo no qual ocorre o encontro com o outro, com a expressão de outrem. A proposta de interlocução é reforçada pelas expressões troca de ideias, lendo nossos interlocutores e conversando. Segue-se daí que o leitor se modifica no decorrer desse processo, pois a troca de ideias nos acrescenta, permite dimensionarmo-nos melhor, esclarecendo-nos para nós mesmos. Tal afirmação é apresentada como uma verdade atemporal, já que sustentada pela aproximação que a autora promove entre o que dizia Sócrates, na Antiguidade, e o que diz hoje o artista de rua: conversando também conheço o que é que eu digo. Ora, a alternativa que melhor se relaciona com as reflexões do texto apresentado é, indiscutivelmente, a E. Nela se afirma que, para a compreensão ser efetiva, é necessário haver descobrimento de sentidos, o que se dá pela troca de ideias sobre a leitura. A descoberta de sentidos não se esgota, entretanto, no desvelamento da expressão de outrem, repercutindo também na própria constituição do leitor: ler como o outro para nos conhecermos. O conceito de leitura como processo no qual ocorre o encontro do locutor com o interlocutor através do texto e a determinação de ambos pelo contexto (linguístico, textual, pragmático-discursivo) decorre, de acordo com Kleiman (2006), de uma concepção mais ampla de linguagem como interação entre sujeitos em sociedade, também denominada sociointeracionista. Como forma de interação entre um eu e um tu, mediados pelo texto, num tempo e num espaço sociais, a leitura/compreensão é produção de sentidos que implica uma resposta do leitor ao que lê (JURADO e ROJO, 2006). Alinhados a essa concepção, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1999) definem leitura como um ato interlocutivo, dialógico, a partir do qual vão sendo produzidos os sentidos, vistos então como efeitos decorrentes do trabalho conjunto entre produtores e receptores em situações de uso da linguagem. Tal concepção de leitura como atividade interlocutiva contrapõe-se a outra segundo a qual a compreensão leitora é vista como decodificação do material escrito, pois todo sentido estaria dado pelo texto, cabendo ao leitor dominar os mecanismos linguísticos e cognitivos para processá-lo adequadamente. Por esse 28 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) motivo, está incorreta a alternativa D, quando desaconselha o incentivo à interação leitor-texto, ao alegar que ela favorece uma espécie de vale-tudo interpretativo. A atividade interpretativa do leitor também é negada pela alternativa C, segundo a qual o sentido do texto já estaria fixado pela tradição (pelo livro didático, por leitores mais experientes, pela história das leituras já realizadas, enfim, por outros que não o leitor), cabendo ao professor desvelá-lo aos alunos. Nesse caso, compreender um texto seria como confirmar a fala de uma autoridade, desautorizando-se as novas leituras, diferentes ou divergentes das já determinadas. Num outro extremo, temos a situação apresentada pela alternativa B, segundo a qual o leitor compreenderia o texto investido apenas em sua subjetividade, desconsiderando o dizer do outro, o dado objetivo que se lhe apresenta à compreensão. A alternativa contradiz claramente o texto de Maria Helena Martins, ao afirmar que a leitura como autoconhecimento se faz em detrimento da leitura como identificação do outro. Finalmente, a alternativa A também está incorreta por tangenciar a ideia central do texto de Maria Helena Martins, limitando-se a criticar o recurso retórico de que a autora se vale, sob a alegação de que são diferentes os horizontes de expectativa de Sócrates e do artista de rua, não cabendo, portanto, a aproximação entre os pontos de vista dos dois no que se refere ao autoconhecimento promovido pelo encontro com o outro, mediante a leitura. Trata-se de uma crítica ao modo como a autora fundamentou o seu ponto de vista no texto, não levando em consideração o que é solicitado na raiz da questão. Com base nessas considerações, pode-se concluir que, apesar de abordar diferentes concepções de leitura e o papel do leitor nesse processo, a questão 17 é de fácil resolução, pois poderia ser resolvida por um leitor proficiente, mesmo que este pouco ou nada soubesse sobre o conteúdo teórico focalizado. Referências JURADO, S., ROJO, R. A leitura no ensino médio: o que dizem os documentos oficiais e o que se faz. In: BUNZEN, C., MENDONÇA, M. (orgs.). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. KLEIMAN, Ângela. Leitura e prática social no desenvolvimento de competências no ensino médio. In: BUNZEN, C., MENDONÇA, M. (orgs.). Português no ensino médio e formação do professor. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. ENADE Comentado 2008: Letras 29 QUESTÃO 18 Em casa, os amigos do jantar não se metiam a dissuadi-lo. Também não confirmavam nada, por vergonha uns dos outros; sorriam e desconversavam. (...) Rubião via-os fardados; ordenava um reconhecimento, um ataque, e não era necessário que eles saíssem a obedecer; o cérebro do anfitrião cumpria tudo. Quando Rubião deixava o campo de batalha para tornar à mesa, esta era outra. Já sem prataria, quase sem porcelanas nem cristais, ainda assim aparecia aos olhos de Rubião regiamente esplêndida. Pobres galinhas magras eram graduadas em faisões, assados de má morte traziam o sabor das mais finas iguarias da Terra. (...) Toda a mais casa, gasta, pelo tempo e pela incúria, tapetes desbotados, mobílias truncadas e descompostas, cortinas enxovalhadas, nada tinha o seu atual aspecto, mas outro, lustroso e magnífico. Machado de Assis. Quincas Borba. São Paulo: W. M. Jackson Editores, 1955, p. 317- 9 (fragmento). A uns, a ironia no tratamento da cor local e de tudo que seja imediato pareceu uma desconsideração. Faltaria a Machado o amor de nossas coisas. Outros saudaram nele o nosso primeiro escritor com preocupações universais. Uma contra, outra a favor, as duas convicções registram a posição diminuída que acompanha a notação local no romance de Machado, e concluem daí para a pouca importância dela. Uma terceira corrente vê Machado sob o signo da dialética do local e do universal. Em Quincas Borba, o leitor a todo o momento encontra, lado a lado e bem distintos, o local e o universal. A Machado não interessava a sua síntese, mas a sua disparidade, a qual lhe parecia característica. Roberto Schwarz. Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1987, p. 167-70. (com adaptações). De acordo com o texto de Roberto Schwarz, acerca da recepção crítica da obra de Machado de Assis, assinale a opção que interpreta corretamente o trecho de Quincas Borba, referente ao delírio do protagonista Rubião. (A) O aspecto “lustroso e magnífico” que Rubião dava às “cortinas enxovalhadas” acentua a disparidade crítica da obra machadiana, que, pela tensão entre local e universal, descortina a vida nacional. 30 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) (B) A divisão da crítica quanto à recepção da obra de Machado de Assis é um falso problema, pois, como se vê em Quincas Borba, o pitoresco e o exotismo românticos continuam presentes no texto machadiano. (C) Rubião, incapaz de enxergar a realidade como ela de fato era, confirma, com seu delírio, a tendência crítica que vê, na obra de Machado de Assis, uma atitude de desconsideração para com a realidade nacional. (D) A identificação de Rubião com o imperador francês corresponde à da obra de Machado de Assis com os modelos literários universais, o que reafirma a recepção crítica que saudava a universalidade da obra do escritor. (E) A ironia machadiana presente na obra Quincas Borba, evidenciada na imagem de as “galinhas magras” se transformarem em “faisões”, confirma as opiniões críticas que concebem a obra de Machado como negação do aspecto nacional e valorização do universal. Gabarito: A Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Leitura da obra Quincas Borba, de Machado de Assis; conhecimento sobre as principais características da sua estética, da visão de mundo e do autor e de sua fortuna crítica, tanto no que se refere às leituras equivocadas da obra machadiana, que chegaram até nossos dias, quanto àquelas mais profícuas, da segunda metade do século XX; capacidade de interpretar textos e de estabelecer relações. Autora: Sissa Jacoby Comentário: A) Alternativa correta Localiza no delírio de Rubião a aludida tensão entre o local e o universal, simbolizada na alucinação de poder da personagem: a realidade desejada (lustroso e magnífico) em contraposição à realidade vivida (cortinas enxovalhadas). Paralelamente à trajetória de Rubião – professor interiorano que se torna capitalista por acaso e, despreparado, busca também a projeção política e social, indo viver na corte e sendo vítima de arrivistas que o levam à ruína –, Machado descreve a sociedade brasileira, representada no Rio de Janeiro do II Império, expondo seus mecanismos de funcionamento: o parasitismo social, a mentira, a trapaça, o desejo de ganho fácil e o olhar voltado para as grandes nações europeias. ENADE Comentado 2008: Letras 31 B) Alternativa incorreta Afirma a existência do pitoresco e do exotismo românticos no trecho destacado de Quincas Borba, o que não ocorre. Segundo Schwarz, Machado “foi mais longe que outros na descrição do dado social, bem como no aproveitamento crítico da literatura brasileira anterior [romântica], o que paradoxalmente o levava a dispensar os apoios do pitoresco e do exotismo, e lhe permitia integrar sem servilismo os numerosos modelos estrangeiros de que se valia”. Além disso, essa afirmação da resposta B é usada como prova que refutaria o problema levantado pela crítica e comentado no excerto de Que horas são?, o que também não se reduz à indicação da ausência desses aspectos na obra machadiana. C) Alternativa incorreta Aponta o delírio de Rubião como afirmação da tendência crítica que vê na obra de Machado de Assis uma desconsideração para com a realidade nacional. Ao contrário, o recurso utilizado pelo escritor está a serviço de uma visão crítica dessa realidade, retratada, entre outros elementos da obra, pela trajetória de Rubião. D) Alternativa incorreta A correspondência apresentada nesta alternativa, entre a identificação de Rubião com a figura de Napoleão III e a identificação da obra de Machado de Assis com modelos literários universais, não se sustenta, pois o conceito de universalidade, atribuído por uma tendência da crítica, não pode ser reduzido a esse aspecto da obra. E) Alternativa incorreta Apresenta a ironia na passagem da transformação das “galinhas magras” em “faisões” como confirmação das opiniões críticas que veem na obra de Machado de Assis a negação do aspecto nacional e a valorização do universal. Nesse sentido, assemelha-se à alternativa C, pois confunde a disparidade crítica que coloca lado a lado o local e o universal com sua negação ou valorização por parte do escritor. Referências SCHWARTZ, Roberto. Que horas são? São Paulo: Companhia das Letras, 1987. SCHWARTZ, Roberto. Ao vencedor as batatas. São Paulo: Duas Cidades, 1977. GARBUGLIO, José Carlos. A composição e a decomposição. In: ASSIS, Machado de. Quincas Borba. São Paulo: Ática, 1992. 32 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 19 Para a interpretação do conjunto de informações do folheto de divulgação ao lado, que utiliza tecnologias diversificadas ao explorar texto visual e verbal, é necessário considerar que Folheto de divulgação do 7.º Festival Internacional de Bonecos de Brasília de 2008. (A) o uso de dois códigos ilustra uma representação fiel de mundo que constitui o significado dos signos verbais e visuais. (B) o interlocutor que não domine o código linguístico não recebe informações suficientes para compreender as informações visuais. (C) a comunicação plena nesse gênero textual depende da estruturação prévia de significados não ambíguos em diferentes códigos. (D) o uso adequado de signos verbais e visuais permite que se elimine um dos códigos porque as informações são fornecidas pelo outro. (E) a coerência do texto se constrói na integração das informações constituídas em linguagem verbal e em linguagem visual. ENADE Comentado 2008: Letras 33 Gabarito: E Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Combinação da linguagem verbal e da linguagem visual para construir a coerência 1 e, consequentemente, a compreensão do texto o 7º. Festival Internacional de Bonecos de Brasília. Autoras: Ana Maria Tramunt Ibaños e Jane Rita Caetano da Silveira Comentário: Por se tratar de uma questão ilustrada, de pouca complexidade no conteúdo e na forma, e por ser a resposta certa a única coerente, considerando-se o enunciado das demais, o nível de dificuldade do candidato é razoavelmente pequeno, requerendo-se dele apenas o conhecimento da noção de coerência (que não supõe, necessariamente, o domínio da fundamentação teórica) e a habilidade de um raciocínio adequado na interpretação das alternativas. Através dos termos coerência, integração das informações, linguagem verbal e linguagem visual, a alternativa E leva à compreensão e à escolha a ser feita, uma vez que coerência remete a sentido do texto, integração das informações pressupõe que tais informações se combinam, e as duas linguagens, visual e verbal, constituem as referidas informações. Na verdade, a própria instrução da questão 19, indicando como texto o folheto de divulgação, é parafraseada na alternativa certa, isto é, a seleção de E pode ser feita seguindo os mesmos pressupostos da questão: a informação verbal (os enunciados da questão 19 e as palavras do folheto ) + a informação visual (as imagens usadas para a divulgação do festival) determinam a coerência do texto e a interpretação pretendida (conclusão acertada). Ressalta-se, além disso, que as imagens dos bonecos nos folhetos são apenas ilustrativas, usadas como reforço 1 Para retomar e desenvolver o estudo das noções teóricas de coerência, texto, textualidade e de imagem/ código visual, sugerimos as seguintes referências bibliográficas: KOCH, Ingedore G.Villaça. & TRAVAGLIA, Luiz Carlos. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1995. ______. Texto e coerência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000. JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. 6. ed. Campinas: Papirus, 1996. NÖTH, Winfried; Santaella, Lucia. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 1998. SILVEIRA, Jane Rita Caetano da. Leitura: informação e comunicação. Letras de Hoje, v. 40, n. 1. Porto Alegre: EDIPUCRS, março/2005. 34 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) para chamar a atenção do receptor, pois o código verbal, neste exemplo específico, seria suficiente para a divulgação do evento referido. Analisando-se as demais alternativas, observa-se que a primeira, A, pode ser descartada pela expressão representação fiel de mundo, pois nem a imagem nem o código verbal satisfazem essa condição. Ou seja: a imagem, do ponto de vista da semiótica peirceana, 2 é uma representação dela própria (os bonecos), e o código verbal constitui uma representação convencional (os signos linguísticos) para expressar um conteúdo que se pretende comunicar. A alternativa B impõe uma condição inexistente – o domínio do código linguístico – para a compreensão de signos visuais, os quais constituem uma representação por semelhança, independendo de código verbal. A alternativa C apresenta algo ilógico ao propor a condição de estruturação prévia de significados não ambíguos em diferentes códigos, uma vez que o significado é vinculado ao contexto da comunicação e é construído durante o ato interpretativo, e não a priori, a partir das informações verbais e visuais. Já a alternativa D, ao propor a possibilidade de se eliminar um dos códigos, justificando que as informações deste são fornecidas pelo outro, contradiz o enunciado da questão 19, no qual se afirma que a exploração do código verbal e do código visual é o que vai permitir a compreensão do folheto de divulgação. Em síntese, não há necessidade de conhecimentos linguístico-teóricos prévios para a escolha da alternativa adequada: basta que o leitor raciocine sobre a proposta da questão (que inclui a leitura do texto com código verbal e visual) e o conteúdo das alternativas. Destaca-se, entretanto, que os conteúdos envolvidos nessa questão relacionam-se diretamente ao contexto acadêmico-profissional do formando de Letras, tendo em vista o amplo uso da linguagem verbal associada à linguagem visual nas pesquisas atuais, nos materiais didático-instrucionais, na mídia e na realidade cotidiana de aprendizes e educadores. 2 Para os conceitos relacionados à representação dos signos, recomenda-se a leitura de: PEIRCE, Charles S. Collected papers. Harvard University Press: Cambridge, Mass.1931-58. SANTAELLA, Lúcia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1993. ______. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 2000. ENADE Comentado 2008: Letras 35 QUESTÃO 20 A respeito do processo de elaboração que resultou no folheto apresentado na questão anterior, julgue os itens que se seguem. I A combinação entre o tema, o estilo das ilustrações e a escolha do traçado das letras revela crianças, ou público de baixa escolaridade, como o destinatário pretendido para esse texto. II Apesar das poucas marcas de coesão, esse texto respeita as características do gênero textual que representa e atinge o objetivo pretendido: convidar para o festival. III Coerentemente com o texto visual, que representa bonecos característicos da arte popular, a linguagem do texto verbal reproduz a linguagem popular, no uso de termos como “entrada franca”. Está certo o que se afirma apenas em (A) I. (B) II. (C) I e II. (D) I e III. (E) II e III. Gabarito: B Tipo de questão: Escolha combinada. Conteúdos avaliados: Identificação de elementos coesivos, gramaticais e lexicais, 3 pertinentes ao gênero textual em questão, ou seja, um texto de divulgação constituído de linguagem verbal e visual, e ao conhecimento de variedades linguísticas, 4 mais especificamente a linguagem popular, considerando-se sua adequação ao processo interpretativo do leitor. Autoras: Ana Maria Tramunt Ibanõs e Jane Rita Caetano da Silveira 3 Sugerem-se, para mais informações sobre elementos coesivos, as seguintes obras: COSTA VAL, M. G. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. KOCH, Ingedore G. Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1989. 4 Conteúdos explanatórios de variação linguística podem ser retomados em: CAGLIARI, L.C. Alfabetização e linguística. 8. ed. São Paulo: Scipione, 1995. FIORIN, José Luiz. Introdução à linguística. vol.1. São Paulo: Contexto, 2002. 36 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Comentário: O conteúdo avaliado mescla noções de coesão e coerência textuais com adequação comunicativa da linguagem utilizada, tendo em vista a forma da mensagem (estilo de imagem, traçado das letras e variedade linguística) e o públicoalvo ou destinatário pretendido. A alternativa B, considerada a correta, remete à afirmação II, a qual inicia com uma oração concessiva para ressaltar que as poucas marcas coesivas do texto em análise não impedem que ele contemple o gênero textual em que se insere, alcançando o propósito comunicativo de convidar para o festival de bonecos. As referidas marcas coesivas tornam-se dispensáveis, tendo em vista o contexto de informações contidas no folheto indicado. Pode-se observar, em II, que as orações e atinge o objetivo pretendido: convidar para o festival são potencialmente decisivas para a escolha dessa alternativa, pois é senso comum que a divulgação de um evento, através de um folheto (ou de outro meio similar) com informações sobre tema, data, local, modo de acesso e a frase Venha assistir... não deixa nenhuma dúvida sobre o seu objetivo. Isso pode realmente ter sido um elemento facilitador da questão. A afirmativa I, por outro lado, apresenta impropriedade em seu conteúdo ao colocar no mesmo nível crianças e público de baixa escolaridade, uma vez que se trata de destinatários totalmente distintos. O desenvolvimento cognitivo de crianças não pode ser comparado à baixa escolaridade, e nem os interesses desses dois destinatários coincidem. Entretanto, imagens de bonecos, embora representem várias culturas diferentes, permitem atrair qualquer público, independente de idade e de escolaridade. Além disso, o estilo das ilustrações e a escolha do traçado das letras não implica semelhanças com um destinatário infantil nem com indivíduos de baixa escolaridade. Percebe-se, desse modo, que a afirmativa contém várias razões para não ser selecionada como certa. O item III dessa questão, que associa, diferentemente do que foi afirmado em I, a arte popular à linguagem popular, também se apresenta inadequado, tanto em termos culturais quanto linguísticos. Isso ocorre porque apreciar a arte popular não está condicionado a falantes que se utilizam da linguagem popular, e nem a expressão entrada franca caracteriza esse tipo de linguagem. ENADE Comentado 2008: Letras 37 A questão 20 apresenta baixo grau de complexidade e explora superficialmente as noções de coesão e coerência, apesar de abordar os fenômenos da variação linguística e da adequação comunicativa, fundamentais na formação acadêmica do formando de Letras, por serem inerentes à sua prática profissional. 38 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 21 Antes de compreender o que significam as inovações tecnológicas, temos de refletir sobre o que são velhas e novas tecnologias. O atributo do velho ou do novo não está no produto, no artefato em si mesmo, ou na cronologia das invenções, mas depende da significação do humano, do uso que fazemos dele. Juliane Corrêa. Novas tecnologias da informação e da comunicação; novas estratégias de ensino/aprendizagem. In: Carla VianaCoscarelli (Org.). Novas tecnologias, novos textos, novas formas de pensar. Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 44 (com adaptações). Relacionando as idéias do fragmento de texto acima à formação e à ação do professor em sala de aula, conclui-se que (A) a chegada das inovações tecnológicas à escola torna obsoletos os saberes acumulados pelo professor. (B) as inovações tecnológicas no campo do ensino-aprendizagem não garantem inovações pedagógicas. (C) a inclusão digital é assegurada quando as escolas são equipadas com computadores e acesso à Internet. (D) os novos modos de ler e escrever no computador devem ser transpostos para a modalidade escrita da língua no espaço escolar. (E) o acervo impresso das bibliotecas escolares deve ser substituído por acervos digitais, de maior circulação e funcionalidade. Gabarito: B Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da alternativa correta. Conteúdos avaliados: Inclusão digital; uso de novas tecnologias na educação; linguagem da internet e aprendizado da leitura e escrita na escola. Autora: Heloísa Koch Comentário: O fragmento de texto que antecede as alternativas da questão 21 apresenta uma breve reflexão sobre o uso das novas e velhas inovações tecnológicas na educação, remetendo à necessidade de questionar os recursos tecnológicos não como simples meios que veiculam conteúdos pedagógicos, mas como novos processos de aprendizagem que oferecem possibilidades de renovar a concepção do modelo tradicional da educação, instaurando outra práxis educacional. ENADE Comentado 2008: Letras 39 Vale salientar, portanto, que as novas tecnologias podem contribuir para ampliar os padrões tradicionais da produção do conhecimento porque oferecem acesso a múltiplas formas de interação, mediação e expressão de sentidos, propiciados tanto pelos fluxos de informação e diversidade de recursos disponíveis (textuais, sonoros e visuais) como pela flexibilidade de exploração. O computador, nesse contexto, configura-se como potencializador para extrapolar as limitações clássicas do modelo preconizado pela Teoria da Informação, baseada na tríade linear emissor/mensagem/receptor. As novas tecnologias, no entanto, propiciam o diálogo entre os dois polos da comunicação (emissor/receptor), possibilitando que ambos interfiram na mensagem. Essa transformação tem implicações diretas na educação, pois é a partir dela que novas re-configurações surgem para a comunicação humana e para o diálogo: flexibilidade, autonomia e criatividade. Relacionando as ideias contidas na breve introdução acima, pode-se dizer que a alternativa A está incorreta, pois as inovações tecnológicas não possuem o poder de substituir o professor, mas de auxiliá-lo em suas tarefas de ensino cotidianas. Um professor pode tornar-se obsoleto, no entanto, quando não reconhece a tecnologia como sua aliada e torna-se resistente a ela, gerando um abismo entre sua cultura e a de seus alunos e mais dificuldades para estabelecer um diálogo educativo. A alternativa B está correta porque as inovações pedagógicas não estão diretamente relacionadas às inovações tecnológicas: aquelas podem ocorrer sem que haja a presença da tecnologia e esta não tem como impor novos processos de ensino-aprendizagem se o professor não o quiser. Se os saberes que ele construiu em sua docência não contribuem para que o pensamento crítico ocupe um lugar primordial em sua sala de aula e se não há espaço para a autonomia e para o amadurecimento de todos os envolvidos nesse processo, não há como afirmar que o paradigma educacional que o professor possui será influenciado pelas inovações tecnológicas. A alternativa C está incorreta, pois a inclusão digital não acontece apenas quando as escolas possuem boa infraestrutura tecnológica; há a necessidade de capacitar docentes para utilizar os recursos de que dispõem as escolas. No Brasil, segundo dados do Ministério da Educação, até 2006 apenas 17 mil instituições de 40 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Ensino Fundamental contavam com laboratórios de informática, número pouco significativo comparado ao total de 147 mil instituições de ensino. Além disso, por mais que cresça nas Faculdades de Educação a preocupação em formar profissionais preparados para lidar teoricamente com a linguagem das novas mídias e seu significado nas salas de aula, existe ainda certa resistência cultural quando se fala em novas tecnologias na sala de aula. A alternativa D também não está correta, pois a modalidade escrita da língua no ambiente escolar possui características diferentes da escrita utilizada na Web. As crianças de hoje, nativos digitais, nascem imersas no mundo da internet. Elas são craques em lidar com o hipertexto, que conta com infinitas possibilidades de navegação. Através dos links, o aluno navega na rede, descortinando um mundo de coisas novas. A linguagem não linear da internet é, hoje, infinitamente mais sedutora para os estudantes, pois é nesse contexto que eles têm habilidade para escrever e interagir, numa velocidade inédita. A autoria na web dá mais motivação aos alunos porque traz maior visibilidade e cria uma competição saudável entre eles. Em algumas escolas, os professores utilizam o bom e velho livro como ponto de partida para a produção de poemas. Na web, a escrita se aproxima da linguagem falada, porém ela só faz sentido naquele ambiente. Cabe à escola, sim, reforçar as diferenças entre as duas modalidades de escrita e as situações em que cada uma delas deve ser utilizada. A alternativa E está incorreta porque, do ponto de vista financeiro, o acesso às novas tecnologias é limitado, tanto para quem as implementa como para quem as utiliza. Nem todas as bibliotecas brasileiras priorizam a digitalização dos acervos. De acordo com o presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB), Raimundo Martins de Lima, encontra-se pouco material digital na maior parte delas. A digitalização universaliza o acesso ao livro, mas um dos problemas atuais é obter verba para adquirir acervo em papel. Além disso, mesmo nas bibliotecas em que a digitalização está mais avançada, nem todas as obras podem passar pelo processo, devido à lei de direitos autorais, de 1998. Só ocorre a digitalização de obras que o público não poderia consultar devido ao risco de deterioração, como os periódicos e as obras raras, além daquelas que já estão em domínio público (70 anos após a ENADE Comentado 2008: Letras 41 morte do autor). Caso contrário se estaria ferindo a lei de direitos autorais. Seria complicado e oneroso solicitar permissão para todos os autores. Referências MORAES, R.; Dias, A.; FIORENTINI, L. As tecnologias da informação e comunicação na educação: as perspectivas de Freire e Bakhtin. UNIRevista, vol. 1, n. 3, Univ. de Brasília, 2006. DIDONÊ, D. “Falta Cultura Digital na Sala de Aula”. Revista Nova Escola. Disponível em: www.novaescola.org.br. Acesso em: março de 2008. 42 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Texto para as questões 22 e 23 Em relação aos estigmas linguísticos, vários estudiosos contemporâneos julgam que a forma como olhamos o “erro” traz implicações para o ensino de língua. A esse respeito leia a seguinte passagem, adaptada da fala de uma alfabetizadora de adultos, da zona rural, publicada no texto Lé com Lé, Cré com Cré, da obra O Professor Escreve sua História, de Maria Cristina de Campos. “Apresentei-lhes a família do ti. Ta, te, ti, to, tu. De posse desses fragmentos, pedi-lhes que formassem palavras, combinando-os de forma a encontrar nomes de pessoas ou objetos com significação conhecida. Lá vieram Totó, Tito, tatu e, claro, em meio à grande alegria de pela primeira vez escrever algo, uma das mulheres me exibiu triunfante a palavra teto. Emocionei-me e aplaudi sua conquista e convidei-a a ler para todos. Sem nenhum constrangimento, vitoriosa, anunciou em alto e bom som: “teto é aquela doença ruim que dá quando a gente tem um machucado e não cuida direito”. ENADE Comentado 2008: Letras 43 QUESTÃO 22 Considerando o contexto do ensino de língua descrito no texto acima, analise o seguinte enunciado. O uso de “teto” em lugar de tétano não deve ser considerado desconhecimento da língua porque esse uso revela a gramática interna da aluna. Assinale a opção correta a respeito desse enunciado. (A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. (B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é justificativa correta a primeira. (C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. (D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. (E) Tanto a primeira asserção como a segunda são proposições falsas. Gabarito: A Tipo de questão: Asserção e razão; escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Concepção de gramática (natural), erro linguístico, conhecimento de uma língua ou modalidade linguística. Autor: Gilberto Scarton Comentário: Trata-se de um tipo de questão com duas proposições ligadas pelo nexo porque, motivo pelo qual se denomina de asserção – razão ou de análise de relações. A resolução desse tipo de teste exige que se examine a veracidade de cada afirmação e a existência de relação de causa entre elas. No caso em pauta, ambas as asserções da alternativa A são verdadeiras, e a segunda constitui uma justificativa para a primeira, conforme se comenta a seguir. 44 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Em termos de conteúdo, a questão centra-se no conceito do que é conhecer uma língua, ou de gramática – termo polissêmico. A propósito, segundo Travaglia (2006: 24-37), o termo tem três sentidos básicos: gramática como manual de bom uso da língua; gramática como descrição da estrutura e funcionamento da língua; gramática como um saber inconsciente da língua. O que importa considerar para o comentário da questão 22 é o terceiro sentido de gramática, que o referido autor assim define: A terceira concepção de gramática é aquela que, considerando a língua como conjunto de variedades utilizadas por uma sociedade de acordo com o que é exigido pela situação de interação comunicativa em que o usuário da língua está engajado, percebe a gramática como o conjunto de regras que o falante aprendeu e das quais lança mão ao falar [grifo nosso]. Em seguida, o autor cita Franchi (1991: 54): Gramática corresponde ao saber linguístico que o falante de uma língua desenvolve dentro de certos limites impostos pela sua própria dotação genética humana, em condições apropriadas de natureza social e antropológica. E conclui afirmando que, nesse caso, “saber gramática não depende, pois, em princípio, de escolarização, ou de quaisquer processos de aprendizado sistemático, mas da ativação e amadurecimento progressivo (ou de construção progressiva), na própria atividade linguística, de hipótese sobre o que seja a linguagem e de seus princípios e regras.” (...) Atente-se, pois, que, nesse sentido, gramática é um conhecimento intuitivo, implícito, não reflexivo, não verbalizável, internalizado, inconsciente; um saber a língua automatizado, não formalizado ou adquirido mediante livros, gramáticas escolares, teorias, estudos, ensinamentos. De acordo com essa mesma perspectiva de gramática (natural), acrescentese que não há (propriamente) erro linguistico, pois todo falante constrói frases e textos corretamente, isto é, de acordo com os mecanismos internalizados que regem sua modalidade de língua. Acredita-se que o conteúdo referido até aqui e todo o contexto em que se insere são bastante conhecidos por nossos estudantes, uma vez que divulgados por muitas publicações – que procuram levar, inclusive para o público não especializado, conceitos fundamentais das ciências da linguagem. (Veja(m)-se, a propósito, as ENADE Comentado 2008: Letras 45 referências indicadas no fim deste comentário). São igualmente bastante mencionados em sala de aula. É oportuno sublinhar, finalmente, a relevância da questão: toca num aspecto que deve ser considerado como fundamento para o combate a falácias, a ideias distorcidas sobre o fenômeno da linguagem, que levam a preconceitos e a discriminações. Nunca é demais insistir que a língua é nossa! (Luft, 1986:74); que o falante de uma língua sabe muito mais do que aprendeu, conforme disse Chomsky (apud Luft, 1986); que a norma socialmente prestigiada não é a única norma linguisticamente válida (Antunes, 2007: 85); que todas as línguas e modalidades linguísticas são sistemas perfeitos de expressão; que uma língua não é apenas o apanágio da espécie humana, um procedimento argumentativo, um fazer acontecer as coisas, a identidade de um povo, mas também é a identidade de um indivíduo, um bem cultural, um patrimônio adquirido no seio materno; e que o combate ao preconceito e à discriminação devem fazer parta da educação de todos – o que envolve uma verdadeira educação (sócio) linguística -, para vivermos todos em harmonia neste pluriverso (de diferenças). Referências ANTUNES. Irandé. Muito além da gramática: por um ensino de línguas sem pedras no caminho. São Paulo: Parábola, 2007. BAGNO, Marcos. A norma oculta. São Paulo: Parábola, 2003. ______. Nada na língua é por acaso: por uma pedagogia da variação linguística. São Paulo: Parábola, 2007. ______. Preconceito linguístico: o que é e como se faz. São Paulo: Loyola, 2006. ______. A língua de Eulália: novela sociolinguística. São Paulo: Contexto, 2004. FARACO, Carlos Alberto. Norma culta brasileira: desatando alguns nós. São Paulo: Parábola, 2008. LUFT, Celso Pedro. Língua e liberdade: por uma nova concepção da língua materna. Porto Alegre: L&PM, 1985. PERINI, Mário A. Sofrendo a gramática. São Paulo: Ática, 2005. POSSENTI, Sírio. A cor da língua e outras croniquinhas de linguista. Campinas: Mercado de Letras, 2006. ______. Por que (não) ensinar gramática na escola. Campinas: Mercado de Letras, 1998. TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Gramática e interação: uma proposta para o ensino da gramática. São Paulo: Cortez Editora, 2006. 46 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 23 O fenômeno sociolinguístico constituído pela passagem da proparoxítona “tétano” para a paroxítona “teto”, na variedade apresentada, é observado também no emprego de (A) “figo” em lugar de fígado, e “arvre” em vez de árvore. (B) “paia” em lugar de palha, e “fio” em lugar de filho. (C) “mortandela” em lugar de mortadela, e “cunzinha” em vez de cozinha. (D) “bandeija” em lugar de bandeja, e “naiscer” em lugar de nascer. (E) “vendê” em lugar de vender, e “cantá” em vez de cantar. Gabarito: A Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da alternativa correta. Conteúdos avaliados: Mudança e variação linguística; metaplasmos. Autor: Gilberto Scarton Comentário: A questão 23 pode ser resolvida simplesmente pelo raciocínio, sem se considerar, portanto, as expressões metalinguísticas fenômeno sociolinguístico, proparoxítona, paroxítona ou mesmo o conteúdo programático a que se refere: bastaria observar que tanto em teto quanto em figo há a supressão de sons/letras no interior dos referidos vocábulos. Assim: tet(an)o = fig(ad)o. Tal fato não acontece com as demais palavras oferecidas como resposta, com exceção do vocábulo fio/filho. Ao se levarem em conta, no entanto, conteúdos programáticos, deve-se dizer que a questão versa sobre a transformação (metaplasmo) de palavras proparoxítonas em paroxítonas, por perda (síncope) de segmento(s) fonético(s). Tal fato ocorre em inúmeros outros casos: árvore (arvi), cócega (cosca), abóbora (abobra), bêbado (bebo), óculos (oclos). O fenômeno em apreço ocorreu na passagem do latim para o português, conforme comprovam os seguintes exemplos: lepore-lebre; opera-obra; manicamanga; etc. (Coutinho, 1966, p.148). Nesse sentido, pode-se dizer que o passado explica o presente. Dito de outro modo, não existe razão para se supor que a ENADE Comentado 2008: Letras 47 mudança fonética tenha ocorrido, no passado, de maneira diferente daquela de hoje. Pode-se lembrar ainda que as línguas têm uma deriva (Sapir, 1971), isto é, seguem um percurso próprio. Aprofundando o comentário, há que se acrescentar o que segue: 1. A passagem de proparoxítonas a paroxítonas é característica da linguagem popular (não apenas do meio rural), mencionada em estudos sobre essa modalidade e sobre dialetos regionais do Brasil, conforme Nascentes (1953, p.22); Melo (1971, p.90); Head (1986, p.38); entre outros. 2. Saliente-se, em atenção ao que foi dito no item anterior, que a ocorrência das variantes proparoxítonas/ paroxítonas não obedece a condicionamento geográfico (Head,1986, p. 47). 3. A tendência de transformar proparoxítonas em paroxítonas é tanto mais acentuada quanto menor o grau de escolaridade (Aguilera, 1995, p. 816). 4. A análise do problema requer ainda uma abordagem que leve também em consideração o condicionamento fonológico. Referências AGUILERA, Vanderci. As proparoxítonas na linguagem popular e rural paranaense. ENCONTRO NACIONAL DA ANPOLL. IX. Anais.Linguística, vol.2. Jpoão Pessoa: ANPOLL, 1995. COUTINHO, Ismael de Lima. Gramática histórica. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1969 HEAD, Brian F. O destino das palavras proparoxítonas na linguagem popular. In: ENCONTRO DE VARIAÇÃO LINGUÍSTICAS E BILINGUISMO NA REGIÃO SUL 4, Porto Alegre, 1985. Anais.Porto Alegre:UFRGS, 1986. MELO, Gladstone Chaves de. A língua do Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1971. NASCENTES, Antenor. O linguajar carioca. Rio de Janeiro: Organizações Simões, 1953. SAPIR, Edward. A linguagem. Introdução ao estudo da fala. Rio de Janeiro: Acadêmica, 1971 48 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 24 Se todo ser humano, ao praticar alguma ação, pensa sobre ela, que dizer dos professores que, comprometidos com o sucesso de todos os alunos e alunas, procuram soluções e assumem uma postura investigativa? Praticar o ensinopesquisa-que-procura significa superar tanto o ensino feito sem pesquisa quanto uma pesquisa feita sem ensino. Maria Teresa Esteban e Edwiges Zaccur (Orgs.). Professora-pesquisadora: uma prática em construção. Rio de Janeiro: DP&A, 2002 (com adaptações). Esse fragmento expressa uma reorientação na relação pesquisa-ensino que (A) torna mais econômico o trabalho docente ao separar teoria e prática, pensar e fazer. (B) prioriza, na atividade docente, o saber teórico decorrente da pesquisa sobre o saber prático. (C) postula que, na formação do professor, as disciplinasdo-saber devem preceder as disciplinas-do-fazer. (D) permite tomar a prática como fonte de informação para a construção do conhecimento, e este como sistematizador da prática. (E) sustenta a dicotomia entre o fazer e o pensar, a qual legitima a divisão do trabalho e os processos de hierarquização do saber. Gabarito: D Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Concepções de docência; conhecimento profissional dos professores; professor-pesquisador; relação pesquisa-ensino. Autora: Jocelyne da Cunha Bocchese Comentário: Não obstante os avanços das ciências da educação, em consonância com as exigências e a complexidade das sociedades contemporâneas, ainda persiste, em algumas universidades e escolas, a dissociação entre pesquisa e ensino, fundamentada, entre outros fatores, numa concepção de docência segundo a qual o professor limita-se a transmitir conhecimentos produzidos por outros autores. Nessa perspectiva, a preocupação dos educadores está direcionada à variedade e à ENADE Comentado 2008: Letras 49 quantidade de conteúdos a serem adquiridos e à escolha dos modelos a serem imitados pelos aprendizes. Os conteúdos de cada disciplina são sistematizados oralmente pelo professor e apresentados de forma acabada, cabendo ao aluno a memorização do conteúdo verbalizado. A formação parece, pois, prescindir do pensamento reflexivo. Apesar de os reflexos dessa concepção ainda serem visíveis na maior parte das escolas, como decorrência de uma formação docente que enfatiza um saber fazer / dar aulas pouco preocupado com o saber aprender / produzir conhecimento, muitos autores têm questionado esse ensino reprodutivo, pouco condizente com o exercício do magistério. De acordo com Lüdke (2001), os professores como intelectuais transformadores, devem exercer ativamente a responsabilidade de propor questões sérias a respeito do que eles próprios ensinam, sobre a forma como devem ensiná-lo e sobre os objetivos que perseguem. O fragmento de Maria Tereza Esteban e Edwiges Zaccur, sobre o qual se constrói a questão em análise, enquadra-se nessa segunda concepção de docência, que ressalta a importância da pesquisa para o trabalho do professor, como componente indispensável em qualquer nível de ensino. As autoras, no texto focalizado, enfatizam a necessária vinculação entre a postura investigativa do professor e seu comprometimento com a aprendizagem dos alunos. Trata-se, portanto, de uma prática em que a dimensão teórica emerge da reflexão sistemática do professor sobre as questões que mobilizam o seu saber fazer / fazer aprender conforme propõe Erickson (1986), citado por Moreira (1991, p. 94): O professor, como pesquisador de sala de aula, pode aprender a formular suas próprias questões, a encarar a experiência diária como dados que conduzem a respostas a essas questões, a procurar evidências não confirmadoras, a considerar casos discrepantes, a explorar interpretações alternativas. Isso, pode-se argumentar, é o que o verdadeiro professor deveria fazer sempre. A capacidade de refletir criticamente sobre sua própria prática e de articular essa reflexão para si próprio e para os outros pode ser pensada como uma habilidade essencial que todo professor bem preparado deveria ter. A estreita relação entre ensino e pesquisa expressa na citação acima também pode ser verificada, ainda que de forma mais sintética, na alternativa D, resposta 50 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) correta à questão 24. Nela é ressaltado o dinamismo e o equilíbrio que devem permear essa relação, já que a prática do professor, tomada como ponto de partida para a pesquisa da sala de aula, dela se alimenta para renovar-se e aprimorar-se constantemente, ensejando novos questionamentos, num processo permanente de reconstrução do conhecimento profissional. As demais alternativas apresentadas à análise estão incorretas justamente por negarem a necessidade dessa relação dinâmica e equilibrada entre ensino e pesquisa para o exercício bem sucedido da docência. Na alternativa A, é proposta a separação entre teoria e prática, entre fazer e pensar, sob a alegação de que isso tornaria mais econômico o trabalho docente. Na alternativa B, o saber teórico é apresentado como prioritário e, portanto, mais valorizado, em comparação com o saber que emerge da prática do professor. Nessa mesma linha, apresenta-se a afirmação da alternativa C, que defende a primazia das disciplinas teóricas em relação às disciplinas práticas nos cursos de formação, bem de acordo com o modelo de docência centrado na reprodução e na transmissão de conhecimentos acabados e previamente adquiridos. Finalmente, na alternativa E, defende-se a dicotomia entre o fazer e o pensar, entre o ensino e a pesquisa, de forma a legitimar a distinção entre as funções do professor e do pesquisador, bem como a desvalorização profissional decorrente do desprestígio dos saberes construídos na docência. Trata-se, portanto, de uma questão de fácil resolução, já que as ideias contidas na alternativa correta podem ser facilmente depreendidas do texto de Esteban e Zaccur. A discussão apresentada é pertinente na medida em que deixa clara a posição do MEC em relação à concepção de docência a ser priorizada pelas instituições formadoras, concepção esta presente em obras de numerosos estudiosos da educação – tais com D. Schön (1983), A, Nóvoa (2001), P.Demo (1998), R.Porlán (1998) – e também já bastante evidenciada em leis e projetos governamentais. Tal direcionamento pode ser evidenciado nas Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (Resolução CNE/CP, de 18 de fevereiro de 2002), as quais preveem, no Art.2º, o preparo dos licenciandos para o aprimoramento em práticas investigativas, estabelecendo, no Art. 3º, que a formação deve contemplar a pesquisa, com foco no processo de ensino e de ENADE Comentado 2008: Letras 51 aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento. Referências BRASIL. Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior - Resolução CNE/CP, de 18 de fevereiro de 2002. Brasília, MEC/CNE, 2002. DEMO, P. Educar pela pesquisa. Campinas, SP: Autores Associados, 1998. LÜDKE, M. et al. O Professor e a pesquisa. Papirus Editora, 2001.Disponível em: books.google.com. Acesso em: 28 de julho de 2009. MOREIRA, M. A. O professor-pesquisador como instrumento de melhoria do ensino de ciências. Em Aberto. Brasília, ano 7. n. 40, out/dez 1988. NÓVOA, A. O Professor Pesquisador e Reflexivo. Entrevista concedida em 13 de setembro de 2001. Disponível em: www.tvebrasil.com.br/salto. Acesso em: 28 de julho de 2009. PORLÁN, R. Construtivismo y escuela: hacia un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la investigación. Sevilla: Díada Editorial, 1998. SCHÖN, D. A. The reflective pratctitioner: how professionals think in action. New York: Basic Books INC. Publishers, 1983. 52 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 25 Ao reconhecer o conjunto de sinais acima como várias realizações de uma mesma letra, um usuário da língua revela estratégias psicolinguísticas capazes de (A) mostrar seu conhecimento linguístico inato a respeito da escrita alfabética. (B) interpretar um sinal lingüístico como componente de sinais mais complexos. (C) identificar diferenças da oralidade que não são registradas no sistema alfabético da escrita. (D) reconhecer a identidade de um sinal linguístico, apesar dos diferentes formatos das letras. (E) sistematizar combinações de diferentes sinais que formam signos linguísticos. Gabarito: D Tipo de questão: Escolha simples. Conteúdos avaliados: Aquisição da escrita; processos de leitura; apreensão e compreensão do sistema alfabético. Autoras: Ana Maria Tramunt Ibanõs e Jane Rita Caetano da Silveira Comentário: A questão 25 apresenta alguns problemas de formulação. Embora seja reconhecido que a aquisição da escrita e os processos de leitura possam ser investigados através de estratégias psicolinguísticas, isto é, estratégias de apreensão e compreensão tanto de estruturas do sistema alfabético quanto de significados, o reconhecimento de representações gráficas de uma única letra, que pode ou não significar um som da língua, não implica, de forma alguma, um estágio de reconhecimento de um signo linguístico, conforme sugerido na alternativa E. A alternativa D, considerada correta, é ambígua. Se, por acaso, estivéssemos falando do reconhecimento do conetivo ‘e’, poderíamos, então, dizer que se trata da ENADE Comentado 2008: Letras 53 identificação de um sinal linguístico (conforme primeiras traduções dos textos de Saussure ou de interpretações dos textos de Jakobson). Entretanto, como o enunciado da questão fala em letras, parece pouco razoável considerar que se trata do reconhecimento de uma identidade, ou entidade, linguística. Nesse sentido, as competências/habilidades relacionadas à identificação de diferentes realizações da mesma letra e ao desenvolvimento de estratégias psicolinguísticas pelos usuários da língua não se apresentam de forma adequada. Ainda assim, a alternativa D é a que melhor se enquadra como correta, pois é possível reconhecer que as cinco grafias significam apenas cinco formatos diferentes da mesma letra ‘e’. Além disso, as outras afirmativas revelam problemas mais profundos ou contradições teóricas em suas formulações, o que justifica a sua exclusão. Posto isso e analisando-se as demais alternativas, observa-se que a primeira, A, pode ser descartada pela expressão conhecimento linguístico inato, pois tal conceito refere-se à aquisição da linguagem e não ao aprendizado de modalidades de escrita, um fato social e não biológico. Ou seja: quando falamos em conhecimento inato, estamos na área de teorias da aquisição relacionadas à Gramática Universal 5, um construto teórico desenvolvido em relação à linguagem, não a línguas, e muito menos à escrita. Ressalta-se também que, se a escrita alfabética é convencional e adquirida no processo de alfabetização, como diz o próprio nome, então ela não pode ser inata. A alternativa B pressupõe uma condição inexistente – o domínio do código escrito para a compreensão de signos de outras naturezas, orais e visuais, como se fossem dependentes para se constituir o código verbal. Outra impropriedade desse enunciado refere-se à mencionada complexidade de sinais, pois o que se tem, nos desenhos da letra ‘e’, é a diversidade de formas para representá-la. A alternativa C confunde a relação dos sons das línguas, explicitados tanto em fonética quanto fonologia, com a representação arbitrária da escrita. Uma vez que a escrita não é o espelho da fala, ela não tem qualquer compromisso com a representação fonética dos sons. Mesmo que tivesse, as representações apresentadas na questão são apenas formas distintas de desenhar a letra ‘e’ e não 5 Chomsky, N. Language and problems of knowledge: The Managua Lectures. Cambridge: MIT Press, 1994. 54 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) formas distintas de representar o som vocálico ‘e’ como vogal tônica, pré-tônica ou átona final. Desse modo, no exemplo que embasa a questão 25, não ocorre nenhuma relação entre grafia e sons diferentes, considerando-se que todas as representações gráficas, fora do contexto lexical, representam a mesma letra ‘e’, em formatos gráficos diferentes, não implicando diferenças da oralidade. Por fim, a alternativa E apresenta duas impropriedades relativas à interface fala e escrita. Primeiro, as diferentes formas de representar a letra ‘e’ não se configuram como diferentes sinais e possibilidades de sistematização dos mesmos; segundo, signos linguísticos não são formados por sinais da escrita: signos linguísticos são entidades abstratas formadas por um significado e um significante. No estudo básico de Linguística, este conceito aparece em Saussure 6, quando esse explicita que o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica (...) unidos em nosso cérebro por um vínculo de associação. Conclui-se, então, que não ocorre combinação nenhuma entre as grafias da letra ‘e’ para formar signos linguísticos. Em síntese, embora se possa dizer que alguns conteúdos básicos para o acadêmico em Letras estejam contemplados de forma inapropriada na questão, a escolha da alternativa correta parece requerer mais raciocínio lógico do candidato do que o conhecimento mais complexo de questões teóricas. 6 Saussure, Ferdinand de. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, s/d. p. 80. ENADE Comentado 2008: Letras 55 QUESTÃO 26 Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas. Mas voam faíscas e lascas como aços espalhados. Ah que medo de começar e ainda nem sequer sei o nome da moça. Sem falar que a história me desespera por ser simples demais. O que me proponho contar parece fácil e à mão de todos. Mas a sua elaboração é muito difícil. Pois tenho que tornar nítido o que está quase apagado e que mal vejo. Com mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível na própria lama. Clarice Lispector. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 25. No trecho do romance A hora da Estrela, de Clarice Lispector, apresenta-se uma concepção do fazer literário, segundo a qual a literatura é (A) uma forma de resolver os problemas sociais abordados pelo escritor ao escrever suas histórias. (B) uma forma de, pelo trabalho do escritor, tornar sensível o que não está claramente disponível na realidade. (C) um dom do escritor, que, de forma espontânea e fácil, alcança o indizível e o mistério graças a sua genialidade. (D) o resultado do trabalho árduo do escritor, que transforma histórias complexas em textos simples e interessantes. (E) um modo mágico de expressão, por meio do qual se de abandona a realidade histórica em favor da pura beleza estética graças à sensibilidade do escritor. Gabarito: B Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Conhecimento dos processos hermenêutico-literários. Autor: Luiz Antonio de Assis Brasil Comentário: A resposta indicada como correta efetivamente o é, embora as restantes, por sua amplitude, possam guardar certa analogia não somente entre si, mas com a resposta desejada. Assim, operamos com certa margem de incerteza o que, naturalmente, ocorre nas áreas humanísticas e, em especial, no domínio literário. 56 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) A alternativa B leva-nos ao cerne de um pensamento corrente tanto nos estudos literários quanto na prática da escrita. O processo (des)velador da realidade é atribuído a um sem-número de disciplinas, tais como a Filosofia, a Psicologia, a Psicanálise, a Antropologia, a História. No caso do texto literário, Clarice Lispector mostra o quanto a Literatura opera com uma dificuldade quase transcendente, quase intransponível. O domínio das palavras é, por natureza, precário, pois estas são ambíguas e insuficientes para transmitir toda a carga de emoção e conhecimento de quem escreve. Cabe ao escritor, com suas mãos de dedos duros enlameados apalpar o invisível da própria lama. A imagem criada pela escritora dá-nos conta do grande esforço preciso para estabelecer uma ponte entre o invisível e o mundo real. O escritor é, pois, esse mediador entre duas instâncias que são, ambas, integrantes de nossa experiência existencial/pessoal. A novela O pequeno príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry [1900-1944], leva-nos a considerar com válida a célebre frase o essencial é invisível aos olhos; cabe, portanto, ao escritor tornar visível esse invisível e, assim, completar a experiência única que é a literatura quando bem realizada com a razão e a emoção. As outras respostas, não esquecendo a ressalva acima, parecem-nos insuficientes para abranger a totalidade do que está dito no texto de Clarice. Senão, vejamos. A) [A Literaratura é] uma forma de resolver os problemas sociais abordados pelo escritor as escrever suas histórias. Essa afirmação traz à tona uma discussão infindável, que é o da possível função da Literatura. Hoje já não há quem espere do escritor uma fórmula para resolver as problemas que afligem a sociedade; mais do que um “resolvedor”, o escritor pode ser aquele que registra, denuncia, representa. As questões sociais têm seu foro próprio de equacionamento, e que não são, por certo, pertencentes ao domínio literário. C) [A Literatura é] um dom do escritor que, de forma espontânea e fácil, alcança o indizível e o mistério graças a sua genialidade. Eis uma afirmativa eivada de equívoco. A ideia de “dom” demente-se a todo momento, e todos os estudos literários, no âmbito da escrita criativa, já superaram o conceito do caráter mítico do escritor. Um escritor, para além de não ser “gênio”, conquista sua competência de ENADE Comentado 2008: Letras 57 várias formas: na leitura, na discussão, na frequência a um laboratório de escrita, etc. Ademais, em nenhum momento o texto de Clarice fala em genialidade; muito ao contrário, fala na dificuldade que encerra o ato da escrita. D) [A Literatura é] o resultado do trabalho árduo do escritor, que transforma histórias complexas em textos simples e interessantes. Eis uma afirmativa que, descontextualizada de sua condição específica da questão 26, poderia ensejar certa concordância por parte do aluno-respondente; todavia, se o trabalho do escritor é árduo, essa aspereza está justamente em criar textos que possam se entendidos mais nas entrelinhas do que nas linhas. E) [A Literatura é] um modo mágico de expressão, por meio do qual se de [sic!] abandona a realidade histórica em favor da pura beleza estética graças à sensibilidade do escritor. Estivéssemos no século XIX, em pleno Romantismo, é possível que a afirmativa fosse assinada por um grande escritor; hoje, porém, os modos “mágicos” foram substituídos pelas mais recentes pesquisas que levam ao conhecimento das operações mentais, inclusive do impulso criador. Propor a fórmula Literatura = Beleza é ignorar que o Belo não é a busca primordial do literário, mas uma possível consequência, embora esta não seja condição necessária que a mesma Literatura exista. 58 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 27 A literariedade, conceito que remete à especificidade da linguagem literária, vem sendo discutida por teóricos e críticos, tal como se verifica nos textos a seguir. Texto 1 A literariedade, como toda definição de literatura, compromete-se, na realidade, com uma preferência extraliterária. Uma avaliação (um valor, uma norma) está inevitavelmente incluída em toda definição de literatura e, consequentemente, em todo estudo literário. Os formalistas russos preferiam, evidentemente, os textos aos quais melhor se adequava sua noção de literariedade, pois essa noção resultava de um raciocínio indutivo: eles estavam ligados à vanguarda da poesia futurista. Uma definição de literatura é sempre uma preferência (um preconceito) erigida em universal. Antoine Compagnon. O demônio da teoria: literatura e senso comum. Trad. Cleonice P. Barros e Consuelo F. Santiago. Belo Horizonte: UFMG, 2003, p. 44. Texto 2 Literariedade: termo do formalismo russo (1915-1930), que significa observar em uma obra literária o que ela tem de especificamente literário: estruturas narrativas, rítmicas, estilísticas, sonoras etc. Foi a tentativa de especificar o ser da literatura, propondo um procedimento próprio diante do material literário. Os formalistas trabalharam, portanto, um novo conceito de história literária, e foram, digamos assim, a base para o comportamento estruturalista surgido na França. Samira Chalub. A metalinguagem. 4.ª ed. São Paulo: Ática, 1998, p. 84 ( com adaptações ). A partir da interpretação dos textos acima, assinale a opção correta. (A) Para os dois autores, a literariedade revela o ser da literatura, algo que a diferencia da linguagem cotidiana. (B) Os dois autores afirmam que o conceito de literariedade é histórico, marcado pelo momento em que foi formulado. (C) Compangnon questiona a concepção dos formalistas russos de que há especificidade universal na linguagem literária. ENADE Comentado 2008: Letras 59 (D) Chalub, em seu texto, discute o conceito de literariedade, seu alcance e seus possíveis limites. (E) Infere-se dos dois fragmentos que literariedade é um conceito que está acima de escolhas subjetivas, culturais ou sociais. Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdo avaliado: Conceito de literariedade. Autora: Alice Therezinha Campos Moreira Comentário: A questão 27 põe em discussão o conceito de “literariedade” ou literaturnost, que marcou um dos mais importantes movimentos de renovação dos estudos literários, na primeira metade do século XX. De autoria de Roman Jakobson, em texto considerado por muitos como um manifesto, propunha conceber a poesia como a linguagem em sua função estética. Segundo esse teórico, o objeto do estudo literário não é a literatura, mas a literariedade, isto é, aquilo que torna determinada obra uma obra literária. O Círculo Linguístico de Moscou, de que Jakobson fazia parte, não só recusava as interpretações extraliterárias do texto predominantes nas histórias e críticas literárias, como buscava, por meio de procedimentos objetivos e rigorosos centrados nas obras, encontrar a especificidade da linguagem literária, isto é, dar caráter científico às pesquisas teóricas sobre a literatura, à semelhança dos estudos de linguística. O aspecto revolucionário das teorias dos formalistas russos – como esse grupo é conhecido até hoje – é que não aceitavam o pensamento de que, sendo a literatura uma “arte”, não comportaria abordagens científicas, e desenvolveram seus estudos voltando-se para o contingente, o imediato, o analisável do texto. Opunhamse aos historiadores da literatura porque estes buscavam em várias ciências elementos para interpretar a obra literária, chegando, muitas vezes, a resultados inaceitáveis. No entanto, ao definir algumas propriedades específicas da literariedade que caracterizariam uma obra como literária, manifestação de uma essência anacrônica, 60 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) universal e imutável, os formalistas deram ensejo a que se percebessem certas contradições teóricas, o que depunha contra a pretensão de cientificidade. Estabeleceu-se, assim, um espaço de crítica a tais teorias, determinando o aparecimento de novas e igualmente criativas abordagens do fenômeno literário, como o estruturalismo e o pós-estruturalismo, a fenomenologia e estética da recepção, entre outras. Tais estudos geraram uma variedade de métodos e respectiva metalinguagem, hoje incorporada ao cotidiano da prática acadêmica; a eles se deve um notável desenvolvimento dos conhecimentos sobre a poesia e a narrativa que possibilitaram, ainda, a revisão de conceitos tradicionalmente adotados pela história e crítica literárias. Campagnon, em O demônio da teoria, discute a validade do conceito de literariedade enunciado por Jakobson. Os argumentos de Campagnon baseiam-se na noção de literatura como mimese, uma visão distorcida da realidade, a partir da qual a fantasia, em cada época, tem criado, por meio da linguagem, universos que existem apenas nas obras literárias. No Texto 1 da questão 27, extraído daquela obra, entende-se que a pesquisa de propriedades específicas constitutivas da literariedade iniciaram com uma seleção de textos para organização do corpus, conforme preceitua o método indutivo – ir do particular ao geral –, procedimento adequado à geração da teoria formalista. Esses teóricos, diz Champagnon, preferiram, evidentemente, analisar os textos que melhor se adequassem a sua noção de literariedade e escolheram a produção da vanguarda futurista à qual estavam ligados pelos mesmos ideais de renovação da literatura. Assim ele desqualifica os resultados obtidos pelos formalistas, pois se a seleção fosse de textos de outra época, ou de outra vertente estética, provavelmente, outras seriam as propriedades específicas, por que particulares do conjunto analisado, não podendo ser consideradas manifestação de uma essência anacrônica, universal e imutável. “Uma definição de literatura, conclui Campagnon, é sempre uma preferência (um preconceito) erigida em universal”. Já o Texto 2 da questão 27, excerto da obra A metalingugem, de Samira Chalub, partindo dos mesmos pressupostos, isto é, da teoria formalista sobre a especificidade da linguagem literária, traduzida no termo literariedade do teórico ENADE Comentado 2008: Letras 61 Roman Jakobson, cita algumas das propriedades relativas às estruturas genéricas da narrativa e da poesia, levantadas pelos formalistas, mas avalia-as como uma tentativa de especificar o ser da literatura por meio de um procedimento autotélico, isto é, a partir do próprio material literário. Como Campagnon, não reconhece a inteira validade do conceito de literariedade, mas afirma que esses estudos determinaram uma nova atitude diante da história literária e constituíram a base de teorias com visão estrutural do fenômeno literário. Concorda-se com a resposta considerada correta (C), uma vez que sintetiza o pensamento do teórico contrário à abrangência do termo literariedade – haver especificidade universal na linguagem literária -, desenvolvendo sua argumentação com a oposição particular X universal, que sustenta a conclusão expressa na palavra preferência, ratificada pelo termo preconceito entre parênteses. A afirmativa A está incorreta, pois contraria totalmente o que dizem os dois autotres, que não aceitam a noção de literariedade nos termos propostos pelos formalistas: Campagnon afirma que as propriedades específicas reveladas nas análises dependem da preferência do teórico por determinados textos; Chalub chama de tentativa a proposta metodológica que pretendeu revelar o ser da literatura. A afirmativa B está incorreta. Se Campagnon utiliza, para refutar a característica de anacronia, um exemplo de relação do conceito de literariedade com o momento em que as propriedades específicas são definidas, portanto, manifestando-se por sua historicidade, Chalub atém-se à questão radical, do ser da literatura, abordando aspectos ligados aos procedimentos metodológicos para definição dos elementos estruturais das obras literárias, e aceitando, apenas, que trabalharam um novo conceito de história literária. A afirmativa D também está incorreta. Chalub limita-se a apontar alguns aspectos do conceito de literariedade, sem discutir seu alcance ou seus possíveis limites. A afirmativa E está igualmente incorreta. Não se pode inferir dos dois fragmentos escolhidos o que esta assertiva afirma: estar a literariedade isenta de escolhas subjetivas, ou imune a influências culturais e sociais. No tópico frasal do parágrafo (Texto 1), Campgnon deixa isto bem claro: A literariedade, como toda 62 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) definição de literatura, compromete-se, na realidade, com uma preferência extraliterária; enquanto Chalub não se manifesta sobre os aspectos apontados. A questão 27 apresenta, por sua natureza teórica acrescida da discussão sobre a validade do conceito de literariedade, especial dificuldade para o estudante não familiarizado com questões relativas ao debate sobre a natureza e características da linguagem literária, bem como da metalinguagem que lhe é própria. Assim, resta-lhe valer-se de sua competência linguística no estabelecimento das relações necessárias para distinguir as pistas que o conduzirão ao reconhecimento das alternativas incorretas. Referências TADIÉ, Jean-Yves. A crítica literária no século XX. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1992. SILVA, Vitor Manuel de Aguiar e. Teoria da literatura. Coimbra: Almedina, 1973. EIKENBAUM e outros. Teoria da literatura. Formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1970. ENADE Comentado 2008: Letras 63 QUESTÃO 28 A flor da paixão Os índios a chamavam de mara kuya: alimento da cuia. Contém passiflorina, um calmante; pectina, um protetor do coração, inimigo do diabetes. Rica em vitaminas A, B e C; cálcio, fósforo, ferro. A fruta é gostosa de tudo quanto é jeito. E que beleza de flor! Mylton Severiano. Almanaque de Cultura Popular, ano 10, set./2008, n.º 113 (com adaptações). Na construção da textualidade, assinale a função do conectivo “E”, que inicia a última frase do texto. (A) Introduzir a justificativa para o nome da flor. (B) Exercer função semelhante à de uma preposição. (C) Substituir sinal de pontuação na estrutura sintática. (D) Acrescentar o substantivo “jeito” ao substantivo “beleza”. (E) Adicionar argumentos a favor de uma mesma conclusão. Gabarito: E Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: compreensão de texto Autora: Marisa Magnus Smith Comentário: O pequeno texto, base da questão, retirado de um almanaque, bem representa as características de seu gênero: traz um pouco de folclore e de crenças populares, valoriza a cultura indígena, o uso de ervas no tratamento e na prevenção de doenças e utiliza um registro mais coloquial de linguagem, em “é gostosa de tudo quanto é jeito. E que beleza de flor!”. Teria, portanto, bastante a oferecer em termos de exploração do gênero textual e de suas características. Entretanto, a questão deixa de explorar as ricas marcas do gênero, propondo possibilidades explicativas 64 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) para a função do conetivo “E”, que inicia a última frase do texto (E que beleza de flor!”), supostamente utilizado na “construção da textualidade”. As alternativas de resposta propostas, além disso, são irrelevantes, quando não absurdas, como se observa a seguir. A) Alternativa incorreta O texto não diz, explicitamente, qual é o nome da flor em questão, mas podese deduzir que seja Flor da paixão, por pelo menos duas razões: porque este é o título do texto, e porque um dos componentes da flor (passiflorina) remete à forma latina passione, de onde advém “paixão”. De todo modo, não haveria qualquer lógica em atribuir ao “E” essa relação. B) Alternativa incorreta Não existe possibilidade de o ”E” exercer papel de preposição. Mesmo que houvesse, a questão seria meramente rotulatória, de validade questionável no amplo contexto de possibilidades interessantes para avaliar as competências e habilidades esperadas de um estudante de Letras. C) Alternativa incorreta A própria formulação é um tanto absurda. Se já há um sinal imediatamente anterior – um ponto – qual o sentido de ser utilizado outro sinal de pontuação no lugar do “E”? D) Alternativa incorreta Outra hipótese pouco descartável, já que não há qualquer relação de sentido entre jeito, que se refere ao fruto, e beleza, que remete à flor. E) Alternativa correta Única opção possível, ainda assim é um tanto forçada. Qual seria essa uma mesma conclusão, a favor da qual o “E” adicionaria argumentos? O texto nomeia e descreve uma planta (com suas propriedades curativas e preventivas) e sua fruta – embora com algum problema na estrutura iniciada por rica... e, finamente, sua flor. O fragmento iniciado por Contém – enseja três conclusões possíveis: (1) a planta faz bem para a saúde; (2) a fruta é gostosa de tudo quanto é jeito; (3) a flor é bela. ENADE Comentado 2008: Letras 65 Entre si, essas conclusões não têm relação direta, já que dizem respeito a itens diferentes. Mas o maior problema advém do uso do plural em argumentos. Mesmo que se aceitasse a ideia de que a resposta esperada se fundamente na soma das qualidades (planta + fruto + flor), o argumento que o “E” introduz é apenas um, e o plural não cabe. A afirmativa tida como correta, portanto, está formulada de modo equivocado, tanto ao utilizar o plural em argumentos quanto ao mencionar a favor de uma mesma conclusão. Questões que padecem dos equívocos apontados prejudicam grandemente os estudantes bem preparados e reflexivos, favorecendo a resposta casual e enfraquecendo o poder de discriminação do teste. 66 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 29 Autopsicografia O poeta é um fingidor. Finge tão completamente Que chega a fingir que é dor A dor que deveras sente. E os que lêem o que escreve, Na dor lida sentem bem, Não as duas que ele teve, Mas só a que eles não têm. E assim nas calhas de roda Gira, a entreter a razão, Esse comboio de corda Que se chama coração. Fernando Pessoa. Autopsicografia. In: Obra completa. Porto: Lello & Irmãos, 1975, p. 255. De acordo com o poema, é específico do processo de criação literária o fato de o poeta I escrever não o que pensa, mas aquilo que deveras sente. II ser capaz de captar e expressar os sentimentos dos leitores. III transformar um elemento extraliterário, como a dor, em objeto estético. Está certo o que se afirma apenas em (A) I. (B) II. (C) III. (D) I e II. (E) I e III. Gabarito: C Tipo de questão: Escolha combinada. ENADE Comentado 2008: Letras 67 Conteúdos avaliados: Interpretação do poema “Autopsicografia”, de Fernando Pessoa. Autora: Maria Eunice Moreira Comentário: A questão 29 centra-se em antológico poema de Fernando Pessoa, “Autopsicografia”, do livro Cancioneiro, um dos mais conhecidos do poeta português. Nem por isso, contudo, a leitura do texto prescinde de exercício de interpretação mais exigente por parte do intérprete (leitor), pois que adentra a área da hermenêutica literária, como base para compreensão do fazer poético. “Autopsicografia” aborda a construção da persona – palavra latina que, em grego, significa “máscara”. É a voz que fala em um texto ficcional (um romance, por exemplo), uma personagem criada pelo autor que atua como “autor implícito”. Concorda-se com a resposta indicada como correta, embora o poema não se restrinja apenas ao tema da dor. O desafio que o texto pessoano apresenta ao leitor está na maneira com que ele olha o mundo conhecido para levá-lo a outros mundos e sensações ainda pouco conhecidos, possibilitando-lhe viver uma experiência desconhecida. Cada poema, como diz Nelly Novaes Coelho, enuncia uma maneira distinta de sentir e conhecer o mundo. (grifo da autora). “Autopsicografia” fala, portanto, do sentimento de dor, mas estabelece outro “jogo” com o leitor, permitindolhe buscar no poema a compreensão mais profunda do mundo da literatura, ou seja, aquela em que o poeta (ou criador) transfigura-se em outro que não ele mesmo. Ao apresentar o livro Cancioneiro, Fernando Pessoa definiu os três princípios de sua poesia. No primeiro, ele esclarece que em todo o momento de atividade mental acontece em nós um duplo fenômeno de percepção: ao mesmo tempo em que temos consciência de nosso estado de alma, temos diante de nós uma paisagem qualquer, um determinado momento da nossa percepção, exterior a nós, ou seja, um mundo externo, que contemplamos. No segundo, entende que todo estado de alma é uma paisagem, ou seja, uma tristeza é algo como um lago morto, assim como uma alegria se equipara a um sol no nosso espírito. No terceiro, junta essas duas questões para afirmar que se temos conhecimento do mundo exterior temos também consciência do nosso mundo interior. Com isso, ele quer dizer que não vemos apenas uma paisagem, proporcionada pela experiência única do olhar, 68 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) mas temos consciência de duas paisagens (a interior e a exterior): a paisagem que desenhamos com o nosso mundo de dentro e aquela que vemos com os olhos. Assim, quando olhamos para alguma coisa, vivemos uma dupla experiência e, por isso, um objeto não é tão simples, porque é mais do que conseguimos captar com nossas sensações externas. A afirmativa I – escrever não o que se pensa, mas aquilo que deveras sente – atinge a dicotomia pensamento/sentimento ou razão/emoção, ou experiência dupla de que falou Pessoa. Em “Autopsicografia”, essa duplicidade manifesta-se na dicotomia sentir/pensar, como se apresenta na questão da prova. A terceira estrofe possibilita compreender melhor essa relação, quando tomamos as duas expressões escolhidas pelo poeta: calhas de roda, do primeiro verso, e comboio de corda, do terceiro verso; a primeira vem logo associada à palavra razão e a segunda, à palavra coração. Essa associação entre razão e coração remete à compreensão de que o pensamento sobre a dor é perturbado (ou entretido, como ele escreve) pelo sentimento que ele tem da dor. O homem pode pensar sobre a dor, pode refletir sobre o que é a dor, mas, ao sentir dor, ele tem outra experiência, o que faz com que a reflexão sobre a dor e a sensação da dor se tornem experiências diferentes. O poeta, porém, não escreve o que ele pensa, mas aquilo que ele sente. A afirmativa está, pois, incorreta. O poeta não escreve nem sobre o que ele pensa nem sobre o que ele sente, pois seus versos são fingidos, isto é, ele escreve dizendo que nem sabe se é dor a dor que realmente sentiu. A afirmativa II – ser capaz de captar e expressar os sentimentos dos leitores – coloca em pauta a figura do leitor e sua relação com o poeta. O texto poético supõe uma “verdade” mais profunda a ser perseguida, da qual poderá emergir uma visão do homem na sua condição de ser-no-mundo. Nesse ponto, pode o intérprete (o leitor) apropriar-se das palavras do poeta para transformá-las nas palavras que ele (leitor) gostaria de dizer. Há uma espécie de revelação do leitor, momento em que, como diz o filósofo Paul Ricoeur, o intérprete torna-se contemporâneo do texto e pode apropriar-se do sentido que este manifesta, tomando-o como seu. Nesse sentido, o leitor pode transformar-se em Fernando Pessoa e escrever junto com ele os versos de “Autopsicografia”, porque, como homem, experimenta as mesmas sensações e sentimentos metaforizados pelo poeta. ENADE Comentado 2008: Letras 69 A afirmativa, porém, está incorreta. O cerne do poema não se encontra na questão de o poema ser capaz de expressar os sentimentos dos leitores. Embora o poema busque essa identidade com o leitor, a questão 29 diz respeito ao elemento específico da criação literária, que não se encontra nessa resposta. A afirmativa III – transformar um elemento extraliterário, como a dor, em objeto estético – aplica-se ao poema “Autopsicografia”, embora a afirmativa possa ser estendida ao fazer poético em geral. O poema em análise atinge o fulcro da discussão sobre o ato poético (ou a criação artística, em geral), qual seja, a da dialética entre poeta x poesia. Desde a objetividade com que os gregos olhavam o mundo exterior até a contemporaneidade, com suas tecnologias e máquinas, neste vertiginoso modo de vida de nossos tempos, os poetas buscam essa paisagem exterior de que fala Pessoa para transformá-la em objeto estético. No caso do poema de Fernando Pessoa, ele toma a dor – elemento externo a ele, mas sentido por todos os homens – e a transforma no objeto em torno do qual constrói seu poema. A dor de todos os homens é o tema de que o poeta se vale para a construção de seus versos. No entanto, ao escrevê-los, ele amplia a reflexão e o sentimento da dor, ao manifestar três dores: a dor sentida, a dor fingida e a dor escrita. Como poeta, ele realiza a atividade reflexiva sobre a dor, experimenta a dor de todos, mas transforma esse sentimento em tema para organização da expressão literária. Logo, a questão está correta, porque Pessoa utiliza um elemento extraliterário (a dor) e a transfigura, pelo poder da palavra, em objeto estético. Referências PESSOA, Fernando [Cancioneiro]. In: PESSOA, Fernando. Obra poética. Seleção, organização e notas de Maria Aliete Galhoz; Cronologia por João Gaspar Simões; Introdução por Nelly Novaes Coelho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. p. 35. COELHO, Nelly Novaes. Fernando Pessoa, a dialética de ser-em-poesia. In: PESSOA, Fernando. Obra poética. Seleção, organização e notas de Maria Aliete Galhoz; Cronologia por João Gaspar Simões; Introdução por Nelly Novaes Coelho. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983. p. XIII-XLIII. LOURENÇO, Eduardo. Pessoa revisitado. Porto: Inova, 1974. SEABRA, José Augusto. Fernando Pessoa ou o Poetodrama. São Paulo: Perspectiva, 1974. 70 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Texto para as questões 30 e 31 Eram cinco horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo, não os olhos, mas uma infinidade de portas e janelas alinhadas. (...) Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulham o pé na lama preta e nutriente da vida, o prazer animal de existir, a triunfante sensação de respirar sobre a terra. Da porta da venda que dava para o cortiço iam e vinham como formigas, fazendo compras. Aluísio Azevedo. O cortiço. São Paulo: Ática, 1989, p. 28-9. Aliás, o cortiço andava no ar, excitado pela festa, alvoroçado pelo jantar, que eles apressavam para se dirigirem a Montsou. Grupos de crianças corriam, homens em mangas de camisa arrastavam chinelos com o gingar dos dias de repouso. As janelas e as portas escancaradas por causa do tempo quente deixavam ver a correnteza das salas, transbordando em gesticulações e em gritos o formigueiro das famílias. Émile Zola. Germinal. São Paulo: Nova Cultural, 1996, p. 136. Aluísio Azevedo certamente se inspirou em L’Assommoir (A Taberna), de Émile Zola, para escrever O Cortiço (1890), e por muitos aspectos seu texto é um texto segundo, que tomou de empréstimo não apenas a idéia de descrever a vida do trabalhador pobre no quadro de um cortiço, mas um bom número de pormenores, mais ou menos importantes. Mas, ao mesmo tempo, Aluísio quis reproduzir e interpretar a realidade que o cercava e sob esse aspecto elaborou um texto primeiro. Texto primeiro na medida em que filtra o meio; texto segundo na medida em que vê o meio com lentes de empréstimo. Se pudermos marcar alguns aspectos dessa interação, talvez possamos esclarecer como, em um país subdesenvolvido, a elaboração de um mundo ficcional coerente sofre de maneira acentuada o impacto dos textos feitos nos países centrais e, ao mesmo tempo, a solicitação imperiosa da realidade natural e social imediata. Antonio Candido. De cortiço a cortiço. In: O discurso e a cidade. São Paulo / Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2004, p.106-7/128-9 (com adaptações). ENADE Comentado 2008: Letras 71 QUESTÃO 30 Assinale a opção em que a relação intertextual entre O Cortiço e Germinal é interpretada pelos parâmetros críticos apresentados no texto de Antonio Candido acerca da relação entre a obra de Aluísio Azevedo e a de Émile Zola. (A) O texto de Aluísio Azevedo é um texto primeiro em relação ao de Zola porque foi escrito anteriormente e influenciou a produção naturalista do escritor francês. (B) A relação de proximidade entre o texto de Azevedo e o de Zola evidencia que o diálogo entre os textos desassocia-os da realidade social em que foram produzidos. (C) O texto de Aluísio Azevedo, por suas condições de produção, está submetido ao modelo naturalista europeu, ao mesmo tempo em que atende a demandas da realidade nacional. (D) O Cortiço é um texto segundo em relação ao texto de Zola porque é, sobretudo, a duplicação do modelo literário francês e da realidade social das classes operárias européias. (E) A presença de elementos do naturalismo francês em O Cortiço é indicativo da troca cultural que ocorre no espaço do intertexto, independentemente das realidades locais de produção. Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdo avaliado: Relação de intertextualidade entre as obras O cortiço e Germinal. Autora: Alice Therezinha Campos Moreira Comentário: A Questão 30 trata da relação de intertextualidade entre as obras O cortiço (1889), de Aluísio Azevedo, e Germinal (1885), do escritor francês Émile Zola, dois romances representativos do Naturalismo em literatura, publicadas em fins do século XIX, e analisadas conforme os parâmetros críticos de Antonio Candido, manifestados no texto “De Cortiço a Cortiço”, da obra O discurso e a cidade. Antonio Candido de Mello e Souza, cuja obra figura entre as dos maiores pensadores brasileiros, adota um posicionamento crítico consistente na perspectiva histórico-sociológica, não atrelado a teorizações emprestadas de outros estudiosos, e cuja coerência lhe tem conquistado o respeito e a admiração de seus pares. É a 72 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) partir dessa atitude que ele tem produzido notáveis interpretações da literatura brasileira, dedicando-se à análise de obras literárias que julga imprescindíveis para a compreensão das origens e do desenvolvimento do processo cultural do País. O romance de Aluísio Azevedo é uma das obras selecionadas por Antonio Candido, pois O cortiço capta um momento extremamente importante da história brasileira: a formação das classes operárias nas cidades, a partir das relações econômicas geradas pela divisão do trabalho. Assim, discutindo a questão das relações intertextuais entre dois romances que tratam de relações entre diferentes classes sociais, Germinal e O cortiço, Antonio Candido analisa aspectos que vão além da obra, aliando crítica literária e história, mas não sobrepondo esta àquela. Hoje corrente, o termo intertextualidade teve origem nos estudos do teórico soviético Bakhtin, que tem por objeto uma nova ciência da linguagem. Segundo esse autor, a cultura é um composto de discursos, sendo o romance o gênero que melhor exprime essa multiplicidade de vozes. Ele estuda os enunciados individuais contidos em textos literários, em seu ambiente histórico, social e cultural. Afirma que tais enunciados entram em relação dialógica entre si. Julia Kristeva e Gérard Genette são dois autores, entre outros, que deram sequência às pesquisas de Bakhtin sobre dialogismo, vale dizer, sobre as relações intertextuais. Para Kristeva todo texto se constrói como mosaico de citações, todo texto é absorção e transformação de um outro texto. Essa teórica também propõe uma leitura que ultrapasse os limites da imanência, tão cara aos estruturalistas, e acentua a relevância da historicidade, dos sistemas ideológicos e da práxis social. Genette, um dos representantes do grupo que propunha uma nova poética, aprofundou o estudo das diversas possibilidades do discurso e definiu cinco tipos de relações de um texto com outros textos verbais ou não verbais. O mais geral desses conceitos é o de transtextualidade, tudo aquilo que coloca um texto em relação com outros textos. Já a intertextualidade é definida como presença efetiva de um texto dentro de outro. Embora sua reflexão teórica esteja centrada nas relações textuais, ainda, Genette considera importante para a interpretação das obras literárias disciplinas próximas dessa área como a história literária, a biografia, a crítica de fontes, de influências, de gênese e, principalmente, a crítica literária. ENADE Comentado 2008: Letras 73 Pelo que foi exposto, percebe-se que Antonio Candido, ainda que se mantenha independente teórica e metodologicamente, vale-se, em seus ensaios críticos, da terminologia desenvolvida pelos autores citados anteriormente, pela abertura que promovem em direção às circunstâncias de comunicação e ao contexto histórico-cultural da produção de uma obra literária. Isto lhe permite conciliar seu pensamento voltado à área da Sociologia na análise dos conteúdos, com os aspectos formais e estruturais de uma obra, ir além do texto para produzir quadros magistrais sobre a literatura e a cultura brasileiras. Concorda-se com a resposta considerada correta (C), pois é inegável a influência do modelo naturalista europeu nessa e em outras obras do autor em questão. A estética naturalista que busca denunciar as mazelas sociais e desnudar suas causas, aponta, entre outras, o determinismo que subjuga o homem impulsionado por seus instintos e pela força inelutável da hereditariedade. Tais características estão presentes em ambos os romances comparados, podendo-se traçar igualmente um paralelo entre os elementos estruturais das duas narrativas. Zola, após problematizar a realidade, nas primeiras páginas de Germinal, com a denúncia da situação de penúria e injustiça social a que são submetidos os mineiros - homens, mulheres e crianças - nas minas de carvão, na França, desenvolve seu discurso libertário tecendo e construindo a personagem Etienne, um trabalhador itinerante, que irá executar um projeto revolucionário de reforma da sociedade. Mas o que o autor busca é despertar a consciência de seus leitores. Os Gregoire, sócios-proprietários da mina de carvão, representam o poder insensível do capital, a que o autor opõe os mineiros, Maheu, sua mulher e seus filhos, vítimas inermes da exploração pela empresa. As personagens Catherine e Cecile são símbolos do que de melhor produziram operários e burguesia, no entanto para elas não há lugar nesse espaço selvagem e cruel. Ambas perecem, esta, como advertência aos verdugos; aquela, para devolver aos mineiros seu líder e a possibilidade de redenção. Azevedo relata o surgimento dos cortiços, aglomerados de subabitações de trabalhadores urbanos que se exaurem na prestação de pequenos serviços que lhes garante, apenas, a sobrevivência: nesta obra, a faina dos homens na pedreira e das mulheres, lavadeiras, no cortiço. É um espaço desumano que molda personagens 74 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) caricaturais como conjuntos de animais, movidos pelo instinto e pela fome e que se deixam dominar e explorar pelo mais forte. Metáfora da oposição capital X trabalho são as personagens, João Romão, um vencedor, dono da pedreira e do cortiço, em busca de ascensão social, que consegue com o casamento, após acumular riqueza; e Bertoleza, explorada por João Romão, escrava fugida e traída que para escapar do retorno à escravidão, prefere a morte. Pululam personagens secundários numa variedade de tipos que completam o quadro de uma comunidade incipiente, dominada pelas paixões e pelos vícios e voltada a interesses pessoais e imediatistas. Se, por um lado, o texto de Aluísio Azevedo, por suas condições de produção – estética naturalista, momento sócio-histórico da publicação, gênero literário – segue o modelo naturalista europeu, por outro atende as demandas da realidade nacional, muito diferente da europeia, pois manifesta um tecido social ainda frágil, sem a coesão necessária que permita a reivindicação de melhores condições de vida. Os habitantes do cortiço voltam-se, então, não contra seus opressores, como em Germinal, mas contra seus iguais: o cortiço Cabeça de Gato entra em luta contra o Carapicus. Não há também um herói que possa conduzi-los a uma tomada de consciência sobre seus direitos, ou que, ao menos, acene com a possibilidade de, um dia, emergirem do submundo em que vivem para um estágio mais humano de vida. A mensagem de Aluísio é inteiramente negativa, confirmando a força imperiosa do destino e, assim, de certa forma, absolvendo leitores não afeitos ou menos dispostos a aprofundar a reflexão sobre o problema das injustiças sociais. A afirmativa A está totalmente incorreta, ao declarar que o texto de Azevedo é um texto primeiro em relação ao de Zola porque foi escrito anteriormente e que tenha influenciado a produção naturalista do escritor francês, quando, na verdade, se deu o contrário: O cortiço é posterior, de 1889, a Germinal, de 1885, e foi influenciado por esta que é uma das mais importantes obras de Émile Zola. A afirmativa B está incorreta. Existe, sim, uma relação de proximidade entre os textos de Azevedo e de Zola, conforme foi demonstrado no comentário à afirmativa C. O diálogo que se estabelece entre eles, entretanto, não os desassocia da realidade social em que foram produzidos. As mesmas características que os aproximam – objetividade e realismo cru, por exemplo – servem para uni-los ENADE Comentado 2008: Letras 75 radicalmente a sua realidade social. Ambos os escritores fizeram do espaço a principal personagem da narrativa. Em Germinal, as descrições da mina de carvão e de suas relações com os trabalhadores, em ambiente tipicamente europeu ligado à revolução industrial, mostram-na como uma estrutura monstruosa, metáfora do sistema capitalista, que os subjuga e destrói. Em O cortiço, Aluísio pinta com vigor o quadro da proliferação de comunidades periféricas, em estágio primário de organização social, fenômeno frequente na formação das cidades brasileiras. Os cortiços são espaços de sobrevivência que moldam pessoas como se fossem peças de uma engrenagem. Entregues a sua própria sorte e sem possibilidade de, por suas próprias forças, libertarem-se dessa da realidade brutal, servem, apenas, aos interesses de indivíduos inescrupulosos. A afirmativa D está igualmente incorreta.O cortiço é um texto segundo em relação ao de Zola, mas não exatamente a duplicação do modelo literário francês, que sofre transformações ao adaptar-se às circunstâncias de comunicação da realidade brasileira; nem reproduz a realidade social das classes operárias européias¸ pois apresenta um conjunto sem sedimentação social de indivíduos que não possuem consciência de classe, como foi comentado na afirmativa B. A afirmativa E está igualmente incorreta. A presença de elementos do naturalismo francês em O Cortiço indica, antes, uma apropriação de características de um modelo literário de cultura hegemônica em nível de intertexto, contudo preservando as realidades locais de produção, como já foi demonstrado, o que confere originalidade à obra de Aluísio Azevedo, afastando a presunção de cópia ou pasticho. Referências MELLO e SOUZA, Antonio Candido. Literatura e sociedade. 8. ed. São Paulo: T. A. Queiroz, 2000; Publifolha, 2000. (Col. Grandes nomes do pensamento brasileiro). AGUIAR e SILVA, Vitor Manuel de. Teoria da literatura. Coimbra: Almedina, 1973. TADIÉ, Jean-Yves. A crítica literária no século XX. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1992. ZOLA, Émile. Germinal. São Paulo: Abril Cultural, 1972. 76 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 31 Considerando as palavras linha e alinhar, que opção apresenta a correta segmentação morfológica da palavra “alinhadas”, no fragmento de O Cortiço, de Aluísio Azevedo? (A) a-li-nha-da-s (B) a-linh-a-d-a-s (C) alinh-a-d-as (D) ali-nhad-a-s (E) a-lin-nha-das Gabarito: B Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdo avaliado: Estrutura e formação de palavras (morfologia) Autora: Valéria Pinheiro Raymundo Comentário: Nós, falantes nativos, mesmo que não conheçamos uma palavra, temos condições de perceber se ela é bem formada através de sua composição morfológica. De alguma forma, intuitivamente somos capazes de reconhecer sua estrutura interna. Sabemos quando uma palavra pode ser segmentada em partes e que significados essas partes acrescentam ao vocábulo, pois temos conhecimento empírico da estrutura, do significado e das relações entre as palavras do nosso léxico. Na linguística, a morfologia é a área que se ocupa do aspecto formal das palavras. Uma palavra é uma unidade sonora, formal, funcional e significativa. É constituída por um ou mais morfemas (unidades mínimas de significado) associados segundo uma ordem própria da língua. Os morfemas não se combinam de forma arbitrária para formar os vocábulos e podem ser assim classificados: 1) Radical (parte da palavra responsável por sua significação principal, elemento indivisível): em estud-o; estud-ar; estud-ei; estud-ioso; estudantes, o radical é estud. ENADE Comentado 2008: Letras 77 2) Desinência (morfemas flexionais que servem para indicar gênero e número de nomes; modo, tempo, aspecto, número e pessoa de verbos): em estudiosa, a indica gênero feminino; em estudantes, s indica plural; em estudei, ei indica primeira pessoa do singular no pretérito perfeito do modo indicativo. Há também desinências das formas nominais dos verbos: r do infinitivo; d do particípio; ndo do gerúndio. Uma mesma palavra pode conter mais de uma desinência. 3) Afixos (morfemas gramaticais que se juntam ao radical, antes ou depois dele): o morfema que se antepõe ao radical é chamado de prefixo, em apor, a é prefixo; o morfema que se pospõe ao radical é chamado de sufixo, em cuidadoso, oso é sufixo. 4) Vogal temática (vogal que é anexada ao radical e forma a base para anexação de desinências): e é vogal temática em flores; a é vogal temática em estudar; e é vogal temática em entender; i é vogal temática em mentir. 5) Vogal e consoante de ligação (morfemas que se intercalam entre o radical e o sufixo para facilitar a pronúncia): eles podem ser vogais como i em frutífero, ou consoantes, como l em paulada. Observação: Nem sempre as palavras apresentam todos esses elementos. Observe a estrutura da palavra alinhada, considerando as palavras linha e alinhar, proposta pela questão 31: linha (substantivo) linhas (substantivo plural) alinhar (verbo) alinhou (verbo no pretérito perfeito do indicativo, 3ª. pessoa do singular) alinhada (adjetivo feminino) alinhadas (adjetivo feminino plural) Notamos que há um elemento comum a todas elas: a forma linh. Além disso, em todas há elementos destacáveis, que contribuem para a mudança de significado. Comparando as palavras acima, podemos identificar diferentes morfemas na palavra alinhada, que assim pode ser segmentada: 78 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) a (1) ─ linh (2) ─ a (3) ─ d (3) ─ a (4) ─ s (5) (1) a = prefixo do latim que indica direção (2) linh = radical (3) a = vogal temática (4) d = desinência verbo-nominal de particípio (forma verbal que participa da natureza do adjetivo) (5) a = desinência de gênero feminino (6) s = desinência de número plural Dessa forma, podemos concluir que a alternativa de resposta que corresponde à correta segmentação morfológica da palavra é B. As demais alternativas estão incorretas pelas seguintes razões: Alternativa A: a – li – nha – da – s. Nesta opção, o radical (linh ) foi dividido; a vogal temática (a) não foi segmentada; as desinências de particípio(d) e de gênero feminino (a) também não. Alternativa C: alinh – a – d – as. Essa alternativa não discrimina o prefixo (a) do radical (linh). Além disso, não separa as desinências de gênero feminino (a) e plural (s), desconsiderando que existe a forma masculina (alinhado) e singular (alinhada). Alternativa D: ali – nhad – a – s. Nesta alternativa, o radical considerado está incorreto (nhad), assim como o prefixo (ali). O elemento comum em linha e alinhar é linh, que indica o radical. Alternativa E: a – lin – nha – das. Embora o prefixo (a) esteja segmentado corretamente, os demais elementos estão incorretos. O radical (linh) foi dividido, uma letra foi acrescentada (n) indevidamente; a vogal temática (a) foi ignorada; as desinências de particípio (d), gênero feminino (a) e plural (s) não foram segmentados. Referências LUFT, Celso Pedro. Moderna gramática brasileira. 3. ed. Porto Alegre: Globo, 1979. MACAMBIRA, José Rebouças. Português estrutural. 2. ed. São Paulo: Pioneira, 1978. ENADE Comentado 2008: Letras 79 QUESTÃO 32 Considerando, para além do aspecto temático, a associação entre a forma e o estilo de representação dos textos literários e dos quadros apresentados a seguir, assinale a opção em que não se verifica uma inter-relação de semelhança entre literatura e pintura. (A) Alucinação de mesas que se comportam como fantasmas reunidos solitários glaciais. Carlos Drummond de Andrade. Farewell. Rio De Janeiro/São Paulo: Record, 1996, p. 33. Van Gogh. Café Noturno. (B) A perfeição, a graça, o doce jeito, A Primavera cheia de frescura, Que sempre em vós floresce; a que a ventura E a razão entregaram este peito. Luis de Camões. Obras. Porto:Lello & Irmãos, 1970, p. 50. Sandro Botticelli. O nascimento de Vênus. 80 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) (C) A luz de três sóis ilumina as três luas girando sobre a terra varrida de defuntos. Varrida de defuntos mas pesada de morte: como a água parada, a fruta madura. João Cabral de Melo Neto. Poesias completas. Rio de Janeiro: Sabiá, 1968, p. 341. Vicente do Rego Monteiro. Paisagem Zero. (D) Cidade a fervilhar cheia de sonhos, onde O espectro, em pleno dia, agarra-se ao passante! Flui o mistério em cada esquina, cada fronte, Cada estreito canal do colosso possante. Charles Baudelaire. As flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985, p. 331. Frans Post. Povoado no Basil. (E) Não vê que me lembrei lá no norte, meu Deus! muito longe de mim, Na escuridão ativa da noite que caiu, Um homem (...) Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, Faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu... Mário de Andrade. Descobrimento. (Dois Poemas acreanos) In: Poesia completa. Belo Horizonte/Rio de Janeiro: Villa Rica, 1993, p. 203. Santa Rosa.Madrugada. ENADE Comentado 2008: Letras 81 Gabarito: D Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta INCORRETA. Conteúdos avaliados: interpretação de textos poéticos; relação entre representação pictórica e texto literário. Autor: Ricardo Barberena Comentário: Para responder adequadamente à questão, é necessário apontar a alternativa em que NÃO existe relação entre o texto literário e a pintura. Considerando essa peculiaridade, a análise das relações permite concluir o que segue: Na alternativa A, é possível estabelecer intertextualidade (literária e pictórica) entre os versos de Carlos Drummond de Andrade e a tela de Van Gogh. Em ambas as representações encontramos uma poética noturna centrada em elementos de ausência (mesas vazias no quadro e as palavras solitários glaciais no poema). Também é possível aproximar a imagética alucinação das mesas e fantasmas ao relevo cromático, que se mostra evasivo e crepuscular na pintura. Trata-se, portanto, de um diálogo suplementar sobre a temática da solidão, do transe, da imaginação. Na alternativa B, presentifica-se uma evidente relação entre a pintura e o poema. Tanto no quadro quanto no texto poético, percebemos a idealização do Belo enquanto perfeição e graça (nos versos de Camões) e simetria (nas pinceladas de Botticelli). Ao representar o nascimento da figura mítica de Vênus, Botticelli constrói uma pintura que acaba por se tornar um dos cânones artísticos acerca da narrativa corpórea. Assim sendo, a pintura aproxima-se à metaforicidade camoniana (A Primavera cheia de frescura/ Que sempre em vós floresce) e os traços míticofundantes de Botticelli no tocante ao surgimento da Deusa da Beleza. Ambas as representações da alternativa C apresentam abstracionismo geométrico e alegórico. Enquanto em João Cabral de Melo Neto se arquiteta uma luz de três sóis que ilumina as três luas, na pintura de Vicente do Rego, por sua vez, articula-se uma desconstrução figurativa que impossibilita uma mirada realista desprovida de maiores incursões subjetivistas e metafóricas. Evidencia-se, portanto, na pintura e no poema, uma descrença em um estado de arte que se encontre pautado por um didatismo de significados. É preciso produzir mediações de sentido 82 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) que possibilitem uma hermenêutica dos entre-lugares de Rego e dos áridos símbolos de Cabral. A alternativa D é a correta, em termos de resolução da questão, porque inexiste uma associação entre o texto literário e a pintura. Na tela de Frans Post percebemos apenas duas casas numa isolada territorialidade situada em algum lugar próximo às paisagens selváticas. Em contrapartida, o poema de Baudelaire tematiza um imaginário moderno e urbano no qual flui o mistério de cada esquina. O texto poético enfatiza a fluidez de uma cidade contemporânea de passantes e sonhos, realidade bastante diferenciada da placidez bucólica da pintura de Post. Na alternativa E, é possível relacionar o texto poético com a pintura. O poema enfoca o imaginário onírico das reminiscências de um sujeito saudoso que relembra o norte. Já na pintura, em visível alinhamento temático, notamos um homem que também se encontra perdido em pensamento e/ou sonhos. Em ambos os casos, evidencia-se uma identidade nacional em construção. ENADE Comentado 2008: Letras 83 QUESTÃO 33 Considerando que a palavra portuguesa verão tem origem na expressão tempos veranum, do latim, que significa “tempo primaveril, de primavera”, analise os enunciados a seguir, considerando a evolução histórica do latim ao português. De acordo com as informações acima, a palavra veranum, “de primavera”, passou a “verão”, em português, porque houve, na formação histórica da língua portuguesa, o surgimento de um aumentativo a partir da palavra latina vero. Assinale a opção correta. (A) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a segunda é uma justificativa correta da primeira. (B) As duas asserções são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. (C) A primeira asserção é uma proposição verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. (D) A primeira asserção é uma proposição falsa, e a segunda, é uma proposição verdadeira. (E) Tanto a primeira asserção como a segunda são proposições falsas. Gabarito: C Tipo de questão: Asserção e razão. Conteúdos avaliados: Língua latina; português histórico. Autor: Bruno Jorge Bergamin Comentário: Inicialmente, é necessário destacar que o enunciado da questão está errado, já que não existe tempos verarum como expressão latina (com os). O correto seria tempus veranum (com us). Tempus é palavra da terceira declinação tempus-oris, neutra. Quanto a veranum, está correta, porque tempus, sendo neutro, terá seu adjetivo também neutro. 84 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Se considerássemos, para efeito de análise das asserções, a expressão tempus veranum, ou seja, tempo de primavera, tempo primaveril, (e não tempos veranum), e considerando que se trata de uma questão que se baseia na análise de duas asserções, concluiríamos que a primeira assertiva estaria correta e a segunda falsa (opção correta C). As razões para essa opção são expostas a seguir. Carlos Goes, em seu Dicionário de raízes e cognatos, refere: Radical Ver: primavera, cf. latim Ver-is, do sânscrito Vas, iluminar. Em: a) prim-a-ver-a e cognatos: primus + ver: primeira estação; cf. o francês printemps: primeiro tempo, isto é, a primeira estação do ano, assim como no alemão frühjahr: ano precoce, mocidade do ano. Esse radical não deve ser confundido com Ver, do adjetivo latino verus-a-um, que nada tem em comum com a palavra verão. A questão envolve justamente essas semelhanças entre a palavra ver-veris (primavera) e o dativo ou ablativo do adjetivo verus-a-um (verdadeiro). A propósito, observe-se a segunda assertiva: ela indica a palavra latina vero como possível origem para a palavra verão num aumentativo. Isso é falso, porque Vero é dativo ou ablativo de verus-a-um (verdadeiro). Nem o neutro verum, apesar da semelhança, tem relação com verão. Por esses motivos, a segunda assertiva, que fala em verão vindo de vero é falsa Veja-se que Houaiss confirma o que diz Goes e o que aponta o dicionário latino Saraiva. Segue a transcrição literal de Houaiss: verão: “veranum tempus 'tempo primaveral', derivado do lat. vér, véris 'primavera'; Corominas comenta que, até o Século de Ouro, havia distinção entre verano, que designava o fim da primavera e princípio do verão, estío, aplicado ao resto desta estação, e primavera, que significava apenas o início da estação hoje conhecida com este nome, acrescentando que, em port., a evolução foi a mesma; ver vera(n)-; f.hist. sXIV ueerãão HOM verão (fl.ver). Ver(an) antepositivo que entra no port. verão, esp. verano, correspondente ao lat. aestas,aestátis, fonte, no vulg., do it. estate, fr. été; Corominas, para o esp. verano, registra: "abreviación del lat. vg. veranum tempus 'tiempo primaveral', derivado del lat. ver,veris 'primavera'; hasta el Siglo de Oro se distinguió entre verano, que entonces designaba el fin de la primavera e principio del verano, estío, aplicado al resto de esta estación, y primavera, que significaba solamente el comienzo de la estación conocida ahora com ese nombre"; vê-se que em port. a evolução foi a mesma, de tal modo que, perdida a distinção, verão (verano) e estio (estío) se fizeram praticamente sinônimos, com predomínio de uso para o primeiro el.; estio, por sua vez, é ENADE Comentado 2008: Letras 85 do lat. aestívus, a, um 'relativo ao verão ou estio', der. de aestas anteriormente referido, através da locução aestívum tempus; ocorre no vern. em: veranal, veraneador, veraneante, veranear, veraneável, veraneio, veranense, veranico, veraniço, veranil, veranista, veranito, verão, verãozinho; com o rad. de estio ver esti(v)-; ver tb. outon- e vern- “ Diante do exposto, concluímos que, tanto na hipótese de os examinadores terem tido a intenção de testar os estudantes para verificar se conheciam a diferença entre tempos e tempus, quanto na hipótese de ter havido apenas um erro de digitação (a troca de us para os), o aluno estaria sendo induzido a erro. Por isso, consideramos que a questão está prejudicada na origem. 86 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 34 Olhou as cédulas arrumadas na palma, os níqueis e as pratas, suspirou, mordeu os beiços. Nem lhe restava o direito de protestar. Baixava a crista. Se não baixasse, desocuparia a terra, largar-se-ia com a mulher, os filhos pequenos e os cacarecos. Para onde? Hem? Tinha para onde levar a mulher e os meninos? Tinha nada! (...) Se pudesse mudar-se, gritaria bem alto que o roubavam. Aparentemente resignado, sentia um ódio imenso a qualquer coisa que era ao mesmo tempo a campina seca, o patrão, os soldados e os agentes da prefeitura. Tudo na verdade era contra ele. Estava acostumado, tinha a casca muito grossa, mas às vezes se arreliava. Não havia paciência que suportasse tanta coisa. Graciliano Ramos. Vidas secas. 106.ª ed. São Paulo: Record, 1985, p.96-7. A leitura do trecho acima do capítulo Contas, do romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, indica que, nessa obra, a relação entre o texto e o contexto de sua produção está concentrada (A) na abordagem regionalista e pitoresca do fenômeno ambiental da seca no Nordeste. (B) na representação da riqueza interior de vidas econômica e culturalmente pobres. (C) no realismo descritivo, que apresenta pormenores da beleza da paisagem nordestina. (D) na atitude engajada do protagonista Fabiano, que se recusa a ser explorado pelo patrão. (E) no caráter ufanista da obra, que exalta a força da cultura popular nordestina. Gabarito: B Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da alternativa correta. Conteúdo avaliado: Vidas secas, de Graciliano Ramos. Autora: Maria Tereza Amodeo Comentário: Para responder a esta questão, a leitura do romance é quesito determinante para que o estudante possa relacionar o episódio em questão à obra, e esta ao ENADE Comentado 2008: Letras 87 contexto de produção, conforme a solicitação. É preciso associar a cena descrita pelo narrador à triste situação de Fabiano, protagonista da narrativa, o qual, para poder alimentar a família, vende as poucas cabeças de gado que ainda possui, recebendo um valor muito menor do que o acordado com o patrão. Ele se sujeita a essa situação, pois, se reagisse, teria de partir com toda a família, sem rumo certo. Sua resignação, no entanto, é só aparente: sentia um ódio imenso a qualquer coisa. A resposta certa, B, menciona a riqueza interior das personagens mais claramente percebida na sequência deste episódio, não incluída na citação da questão: Fabiano pensa em sua triste condição, lembra-se de outra situação semelhante em que fora ludibriado, tenta encontrar uma saída, mas não consegue encontrar uma solução, a não ser se resignar. Só lhe resta o prazer momentâneo de fumar, mas não deixa de perceber as estrelas, o que o faz lembrar da família e da cachorra já morta. Percebe-se, dessa forma, o conflito interior que se instaura na personagem, que sofre sozinho em consequência da sua triste sina: não pode oferecer à familia condições mínimas de uma vida digna. Em vista de tais considerações, a alternativa D, que refere a uma atitude engajada de Fabiano, que reage aos demandos do patrão, não se sustenta. Da mesma forma, a alternativa A deve ser descartada. Não há uma abordagem pitoresca do fenômeno ambiental da seca. Nem é pitoresca a abordagem, nem o foco é no fenômeno da seca, mas no mundo interior da personagem que vive a inóspita realidade. A alternativa C deve também ser rejeitada, porque no trecho em questão não há qualquer elemento caracterizador da beleza da paisagem nordestina; tampouco no romance. A alternativa E apresenta a ideia do ufanismo da obra e a exaltação à cultura popular. A justificativa apresentada para a alternativa B evidencia a impropriedade dessas associações. 88 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 35 Fabiano, Sinha Vitória e os meninos, em cena do filme Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Texto 1 A vida na fazenda se tornara difícil. Sinha Vitória benzia-se tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas. (...) Pouco a pouco os bichos se finavam, devorados pelo carrapato. E Fabiano resistia, pedindo a Deus um milagre. Mas quando a fazenda se despovoou, viu que tudo estava perdido, combinou a viagem com a mulher, matou o bezerro morrinhento que possuíam, salgou a carne, largou-se com a família, sem se despedir do amo. Graciliano Ramos. Vidas secas. 106.ª ed. São Paulo: Record, 1985, p. 117. Texto 2 Veio a seca, maior, até o brejo ameaçava de se estorricar. Experimentaram pedir a Nhinhinha: que quisesse a chuva. — “Mas, não pode, ué...” (...). Daí a duas manhãs quis: queria o arco-íris. Choveu. E logo aparecia o arcoda-velha, sobressaído em verde com vermelho — era mais um vivo cor-de-rosa. Nhinhinha se alegrou, fora do sério, à tarde do dia com a refrescação. Fez o que nunca lhe vira, pular e correr por casa e quintal. — “Adivinhou passarinho verde?” João Guimarães Rosa. Primeiras estórias. In: Ficção completa. Vol. II. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p. 403. ENADE Comentado 2008: Letras 89 Levando em conta a inter-relação entre a literatura e outros sistemas culturais, assinale a opção correta. (A) O espaço representado por Guimarães Rosa reproduz o cenário de seca construído por Graciliano Ramos. (B) A religiosidade de Guimarães Rosa e Graciliano Ramos está representada nas crenças populares, nas rezas dos personagens bem como na esperança de intervenção divina. (C) A resistência de Fabiano a ficar na fazenda, “pedindo a Deus um milagre”, é quebrada pela realidade dura da seca, evidenciada pelo despovoamento da fazenda. (D) Ao tratar do milagre, a linguagem dos dois fragmentos se aproxima, sobretudo quanto ao caráter lírico da abordagem religiosa. (E) As adversidades vividas pelos personagens revelam as condições de pobreza dos grupos sociais representados, mas são superadas mediante intervenção divina. Gabarito: C Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdos avaliados: Vidas secas, de Graciliano Ramos, e “A Menina de Lá, da obra Primeiras Histórias, de Guimarães Rosa. Autora: Maria Tereza Amodeo Comentário: A questão exige que se compreenda o termo “sistema cultural”. O conceito, que deve ser relacionado à literatura, pode parecer complexo, mas não é. Uma leitura atenta às alternativas e ao textos deixará evidente que, por “sistema cultural” entende-se, neste caso, a religião. A alternativa A solicita que se relacione o espaço representado nos dois textos, o que não procede. No Texto 1, de Graciliano Ramos, as personagens recorrem à ajuda divina para pedir chuva, que não vem. A falta de opção leva Fabiano a partir em busca de salvação para a sua família. No texto 2, há a referência à seca e a sugestão de pedir ajuda à Nhinhinha, mas ela nega. Em seguida, a chuva vem, colorindo o lugar e alegrando as pessoas. Não há, portanto, uma relação entre a forma de configuração espacial do texto 1 e a do Texto 2. Na seleção do conto de Guimarães Rosa não se esclarece a vinculação da personagem 90 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) menina com o divino, que tudo o que deseja, acontece. Daí a ideia de recorrer a ela para pedir chuva. A ausência dessa informação pode dificultar a análise do estudante, se ele não conhecer e/ou se lembrar do conto. A alternativa B está incorreta, pois a religiosidade de ambos os textos é representada de formas diferentes. No Texto 1, por meio de reza e de pedidos, as personagens recorrem a Deus, mas ele não intervém. No Texto 2, a ajuda pode vir da crença de que a menina pode tudo o que desejar. Trata-se, pois, de uma crença popular. A menina parece saber que a ajuda virá; isso realmente ocorre. A alternativa C é facilmente identificada como corrreta, pois Fabiano realmente pede ajuda a Deus. O emprego de “mas” evidencia a quebra sugerida pela questão, a impossilidade da ajuda de Deus. A fazenda é abandonada, é despovoada. A alternativa D faz referência ao milagre, que ocorre apenas no Texto 2. A chuva vem, sem aviso, como uma ajuda divina. No Texto 1 isso não acontece. Além disso, não é possível identificar o caráter lírico no primeiro texto. A linguagem é dura, as ações se sucedem, sem sugestões ou impressões. No segundo texto, há um lirismo muito sutil, nas imagens relacionadas às cores que surgem na natureza após a chuva. A alternativa E está incorreta. No Texto 1, não há a intervenção divina para a solução dos problemas das personagens. Fabiano e a família saem em busca dessa solução, já que a chuva não vem, já que as preces não foram atendidas. No Texto 2, não há referência às condições de pobreza das personagens. ENADE Comentado 2008: Letras 91 QUESTÃO 36 Tomando por base o trecho escrito que representa a fala de Nhinhinha: “Mas, não pode, ué...”, assinale a opção correta a respeito dos processos de transposição da linguagem oral para a linguagem escrita. (A) As letras do alfabeto do português representam palavras da língua portuguesa. (B) Em língua portuguesa, a relação entre a letra e o som, como [e] no exemplo, é regular: mantém-se a mesma em qualquer palavra. (C) Por serem usadas em início de frases ou nomes próprios, as letras maiúsculas correspondem, na fala, a maior impacto e força sonora. (D) Os sinais de pontuação marcam, na escrita, a organização dos fragmentos linguísticos, que são marcados, na linguagem oral, pela entonação. (E) Os signos do código escrito são mais complexos que os signos do código falado; por isso, as interjeições, como “ué”, são características de oralidade. Gabarito: D Tipo de questão: Escolha simples, com indicação da resposta correta. Conteúdo avaliado: Linguagem oral e escrita; relação fonema-letra; valor da maiúscula; valor dos sinais de pontuação; valor das interjeições. Autora: Marisa Magnus Smith Comentário: A) Alternativa incorreta Como afirma Bechara, é necessário não confundir letra com som da fala; letra é a representação gráfica com que se procura reproduzir na escrita o som, o que não significa identificá-los (2001, p.53). Nesse sentido, o alfabeto de uma língua é composto pelas letras que representam os sons dessa língua. As letras, e mais ainda as palavras, podem ter pronúncias diferentes, de acordo com as circunstâncias individuais e grupais de seus falantes e também com o ambiente linguístico, mas a grafia é igual para todos. As letras, portanto, não têm uma relação direta com o modo como as palavras são pronunciadas. Pense, por exemplo, em quantas formas existem para pronunciar a palavra “mas”. Por outro lado, um mesmo som pode ser representado de muitas formas, como é o caso do som [ s ], como em “pensamento”. Observe: passar / dançar / pensar / paz / consciência / excelente / extermínio / crescente / nasçamos / exsudação... 92 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) B) Alternativa incorreta Conforme já demonstrado ao comentar-se a alternativa (A), não existe regularidade entre letra e som, e a pronúncia que a letra representa vai depender de fatores diversos. Quanto à letra “e”, no fragmento de fala de Nhinhinha (“Mas, não pode, ué...”) a pronúncia da palavra destacada pode ser [ ê ] ou [ i ], mas a pronúncia de “ué”, apenas [ є ]. C) Alternativa incorreta O uso de maiúsculas ocorre basicamente em dois casos: para indicar ao leitor o início de uma frase e para assinalar o estatuto de nome próprio a um vocábulo. No primeiro caso, sua função é análoga à do ponto final, pois assim como este indica o encerramento do período, a maiúscula indica o início. No segundo caso, diferencia o comum do que se convencionou denominar “próprio”, ou diferenciado, como na dicotomia “igreja” (prédio) X “Igreja” (Instituição). Nesses limites de uso, as maiúsculas não correspondem a maior impacto ou força sonora. Por outro lado, usase em textos informais, especialmente em meio eletrônico, lançar mão de recursos como negrito, itálico e também maiúsculas para destacar palavras inteiras ou mesmo fragmentos de textos, donde se pode imaginar que teriam correspondência na entonação. Mas a alternativa menciona início de frases ou nomes próprios, apenas. D) Alternativa correta Os sinais de pontuação desempenham funções diversas: sintáticas, semânticas, textuais – todas elas a serviço de quem escreve e de quem lê. Por isso, são registrados na escrita para orientar a leitura. Essas funções têm repercussões prosódicas, já que, ao contribuir para a organização das sequências linguísticas, os sinais de pontuação marcam ritmos e cadências, que se configuram, quando da oralização do texto, em entonações diversas. E) Alternativa incorreta Os signos da fala e da escrita são de natureza distinta, não podendo, por isso, ser comparados em termos de complexidade. Os signos da fala são naturais, fisiológicos, culturais; os da escrita são convencionais e arbitrários. Quanto às interjeições, elas constituem combinações de sons às quais foram sendo atribuídos significados, e sua representação na escrita mantém de forma aproximada sua característica oral. Consideradas como “elementos efetivos da linguagem, valem por ENADE Comentado 2008: Letras 93 frases inteiras (Rocha Lima, 1985, p. 165), sendo ainda consideradas por Cunha e Cintra (2000, p.78) como vocábulos-frases”, donde se infere que os signos do código oral não são, em princípio, mais simples do que os signos do código escrito. Referências BECHARA, Evanildo. Moderna gramática da língua portuguesa. 37. ed. rev. amp. Rio de Janeiro: Lucerna, 2001. CUNHA, Celso; Cintra, Lindley. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de Janeiro: Ed. Lexicon, 2009. LIMA, Rocha. Carlos Henrique da. Gramática normativa da língua portuguesa. 30. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1985. 94 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) Texto para as questões 37 e 38 Mestre do coro Vou pidi a Santa Bárbara. Pra ela me ajudá. Coro Santa Bárbara que relampuê Santa Bárbara que relampuá Esse estribilho é repetido várias vezes, em ritmo cada vez mais rápido, até que Minha Tia surje no alto da ladeira e apregoa num canto sonoro. Minha Tia Óia, o ca-ru-ru! Cessam de repente o canto e o acompanhamento. Os jogadores param de jogar. (...) Coca (Tira do bolso uma nota e coloca-a sobre o balcão) Aposto cem. Galego (Coloca uma nota sobre a de Mestre Coca) Casado. (...) Coca O Galego diz que o padreco não deixa o homem entrar. Eu digo que vai acabar entrando, hoje mesmo, com cruz e tudo. Galego Entra nada. Yo conheço esse padre. Moça com vestido decotado no entra nesta igreja. Yo mismo já vi ele parar la missa até que uma turista americana, de calças compridas, se retirasse... Dias Gomes. O Pagador de promessas. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005, p. 78-9. ENADE Comentado 2008: Letras 95 QUESTÃO 37 Tomando por base o excerto da peça O Pagador de Promessas e levando em conta as especificidades da linguagem dramática, avalie as seguintes asserções. I O texto dramático, sobretudo na linguagem dos personagens, reproduz, artisticamente, padrões de fala do cotidiano. II O texto dramático, no que diz respeito às rubricas ou marcações de cena, registra a presença da figura autoral. III O texto dramático, ao registrar padrões da fala, tende a se tornar historicamente datado e, conseqüentemente, prejudicado quanto ao aspecto artístico. Está certo o que se afirma apenas em (A) I. (B) II. (C) III. (D) I e II. (E) I e III. Gabarito: D Tipo de questão: Escolha combinada. Conteúdo avaliado: Linguagem teatral. Autor: Luiz Antonio de Assis Brasil Comentário: A peça O pagador de promessas, de Dias Gomes, levada ao cinema por Anselmo Duarte, e que obteve a Palma de Outro em 1962, retrata o universo nordestino a partir de uma personagem (Zé do Burro), que vai a Salvador da Bahia para pagar uma promessa feita no candomblé. Isso é um fator de desequilíbrio na ortodoxia de um pároco que se recusa a aceitar a cruz que Zé do Burro carregou desde sua pequena cidade; o padre alega, para sua negativa, que a promessa fora feita em circunstâncias pagãs. 96 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) A cena que enseja a questão 37, e também a 38, retrata o momento em que Galego e Coca apostam acerca da solução do caso: ou Zé do Burro afinal entrará na igreja ou, ao contrário, será impedido de fazê-lo pelo sacerdote. A questão 37 refere-se não tanto à ação vivida pelas personagens, mas à linguagem teatral. O leitor deverá verificar quais, dentre as assertivas, a(s) mais adequada(s), sendo consideradas certas pelos elaboradores as de número I e II, respectivamente: O texto dramático, sobretudo na linguagem dos personagens, reproduz, artisticamente, padrões de fala do cotidiano e O texto dramático, no que diz respeito às rubricas ou marcações de cena, registra a presença da figura autoral. Realmente, ambas estão corretas, uma vez que é característica do texto dramático contemporâneo essa linguagem mais coloquial, o que não acontecia, na maioria dos casos, no teatro clássico (em Racine, por exemplo); as rubricas são as marcações textuais escritas pelo autor para indicar ao diretor (ou ao leitor) a movimentação das personagens em cena ou outras situações, como posição no palco, iluminação, figurino etc. Embora a presença autoral permeie toda peça dramática, é nas rubricas que ela se manifesta de maneira mais visível, podendo significar, inclusive, a intenção da cena considerada. A afirmativa III traz conteúdo aparentemente discutível: o texto dramático, ao registrar padrões da fala, tende a se tornar historicamente datado e, consequentemente, prejudicado quanto ao aspecto artístico. Aparentemente discutível porque, na verdade, a história do teatro tem demonstrado que algumas peças, fortemente ancoradas em seu tempo (de autores como Gil Vicente, Shakespeare, Martins Penna e Machado de Assis, por exemplo), têm subsistido até hoje, sem nenhuma perda de seu valor artístico; quer-se dizer: o que traz à discussão a existência humana em suas mais variadas digressões, se tiver conteúdo artístico, subsistirá. ENADE Comentado 2008: Letras 97 COMPONENTE ESPECÍFICO QUESTÕES DISCURSIVAS 98 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) As questões 38, 39 e 40, do COMPONENTE ESPECÍFICO, são itens abertos, ou seja, demandam respostas discursivas. A propósito dessas, o INEP apresentou, junto com o gabarito dos itens objetivos, o “Padrão de resposta esperado” para cada questão. Por essa razão, reproduzimos as questões e os respectivos padrões de resposta fornecidos pelo INEP, para que o leitor possa ter à disposição a prova referente ao componente específico em sua totalidade. ENADE Comentado 2008: Letras 99 QUESTÃO 38 No fragmento de O Pagador de Promessas, Dias Gomes registra, na escrita, diferentes marcas linguísticas que caracterizam os personagens quanto ao uso da linguagem. Analise essas marcas de variação lingüística, de natureza sociocultural, regional e estilística, exemplificando com elementos do texto, de acordo com as orientações a seguir. A Relacione a fala de Galego com a dos demais personagens. (valor: 5,0 pontos) B Relacione as falas dos personagens com as rubricas (indicações cênicas). (valor: 5,0 pontos) Padrão de Resposta: A Espera-se que o estudante distinga interlíngua, na fala do Galego, de variação lingüística nas demais falas, citando exemplos, e demonstre domínio da norma culta, no que diz respeito a mecanismos de natureza gramatical e textual. B Espera-se que o estudante associe exemplos, como "pidi", "óia", "ajudá", ao registro de norma culta constatado nas didascálias, como "Tira do bolso uma nota e coloca-a sobre o balcão". C Espera-se, ainda, que, em ambas as partes, o estudante demonstre domínio da norma culta, no que diz respeito a mecanismos de natureza gramatical e textual. 100 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 39 Ao atualizar o sentido da mais conhecida história de amor da humanidade, o diretor Gabriel Villela, do Grupo Galpão, transpôs Romeu e Julieta, a tragédia dos dois jovens apaixonados e malfadados, para o contexto da cultura popular brasileira. Esse conceito (proposta) sustenta o espetáculo, especialmente na figura do narrador, que rege toda a ação com uma linguagem inspirada em Guimarães Rosa e no sertão mineiro. O encontro de Gabriel Villela com Shakespeare significou a ousadia de fazer um clássico na rua. Ao texto original do espetáculo juntam-se elementos da cultura popular brasileira e mineira, presentes nas serestas e modinhas, nos adereços e figurinos, que remetem ao interior profundo do Brasil. Internet: <www.grupogalpao.com.br> (com adaptações). Com base no fragmento de texto e na imagem acima, aponte relações entre cultura clássica e cultura popular, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos. A ASPECTOS TEXTUAIS Comente a transposição da tragédia shakespeariana para a realidade brasileira, para o teatro de rua, considerando elementos da cultura popular brasileira. (valor: 5,0 pontos) B ASPECTOS INTERTEXTUAIS Caracterize as especificidades dos gêneros dramático e romanesco, considerando que a montagem do Grupo Galpão inspirou-se na linguagem da narrativa de Guimarães Rosa. (valor: 5,0 pontos) ENADE Comentado 2008: Letras 101 Padrão de Resposta: A Espera-se que o estudante topicalize a relação entre cultura clássica e popular, ressaltando, por exemplo, a permeabilidade entre uma cultura e a outra, ou a aproximação entre o estudo de tais culturas. Espera também que, ao tratar dos TEXTOS, o estudante demonstre conhecimento da peça shakespeariana, fazendo referências diretas a momento(s) icônico(s) da trama, e destaque o fato de que a montagem do Galpão utiliza uma retextualização em LP. Nesse tópico, espera-se que o estudante trate, ainda, dos CONTEXTOS, faça menção ao momento cultural (teatral) elisabetanojaimesco, à transposição da tragédia shakespeariana para a realidade brasileira, ao teatro de rua e a elementos da cultura popular brasileira (e.g., a música). B Espera-se que, ao tratar dos INTERTEXTOS, o estudante teça comentário sobre as especificidades dos gêneros dramático e romanesco, faça referência à obra, à linguagem e ao cenário de Guimarães Rosa, bem como à interpolação da figura de um narrador na montagem teatral do Galpão. Espera-se, ainda, que, em ambas as partes, o estudante demonstre domínio da norma culta, no que diz respeito a mecanismos de natureza gramatical e textual. 102 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) QUESTÃO 40 Entre o surgimento da linguagem humana e o da escrita, sucederam-se 1.400 gerações. No intervalo de vida de uma geração, cerca de vinte anos, novos paradigmas tecnológicos são inventados e reinventados. Veja Especial Tecnologia, set./2008, p. 52-3 (com adaptações). Com base no fragmento de texto acima e no infográfico ao lado, desenvolva um dos tópicos a seguir, de acordo com a habilitação do seu curso. A BACHARELADO Vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto de vista, por exemplo, do editor, do tradutor ou do revisor, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: o aumento da complexidade dos saberes envolvidos; os recursos de acesso e disponibilidade de informação. (valor: 10,0 pontos) B LICENCIATURA Vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto de vista da prática pedagógica, abordando, necessariamente, os seguintes aspectos: o aumento da complexidade dos saberes envolvidos; as implicações para o ensino-aprendizagem de língua. (valor: 10,0 pontos) ENADE Comentado 2008: Letras 103 Padrão de Resposta: Bacharelado A Espera-se que o estudante escreva sobre as vantagens e desvantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto de vista, por exemplo, do editor, do tradutor ou do revisor, abordando necessariamente, o aumento da complexidade dos saberes envolvidos e os recursos de acesso e disponibilidade de informação. Esperase, ainda, que, em ambas as partes, o estudante demonstre domínio da norma culta, no que diz respeito a mecanismos de natureza gramatical e textual. Licenciatura B Espera-se que o estudante escreva sobre as vantagens das diferentes tecnologias que permeiam as relações entre oralidade e escrita, sob o ponto de vista da prática pedagógica, abordando o aumento da complexidade dos saberes envolvidos e as implicações para o ensino-aprendizagem de língua. Espera-se, ainda, que, em ambas as partes, o estudante demonstre domínio da norma culta, no que diz respeito a mecanismos de natureza gramatical e textual. 104 Maria Eunice Moreira, Marisa Magnus Smith e Jocelyne da Cunha Bocchese (Orgs.) LISTA DE CONTRIBUINTES Alice Therezinha Campos Moreira Ana Maria Lisboa de Mello Ana Maria Tramunt Ibaños Bruno Jorge Bergamin Claudia Brescancini Gilberto Scarton Heloísa Koch Jane Rita Caetano da Silveira Jocelyne da Cunha Bocchese Luiz Antonio de Assis Brasil Maria Eunice Moreira Maria Tereza Amodeo Marisa Magnus Smith Regina Lamprecht Ricardo Barberena Sissa Jacoby Valéria Pinheiro Raymundo Vera Wannmacher Pereira ENADE Comentado 2008: Letras 105
Download