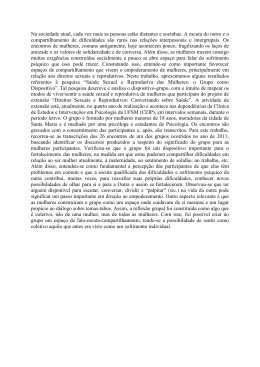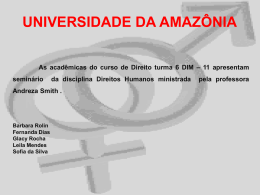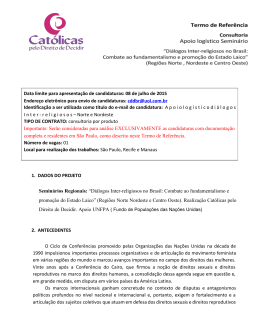A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS DA MULHER Por MAYARA ALICE SOUZA PEGORER. Graduanda em Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, Campus Jacarezinho. Participante de grupos de pesquisa com a temática "Jurisdição e Direitos Fundamentais" da referida Instituição de Ensino Superior. Atuou como estagiária junto ao Ministério Público da Comarca de Jacarezinho-PR no período de 2007 a 2010. DESCRIÇÃO DA PUBLICAÇÃO: Este artigo foi elaborado com base no trabalho de conclusão de curso a ser apresentado no ano de 2010 à Universidade Estadual do Norte do Paraná pela autora RESUMO: Não se pode conceber os direitos sexuais e reprodutivos da mulher sob a perspectiva dos direitos humanos fundamentais sem se reportar a todo um contexto histórico de seu surgimento, seus precedentes, pontuando os marcos essenciais ao seu reconhecimento. É neste aspecto que se parte das discussões filosóficas de gênero, do papel da mulher frente à sociedade durante a História, das lutas travadas pelos movimentos feministas e, por fim, dos eventos internacionais em prol das necessidades das populações, que culminaram na realização da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) do Cairo, a qual é vista como um marco histórico para a mudança de paradigma, subsidiando uma compreensão global da problemática da titularidade feminina dos direitos sexuais e reprodutivos, ainda tão negligenciados pelo Estado e pela própria sociedade. INTRODUÇÃO Para que se possa visualizar os direitos sexuais e reprodutivos da mulher sob a perspectiva dos direitos humanos, com todas as suas implicações dentro do Estado Democrático de Direito, há que se reportar a todo um contexto histórico de seu surgimento, seus precedentes (quando ainda não haviam se consubstanciado, não passando de meras “fagulhas” na luta das mulheres por outros direitos correlatos), pontuando os marcos essenciais ao seu reconhecimento, a exemplo das lutas travadas pelos movimentos feministas e os eventos internacionais em prol das necessidades das populações. De fato, o que se busca é fazer um retrospecto histórico, demonstrando o papel da mulher frente à família, à sociedade e ao Direito, e do Estado neste processo, o qual irá transparecer o envolvimento dos direitos em pauta com questões de cunho eminentemente filosófico, social e político, e permitirá a formação de uma concepção ampla, dentro dos preceitos fundamentais. Neste sentido, Corrêa, Jannuzzi e Alves (2003, p.02), relevam a necessidade de remeter-se a questões da cidadania moderna, oriundas de princípios iluministas do século XVIII, justamente para que se possa situar os direitos sexuais e reprodutivos dentro da amplitude dos Direitos Humanos, e demonstrar seu longo caminho travado, no qual “a população foi vista ora como um objeto de políticas coercitivas e ora como sujeito de direitos e de políticas cooperativas”. Em realidade, foi a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, que os Direitos Humanos das Mulheres começaram a ganhar espaço, principalmente motivados por problemas relativos à discriminação de gênero, crescimento demográfico e, essencialmente, acerca da condição feminina perante o mundo (BRAUNER, 2003. p.04). É a partir destas questões que poderemos visualizar o comportamento social e como tais conjunturas foram cruciais ao reconhecimento gradual destes direitos. 1. A CONCEPÇÃO DOS GÊNEROS NA HISTÓRIA, O PAPEL DA MULHER, E A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS FEMINISTAS Em artigo constante na obra “Sexo e vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil” (2003, p. 95-150), Villela e Arilha esclarecem que, nos primórdios, não se compreendia uma diferenciação entre homens e mulheres, ainda que de caráter meramente biológico, sendo que só existia um sexo: os homens, que seriam completos ou incompletos (traduzindo-se estes últimos nas mulheres, consideradas pelas tradições filosóficas e médicas gregas, além do cristianismo, como “homens que não completaram sua formação, física ou moral”). Com o decorrer dos tempos e a ascensão de valores na sociedade, surgiram vários movimentos cruciais para que se enxergassem essas diferenças, que mais do que o aspecto biológico alcança o âmbito psíquico e moral. Partindo-se de uma análise social da História, BRAUNER (2003, p. 02) ressalta que a “consciência de gênero”, isto é, a concepção da diferença entre os sexos e da necessidade feminina de lutar para seu reconhecimento igualitário, despontou no calor das revoluções burguesas entre as mulheres da Inglaterra e França, principalmente quando na Revolução Francesa, em 1789, época em que podem ser observadas as primeiras manifestações em prol dos direitos das mulheres, inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e que serviram de bases para o despontar do movimento feminista hodierno. De fato, não se pode tomar “gênero” como uma simples definição gramatical, de feminino e masculino, mulher e homem, oposto dos sexos, mas sim sob a perspectiva de uma conjuntura, das relações sociais, do emprego das culturas e seus efeitos nas instituições e organizações sociais, econômicas e políticas. Do mesmo modo manifestase Aníbal Faúndes em seu artigo “Estado atual e perspectivas dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil – Influência das relações de poder entre gêneros e entre provedor e cliente”, em edição do Jornal da FEBRASGO (Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia): O conceito de gênero permite distinguir entre os papéis reprodutivos do homem e da mulher, que dependem de sua biologia, dos papéis de gênero, que são determinados pela sociedade e que variam de uma cultura para outra. Entender que os papéis de gênero não são biológicos ou “naturais” é o que permite discutir que estes papéis podem mudar e tornarem-se mais equitativos. (1999, p.04) Partindo deste ponto, com o entendimento dos gêneros, há que se ressaltar importante questão sociológica que interfere na concepção dos direitos reprodutivos, os quais mais adiante serão abordados, justamente pelo papel feminino: a maternidade. Ainda que superado o pensamento primitivo acerca da existência de um só gênero, mais ou menos desenvolvido, persistiu a crença de que a mulher assumia um papel inferior ao homem, impingindo-lhe somente algumas funções dentro da vida social, de forma que somente este representava a humanidade, conforme explana Mattar (2008), fazendo um apanhado das idéias de Rohden, Villela e Arilha: Entretanto, em razão de fenômenos que transformavam a vida da mulher constantemente, como a gravidez e as “hemorragias esporádicas”, os homens achavam que as mulheres eram seres estranhos, capazes de perverter a ordem do mundo em função de sua inerente instabilidade. As mulheres pareciam estar mais sujeitas às influências externas, já que supostamente frágeis e vulneráveis – física, moral e intelectualmente. A inteligência estava associada ao masculino e a sensibilidade ao feminino, já que era por meio das características biológicas que se delimitavam as capacidades físicas e mentais e, portanto, os papéis que cada um dos sexos podia assumir na sociedade. Neste sentido, a função precípua das mulheres era, pois, a procriação, e Deus as haviam feito com as necessárias características para o bom desempenho desta tarefa. Em seu artigo, os referidos autores Villela e Arilha ratificam tal visão: No recém inaugurado mundo de dois sexos, são as diferenças impressas pela natureza dos corpos dos homens e mulheres que os coloca ocupando lugares e funções sociais diferenciados. As mulheres seriam dotadas pela natureza de corpos e sentimentos adequados à tarefa de gestar, aleitar e cuidar do frágil bebê humano em seu processo de desenvolvimento – tarefa tão importante que as tornava praticamente incapazes de desempenhar qualquer outra função social. Os homens, por não terem sido moldados para qualquer função específica, estariam incumbidos de todas as demais funções necessárias à reprodução humana, ou seja, atividades sociais, políticas, culturais e econômicas. (BERQUÓ, 2003, p. 103) Outro não foi o entendimento apregoado pela Igreja (aqui analisada sob o enfoque da Igreja Católica Romana), analisado por Mattar (2008) inspirado na obra de Kissling, a qual, na afirmação de sua crença, tentou (e de fato por vezes ainda tenta) naturalizar os papéis de gênero dentro da cultura: Para a Igreja Católica Romana: (i) há um único padrão de família, a nuclear, formada por um homem e uma mulher e sua prole; (ii) a sexualidade só deve ser exercida para reprodução e, mesmo assim, dentro do casamento; (iii) qualquer tipo de contracepção é sempre mau e (iv) o aborto provocado, até para salvar a vida de uma mulher, é sempre imoral. A vida sexual das pessoas, na visão desta Igreja, não é um fim em si, senão um instrumento de procriação. E, por fim, (v) as mulheres não são ordenadas ao sacerdócio, e permanecem excluídas de todas as funções de tomada de decisões. [...] Portanto, essa espécie de “marginalização” do papel feminino, caracterizado pela submissão ao homem, segundo o entendimento de muitos, possui origem bíblica, na figura de Eva, criada por Deus de uma costela de Adão, para que fosse sua companheira. (GOMES, 2003, p.51-52) Foi dessa concepção diferenciada que surgiram as expressões “sexo forte” para designar o sexo masculino, e “sexo fraco”, com relação ao sexo feminino. Analisando o estudo de Engels, Gomes (2003, p. 52) revela que o renomado pensador apontou como marco ideológico dessa “escravização do sexo feminino” o despontar das primeiras noções de propriedade privada, por se tratar de momento em que se procedeu à “divisão sexual do trabalho e consequentemente de posses, sendo imprescindível para os homens – agora proprietários – uma descendência segura para herdar seus bens e, para tanto, mulheres subservientes, guardadas como fiéis reprodutoras”, estabelecendo-se a monogamia como coincidente à primeira luta de classes, qual seja, a opressão do sexo masculino sobre o feminino. Por certo que esta visão do papel feminino como objeto submisso ao homem, resguardando-se à procriação, como se observa do breve levantamento histórico feito por Gomes (2003, p. 52-54) com base em diversos autores, é recorrente desde a antiguidade grega, o Império Romano, a Idade Media, o advento do capitalismo industrial, chegando à concepção hodierna. Desta forma, bem descreve o autor que, “ao lado da Igreja e de um Estado patriarcal, a ciência, epistemologicamente masculina, ajuda a legitimar a condição de subalternidade feminina, segundo ideologia de um determinismo biológico”, sendo que este pensamento de cunho científico se baseia, por exemplo, em postulados freudianos e em estudos de Richard Dawkins: É lei da natureza que, sendo cada espermatozóide tão pequeno, um macho possa produzir vários milhões deles, todos os dias. Isso quer dizer que ele é potencialmente capaz de gerar muitos filhos num período de tempo curto, fecundando diferentes fêmeas. Essa possibilidade natural existe porque cada novo embrião recebe alimento adequado da mãe,que é quem vai gestar e nutrir a cria. Logo, a função maternal estabelece limite ao número de filhos que a fêmea pode ter ao longo da vida, mas o macho pode produzir, teoricamente, quantidade ilimitada de filhotes. Como literalmente afirma Richard Dawkins, a exploração da fêmea começa aqui. O comprometimento da fêmea com a gestação – e, no seu rastro, a desigualdade de condições entre machos e fêmeas para replicação dos próprios genes – é o fundamento genético-biológico que, na espécie humana, deu origem às diferenças de socialização, convivência e atribuições entre homens e mulheres, denominadas diferenças de gênero. [...] (HERMANN, 2008, p. 25, grifo do autor) Assim, o papel de mãe da mulher foi sendo idealizado até a forma como concebemos hoje na sociedade, criando o estereótipo de que mãe perfeita é aquela que coloca os interesses do filho acima de todas as coisas. Todavia, este entendimento passou a ser questionado na medida em que a figura da mulher dentro de uma sociedade intrinsecamente machista sofreu profundas alterações, vindo a influenciar na atuação materna. É como mostra Maria Claudia Crespo Brauner: Essa visão idealizada da maternidade trouxe a noção de “mãe perfeita”, que foi tradicionalmente vinculada aos esteriótipos [sic] femininos de submissão, proteção e abnegação da mulher, destinada a gerar e dar um sentido a sua vida quando da reprodução, sendo considerada digna de respeito somente quando seu desempenho nas atribuições impostas pela maternidade respondesse aos interesses da sociedade. Dessa construção histórica do papel feminino surge o pensamento de que a mulher que não quer ter filhos, ou, mesmo aquela que é estéril, não está cumprindo com o papel que a sociedade espera dela, a maternagem. [...] (BRAUNER, 2003, p. 48) Portanto, a mulher passou a buscar não somente sua realização afetiva mas também profissional, buscando postar-se dignamente e igualitariamente dentro da sociedade, sem deixar de lado seu papel de mãe, mas questionando essa visão idealizadora de doação total ao lar (que ainda continua). Este foi e é um dos pontos que culminaram no surgimento do movimento feminista. Outro ponto importante a ser destacado é que, a despeito do pensamento conservador que emanava da legislação e do Direito, que, calcado nas idéias aqui já apresentadas, colocava o homem no centro de proteção e titular dos direitos, os movimentos feministas surgidos passaram a realizar uma construção lógica, de maneira a possibilitar a aplicação dos direitos existentes às mulheres: Diante deste vácuo legal, o movimento feminista passou a reinterpretar os direitos que não foram tradicionalmente pensados para serem aplicados às mulheres. É o caso do direito à vida, previsto no artigo 6 (1) [sic] do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, tradicionalmente entendido como a obrigação dos Estados-Parte de assegurar a observância do devido processo legal para imposição de uma pena de morte. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, ligado ao mencionado Pacto, considera essa interpretação restritiva e afirma que a proteção ao direito à vida requer a adoção de medidas positivas, como aquelas voltadas para a redução da mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida. O direito da mulher à vida, ou à sobrevivência, assegura-lhe o acesso aos serviços de saúde; portanto, qualquer restrição a tal acesso deve ser considerada violação ao direito internacional dos direitos humanos. [...] (MATTAR, 2008) Em perspectiva semelhante, aponta Gomes: Neste contexto se encerra a problematização dos novos direitos na perspectiva feminista: ao lado de demandas inéditas, repousam direitos exaustivamente consagrados pelos ordenamentos jurídicos das nações, que simplesmente carecem de concretude quando contrapostos ao velho modelo patriarcal, sexista e hierárquico de sociedade. (GOMES, 2003, p. 55) Foi através deste rompimento dos obstáculos filosóficos e psicológicos que a mulher, como agente transformador da sociedade, despontou, começando por romper as esferas pública e privada, através de um processo lento e constante de conscientização e posicionamento feminino, conquistando direitos rudimentares como o voto, o acesso à educação, ao trabalho e à participação das decisões familiares. (GOMES, 2003, p. 55) Ademais, como fora dito neste trabalho e bem acentuado pela autora DORA, em seu artigo “No fio da Navalha”, constante no livro “Direitos Humanos, ética e direitos reprodutivos” (1998, p. 38), no final da década de 60, com o surgimento de todos estes movimentos sociais, criou-se uma frente de luta pela liberdade, opondo-se às políticas estatais e destacando o papel da mulher como ser livre, além de discussões acerca de sua saúde, como com relação aos métodos anticoncepcionais, esterilização, aborto, entre outros. O tema de muitas campanhas neste sentido foi a expressão “meu corpo é meu”, dito “nosso corpo nos pertence” pelo movimento feminista americano da década de 70 (BUGLIONE, 2000), e, a partir dos anos 80, já pode se constatar uma nova fase de empenho na produção teórica e prática ao que concerne à saúde da mulher. No Brasil essa “marginalização” feminina não fora diferente, sempre calcada em uma suposta “condição natural de inferioridade” para com o homem. No período colonial, destaca-se o papel determinante da Igreja Católica na construção da personagem feminina como ser subordinado, servil e obediente ao homem, se sujeitando aos cuidados do lar e à procriação, conforme a vontade de Deus, idéia esta que, como fora visto anteriormente, persistiu até o Brasil República. (BUGLIONE, 2000) Exemplos desse reflexo na legislação não faltam. A interpretação restritiva dada ao sufrágio universal constante na Constituição Federal de 1891, limitando-o aos homens, ou ainda a negativa de capacidade jurídica da mulher casada no Código Civil de 1916, a qual figurava como relativamente incapaz junto aos menores impúberes, silvícolas e pródigos (artigo 6º., inciso II), são tristes marcos deste pensamento. (GOMES, 2003, p. 56) Na década de 1920 várias organizações políticas despontaram na busca da melhoria da condição na mulher no país e, já em 1934, tal influência se fez presente na Carta Magna, constando, em seu artigo 1131, a igualdade como pressuposto do Estado2, 1 Art. 113. Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo, raça, profissão, própria ou dos pais, classe social, riqueza, cargos religiosos ou idéias políticas. 2 BARBOSA, em sua monografia “Evolução dos direitos da mulher: norma, fato e valor”, passa a analisar a presença do principio da isonomia nas Constituições brasileiras, salientando que as Cartas Magnas de 1824 (artigo 178, inciso XIII), 1891 (artigo 72, § 2º.), 1937 (artigo 122, 1) e 1946 (artigo 141, § 1º.) o trouxeram de maneira genérica e abrangente, enquanto as Constituições de 1934 (artigo 113, 1), 1969 bem assim em dispositivos esparsos que regulavam o trabalho feminino, a igualdade salarial, e normas sobre a infância e a maternidade. (GOMES, 2003, p. 56-57) Durante o “Estado Novo” de Getúlio Vargas (de 1937 a 1945), verifica-se uma inércia e até mesmo um recuo da democratização no país, o que ocasionou certa apatia dentro dos avanços políticos e espaço público conquistados pelas brasileiras, somente retomados de maneira expressiva no início de 1950, com a luta pela reforma do Código Civil que, como visto, colocava o casamento como ato em que a mulher renunciava a uma parcela de sua plena capacidade para os atos da vida civil, devendo exercê-los por intermédio do marido. (GOMES, 2003, p. 57) Diante desta situação, na década de 60 promulgou-se a Lei n. 4121, de 27 de agosto de 1962, o chamado “Estatuto da Mulher Casada”, que extinguiu algumas normas como esta referente à incapacidade relativa, diante das condições femininas de mãe, esposa e cidadã, ganhando a mulher, por conseguinte, os direitos de trabalhar, independente de outorga marital, e de guarda da prole, sem, contudo, haver mudanças quanto à adoção da sociedade patriarcal, com o homem no papel de “cabeça do casal”, como se aduz do artigo 233 do Código Civil de 1916, com as reformas trazidas pelo referido “Estatuto”3, mantendo a mulher como coadjuvante no contexto familiar. (GOMES, 2003, p. 58) Pode-se destacar também o importante papel feminino na busca de seus direitos durante a luta contra a ditadura no Brasil, a partir dos anos 60: A participação das mulheres na luta contra a ditadura dava-se igualmente na busca dos direitos civis e políticos, porém, alguns grupos de mulheres, dentro da lógica de expansão desses direitos, foram, paralelamente as lutas anti-ditadura, inserindo a discussão da sexualidade e reprodução, ou seja, o direito de ter ou não ter filhos e a relação com os serviços de saúde. Essas reivindicações faziam com que as mulheres brasileiras, a partir dos anos 60, processassem uma ruptura com o clássico e exclusivo "papel social" que lhes era atribuído, contribuindo para uma redefinição das relações sociais como um todo. (BUGLIONE, 2000) Fora no calor da redemocratização que, segundo BARSTED em artigo da obra “Sexo e Vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil” (2003, p. 80-81), o movimento feminista inspirou o debate sobre a descriminalização do aborto dentro do Legislativo Federal, com a apresentação de diversos projetos de lei que acabaram rejeitados ou arquivados, sendo que, contrariamente à conjuntura da época, “alguns juristas acusaram as defensoras da tese [de descriminalização do aborto] de tentar dividir a OAB, com uma questão que não era considerada de „direitos humanos‟”. Outros exemplos da autora no referido trabalho foi a campanha “Quem ama não mata”, promovida pelo movimento feminista no Brasil contra a tese da “legítima defesa da honra”, que contribuía para a absolvição de homens que assassinaram suas mulheres, calcando-se na pretensa vida “desregrada” das vítimas, transformando-as em (artigo 153, § 1º.) e, finalmente, de 1988 (artigo 5º., inciso I) buscaram expressamente coibir a discriminação de sexos, promovendo a igualdade formal entre homens e mulheres (2004, p. 17-21). 3 Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos. Compete-lhe: I – a representação legal da família; II – a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir administrar em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (arts. 178, § 9º., I, c, 274, 289, I, e 331); III – o direito de fixar o domicílio da família, ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher ao juiz, no caso de deliberação que a prejudique; IV – promover a manutenção da família, guardadas as disposições dos arts. 275 e 277. “messalinas” e “destruidoras de lares”, bem assim a denúncia de estupros praticados por estranhos ou em âmbito doméstico, como os próprios maridos, que antes exerciam sua sexualidade forçada sob o manto da “prerrogativa matrimonial”, lutas estas que contribuíram para o surgimento das delegacias da mulher, que em muito auxiliaram e ainda auxiliam para a coibição da violência contra a mulher (2003, p.81). Assim, sucumbiu o modelo familiar apregoado no Código Civil de 1916, conforme brilhante síntese de Gomes: Muitas são as causas que se pretendem atribuir à ruína do modelo adotado como “ideal” pelo legislador de 1916. De fato, pode-se citar o movimento feminista, aliado a outros órgãos da sociedade civil, como a OAB (que encampou muitas das demandas feministas) e inúmeros organismos internacionais, como a ONU, elementares para a emancipação das mulheres no Brasil e para a democratização nas relações familiares. Fatores econômicos igualmente se destacam nesse elenco, uma vez que o trabalho feminino passa a integrar definitivamente a renda familiar, quando não se verifica serem as mulheres as responsáveis pelo sustento do lar. A flexibilização dos costumes é de grande importância nesse particular, pois tira da clandestinidade a família monoparental, que passa a ser encarada com naturalidade e aceitação social, dissipando o estigma de “mãe solteira”. Têm-se, assim, um crescente número de famílias chefiadas por mulheres. (GOMES, 2003, p. 59) Ora, de que adiantava a “igualdade” entre os gêneros descrita desde a Carta Magna de 1934 se as leis infraconstitucionais, a exemplo do referido Código Civil de 1916, eram incompatíveis, condicionando tal princípio? Por conseguinte, transpondo tais barreiras, chegou-se ao marco brasileiro de reconhecimento (substancial) da igualdade entre os sexos, consubstanciado pela Constituição Federal de 1988, que buscou a adequação jurídica à nova situação da mulher ante a sociedade, destacando-se, ainda, por abranger e ressaltar os direitos das minorias esquecidas na História brasileira. É como se nota: A Constituição Republicana de 1988 é um marco na luta pela igualdade de direitos entre os sexos, bem como na positivação de uma gama de “novos” direitos no que tange à situação jurídica da mulher que, tutelada em nível constitucional, passa a gozar de um outro status enquanto sujeito de direitos. Resultado de forças sociais antagônicas, em uma época de crescentes complexidades e transformações no cenário nacional e internacional, o mencionado Diploma Legal, seguindo inclusive a tendência alienígena, não se poderia furtar ao reconhecimento e positivação de demandas tão antigas como a isonomia entre os cônjuges na sociedade conjugal, a não discriminação da mão-de-obra feminina, a proteção à gestante e à empregada-mãe, dentre outras tantas. Nunca uma Constituição brasileira tratou tão minuciosamente de um número tão significativo de direitos especificamente reconhecidos às mulheres.(GOMES, 2003, p. 59-60) Neste momento, Gomes exalta a ampliação da atuação e influência do movimento em prol aos direitos femininos com a luta pela redemocratização, principalmente quanto ao legislador constituinte, através do lema “Constituição para valer tem que ter Direitos da Mulher”, que originou o chamado “lobby do batom”, alcançando inúmeras vitórias dentro da Constituição de 1988, conforme descrito anteriormente. (2003, p. 61-62) Quando se tem sob análise a anteriormente concebida “função primordial” da mulher, qual seja, a maternidade, nota-se que sua proteção só constou a partir da Constituição de 1934 (artigo 138, alínea c), preocupação esta suprimida da redação da chamada Constituição “polaca” (de 1937), voltando a constar na Carta de 1946 (artigo 164) e em todas as seguintes, culminando no artigo 203, inciso I, da Constituição Federal de 1988, bem assim dentro da legislação infraconstitucional, como na vertente trabalhista, por exemplo (BARBOSA, 2004, p. 24-25). A autora DORA explica ainda, no artigo “Os Direitos Humanos das Mulheres”, constante no referido livro “Direitos Humanos, Ética e Direitos Reprodutivos” (1998, p.34), que os movimentos feministas passaram a exercer papel importante na medida em que mudaram o pensamento doutrinário tradicional que determinava “uma separação entre o espaço público e privado, e limitava a ação dos direitos humanos na função do Estado”, de maneira que este passou a ter uma posição ativa, muitas vezes atuando na esfera familiar ou nas relações de trabalho (a exemplo da violência doméstica e assédio sexual) para a defesa destes direitos e proteção das vítimas. Diante desta retrospectiva da História brasileira, não é outra a conclusão quando se analisa estudos realizados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os quais demonstram a colocação “subalterna” da mulher na sociedade, quadro este que só foi alterado (em realidade, ainda se encontra em processo de alteração), como já dito, diante da árdua e constante luta feminina, bem assim por se fazer maioria populacional, resultando com que a mulher assumisse um papel ativo em diversos setores, tanto dentro da família quanto da sociedade. Ademais, tais movimentos não se limitaram a isso, influindo também “para um maior equilíbrio da hierarquia dos direitos humanos”, na medida em que incentivavam o pensamento da igualdade material, para que as pessoas fossem vistas de acordo com suas especificidades (etnia, classe e gênero) e, desta forma, por suas necessidades igualmente específicas, de acordo com seus valores. É como bem salienta ainda a brilhante jurista DORA na mesma publicação (1998, p. 34): “portando, em alguns lugares do mundo, a fome e a miséria podem ser a maior causa de desrespeito aos direitos humanos, em outros podem ser as ditaduras, e é muito complexo definir o que é mais importante: a vida ou a liberdade!”. Continuando, DORA (1998, p.33), pontua que, apesar de hodiernamente ser mais evidente o entendimento dos direitos femininos como Direitos Humanos, não fora assim durante a história, configurando-se três momentos históricos: A primeira fase se inicia em 1919, ano de fundação da OIT – Organização Internacional do Trabalho - , quando muitos dos tratados celebrados referiam-se às mulheres, à maternidade, à proibição de trabalho insalubre e perigoso, [...]. Estes tratados inspiraram várias legislações nacionais, inclusive a CLT brasileira, e tinham caráter protetivo. O segundo momento tem como marco precisamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, com a afirmação da igualdade, independentemente do sexo, e o princípio da não discriminação, que avança da idéia de proteção para a participação igualitária. [...] A terceira fase é inaugurada em 1979, quando da aprovação da CEDAW – Convenção para Eliminação de Todas as formas de Discriminação contra a Mulher. [...] Diz que os Estados têm o dever de adotar medidas para se opor à discriminação e eliminar. Esse conceito de proteção aos direitos humanos insere-se em todos os instrumentos internacionais posteriores. [grifo nosso] Ademais, de fato esta percepção de desigualdades pelos movimentos feministas só foi possível pela análise do pensamento marxista, o qual transpareceu a existência das relações de dominação, que não se limitavam à atuação do Estado. Esta situação se torna clara nas palavras de Samantha Buglione (2000): [...] As idéias marxistas foram determinantes para a percepção das formas de dominação entre os indivíduos. Anteriormente, as idéias liberais, que contribuíram com o processo de constituição dos direitos civis e políticos, centravam a dominação em relações de poder basicamente vinculadas as relações entre Estado/Igreja e pessoas. Tanto, que neste primeiro momento, foi necessário construir a própria idéia de indivíduo, de pessoa sujeita de direito. Porém, tanto as idéias liberais, quanto marxistas, abarcavam instâncias parciais das relações de poder. O movimento de mulheres destaca que além da opressão apresentada, principalmente pelo marxismo, era necessário visualizar outras formas de dominação e opressão, que iam além das relações de classe e produção. As estruturas de poder se constituem de forma mais complexa, através de um conjunto de elementos, que podem ser morais, jurídicos etc., criadores e legitimadores de relações de dominação. Finalmente, frisa a autora DORA (1998, p. 34) que, somente em 1993, na Conferência de Direitos Humanos, em Viena, afirmaram-se como direitos humanos os direitos das mulheres, o que não quer dizer seu pleno reconhecimento de fato, razão pela qual as redes e organizações feministas ainda travam árdua batalha para seu efetivo reconhecimento, proteção e ampliação. Ora, o reconhecimento da mulher no status de cidadã se deu de maneira tardia, sendo que a prerrogativa de voto só veio no século XX, o que influenciou para a efetiva concepção da mulher como titular de direitos (da idéia de “direitos naturais” dos indivíduos constante na Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, que envolve o reconhecimento legal dos direitos, sua correspondência nos valores e costumes sociais, e implementação pelos órgãos estatais) e, desta forma, com o poder de exigir condições para exercê-los. Todavia, hodiernamente ainda se pode observar exemplos da incompatibilidade da condição de cidadania feminina na teoria e na prática, como a dificuldade de acesso à saúde, trabalho, cargos de maior notoriedade, violência doméstica, estereótipos sexuais, dentre outros indicadores, razões pelas quais as Nações Unidas mantêm sua atuação para o incentivo dos grupos de mulheres e outros setores específicos, para que reconheçam a titularidade de seus direitos e continuem lutando para sua efetivação, através deste processo denominado “empoderamento”, “voltado para fortalecer a cidadania, em especial dos grupos vulneráveis, a partir da conjugação de mudanças estruturais e pessoais”. (ADVOCACI, 2003, p. 46-48) Portanto, indiscutível o papel essencial dos movimentos feministas em todo o mundo, principalmente ao que diz respeito à sua produção teórica em âmbitos nacional e internacional, que colocaram em discussão os padrões socioculturais e a atuação estatal, auxiliando na construção dos direitos sexuais e reprodutivos, para a promoção da igualdade material frente à dignidade da pessoa humana. 2 A QUESTÃO DEMOGRÁFICA E AS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS DE POPULAÇÃO Como outrora dito, as questões sociais foram os pontos cruciais à construção dos direitos sexuais e reprodutivos, de forma que se faz necessário seu estudo, partindo das idéias de políticas populacionais. José Eustáquio Diniz Alves, em seu artigo “„O choque de Civilizações‟ versus Progressos Civilizatórios”, presente na obra “Dez anos do Cairo – Tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil”, traz a definição das políticas populacionais [...] como sendo aquelas ações (pró-ativas ou reativas) realizadas por instituições (públicas ou privadas) que afetam ou tentam afetar a dinâmica da mortalidade, da natalidade e das migrações nacionais e internacionais, ações estas que buscam influenciar as taxas de crescimento demográfico (positivo ou negativo) e a distribuição espacial da população. As políticas populacionais podem ser intencionais ou não-intencionais, explicitas ou implícitas, democráticas ou autoritárias e podem ser definidas ao nível macro-institucional (coletivo) ou micro (indivíduos e famílias). Elas sintetizam poder, conflitos e afins. (2004, p. 21) De fato, quanto à questão demográfica, percebe-se que esta buscava analisar a relação entre população e desenvolvimento, e provém de pensamentos divergentes encabeçados pelo Marquês de Condorcet (1743-1794) e por Thomas Malthus (17661834). Aquele primeiro, no ano de 1974, previu uma diminuição progressiva nas taxas de natalidade e populacional, externando um pensamento otimista com quanto à relação de crescimento populacional e pregresso socioeconômico. Já Malthus, quatro anos depois, seguiu pensamento totalmente oposto, niilista, na medida em que acreditava que a população sempre cresceria mais rapidamente, até mesmo por questões religiosas (“crescei e multiplicai-vos”, sendo a procriação uma finalidade do matrimônio, não se podendo conceber atividade sexual separadamente da reprodução), em forma de progressão geométrica, com relação os meios de subsistência (os quais cresceriam em progressão aritmética) e, justamente por causa disso, progresso e desenvolvimento seriam uma meta longínqua, até mesmo utópica à maior parte da população. Ademais, este pensador era contrário à utilização de métodos contraceptivos e aborto, concebendo como únicos meios de freio à natalidade o aumento da idade núbil e a abstinência sexual fora do matrimônio. (ALVES, 2002) Como se nota, o controle das taxas de fecundidade e natalidade pressupunha a discussão da necessidade da intervenção estatal na capacidade e liberdade reprodutiva e, portanto, tolhia o poder de escolha feminino para confiá-lo quase que totalmente ao Estado, traduzindo-se em uma questão meramente politicoeconômica. ALVES percorre o artigo anteriormente citado (2004, p.22-38) com uma análise profunda das concepções populacionais que, há época da expansão europeia, em que despontavam as “Américas portuguesa e espanhola”, teve uma política expansionista e pró-natalista, que tinham a povoação como fator essencial à imposição de seu governo, passando pelas políticas migratórias dos países latino-americanos nos séculos XIX e XX diante da adoção de uma economia essencialmente agrícola e chegando, no Brasil, ao governo de Getúlio Vargas (1930-1945), cujas políticas sociais aplicadas culminaram também em efeitos pró-natalistas, pelo posicionamento estatal não-intervencionista neste aspecto (a exemplo das disposições legislativas: Decreto Federal n. 20.291 de 11 de janeiro de 1932, que vedava ao médico “dar-se à prática que tenha por fim impedir a concepção ou interromper a gestação”; e o artigo 124 da Constituição de 1934, que dispunha acerca da proteção especial do Estado ao casamento indissolúvel, bem assim uma compensação às “famílias numerosas”, “na proporção de seus encargos”). Outros desses exemplos de colocação da questão populacional como de ordem pública, justificando a atuação estatal, são listadas pela autora Denise Dourado Dora, em artigo do livro “Direitos Humanos, Ética e Direitos Reprodutivos”, também de sua organização juntamente a Domingos Dresch da Silveira (1998, p. 37): Podemos citar como exemplo as leis de liberação do aborto, editadas na Rússia, logo após a revolução bolchevique. Anos depois, os dirigentes soviéticos mudaram estas leis, e desenvolveram campanhas de elogio à maternidade, para aumentar o número de nascimentos. Hitler, durante a II Guerra Mundial, também estabeleceu esta política de elogio à maternidade, inclusive premiando as mulheres alemãs que tivessem mais filhos. De certo, um dos maiores motivadores para o controle de natalidade poderia ser tido como essa concepção de que uma “superpopulação” significaria escassez de recursos, miséria e devastação ambiental, fator este que motivou os chamados países ricos, nos anos 60 (o qual, junto aos anos 50, são marcos históricos de maior crescimento demográfico da humanidade), para passar a intervir diretamente no “Terceiro Mundo”, negando a real origem destas mazelas sociais no modelo econômico adotado, caracterizado pela concentração de riquezas (BRAUNER, 2003. p. 04-05). As políticas intervencionistas, oriundas do já citado entendimento de Thomas Malthus transpareciam: [...] as concepções malthusianas e neomalthusianas [que se diferenciam apenas pela aceitação dos métodos contraceptivos para controlar a fecundidade] que envolviam, por exemplo, campanhas de esterilização em massa, distribuição de contraceptivos pouco testados e, inclusive, o oferecimento de recompensas para aquele que se submetesse à esterilização, fato ainda praticado em certos países. (BRAUNER, 2003. p. 05) Contudo, como se observou anteriormente, tais programas não se direcionavam à satisfação das necessidades femininas, servindo tão somente sua saúde como pretexto (uma vez que a contracepção era tida como responsabilidade exclusiva da mulher, pensamento este decorrente de fatores socioculturais até hoje perceptíveis principalmente nas classes sociais mais baixas), o que gerou o surgimento de uma oposição motivada nas reivindicações populares em prol do que depois se caracterizou como direitos reprodutivos, visando redirecionar as políticas empregadas, cujo projeto inicial foi encabeçado por várias instituições públicas e privadas, como o Fundo das Nações Unidas para a População (FNUP), Banco Mundial, com fundos oriundos dos Estados Unidos e as Fundações FORD e ROCKEFELLER, com sede no mesmo país, e após, com o desenvolvimento das pesquisas biomédicas, dando origem a vários conflitos como ocorreu, por exemplo, nas Conferências Mundiais sobre População realizadas em Bucareste (1974) e na Cidade do México (1984). (BRAUNER, 2003. p. 05-07) Desta forma, concluem Corrêa, Januzzi e Alves: Portanto, foi neste ambiente de alto crescimento demográfico e sob a influência do pensamento neo-malthusiano que ocorreram as primeiras Conferências Internacionais de População e Desenvolvimento organizadas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Foi no desenrolar destas Conferências, situadas em conjunturas internacionais diferentes e sob influência de múltiplos atores sociais, que se chegou aos conceitos de direitos e saúde sexual e reprodutiva. (2003. p. 03) Ao todo foram cinco Conferências Mundiais de População: Roma (1954), Belgrado (1965), Bucareste (1974), México (1984) e Cairo (1994). Em todas elas podese vislumbrar a preocupação com as questões envolvendo população e crescimento econômico, entre nações antes reconhecidas como de “Primeiro” e “Terceiro Mundo”. Estas últimas (hoje nomeados “países em desenvolvimento”), diante da menção explícita a métodos contraceptivos, esterilização masculina e aborto legalizado na Conferência de Belgrado, se dividiram em três vertentes: natalismo, controlismo ou neutralidade populacional no que diz respeito ao desenvolvimento. Já na Conferência de Bucareste, passaram a aderir em sua maioria à tese natalista, “sob o argumento de que o crescimento populacional é um sinal de afirmação nacional e que o controle da natalidade seria uma ingerência dos países mais ricos sobre a soberania dos países pobres” e, por fim, no México, pela estabilização da população mundial (CORRÊA et al, 2003. p.03). Justamente motivado por essa discussão acerca do controle demográfico, surgiu em Londres, no ano de 1952, pela criação de Margaret Sanger, o International Plannet Parenthood Federation (IPPF) que, nos anos 60, passou a auxiliar diversos países (inclusive o Brasil) no controle de natalidade, resultando em futuros “impactos indiscutíveis na estrutura e organização da família, no perfil populacional da sociedade brasileira e na saúde das mulheres” (BUGLIONE, 2000), como adiante se demonstrará. Quando se analisa esta situação especificamente no Brasil (frisa-se que este compunha o rol dos citados países do “Terceiro Mundo”) em seu artigo, ALVES (2004, p. 26) revela que, até o começo da década de 70, não se concebia o crescimento demográfico como agente obstaculizante do crescimento econômico do país, uma vez que entre os anos de 1968 e 1973 o PIB (produto interno bruto) do Estado apresentava alta, dentro do período conhecido historicamente como o “milagre brasileiro”, seguindose a posição contrária ao controle de natalidade até mesmo nas épocas mais duras do regime militar, sob o governo de Médici. Leila Linhares Barsted, em seu artigo “O campo político-legislativo dos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil”, constante na obra “Sexo e Vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil” (2003, p.80), atenta que fora nesse período ditatorial que se desenvolveram programas nacionais como, por exemplo, o Programa de Prevenção da Gravidez de Alto Risco (PPGAR), em 1977, e Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde (PREVSAÚDE), de 1980, os quais acabaram não se concretizando, e sendo muito questionados pelos setores da saúde e movimentos feministas. Entretanto, como observa ALVES (2004, p.26), este pensamento natalista brasileiro começou a mudar na medida em que se sublinhou efeitos politicoeconômicos do posicionamento natalista, vindo o Brasil, finalmente, a adotar a terceira vertente apresentada, qual seja, da neutralidade. Nota-se: Com a crise econômica que teve início com o “choque do petróleo” no final de 1973 e se aprofundou com a recessão econômica provocada pelo “choque da dívida externa” nos anos de 1981 a 1983, os sonhos do “Brasil Potência” deram lugar aos pesadelos do desemprego, da violência e da pobreza. As preocupações demográficas se viram conformadas em um outro cenário. No plano político, os militares trocaram a doutrina de defesa das fronteiras em face das “ameaças externas”, para a doutrina do combate aos distúrbios internos. No plano econômico, aconteceu o inverso, as políticas de fortalecimento do mercado interno (grande população com alto consumo) se viram suplantadas pelas políticas de promoção das exportações e contenção de consumo interno. A própria Igreja Católica diminuiu a ênfase na defesa das teses natalista e, ao invés da quantidade, passou a defender, prioritariamente, a “qualidade de vida dos brasileiros”. Seguindo na mesma obra, o autor termina por analisar o posicionamento formado diante dos quadros políticos, econômicos e sociais descritos: Neste quadro, diminuiu a força da coalizão pró-natalista, embora não houvesse uma reviravolta no sentido de se implantar políticas populacionais controlistas, como ocorreu, por exemplo, no México e, especialmente, na China. O discurso oficial do Brasil passou a ser o da neutralidade política, com base no princípio da nãointervenção estatal sobre a dinâmica demográfica. O discurso da neutralidade em relação ao “corpo social” tornou-se uma solução de compromisso entre duas perspectivas antagônicas. A recusa em se estabelecer metas populacionais passou a ser a posição oficial do país nos Fóruns Internacionais. No plano nacional, parece que as forças natalistas se contentaram com o fato de a população continuar crescendo devido ao efeito da inércia demográfica e as forças controlistas se contentaram com o fato de a fecundidade estar caindo rapidamente, desacelerando, conseqüentemente, o ritmo do crescimento populacional. (2004, p. 26-27) Acentua DORA, na obra já mencionada (1998, p. 39) que, em 1968, com a Conferência Mundial de Direitos Humanos, em Teerã, já se pode visualizar essa ponderação do poder de decisão (que hoje vemos como planejamento familiar) do número de filhos e interregno entre seus nascimentos como um direito humano fundamental, ainda que na Declaração Universal de Direitos Humanos (1948) já houvessem sido estabelecidos os princípios da igualdade e autonomia. No Brasil, como assevera ALVES (2004, p. 27), essa perspectiva só se deu a partir da década de 1980, quando na democratização do país, período em que: [...] a discussão sobre o tamanho e o ritmo de crescimento da população, no plano macro, cedeu espaço para o debate sobre as condições de vida dos brasileiros, sobre as desigualdades sociais e regionais e sobre a degradação do meio ambiente. Por outro lado, cresceu a discussão, no plano micro, sobre a regulação da fecundidade e o planejamento familiar, não no sentido de definir o volume da população, mas como um meio de as pessoas (ou casais) estabelecerem o tamanho da família desejado. Foi nesse interregno, mais especificamente em 1984, que ocorreu o Congresso Internacional de Saúde e Direitos Reprodutivos em Amsterdã, que, segundo relatório de Samantha Buglioni (1999/2001, p. 03-04), criticou as questões demográficas dos países do sul, bem assim acentuava questões emergentes, como o emprego de técnicas contraceptivas nas nações do norte, evento este que acabou por influenciar o Brasil: [...] Essa conjuntura permitiu o surgimento de um novo discurso, baseado nos princípios do direito à saúde e na autonomia das mulheres e dos casais na definição do tamanho de sua prole, essa perspectiva teve como respaldo o processo avançado de reforma sanitária brasileira, que definiu a saúde como direito do cidadão e o dever do Estado em provê-la, culminando com o surgimento, em 1983, do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM). E continua a observar a autora que, justamente por este processo que atravessava o Brasil, na luta pelas eleições presidenciais diretas e pelas eleições dos governos estaduais, “a substituição dos termos „controle‟ por „planejamento‟” culminou no surgimento de uma “nova percepção da reprodução e sexualidade como questões desvinculadas da biologia, pois insere a idéia de autonomia, o „natural‟, o „biológico‟”, motivo pelo qual “não são mais os justificadores desta política, bem como do direito, mas sim do individuo” (BUGLIONE, 1999/2001, p.04). Há que se salientar ainda a importância da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação racial, realizada em 1965, e adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 21 de dezembro de 1965, através da resolução n. 2106-A, na medida em que estabeleceu diretrizes à proteção de direitos realmente relevantes aos direitos reprodutivos e sexuais, tais como a liberdade e segurança da pessoa, igualdade no acesso à saúde, educação, igualdade no casamento e na constituição de família. Após, em 1966, destaca-se o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembléia das Nações Unidas em 16 de dezembro do mesmo ano, pela Resolução n. 2.200-A, que também buscou a proteção dos direitos à vida, igualdade entre homens e mulheres, de liberdade contra tratamento desumano ou degradante, dentre outros, além de estabelecer que os Estados signatários confeccionassem relatórios periódicos acerca de sua implementação e funcionamento (ADVOCACI, 2003, p. 24-25). No mesmo ano e adotado pela mesma Resolução, ocorreu o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, o qual reconheceu a necessidade de se propiciar condições para que o ser humano possa gozar de seus direitos em todos os âmbitos, para que sejam “livres, libertos do temor e da miséria”, resguardando o princípio da “dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis, que constituem o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo”. Ademais, destacou-se por reconhecer, também, além dos direitos já listados nos outros eventos, o direito à proteção contra interferência ilegal na privacidade, na família e na casa. (ADVOCACI, 2003, p. 26-27) Por certo que os direitos femininos (assim como ocorreu com os direitos ambientais e humanos na década de 70) começaram a ganhar real espaço em meados de 1975, ano que a Organização das Nações Unidas (ONU) designou como “Ano Internacional da Mulher”, estabelecendo, ainda, a década compreendida entre 1976 e 1985 como a “Década da Mulher”, interregno após o qual foram realizadas a I, II, III e IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizadas na Cidade do México (1975), Dinamarca, Quênia (1985) e China (1995). Desta forma, pontuam Corrêa, Jannuzzi e Alves: Não só a questão do Meio Ambiente passou a intermediar o debate entre população e desenvolvimento, mas, também, as desigualdades de gênero passaram a fazer parte das questões populacionais. Foi ficando claro que a população tem dois sexos e que as mulheres eram “cidadãs de segunda classe”, no sentido de estar, em relação aos homens, em piores condições sociais, econômicas e culturais. (2003, p. 04) Em 1979, ocorreu a Convenção sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, aprovada na Resolução n. 34/180, de 18 de dezembro do ano correspondente pela Assembléia das Nações Unidas (o qual fora reforçado em 1993 pela Conferência Mundial de Direitos Humanos), colocando em pauta dentre outras questões o tráfico de mulheres e a exploração da prostituição, bem assim criando o tão importante Comitê sobre Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW), dinamizado através do Protocolo Opcional de 1999, como instrumento fundamental à detecção das mazelas sofridas pelas mulheres nos mais diversos países e sob as mais diversas condições, viabilizando uma atuação estatal mais efetiva. (ADVOCACI, 2003, p. 28-30) Já a Convenção Internacional contra a Tortura e outros tratamentos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes, de 1984 (adotada em 10 de dezembro do mesmo ano pela Resolução n. 39/46 Assembleia Geral das Nações Unidas), teve seu reflexo nas questões femininas, principalmente no que concerne ao objeto deste trabalho, qual seja, os direitos sexuais e reprodutivos, porque questionou situações como “as violências e abusos sexuais contra prisioneiros(as), minorias étnicas/raciais, tráfico de mulheres e outros delitos de natureza sexual, como atos de tortura e tratamento desumano e degradante”, listando entre os direitos protegidos a segurança pessoal e a indenização e reparação dos danos sofridos. (ADVOCACI, 2003, p. 31-32) Finalmente, em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Resolução n. L.44 de 20 de novembro de 1989 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, colocou crianças e adolescentes, de ambos os sexos, como sujeitos de direitos, sociais, que, tendo em vista sua condição ímpar de desenvolvimento, merecem cuidados especiais, superando de forma definitiva “concepções que consideram esse grupo etário como objeto de intervenção da família, do Estado e da sociedade”, tirando-o dessa condição pelo reconhecimento de seus direitos específicos de prioridade absoluta na ação daqueles entes, inclusive no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, prezando pelos direitos à igualdade em relação à saúde, de buscar e receber informações, à vida e à sobrevivência, à não discriminação por qualquer motivo (como, por exemplo, idade ou deficiência), dentre outros. (ADVOCACI, 2003, p. 32-34) Insta salientar que todos os tratados internacionais de direitos humanos (convenções e pactos), provenientes de um consenso de seus signatários, livre de qualquer vício de consentimento (condição de validade prevista no artigo 52 da Convenção de Viena), a exemplo dos que foram explanados neste tópico, devem ser ratificados pelos Estados como exercício livre e pleno de sua soberania para que lhes possa gerar responsabilidades e obrigações, interna e externamente, observando-se sempre os princípios da boa-fé na busca da concretização de seu compromisso, para a implementação do acordado, e da prevalência da norma mais favorável à vítima, no sentido de dirimir quaisquer contradições da norma (sejam nacionais ou internacionais) embasando-se na dignidade da pessoa humana, através de “uma lógica interpretativa essencialmente material”, o que pode ocasionar, por exemplo, na prevalência de uma disposição interna em prejuízo a uma convenção ou pacto se aquela for mais benéfica que estes. (ADVOCACI, 2003, p. 38-39) Assim, diante dessas novas concepções, pelo reconhecimento dos chamados “Direitos Humanos das Mulheres”, calcado em inúmeros direitos correlatos que os integram, os direitos sexuais e reprodutivos passaram a ganhar forma. 3 MARCO HISTÓRICO PARA A MUDANÇA DE PARADIGNA: A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE POPULACAO E DESENVOLVIMENTO (CIPD) DO CAIRO Não obstante esse longo percurso histórico, o reconhecimento dos direitos reprodutivos e, por conseguinte, dos direitos sexuais como direitos humanos somente se deu em 1994, após cerca de 200 anos de debates acerca das supracitadas questões econômicas e demográficas, com a realização da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, na cidade do Cairo, Egito, vindo tal concepção a ser reafirmada em 1995, quando na Cúpula Mundial de Desenvolvimento Social e na IV Conferência Mundial sobre a mulher, Desenvolvimento e Paz, realizadas em Copenhague e Pequim, respectivamente (ADVOCACI, 2003. p.50). O Plano de Ação da Conferência Mundial de População e Desenvolvimento buscou incorporar todas as recomendações anteriores de Comitês realizados pelas Nações Unidas quanto às saúdes sexual e reprodutiva, determinando ainda o reconhecimento pelos Estados-Partes de outros direitos ligados à integral promoção do bem-estar das pessoas, zelando por sua efetiva implementação legal (ADVOCACI, 2003, p. 13), culminando por conceituar, alheio a qualquer imposição religiosa, o cidadão como sujeito de direitos e deveres, “com a ampliação dos sujeitos de direito incluídos nas relações da vida reprodutiva e sexual: os adolescentes, as mulheres solteiras, os homens e as pessoas da 3ª idade, há uma ampliação da própria idéia de humanidade – pauta das discussões.” (BUGLIONE, 2000) Ademais, apesar de o mesmo não possuir força de lei (como ocorre, por exemplo, quando se está diante de Pactos e Convenções devidamente recepcionados pelo ordenamento), caracteriza-se pela força normativa que o permeia, na medida em que se presta a servir de fonte de interpretação e diretrizes para que se possa implementar leis internacionais quanto às políticas públicas. (ADVOCACI, 2003, p. 34) Dentre inúmeros objetivos e metas dispostos pelo supracitado Plano de Ação do Cairo, fruto do consenso de 179 países, destacam-se: a) o crescimento econômico sustentado como marco do desenvolvimento sustentável; b) a educação, em particular das meninas; c) a igualdade entre os sexos; d) a redução da mortalidade neonatal, infantil e materna; e e) o acesso universal aos serviços de saúde reprodutiva, em particular de planificação familiar e de saúde sexual. (ADVOCACI, 2003. p. 50) Enfatizam os autores Corrêa, Jannuzzi e Alves (2003, p. 04) que a realização desta Conferência se beneficiou de uma conjuntura favorável, na medida em que contou com avanços teóricos, a queda na taxa de fecundidade, a presença das organizações nãogovernamentais, dentre outros. Ademais, frisam que “a interação entre agendas cumulativas das diversas Conferências Internacionais da ONU e a presença crescente dos movimentos de mulheres, de ambientalistas e de defensores dos direitos humanos possibilitou que o debate entre população e desenvolvimento”, tão árduo, “fosse colocado em um patamar mais elevado”, tirando-o da visão simplesmente econômica ou ideológica, diante da impostação de uma política de controle natalista, e aproximando-o da questão reprodutiva. Da mesma forma, Jose Eustáquio Diniz Alves, em seu artigo “„O choque de Civilizações‟ versus Progressos Civilizatórios”, da citada obra “Dez anos do Cairo – Tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil”, descreve tal momento favorável, bem assim o papel do Brasil em sua construção, justamente por suas proporções continentais de população e avanços obtidos: A delegação brasileira teve papel importante na Conferência do Cairo e ajudou a construir as mudanças no posicionamento adotado em relação às conferências anteriores. A plataforma do Cairo contou com o avanço teórico e de instrumentos internacionais do ciclo de Conferências Sociais da ONU e também se beneficiou da conjuntura favorável, tanto em termos demográficos, quanto políticos. A queda generalizada da fecundidade, no mundo, facilitou a mudança de paradigma, do planejamento familiar para os direitos sexuais e reprodutivos. Por outro lado, o fim da Guerra Fria atenuou as disputas ideológicas e possibilitou um maior fluxo de negociações e a criação de alianças temporárias entre os diversos países presentes. (2004, p. 32) O autor destaca, ainda, como eventos importantes ao sucesso da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) as Conferências Internacionais da ONU as duas conferências sobre Meio Ambiente em Estocolmo e no Rio de Janeiro (1972 e 1992, respectivamente), as três Conferências das Mulheres (1975, 1980 e 1985), a Conferência de Educação na Tailândia (1990) e a Conferência de Direitos Humanos em Viena (1993), dentre outros, além da presença das organizações não-governamentais (ONGs) “representando a voz da sociedade civil”. (2004, p. 32) BUGLIONI (1999/2001, p.06; 2000) assevera que a Conferência do Cairo se destacou, também, por ser o início das previsões da sexualidade sob o enfoque positivo em documentos internacionais, “em lugar de algo sempre violento, insultante ou santificado e escondido pelo casamento heterossexual e pela gravidez”, incluindo explicitamente em sua plataforma a saúde sexual como um direito que merece a proteção pela população e por programas de desenvolvimento (o que, enfatiza-se, não ocorreu até hoje quanto à liberdade de expressão e orientação sexuais). Contudo, não se pode olvidar que, como bem colocado por Mattar (2008), todos os países de colocações dissidentes às apresentadas no Plano de Ação do Cairo as registraram, inclusive no que diz respeito ao posicionamento da Santa Sé (frisa-se conservador, haja vista os pontos já expostos neste trabalho quando na análise das concepções de gêneros), que deixou explícito seu entendimento de que os “indivíduos” e “casais” aos quais o documento se refere são somente aqueles heterossexuais, cuja união fora celebrada através do matrimônio. Assim, conclui-se que, observando-se a concepção trazida destes direitos, os Estados signatários do Plano de Ação do Cairo nada mais buscam do que estabelecer políticas públicas que garantam os direitos reprodutivos, enfatizando o direito à saúde sexual e reprodutiva, assegurando tanto o cuidado com o afastamento de doenças e enfermidades quanto a liberdade individual de desfrutar de uma sadia vida sexual e do poder de escolha de forma e freqüência de reprodução (ADVOCACI, 2003. p.51). É como se pode observar de seu princípio 4: A promoção da igualdade e equidade dos gêneros e os direitos da mulher, e a eliminação de todos os tipos de violência contra as mulheres, e garantir sua capacidade de controlar sua própria fecundidade, são pedras angulares dos programas de população e desenvolvimento. Os direitos humanos das mulheres e das meninas são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais. A participação plena e igualitária da mulher na vida civil, cultural, econômica, política e social em nível nacional, regional e internacional, e a erradicação de todas as formas de discriminação por razões de sexo são objetivos prioritários da comunidade internacional. 4 (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Cairo, 1994, tradução nossa) Por isso transpareceu um marco de “mudança fundamental de paradigma: das políticas populacionais strictu sensu para a defesa das premissas de direitos humanos, bem-estar social e igualdade de gênero e do planejamento familiar para as questões da saúde e dos direitos sexuais e reprodutivos” (CORRÊA et al, 2003. p.04). Da mesma forma, observa BRAUNER (2003, p. 12), com base em Cadernos do Observatório de Cidadania no Brasil, n. 1, de março de 2000: Na Conferência do Cairo, observou-se essa mudança do foco das discussões, abandonando-se as premissas meramente demográficas, adotando-se, finalmente, políticas orientadas pelos direitos humanos e sociais e pela igualdade entre gêneros, com ênfase em saúde e direitos sexuais e reprodutivos. Outra não é a conclusão de ALVES em seu artigo: A Conferência do Cairo rompeu com a idéia malthusiana da população como vilã e causadora da pobreza ubíqua. Ao contrário, a Plataforma de 4 Principle 4 - Advancing gender equality and equity and the empowerment of women, and the elimination of all kinds of violence against women, and ensuring women's ability to control their own fertility, are cornerstones of population and development- related programmes. The human rights of women and the girl child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in civil, cultural, economic, political and social life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex, are priority objectives of the international community. (CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, Cairo, 1994) Ação da CIPD defendeu a erradicação da miséria e das desigualdades sociais, raciais e de gênero, por meio de investimentos na melhoria da qualidade de vida, no desenvolvimento econômico e ambiental sustentáveis e no respeito aos direitos sexuais e reprodutivos. (2004, p. 36) Ainda no ano de 1995, na IV Conferência Internacional sobre a Mulher, realizada em Beijing (a qual, frisa-se, também não possui força legal, mas se posiciona como fonte normativa), tais direitos, cujas perspectivas já se encontravam na citada Conferência do Cairo (CIPD), foram reafirmados e expressamente previstos no § 96 de sua Plataforma de Ação: Os direitos humanos das mulheres incluem seu direito a ter controle e decidir livre e responsavelmente sobre questões relacionadas com a sua sexualidade, incluindo-se a saúde sexual e reprodutiva, livre de coerção, discriminação e violência. Relação de igualdade entre mulheres e homens em matéria de relações sexuais e reprodução, incluindo-se o pleno respeito à integridade da pessoa, requerem respeito mútuo, consentimento e responsabilidade compartilhada para o comportamento sexual e suas conseqüências.5 (IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, 1995, tradução nossa) Acerca deste evento concluem Corrêa, Jannuzzi e Alves: Com a realização da IV Conferência Mundial sobre a Mulher, em 1995, em Beijing (Pequim) as perspectivas da CIPD [Conferência Internacional de População e Desenvolvimento] do Cairo foram reforçadas e adotou-se uma nova concepção em que combinam-se: a) respeito pelos direitos humanos, incluídos os direitos sexuais e reprodutivos; b) promoção do desenvolvimento humano e do bem-estar, com reforço das políticas de educação, emprego, saúde e respeito ao meio ambiente; c) empoderamento das mulheres e equidade de gênero. (2003. p. 04) Vale ressaltar que a Conferência de Pequim, última Conferência Mundial da Mulher no século XX (precedida por aquelas realizadas em 1975, no México, e 1985, em Nairóbi), também foi um acontecimento relevante quanto à articulação dos movimentos feministas (o qual já fora discutido no presente trabalho), na busca da igualdade de gêneros, definição de direitos e estratégias de consolidação, tratando de importantes questões relacionadas ao reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos para a garantia das prerrogativas de autodeterminação, segurança sexual e reprodutiva e igualdade, como o aborto e o livre exercício da sexualidade. (ADVOCACI, 2003, p. 36) Diante de todas as ponderações feitas neste tópico, remete-se à verdadeira síntese brilhantemente apresentada na obra “Direitos sexuais e direitos reprodutivos na perspectiva dos direitos humanos – síntese para gestores, legisladores e operadores do direito”: Mereceram destaque especial no Plano de Ação tanto os objetos de proteção do direito – a sexualidade e a reprodução – como os sujeitos de direitos – 5 §96. The human rights of women include their right to have control over and decide freely and responsibly on matters related to their sexuality, including sexual and reproductive health, free of coercion, discrimination and violence. Equal relationships between women and men in matters of sexual relations and reproduction, including full respect for the integrity of the person, require mutual respect, consent and shared responsibility for sexual behaviour and its consequences. (IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER, Beijing, 1995) casais, mulheres, homens, adolescentes e pessoas idosas. Programas e políticas públicas voltadas para esses sujeitos de direitos foram inseridos no Plano de Ação e recomendada a adoção de normas legais que garantam o exercício pleno dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais de homens e mulheres. O Plano de Ação da Conferência do Cairo, portanto, além de legitimar, através de um documento de consenso internacional, o conceito de direitos reprodutivos [como se há de ver mais adiante no presente trabalho], estabeleceu as bases para um novo modelo de intervenção na saúde reprodutiva, ancorado em princípios éticos e jurídicos comprometidos com o respeito aos direitos humanos. (ADVOCACI, 2003, p. 15) Por fim, ressalta-se que, como bem explanado no artigo “Cairo+10: a controvérsia que não acabou”, de autoria de Sônia Corrêa, também presente na obra “Dez anos do Cairo – Tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil”, conclui-se que, apesar de todas as profundas inovações referidas, ainda se encontra certa restrição das nações em implementar efetivamente os preceitos do Plano de Ação do Cairo, através de políticas públicas como aquelas que serão discutidas posteriormente neste trabalho, uma vez que sua efetividade se condiciona, além da necessidade de recursos, “à resistência política contra os fundamentalismos”, calcados em líderes políticos e religiosos conservadores. (2004, p. 48) CONSIDERAÇÕES FINAIS Através desse breve relato, procurou-se delinear os aspectos históricos extremamente relevantes para a formação das concepções de direitos sexuais e reprodutivos, partindo desde as discussões filosóficas de gênero, passando pelo papel da mulher na sociedade, e chegando aos reflexos trazidos pelos movimentos feministas, pela importância da questão demográfica e, finalmente, pelas conferências internacionais de população, que culminaram na realização da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento (CIPD) do Cairo, a qual é vista como o marco histórico para a mudança de paradigma acerca das relações entre crescimento populacional e desenvolvimento sociopoliticoeconômico e, por conseguinte, da mulher frente à sociedade. Sob esse enfoque, já se pode delinear a inserção dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher como Direitos Humanos Fundamentais, pois que fundados em valores maiores (sobretudo no princípio basilar da dignidade da pessoa humana) previstos em documentos de caráter internacional, bem assim nos ordenamentos internos, que se comprometeram a proteger e incentivar a promoção dos direitos em pauta, justamente pela ratificação dos referidos tratados. Desta forma, crê-se possibilitar uma visão global da problemática acerca dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, chegando à conclusão de que se trata de uma questão enraizada em diferentes aspectos e que, portanto, uma atuação hodierna para assegurá-los como Direitos Humanos Fundamentais que são exige o acionamento de um aparato amplo, abrangendo ações de parceria entre a família, a sociedade e o Estado, de maneira que a criação de políticas públicas e de outros projetos da sociedade organizada possam encontrar terreno fértil de cooperação e, em decorrência, maior efetividade. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ADVOCACI. Direitos sexuais e direitos reprodutivos na perspectiva dos direitos humanos. Síntese para gestores, legisladores e operadores do direito.Porto Alegre: Advocaci, 2003. 118 p. ALVES, José Eustáquio Diniz A polêmica Malthus versus Condorcet reavaliada a luz da transição demográfica. Rio de Janeiro, texto de discussão, n.4, Escola Nacional de Ciências Estatísticas (ENCE IBGE), 2002. 56 p. Disponível em: <http://www.ence.ibge.gov.br/publicacoes/textos_para_discussao/textos/texto_4.pdf.> Acesso em: 10 fev 2010. ALVES, José Eustáquio Diniz. “O choque de civilizações” versus Porgressos civilizatórios. In: CAETANO, Andre Junqueira, et al. (Org) Dez anos do Cairo – Tendências da fecundidade e direitos reprodutivos no Brasil. Campinas/SP: 2004. 64 p. Disponível em: <http://www.unfpa.org.br/Arquivos/livro_dezanos,pdf>. Acesso em: 19 de março de 2010. BARBOSA, Apolo Tilger. Evolução dos direitos da mulher: norma, fato e valor. 72 f. Monografia (Graduação) – Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro (Centro de Ciências Sociais Aplicadas), Universidade Estadual do Paraná - UENP, Jacarezinho, 2004. BARSTED, Leila Linhares. O campo político-legislativo dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. In: BERQUÓ, Elza (Org.). Sexo & vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. p. 79-94. BRAUNER, Maria Claudia Crespo. Direito, sexualidade e reprodução humana: conquistas médicas e o debate bioético. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 230p. BUGLIONE, Samantha. Ações em direitos sexuais e direitos reprodutivos. Porto Alegre: Themis, 1999/2001. 24 p. Disponível em: <https://sistema.planalto.gov.br/spmulheres/textos/THEMIS/acoes_em_direitos.pdf.> Acesso em: 26 de março de 2010. CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE POPULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Programme of Action of the International Conference on Population and Development. Cairo, 1994. Disponível em: <http://www.unfpa.org/icpd/icpd-programme.cfm#ch7>. Acesso em: 29 março 2010. CORRÊA, Sônia; JANUZZI, Paulo de Martino; ALVES, José Eustáquio Diniz. Direitos e saúde sexual e reprodutiva: marco teórico-conceitual e sistema de indicadores. Disponível em: <www.abep.org.br/fotos/Dir_Sau_Rep.pdf.> Acesso em: 15 fev 2010. Declaração de Beijing. Comissão de cidadania e reprodução. Disponível em: <http://www.ccr.org.br/beijing_declaracao.asp>. Acesso em: 28.janeiro.2010. DORA, Denise Dourado, SILVEIRA, Domingos Dresch da (Org). Direitos humanos, ética e direitos reprodutivos. Porto Alegre: Themis, 1998. 143 p. FAÚNDES, Aníbal. Estado atual e perspectivas dos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. In: JORNAL DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS SOCIEDADES DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA. Direitos sexuais e reprodutivos no Brasil. São Paulo: FEBRASGO, ano 6, n.6, jul. de 1999. p. 04-06. GOMES, Renata Raupp. Os “novos” direitos na perspectiva feminino: a constitucionalização dos direitos das mulheres. In: WOLKMER, Antonio Carlos, LEITE, José Rubens Morato (Org). Os “novos” direitos do Brasil: natureza e perspectivas: uma visão básica das novas conflituosidades jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 51-74. HERMANN, Leda Maria. Maria da Penha Lei com nome de mulher: considerações à Lei n. 11.340/2006: contra a violência doméstica e familiar, incluindo comentários artigo por artigo. Campinas, SP: Servanda Editora, 2008. 262 p. IBGE: Séries Estatísticas e Séries Históricas. Disponível em: <www.ibge.gov.br> Acesso em: 22 mar 2010. IV CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A MULHER. Beijing Declaration and Platform for Action. Beijing, 1995. Disponível em: <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf>. Acesso em 29 marco 2010. MATTAR, Laura Davis. Reconhecimento jurídico dos direitos sexuais: uma análise comparativa com os direitos reprodutivos. Sur, Rev. int. direitos human., São Paulo, v. 5, n. 8, jun. 2008 . Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180664452008000100004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 abr. 2010. PLATAFORMA DE AÇÃO DE PEQUIM. Declaração de Pequim adotada pela quarta conferência mundial sobre as mulheres: ação para igualdade, desenvolvimento e paz. Pequim, 1995. Disponível em: <http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/pekin.htm>. Acesso em: 27.janeiro.2010. VILLELA, Wilza Vieira; ARILHA, Margareth. Sexualidade, gênero e direitos sexuais e reprodutivos. In: BERQUÓ, Elza (Org.). Sexo & vida: panorama da saúde reprodutiva no Brasil. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003. p. 95-150.
Baixar