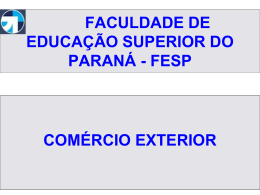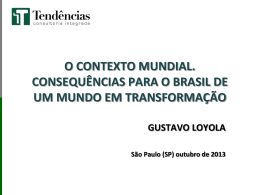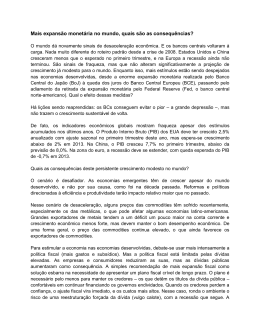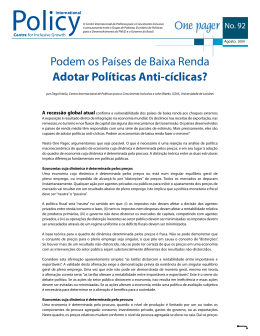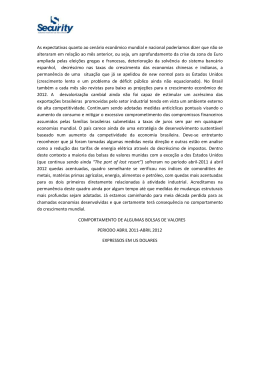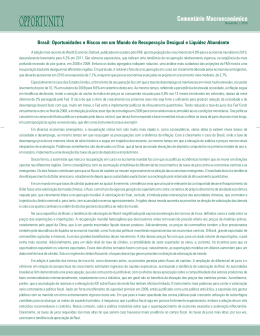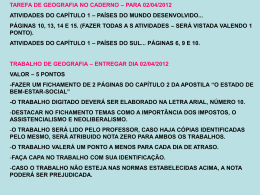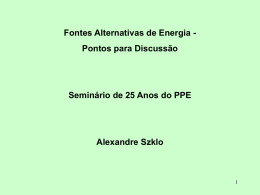O mundo antes e depois da crise econômica de 2007 Desde a Grande Depressão de 1929, iniciada nos Estados Unidos e que contaminou principalmente as economias mais fortes da época – os países mais industrializados uma crise de tamanhas proporções não atingia uma economia central. Com uma forte intervenção governamental nos Estados Unidos a partir de 1933 e com os tratados multilaterais pós Segunda Guerra (Sistema Bretton Woods, que emergiu das conferências de mesmo nome, em 1944), as economias centrais – Estados Unidos e Europa ocidental, e mais tarde o Japão – passaram por um longo período de relativa estabilidade. A exceção foi a crise do petróleo, na década de 70, mas que teve estopim muito mais geopolítico, embora com conseqüências econômicas. Ocorre que aquele sistema regulatório internacional, criado para evitar fortes desequilíbrios econômicos que poderiam originar novas guerras, foi baseado inicialmente na cooperação internacional com a regulação e intervenção dos Estados nos processos econômicos, a partir da compreensão de sua responsabilidade para com o equilíbrio internacional e o bem-estar de seus cidadãos. Entretanto, a hegemonia dos Estados Unidos (única potência mundial que não foi fortemente afetada pela guerra) entre os países signatários dos acordos fez com que o discurso mais liberalizante daquele país fosse cada vez mais preponderante no mundo. Contudo, em uma observação mais atenta, podemos perceber que essa liberalização da economia mundial foi, em grande parte, unidirecional, abrindo mercados para a continuidade da expansão do setor produtivo Norte Americano e acesso às necessárias matérias primas. O desequilíbrio entre a capacidade produtiva instalada nos Estados Unidos do pós-guerra e a do resto do mundo foi então intensificado pelas políticas liberalizantes impostas. E por ironia, calcado justamente nos acordos celebrados para evitar esse desequilíbrio. A derrocada da experiência soviética evidenciou a formação de um mundo mono polar. Nas décadas de 80 e 90 percebemos, até, a exacerbação da liberalização econômica. Estado mínimo e desregulamentação dos mercados foram receitas utilizadas como plataformas de governo de vários países do G7 (grupo que reúne os sete países mais industrializados do planeta) e ministradas pelos organismos multilaterais aos países que passaram por crises regionais. Talvez tenha sido plantado, naquela ocasião, o gérmen da crise. Toda essa recapitulação histórica é para lembrar-nos de como, em 2001, o Produto Interno Bruto dos Estados Unidos atingiu o impressionante patamar de 32% do Produto Interno Bruto mundial. Essa confortável posição hegemônica talvez tenha sido o maior impeditivo para questionamentos sobre os riscos econômicos decorrentes dessa concentração e das práticas que criaram e ampliaram os chamados “déficits gêmeos” da economia Norte Americana: déficit fiscal e déficit em conta corrente. Afinal, foi fácil encontrar quem quisesse financiar esses déficits e em troca ficar lastreado em títulos da maior economia do mundo. Mas o princípio básico da mitigação de riscos é a diversificação. Então, mesmo antes que a atual crise se instalasse, os efeitos dos excessos de concentração e os esforços de alguns Estados nacionais para conquistar maior participação no contexto econômico mundial, com vistas a fortalecer suas dinâmicas de crescimento econômico, principalmente após as crises de algumas economias satélites na década de 90 e início dos anos 2000, deram início a alguns fenômenos de mudança do cenário internacional. Entre eles, a percepção de um novo papel dos chamados BRIC’s (sigla criada pelo economista Jim O’Neill para o grupo Brasil, Rússia, Índia e China) e de outras economias denominadas emergentes. A partir dos anos 2000 pôde-se perceber uma gradual redução da participação dos Estados Unidos no Produto Interno Bruto mundial, chegando aos atuais 24% (25% de redução em relação à participação 2001), com a concomitante ampliação da participação dos países emergentes de 38% em 2001 para 45% atualmente. Não fosse esse recente movimento, as conseqüências da atual crise econômica, iniciada justamente na economia hegemônica, poderiam ser ainda mais dramáticas. E é esse movimento que pode determinar o desenho mundial que surgirá após a crise. Quais serão, então, as conseqüências da crise? É dada como certa uma forte redução do crescimento econômico e até recessão, nas economias centrais. Embora seja desaconselhável comparar o mundo de 1929 com o mundo de 2007, em função das imensas diferenças tecnológicas, culturais, políticas, entre outras, vale lembrar que também naquela crise, iniciada em uma economia central, os maiores impactos ocorreram nos países mais desenvolvidos. Além disso, na crise atual foi justamente o sistema financeiro das economias centrais que se envolveu diretamente no financiamento do castelo de cartas que acabou por vir abaixo. Por diferentes motivos e motivações as economias dos países emergentes encontramse em estágio muito mais regulado do que as economias centrais. O que por algum tempo foi considerado um entrave ao desenvolvimento, por “engessar” a livre circulação de capitais, acabou funcionando como uma defesa contra as perdas diretas decorrentes do estouro da bolha imobiliária Norte Americana. Por conseqüência, não há nos países emergentes corridas aos bancos como nos Estados Unidos e Europa. Essa situação pode levar à segunda comparação com a crise de 1929, novamente ressalvadas as diferenças de contexto e de nexos de causalidade. Naquele caso, várias economias não industrializadas iniciaram seu processo de industrialização a partir da década de 30, como Argentina e Brasil. Por óbvio, o período de forte redução do crescimento e de recessão das economias centrais acarretará redução do ritmo de crescimento mundial e, em alguma escala, das economias emergentes. Entretanto, alguns elementos apontam para a possibilidade de vermos emergir desta crise um novo desenho mundial que pode ser mais favorável para aqueles que até então eram relegados a um papel secundário: a melhor situação dos sistemas financeiros destes países, o já iniciado incremento de sua participação na economia mundial e o melhor posicionamento de seus mercados e setores produtivos domésticos em relação a outros momentos históricos. O comportamento dos fluxos de capitais, tanto de investimentos quanto de especulação costuma ser de rápidas decisões, tão logo as expectativas dos agentes econômicos comecem a demonstrar algum grau de convergência. A globalização advinda, principalmente, da evolução tecnológica faz com que os efeitos das medidas macroeconômicas e dos fenômenos microeconômicos sejam percebidos em períodos de tempo cada vez mais curtos, sem deixarmos de levar em conta que esta crise não pode ser comparada às crises regionais da década de 90 e que não sabemos, ainda, a profundidade das feridas que acarretam a aversão ao risco. A eficiência das iniciativas dos Governos em todo o mundo determinará a extensão e o tempo de duração da crise, bem como o intervalo de tempo para o início de um novo ciclo de crescimento mundial. Instala-se a percepção de que o liberalismo não é o caminho mais curto, nem o mais adequado, para essa recuperação. A recente aprovação de um pacote de US$ 850 bilhões por parte do governo dos Estados Unidos, além dos aproximadamente US$ 300 bilhões já utilizados para salvar e/ou estatizar algumas instituições financeiras, além das pouco alardeadas, mas rápidas estatizações de vários bancos europeus demonstram essa opção. Medidas preventivas para limitar os extraordinários bônus dos executivos e para que no futuro não seja necessário, novamente, socializar as perdas depois que os ganhos foram privatizados também reforçam essa impressão. As chamadas economias emergentes devem tomar os cuidados e medidas a fim de que a crise tenha o menor impacto possível em seu ciclo próprio de crescimento. Mas têm, por outro lado, a melhor oportunidade em oitenta anos (ou desde sempre, quem poderá afirmar?) para reduzirem sua dependência econômica dos atores centrais, consolidarem a sua participação na economia mundial e contribuírem para o estabelecimento de um mundo mais equilibrado e menos polarizado. Demósthenes Marques Diretor de Investimentos da FUNCEF 06 de outubro de 2008
Baixar