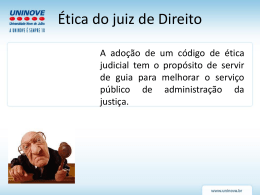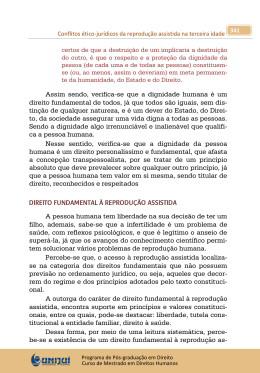Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal ESCOLA DE MAGISTRATURA DISTRITO FEDERAL Nº 13 - 2011 ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL REVISTA DA ESCOLA DA MAGISTRATURA DO DISTRITO FEDERAL Associação dos Magistrados do Distrito Federal - AMAGIS/DF Fórum Desembargador Milton Sebastião Barbosa Praça Municipal, Lote 1, Bloco B, 10º Andar, Ala “C” - Brasília-DF CEP: 70094-900 Fones: (61) 3103-7548 Escola da Magistratura do Distrito Federal ISSN – 1516-8514 Escola da Magistratura do Distrito Federal Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal NÚMERO 13 - 2011 BRASÍLIA 2011 Associação dos Magistrados do Distrito Federal - AMAGIS/DF Presidente Juiz GILMAR TADEU SORIANO Escola da Magistratura do Distrito Federal - ESMA/DF Diretora-Geral Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Coordenador da Revista Juiz MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA Conselho Juiz GILMAR TADEU SORIANO Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Juíza CARLA PATRÍCIA FRADE NOGUEIRA LOPES Juiz RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS Juiz MARCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA Coordenadores Juíza CARLA PATRÍCIA FRADE NOGUEIRA LOPES Juiz RENATO CASTRO TEIXEIRA MARTINS Revisão e Formatação Serviço de Revista e Ementário do TJDFT Os artigos jurídicos aqui publicados são da responsabilidade de seus respectivos autores, resguardando-se a pluralidade de pensamento, e os conceitos emitidos não expressam a opinião dos editores. Composição Plena do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - ordem de antiguidade DES. LÉCIO RESENDE DA SILVA DES. OTÁVIO AUGUSTO BARBOSA DES. GETÚLIO VARGAS DE MORAES OLIVEIRA DES. JOÃO DE ASSIS MARIOSI DES. ROMÃO CÍCERO DE OLIVEIRA DES. DÁCIO VIEIRA DES. MARIO MACHADO VIEIRA NETTO DES. SÉRGIO BITTENCOURT DES. LECIR MANOEL DA LUZ DES. ROMEU GONZAGA NEIVA DESA. CARMELITA INDIANO AMERICANO DO BRASIL DIAS DES. JOSÉ CRUZ MACEDO DES. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JÚNIOR DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DES. JOSÉ JACINTO COSTA CARVALHO DESA. SANDRA DE SANTIS MENDES DE FARIAS MELLO DESA. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO DES. JAIR OLIVEIRA SOARES DESA. VERA LÚCIA ANDRIGHI DES. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA DES. FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA DESA. NÍDIA CORRÊA LIMA DES. GEORGE LOPES LEITE DES. ANGELO CANDUCCI PASSARELI DES. JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA DES. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI DES. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS DES. SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA DES. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS DES. FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA DES. JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA DES. ANTONINHO LOPES DES. JOÃO EGMONT LEÔNCIO LOPES DES. LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS DES. JOSÉ CARLOS SOUZA E AVILA DES. TEÓFILO RODRIGUES CAETANO NETO Sumário Apresentação Juiz Marcio Evangelista Ferreira da Silva - Coordenador da Revista da ESMA/DF...........................................................................................................9 Evolução do Conceito de Família Juíza Ana Maria Gonçalves Louzada................................................................11 A Sucessão Legítima do Cônjuge no Novo Código Civil Juiz Wagner Junqueira Prado............................................................................25 A Inconstitucionalidade do Art. 273 do Código Penal Juiz Marcio Evangelista Ferreira da Silva ........................................................39 Quem tem Medo do Racismo? Juíza Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes........................................................45 Incidente de Julgamento de Demandas Repetitivas no PLS 166: uma Apresentação da Proposta no Novo CPC Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio ............................................................55 O Juiz-Administrador Juíza Oriana Piske de Azevedo Barbosa...........................................................61 O Dever de Informar nas Relações de Consumo Juiz Atalá Correia..............................................................................................79 Partidos e Coligações: a Sucessão dos Suplentes Juiz Rodrigo Cordeiro de Souza Rodrigues.......................................................97 Sentença Cível em Interdito Proibitório e Manutenção de Posse Juíza Ana Maria Ferreira da Silva...................................................................103 Drawback segundo a Jurisprudência do STJ José Roberto da Silva - Ex-aluno da ESMA/DF.............................................115 Colisão de Direitos Fundamentais Alessandra Lopes da Silva - Ex-aluna da ESMA/DF......................................167 O Contrato e o Tempo: um Suposto Embate Principiológico Rui Eduardo Silva de Oliveira Pamplona - Ex-aluno da ESMA/DF............. 207 O Alcance da Autonomia Universitária à Luz do Artigo 207 da Constituição Federal de 1988 Jaqueline Santos Silva - Ex-aluna da ESMA/DF ...........................................245 A Comunicação Social sob o Enfoque da Constituição Federal de 1988 Mariana Caetano da Silva Souza Schwindt - Ex-aluna da ESMA/DF ..........279 Fertilização in Vitro e suas Implicações no Ordenamento Jurídico Brasileiro Eduardo Navarro Pereira - Ex-aluno da ESMA/DF.......................................287 A Obrigação como Processo: um Estudo sobre a Obra de Clóvis do Couto e Silva Daphne de Carvalho Pereira Nunes - Ex-aluna da ESMA/DF......................355 A Responsabilidade Criminal nas Atividades Desportivas: particularidades em Relação à Prática de Discriminação Racial no Futebol Bianca Fernandes Pieratti - Ex-aluna da ESMA/DF......................................371 8 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Apresentação Juiz Marcio Evangelista Ferreira da Silva Coordenador da Revista da Escola da Magistratura do Distrito Federal – ESMA/DF A Escola da Magistratura do Distrito Federal – com muita satisfação – apresenta a toda comunidade jurídica mais uma edição de sua revista, mantendo a tradição de ser um veículo das ideias de magistrados, professores e ex-alunos. A maior novidade é o abandono das edições impressas para a versão em CD. Tal alteração atende a orientação mundial de respeito ao meio ambiente – evitar o gasto de papel. Referida novidade além de preservar o meio ambiente e inserir a escola na era da modernidade, também faz com que a periodicidade da revista seja reduzida, pois suprimido o tempo gasto com impressão de versão impressa. No mais, após a última edição, várias foram as mudanças na Esma/DF, tanto no espaço físico como no currículo dos cursos oferecidos. Hoje há uma estrutura física a altura da história da Esma-DF, pois contamos com três salas confortáveis para as aulas, sala de estudo e secretaria para melhor atender os alunos, palestrantes e professores. A estrutura do curso também sofreu alterações em atendimento a exigências do Conselho Nacional de Justiça – Resolução n.º 75 – e hoje aos alunos são oferecidas aulas de Filosofia, Sociologia e Psicologia Jurídica. A Revista, como de costume, abriu espaço para que todos enviassem seus artigos, sendo que muitos foram recebidos e pré-selecionados. Após rigorosa escolha temática, a Esma/DF apresenta artigos que são o resultado da reflexão e do pensamento atual de ex-alunos, professores e magistrados. Variados e atuais são os temas, trazendo ao leitor um leque amplo de assuntos para refletir, cumprindo, assim, a Esma/DF, seu mister, qual seja, fazer com que chegue às mãos de todos os operadores do direito um instrumento capaz de auxiliá-lo no desempenho da tão nobre profissão que é aplicar o direito. Boa leitura! Revista da Escola da Magistratura - nº 13 9 10 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Evolução do Conceito de Família Ana Maria Gonçalves Louzada Juíza “Não é a cópula em si, mas o afeto, que constitui o matrimônio.” ULPIANO Breve panorama histórico: A humanidade sempre se portou e se mostrou de forma aglomerada, tendo em vista a necessidade do homem de viver em comunidade. É psicologicamente difícil ao ser humano a vida segregada, sem compartilhamentos, sem trocas. E a partir desta junção de pessoas começaram a se formar as famílias. A ideia de família surgiu muito antes do Direito, dos códigos, da ingerência do Estado e da Igreja na vida das pessoas. Em verdade, família é um caleidoscópio de relações que muda no tempo de sua constituição e consolidação em cada geração, que se transforma com a evolução da 1 cultura, de geração para geração. Na Antiguidade, com o advento do Código de Hammurabi, o sistema familiar da Babilônia passou a ser por lei patriarcal e o casamento monogâmico, embora admitia-se o concubinato. Esta aparente discrepância era resolvida pelo fato de uma concubina jamais ter o status ou os mesmos direitos da esposa. Ademais, o casamento dito legítimo só era válido mediante contrato. Naquela época, havia a possibilidade de casamentos entre diferentes camadas sociais, e o código regulava especificamente a herança dos filhos nascidos deste relacionamento. Também admitia-se o divórcio, onde o marido podia repudiar a mulher nos casos de recusa ou negligência em “seus deveres de esposa e dona-de-casa”. Qualquer dos cônjuges poderia repudiar o outro por mau procedimento, mas neste caso a mulher deveria ter conduta ilibada. No respeitante ao homem era, no máximo, cúmplice. Quando pegos, os adúlteros pagavam com a vida, entretanto o Código previa o perdão do marido. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 11 O amor entre os homens era plenamente aceito entre os povos antigos, sendo, contudo, valorizado apenas o “polo ativo” da relação. Isso se explica porque o machismo, já naquela época, vislumbrava o ato sexual ativo como a postura masculina, sendo o ato sexual passivo tido como a feminina. Em outras palavras, não era analisado o sexo biológico para a qual o homem direcionava seu amor, mas o papel sexual que ele 2 desempenhava. Com relação ao amor entre mulheres, não há dados esclarecedores, uma vez que sua sexualidade era ignorada. Já no direito hebraico não havia qualquer menção à palavra matrimônio, pois este era um assunto particular entre duas famílias. Ressaltamos que todos os povos da Antiguidade admitiam o divórcio, que começou a ser proibido somente após o advento do cristianismo. Contudo, na legislação mosaica, somente os homens podiam divorciar-se, não cabendo às mulheres tal iniciativa. Além disso, deveria ocorrer algo vergonhoso na esposa para que o marido pudesse repudiá-la. Também admitia-se o concubinato. Com relação ao Código de Manu, este reiterou explicitamente a incapacidade da mulher de sozinha se reger. Apesar de também admitir o divórcio, a separação só poderia ocorrer caso a deficiência fosse da esposa, vale dizer, era o marido quem decidia sobre a mantença ou não do casamento. A fidelidade no casamento era exigida por lei. Geralmente a pena de morte era aplicada no adultério. No Direito Romano, a palavra família podia ser aplicada tanto às coisas como às pessoas. Aplicada às coisas, refere-se ao conjunto de um patrimônio. No respeitante às pessoas, pressupõe parentesco, podendo ter sentido estritamente jurídico, chamado agnatio, e outro biológico, a cognatio. O parentesco jurídico englobava todos sob o poder de um mesmo pater famílias, sendo transmitido somente pela linha paterna. Durante a evolução do Direito Romano, estes dois tipos de parentesco foram, muitas vezes, postos em contraposição, o que gerou juridicamente a prevalência do princípio do parentesco consanguíneo sobre a agnação. Os romanos distinguiam duas espécies de casamento: o cum manu e o sine manu. No primeiro caso, a mulher saía da dependência do pater famílias para a do marido e do pater famílias da família do marido. O casamento sine manu não oferecia esta possibilidade de sujeição, podendo a mulher continuar sob o poder de seu próprio pater famílias, conservando o direito sucessório de sua família de origem. Para os romanos, o casamento era um ato consensual de contínua convivência. Era um fato e não um estado de direito. Por outro lado, o casamento em Roma jamais foi indissolúvel, e desde o direito arcaico romano já previa o divórcio. No início, o divórcio somente podia ocorrer por vontade do marido. Com o passar do tempo, esta possibilidade foi estendida também às mulheres. Na Idade Média o Direito Canônico passou a ter relevante importância na sociedade, tendo em vista o domínio da Igreja neste período. Como o poder laico enfraquecia pelo declínio do poder real, em consequência do feudalismo, a jurisdição eclesiástica aumentava seu poder também em relação aos leigos. A Igreja acabou sendo a única a julgar assuntos relativos a casamento, legitimidade dos filhos, divórcio, etc. O casamento deixou de ser contrato para ser considerado sacramento. Assim, como a 12 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Igreja só aceitava o sexo dentro do casamento e com finalidade de procriação, tudo o que se afastasse desta regra era tido como contrário a Deus. O Direito Islâmico tem na família a sua base de formação da sociedade. É o casamento que dá a concessão social para a maternidade e paternidade, sendo ele essencial, pois os muçulmanos só atingem seu apogeu depois de terem filhos. O casamento possui duas fases: primeiramente se assina um contrato entre o marido e o representante legal da mulher, sendo este seu pai ou representante masculino mais próximo. Contudo, para sua validade é imprescindível seu consentimento, bastando, para isso, seu silêncio. Após assinaturas e consentimento, ambos são considerados casados e a ruptura do contrato se iguala ao divórcio. Destacamos que o casamento só se completa após a noite nupcial, tendo sido o casamento regulado objetivamente no Alcorão. As famílias poderiam intervir diretamente no matrimônio, pois ele não era tido somente como união entre marido e mulher, mas entre duas famílias. Há a possibilidade de o homem casar-se com várias mulheres, podendo também ter várias concubinas. Em suma, o casamento é considerado como sendo o único objetivo na vida de uma mulher! Elas devem manter o pudor por completo, não exibir seu corpo, não olhar as pessoas nos olhos, devendo usar véu em público. Quanto ao divórcio, a mulher só pode ter iniciativa se houver no contrato este direito e se isso for permitido pela escola jurídica do lugar onde vive, não havendo qualquer ressalva em relação ao homem. Com o divórcio, se o marido quiser, poderá ter sua mulher de volta caso ela ainda esteja livre. A Revolução Francesa foi um marco, um divisor de águas, na busca pela igualdade entre homens e mulheres, uma vez que estas últimas ainda eram consideradas incapazes. Contudo, ainda que se buscasse a reversão desta cruel discriminação, o Código Civil de Napoleão reforçou o poder patriarcal, outorgando ao pai maiores direitos sobre os filhos. Também ressaltou que o poder patriarcal é estendido à esposa, que continua sob seu jugo. O divórcio é admitido, sendo sempre o adultério feminino considerado como uma de suas causas, sendo aceito somente o masculino se o marido levar a concubina para dentro da residência. Também há diferenciação quanto aos filhos, sendo considerados filhos legítimos e ilegítimos, esses últimos nascidos fora do casamento. Sua legitimação só poderia ocorrer com o casamento dos pais. Caso o pai já fosse casado, poderia 3 reconhecê-lo, mas este não teria os mesmos direitos do filho legítimo . Assim, mesmo a visão iluminista, que via na liberdade sexual uma forma de atingir o progresso, a ordem e a felicidade, condenou com veemência o amor homoafetivo. Acreditava-se que os homens tinham apenas uma limitada quantidade de sêmen em seu corpo. Assim, não é à toa que esse período da história fez que a sexualidade nãoheterosexual passasse a ser ainda mais condenada, pois se entendia que ela “gastava” a 4 semente da vida de forma inútil, ou seja, não-procriativa. No século XIX passou-se a se afastar da dogmática religiosa, dirigindo-se para um estudo científico acerca da homossexualidade. Observa-se que primeiramente houve a definição da homossexualidade como doença, sem qualquer dado concreto. Isso fez com que tratamentos desumanos fossem abertamente utilizados, sem nenhuma punição estatal. Terapias com choque convulsivos, lobotomia e terapias por aversão foram largamente utilizadas. Queriam, a todo custo descobrir uma forma de reverter Revista da Escola da Magistratura - nº 13 13 a homossexualidade. Obviamente que não conseguiram – pois não se cura algo que 5 não é patológico. Somente ao final do século XX é que a ciência passou a aceitar a homossexualidade como forma de orientação sexual, e não mais como doença. Na pós-modernidade, muito embora ainda possamos enxergar algum ranço preconceituoso, já é possível aceitarmos a família como sendo um conjunto de indivíduos unidos por laços de afetos. Foi a Dinamarca quem primeiramente regulou as uniões homoafetivas, quando autorizou seu registro com os mesmo efeitos do casamento (com exceção apenas ao direito de adotar), nos idos de 1989. Em 1993 foi a vez de a Noruega permitir o registro destas uniões. No ano de 1995, a Suécia pronunciou-se sobre o tema, concedendo os mesmos direitos que anteriormente haviam sido deferidos pela Dinamarca. Em 1996 a Islândia oficializou o registro das uniões homossexuais. Neste mesmo ano, a África do Sul proibiu constitucionalmente a discriminação por sexo. A França, através do Pacto Civil de Solidariedade (Lei n. 99.944/99) garantiu o direito à sucessão, imigração e declaração de renda conjunta. Em 1999 a Inglaterra reconheceu o status de família aos casais homossexuais. A Argentina, notadamente Buenos Aires, no ano de 2003 passou a autorizar uniões civis entre homossexuais, acompanhada pela Cidade do México e o Uruguai no ano de 2007. Muito embora já haja o reconhecimento de uniões homoafetivas em diversos países desde 1989, somente foi possível este reconhecimento em relação ao casamento civil no ano de 2001, na Holanda. A seguir, no ano de 2003, o mesmo aconteceu na Bélgica. Em 2005, também a Espanha, o Canadá e a Grã-Bretanha passaram a admiti-lo. Nos Estados Unidos, o estado de Massachusetts autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo desde 2004. Em 2006 foi a vez de a África do Sul. No ano de 2008 a Noruega veio a se juntar ao rol dos países que admitem casamento entre homossexuais. Hoje, a Argentina é o primeiro país latino-americano a reconhecer o casamento entre homossexuais em 2010. Para ilustrar, destacamos uma decisão da Suprema Corte do Estado de 6 Massachusetts dos Estados Unidos “O casamento é uma instituição social vital. O compromisso exclusivo de duas pessoas uma à outra nutre amor e mútua assistência; ele traz estabilidade à nossa sociedade. (...) Uma pessoa que entra em uma união íntima e exclusiva com outra do mesmo sexo e tem acesso barrado às proteções, benefícios e obrigações do casamento civil é arbitrariamente privada do acesso a uma das instituições mais estimadas e compensatórias da nossa comunidade. Essa exclusão é incompatível com os princípios constitucionais de respeito à autonomia individual e à igualdade perante a lei”. Em sentido oposto encontra-se o direito no Irã, onde além de ser proibida a relação entre pessoas do mesmo sexo, ainda há a punição com pena de morte. 14 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Note-se, que o que se repudia é o objeto de desejo da pessoa homossexual, 7 demonstrando um preconceito desmedido e vergonhoso. Em relação às características intrínsecas das diversas modalidades de família, que vêm se descortinando, podemos entender que convivem simultaneamente a família casamentária, a família formada por união estável, a família concubinária, a família monoparental, a família homossexual e a família formada nos estados intersexuais, que embora representem um campo farto de discussões no direito brasileiro, no plano 8 internacional, fincam-se cada vez mais garantidas. Tal digressão mostra-se necessária para ressaltar que o Direito veio a subsidiar os anseios da sociedade em cada momento histórico. Assim, com o decorrer do tempo, com a evolução do pensamento humano, com a quebra de paradigmas, não cabe mais ao legislador escudar-se atrás do véu da hipocrisia e deixar de outorgar direitos aos casais homoafetivos. É certo que a homossexualidade sempre existiu e que em épocas passadas os casais homoafetivos não possuíam direitos, tendo em vista que a sociedade ainda mostrava-se avessa em aceitar tal condição, talvez por imposição da Igreja que insiste ainda em dizer que se cuida de pecado. Dada a dependência e o desamparo emocional que é da natureza humana, a finalidade da família, embora sofra variações históricas, mantém-se essencialmente como instituição estruturante do indivíduo em função das diferenças entre os elementos que a compõem e que determinam lugares que este ocupa e funções diferentes que exerce, 9 de acordo com o ciclo vital. A família é muito mais que a um casamento estabelecido entre um homem e uma mulher. Família é comunhão de afetos, troca de amparo e responsabilidade. Conceito de Família no Direito Brasileiro: A evolução legislativa demonstra as necessidades mais pungentes da sociedade em cada época. Nota-se que a Constituição de 1824 não fez qualquer menção relevante à família, havendo como determinante, somente o casamento religioso. Naquele tempo, a Igreja assumiu um caráter delineador da moralidade, não aceitando qualquer outra forma de união que não aquela por ela definida. Assim, até 1891, as pessoas apenas podiam se unir para formação da família, através do casamento religioso. A partir de então, passou-se a admitir o casamento civil indissolúvel. A primeira constituição a se preocupar em delinear a família em seu contexto, foi a de 1934. Nesta, houve a determinação da indissolubilidade do casamento, ressalvando somente os casos de anulação ou desquite. Também foi sob sua égide que foi autorizado as mulheres votar. Já a Constituição de 1937 nos trouxe a igualdade entre os filhos considerados legítimos e naturais. A de 1946 não inovou no conceito de família e a de 1967 manteve a ideia de que família somente era aquela constituída pelo casamento civil. Em contrapartida, a emenda constitucional de 1969, que manteve a indissolubilidade do casamento, foi modificada com o advento da Lei do Divórcio de 1977, passando-se a haver aceitação de novos paradigmas. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 15 O Código Civil de 1916 admitia unicamente o casamento civil como elemento formador da família, muito embora a doutrina, jurisprudência e leis especiais já passassem a admitir o reconhecimento das uniões estáveis. Contudo, inovou a Constituição Federal de 1988 quando, de forma exemplificativa, admitiu a existência de outras espécies de família, notadamente quando reconheceu a união estável e o núcleo formado por qualquer dos pais e seus descendentes, como entidade familiar. Ou seja, trouxe à seara constitucional outros arranjos de convivência de pessoas, que não somente aquele oriundo do casamento. E o fez erigindo o afeto como um dos princípios constitucionais implícitos, na medida em que aceita, reconhece, alberga, ampara e subsidia relações 10 afetivas distintas do casamento. Ainda que se busque identificar a possibilidade do casamento homoafetivo, há quem entenda que a união entre pessoas do mesmo sexo só pode ter tratada pelo direito das obrigações, por se tratar de uma sociedade de fato. Outros acatam somente a ideia de que se o par homossexual possui os mesmos direitos da união estável hetereoafetiva. Destacamos que na sociedade de fato as pessoas que dela fazem parte são consideradas sócias, e não companheiros, visando lucro e não comunhão de vida. Ademais, para a divisão do patrimônio comum, necessário se faz a prova de sua contribuição. Com relação à união estável, não há dúvidas de que, efetivamente, se duas pessoas do mesmo sexo se unirem por laços de afeto, de forma pública, duradoura, contínua e com objetivo de constituição de família, estabelecerão entre elas um vínculo familiar de união estável. O que se quer evidenciar é que o instituto do matrimônio civil não é privilégio dos heterossexuais. Há que haver esta possibilidade também para os homossexuais, que não podem se ver alijados de seus direitos, tendo em vista a orientação sexual que possuem. Não é crível que no dias de hoje ainda se queira impor tratamento diferenciado aos homossexuais, considerando-os como pessoas menos dignas e tratando suas uniões como de segunda categoria. O discurso não pode ser mais homofóbico, vez que sublinha a hierarquização das sexualidades. Vale dizer, o indivíduo é categorizado tendo em vista o objeto de seu desejo. Aquele que deseja pessoa do mesmo sexo é considerado uma categoria inferior 11 de cidadão, não podendo usufruir de direitos outorgados aos heterossexuais. Na esteira de subsidiar preconceito por sexo, surgiram algumas correntes que visam impedir o reconhecimento do casamento civil homoafetivo, notadamente as que defendem a ideia da impossibilidade jurídica do pedido ou de sua inexistência. Assim, o conceito de família restou flexibilizado, indicando que seu elemento formador precípuo é, antes mesmo do que qualquer fator genético, o afeto. Hoje o afeto dá os contornos do que seja uma família. Se tivermos em mente que é o afeto o elemento fundante da família, e que a Constituição Federal nos trouxe um rol exemplificativo de núcleos familiares, forçoso admitir que duas pessoas do mesmo sexo, unidas pelo 12 afeto, formam uma família. Neste sentido Paulo Lobo : “os tipos de entidades familiares explicitados nos parágrafos do art. 226 da Constituição são meramente exemplificativos, sem embargo de serem os mais comuns, por isso mesmo merecendo referência expressa. As demais entidades familiares são tipos implícitos incluídos no âmbito de abrangência 16 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 do conceito amplo e indeterminado de família, indicado no caput. Como todo conceito indeterminado, depende de concretização dos tipos, na experiência da vida, conduzindo à tipicidade aberta, dotada de ductilidade e adaptabilidade”. Ainda que não haja norma expressa neste sentido, é importante refletir sobre o fato de que “o silêncio sobre a diversidade sexual é atrelado à naturalização da heterossexualidade – a heteronormatividade. Esta deixa pouco espaço para que outros sentidos da sexualidade surjam. O silêncio heteronormativo reflete visões homofóbicas de mundo, pois prioriza os discursos que ligam a sexualidade à reprodução, de maneira que a relação sexual heterossexual se torna a única possibilidade legítima. A heteronormatividade, ao silenciar sobre a diversidade sexual, acaba por não contribuir 13 para o enfrentamento da homofobia”. As formas idealizadas dos gêneros geram hierarquia e exclusão. Os regimes de verdades estipulam que determinadas expressões relacionadas com o gênero são falsas, enquanto outras são verdadeiras e originais, condenando a uma morte em vida, exilando 14 em si mesmos os sujeitos que não se ajustam a idealizações. Destarte, ainda que o discurso homofóbico muitas vezes se apresente somente nas entrelinhas do silêncio, das palavras não pronunciadas, mostra-se ainda mais perverso e dizimador, pois fere a alma, a dignidade do ser humano. Novos paradigmas devem nos levar a novas realidades, realidades estas pautadas em isonomia de tratamento. A discriminação contra o negro e a mulher, apesar de ainda persistirem em nossa sociedade, são objetos de cuidados legislativos, enquanto que a discriminação contra os homossexuais continua a ser velada, sóbria e sórdida, pois os pares homoafetivos são tratados como pessoas inexistentes, pessoas sem direitos, mas com muitas obrigações perante o fisco. Não se cuida de se fazer apologia ao não pagamento de impostos, mas prega-se, sobretudo a igualdade de condições, de oportunidades, de tratamento. Se os homossexuais possuem os mesmos deveres perante o Estado, o mínimo que se espera é que este mesmo Estado lhe estenda todos os direitos que tem os cidadãos heterossexuais. É imprescindível que a lei dialogue com as transformações sociais. Por óbvio que a união de pessoas do mesmo sexo pautadas em afeto, respeito e cumplicidade descortinam o nascimento de uma nova família. Não pode o preconceito se sobrepor à dignidade, à igualdade, e ao direito à felicidade. Família Homoafetiva: Se considerarmos e entendermos somente o casamento, a união estável e a família monoparental como elementos fundantes de entidade familiar, deixaremos desabrigados um enorme feixe de indivíduos, que destinam seus afetos a pessoas de sexos iguais ao seu. Se retrocedermos um pouco, observamos que antes somente o casamento era elemento formador de família. É dizer, havia uma separação entre os que eram casados e os que não eram e entre aqueles que tinham o direito de casar e aqueles a que estes direitos não eram reconhecidos. Para os pares homoafetivos, esta possibilidade lhes é retirada. Continuam a ser uma minoria ostracizada e privada de direitos. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 17 A reivindicação do casamento “gay” não exprime simplesmente a aspiração, que seria o sinal de uma abdicação diante de modos de vida heterossexuais, de certos homossexuais a entrar na instituição matrimonial; ela traria, também, caso se realizasse, uma mudança profunda na própria instituição, que não poderia mais ser a mesma que antes, e isso ainda mais que, se os gays podem hoje reivindicar o direito de a ela ter acesso, é porque já não é mais o que era. É a dessacralização do casamento que torna possível a própria reivindicação de que se deva abri-lo aos casais 15 do mesmo sexo. Nota-se que a aversão à outorga de direitos a homossexuais, quer no sentido de aceitar o casamento, o reconhecimento de uniões estáveis homoafetivas, ou direito a adoção, esta a infirmar uma superioridade biológica que se desenha pela dualidade de sexos numa relação. Critica-se a alteridade e alberga-se a exclusão do outro. Não há vontade política em deferir direitos, apenas para outorgar deveres. O discurso heteronormativo ainda constitui a base do pensamento político pós-moderno no Brasil, colocando os pares homoafetivos numa situação de inferioridade simbólica no espaço social. A sexualidade é uma das dimensões do ser humano que envolve gênero, identidade sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e reprodução. É experimentada ou expressa em pensamentos, fantasias, desejos, crenças, atitudes, valores, atividades, práticas, papéis e relacionamentos. Envolve, além do nosso corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações afetivas, 16 nossa cultura. A heterossexualidade se define em grande parte por aquilo que ela rejeita, da mesma maneira que, de modo mais geral, uma sociedade se define por aquilo que ela exclui, como dizia Foucult em História da Loucura. Os ordenamentos jurídicos têm influência no desenvolvimento das famílias, têm influência efetivamente afetiva, incluindo ou excluindo da pertinência à família mais ampla, o social. O tratamento que as famílias recebem deste representante paterno, 17 que é o Estado e o Judiciário, em muito influenciará seu destino. O modelo familiar hoje, é o da família eudemonista, onde cada indivíduo é importante em sua singularidade, tendo o direito se ser feliz em seu contexto, independentemente de sua orientação sexual. Pautar direitos tendo como parâmetro o sexo a quem é destinado nosso afeto, é perverso e injusto. A família é muito mais do que reunião de pessoas com o mesmo sangue. Família é encontro, afeto, companheirismo, é dividir para somar. E o sentido de cidadania é justamente o da inclusão social. Não é humano e tampouco jurídico deixar ao desabrigo pessoas que possuem os mesmos deveres perante o Estado, mas têm subtraídos direitos. Ainda que o direito brasileiro hodierno não admita o casamento entre homossexuais, é de mister relevância que seja aceita como união estável, com todos os direitos daí advindos. A equiparação das uniões homossexuais à união estável, pela analogia, implica a consideração da presença de vínculos formais e a presença de uma comunidade de 18 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 vida duradoura entre os companheiros do mesmo sexo, assim como ocorre com os companheiros de sexo diferentes, valorizando sempre, e principalmente, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da não discriminação em 18 virtude de sexo ou orientação sexual. Neste sentido a jurisprudência de vanguarda: AÇÃO ORDINÁRIA - UNIÃO HOMOAFETIVA - ANALOGIA COM A UNIÃO ESTÁVEL PROTEGIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA IGUALDADE (NÃO-DISCRIMINAÇÃO) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE UM PARCEIRO EM RELAÇÃO AO OUTRO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO - REQUISITOS PREENCHIDOS - PEDIDO PROCEDENTE. - À união homoafetiva, que preenche os requisitos da união estável entre casais heterossexuais, deve ser conferido o caráter de entidade familiar, impondo-se reconhecer os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. - O art. 226, da Constituição Federal não pode ser analisado isoladamente, restritivamente, devendo observar-se os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Referido dispositivo, ao declarar a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher, não pretendeu excluir dessa proteção a união homoafetiva, até porque, à época em que entrou em vigor a atual Carta Política, há quase 20 anos, não teve o legislador essa preocupação, o que cede espaço para a aplicação analógica da norma a situações atuais, antes não pensadas. - A lacuna existente na legislação não pode servir como obstáculo para o reconhecimento de um direito. (TJMG, APC 1.0024.06.930324-6/001, rel. Desª. Heloisa Combat, j. 22.05.2007, d.p. 27.07.2007) O silêncio legislativo não pode ser interpretado como falta de direitos, e sim, como descaso institucional. Infelizmente, as minorias ainda sofrem nas mãos de alguns parlamentares que insistem em não se comprometer com medo de perderem votos para a próxima eleição. DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO HOMOAFETIVA - ART. 226, §3º DA CF/88 - UNIÃO ESTÁVEL - ANALOGIA - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - VERIFICAÇÃO. Inexistindo na legislação lei específica sobre a união homoafetiva e seus efeitos civis, não há que se falar em análise isolada e restritiva do Revista da Escola da Magistratura - nº 13 19 art. 226, §3º da CF/88, devendo-se utilizar, por analogia, o conceito de união estável disposto no art. 1.723 do Código Civil/2002, a ser aplicado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, e inc. I da Carta Magna) e da dignidade humana (art. 1º, inc. III, c/c art. 5º, inc. X, todos da CF/88). (TJMG, APC 1.0024.09.484555-9/001, rel. Des. Elias Camilo, 8ª Câmara Cível, j. 25.11.2009, d.p. 12.02.2010) Conclusão: Como visto, é da natureza do ser humano, da sua essência, a diversidade de orientação sexual. Veja-se que a união homoafetiva passou a ser aceita somente no ano de 1989, na Dinamarca, tendo sido reconhecido o como casamento civil apenas no ano de 2001 da Holanda. É bem verdade que em nosso ordenamento jurídico positivo, não há qualquer regra específica para o tema, quer no que diz com a união estável ou casamento. Contudo, é de se ver que a Constituição Federal, através de seus princípios, princípios estes que norteiam todos os vetores nas normas infraconstitucionais, reconhece, subsidia, ampara e autoriza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Destacamos o princípio da dignidade da pessoa humana, onde cada um deve ser respeitado em sua individualidade. Ratificamos o fato de que nenhum indivíduo possui a faculdade de escolher com que cor de olhos quer nascer, nem sua orientação sexual. A pessoa simplesmente nasce desta ou daquela forma. Assim, mostra-se hipócrita a 19 sociedade quando aceita o ódio entre os homens, mas recrimina o seu amor. Ao depois, nunca é demais nos reportarmos aos princípios da igualdade, (que ratifica a isonomia de tratamento a todas as pessoas), da liberdade, (que embasa a livre escolha de parceiros), do pluralismo das entidades familiares (pois a Constituição ampliou o conceito de família) e da afetividade (onde o que efetivamente importa na relação familiar, muito mais do que o aspecto biológico ou sexual é o afeto que a envolve), princípios estes que direcionam todo o contexto do novo direito de família. Já é hora de deixarmos de lado o descaso, o preconceito e o desrespeito. De pararmos para refletir que o homossexual não é melhor nem pior que o heterossexual, apenas se distinguem em sua orientação sexual. É bem verdade que os mais conservadores assustam-se com o diferente, com o novo, e o inaudito. Contudo, precisamos ter coragem para tirarmos a venda da repulsa e do menosprezo, e alcançarmos direitos às relações homoafetivas. A relação de casal tem se mostrado um grande concentrado da vida psíquica familiar em qualidade e intensidade de emoções que é capaz de mobilizar. Os humanos, pelo menos desde o ingresso na adolescência, passam a ser atravessados pela conjuntura do casal, isto é, ter presente a alternativa de fazer parte de um casal. Não haverá quem fique de fora destas questões, mesmo aqueles que venham a optar pela renúncia à vida 20 em casal, estabelecendo outras prioridades para a sua existência . 20 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Como já dito alhures, há quem sustente que as uniões homoafetivas devem ser tratadas no âmbito do direito das obrigações, uma vez que não a Constituição Federal ao mencionar o instituto da união estável teria se referido à união entre homem e mulher. Olvidam-se que se cuida de norma de caráter exemplificativo, não tendo a Constituição da República abarcado todos os tipos de relacionamento possíveis. Ademais, dizer que uma relação afetiva entre indivíduos do mesmo sexo deva ser tratada como se sócios fossem, é efetivamente elevar o preconceito em detrimento do justo. Com relação à união estável, pensamos que não há qualquer óbice para seu reconhecimento, ainda que não tenhamos lei específica para tanto. Ademais, é só nos ampararmos no texto constitucional para alcançarmos os mesmos direitos referentes às uniões estáveis heterossexuais. Mas avançamos mais: entendemos que a aceitação do casamento civil homoafetivo independe de lei específica, uma vez que a própria Constituição assim o autoriza. Não há qualquer artigo do Código Civil que faça restrição de que casamento é privilégio dos heterossexuais. É de se ter em mente também que o reconhecimento do casamento homoafetivo não traria prejuízo a quem quer que seja. Ao contrário, visaria apenas estabelecer igualdade e dignidade àqueles que possuem como objeto de seu desejo, pessoas de seu mesmo sexo. É imprescindível que a Igreja deixe seus dogmas para seus fiéis, não devendo manifestar-se com relação a leis civis que visem à proteção de direitos de uma minoria que é por ela, reiteradamente, repudiada. Até mesmo o Superior Tribunal de Justiça, quando instado a se manifestar sobre o sentido que deve-se dar à entidade familiar insculpida na Lei 8.009/90, considerou a possibilidade de ser os irmãos solteiros que vivem juntos, o viúvo sem descendentes, o cônjuge separado, dentre outros. Ou seja, a própria Constituição Federal, albergada no princípio da dignidade da pessoa humana, ampara diferentes formas de entidade familiar. É que o amor e o afeto independem de sexo, cor ou raça, sendo preciso que se enfrente o problema, deixando de fazer vistas grossas a uma realidade que bate à porta da hodiernidade, e mesmo que a situação não se enquadre nos moldes da relação estável padronizada, não se abdica de atribuir à união homossexual os efeitos 21 e natureza dela. O reconhecimento da união homoafetiva como família é apenas a consequência lógica de uma sociedade democrática, que tem por fim último a dignidade de cada pessoa, que deve ser respeitada em sua individualidade de forma integral e absoluta. Até porque nascemos para sermos felizes e há de chegar o dia em que a infelicidade será considerada apenas uma questão de prefixo, como diria Guimarães Rosa. Referências Bibliográficas: - ABRAMOVAY, M. Juventude e Sexualidade, Brasília, UNESCO Brasil, 2004; - BARROSO, Luiz Roberto, Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil, acessado no site http://pfdc.pgr.mpf.gov.br, no dia 17.7.2009 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 21 - BENTO, Berenice. O que é transexualidade. Ed. Brasiliense,São Paulo, 2008; - BUTLER, Judith, The Psychic Life of Power. Theories in Subjection, Stanford (Califórnia), Stanford University Press, 1997; - CASTRO, Flávia Lages de, História do Direito Geral e do Brasil, 7ª ed. Rio de Janeiro, Lúmen Júris:2009; - GIORGIS, José Carlos Teixeira, Direito de Família Contemporâneo, Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010; - GROENINGA, Giselle Câmara, Direito e Psicanálise – Rumo a uma nova epistemologia, coord. Giselle Câmara Groeninga e Rodrigo da Cunha Pereira, ed. Imago, 2003, Rio de Janeiro; - LÔBO, Paulo, Direito Civil – Famílias, São Paulo: ed. Saraiva, 2ª ed., 2009; - LOUZADA, Ana Maria Gonçalves, Direito das Famílias - em homenagem a Rodrigo da Cunha Pereira, org. Maria Berenice Dias Comentado, São Paulo, ed. RT, 2009; - MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, Novas Modalidades de Família na Pós-Modernidade, ed. Atlas, São Paulo, 2010; - POCAHY, Fernando, OLIVEIRA, Rosana e IMPERATORI Thaís. Cores e dores do preconceito: entre o boxe e o balé, in Homofobia e Educação, Brasília: ed. UNB, 2009; - RIOS, Roger Raupp. A igualdade de tratamento nas relações de família em A justiça e os direitos de gays e lésbicas. Porto Alegre, Ed. Sulina, 2003; - TURKENICZ, Abraão, A Aventura do Casal, ed. Artes Médicas, Porto Alegre, 1995; - VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti, Manual da Homoafetividade, ed.. Método, Rio de Janeiro, 2008 -www.mass.gov.br/courts/courtsandjudges/courts/supremejudicialcourt/goodridge.html, em julho de 2009 Notas 1 GROENINGA, Giselle Câmara, Direito e Psicanálise – Rumo a uma nova epistemologia, coord. Giselle Câmara Groeninga e Rodrigo da Cunha Pereira, ed. Imago, 2003, Rio de Janeiro, p. 125 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti, Manual da Homoafetividade, ed.. Método, Rio de Janeiro, 2008, p. 42 3 Dados obtidos do livro “História do Direito Geral e do Brasil”, Flávia Lages de Castro, 7ª ed. Rio de Janeiro, Lúmen Júris:2009 4 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti, ob. cit. p. 59 5 Ibidem, p.61 6 Acessado pelo www.mass.gov.br/courts/courtsandjudges/courts/supremejudicialcourt/goodridge.html, em julho de 2009 7 LOUZADA, Ana Maria Gonçalves, Direito das Famílias - em homenagem a Rodrigo da Cunha Pereira, org. Maria Berenice Dias Comentado, São Paulo, ed. RT, 2009, p. 246 8 MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus, Novas Modalidades de Família na Pós-Modernidade, ed. Atlas, São Paulo, 2010, p. 28 2 22 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 9 GROENINGA, Giselle Câmara, op. cit. p. 137 LOUZADA, Ana Maria Gonçalves, ob. cit. p. 244 Ibidem, p. 247 12 LÔBO, Paulo, Direito Civil – Famílias, São Paulo: ed. Saraiva, 2ª ed., 2009, p. 61 13 POCAHY, Fernando, OLIVEIRA, Rosana e IMPERATORI Thaís. Cores e dores do preconceito: entre o boxe e o balé, in Homofobia e Educação, Brasília: ed. UNB, 2009, p.118 14 BENTO, Berenice. O que é transexualidade. Ed. Brasiliense,São Paulo, 2008, p. 35 15 BUTLER, Judith, The Psychic Life of Power. Theories in Subjection, Stanford (Califórnia), Stanford University Press, 1997, p. 137 16 ABRAMOVAY, M. Juventude e Sexualidade, Brasília, UNESCO Brasil, 2004, p. 29 17 GROENINGA, Giselle Câmara, op. cit. p. 141 18 RIOS, Roger Raupp. A igualdade de tratamento nas relações de família em A justiça e os direitos de gays e lésbicas. Porto Alegre, Ed. Sulina, 2003, p. 191 19 “Na década de 70, nos Estados Unidos, um soldado que havia sido condecorado por bravura na Guerra do Vietnã escreveu ao Secretário da Força Aérea declinando sua condição homossexual. Foi imediatamente expulso da corporação, com desonra. Ao comentar o episódio, o militar produziu uma frase antológica: ‘Deram-se uma medalha por matar dois homens, e uma expulsão por amar outro’.” BARROSO, Luiz Roberto, Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas no Brasil, acessado no site http://pfdc.pgr.mpf.gov.br, no dia 17.7.2009 20 TURKENICZ, Abraão, A Aventura do Casal, ed. Artes Médicas, Porto Alegre, 1995, p. 5 21 GIORGIS, José Carlos Teixeira, Direito de Família Contemporâneo, Ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2010, p. 295 10 11 ——— • ——— Revista da Escola da Magistratura - nº 13 23 A Sucessão Legítima do Cônjuge no Novo Código Civil Wagner Junqueira Prado Mestrando em Direito e Políticas Públicas pelo UniCEUB. Juiz de Direito no Distrito Federal. 1. INTRODUÇÃO O Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002), que entrou em vigor em 11 de janeiro de 2003, trouxe diversas novidades em relação ao tema da sucessão legítima do cônjuge. O cônjuge sobrevivente que, na vigência do Código Civil anterior (Lei nº 3.071/1916), herdava apenas na ausência de descendentes e ascendentes do falecido, passou a ser herdeiro necessário e a concorrer com os descendentes ou ascendentes à herança. A participação do cônjuge como herdeiro, todavia, restou condicionada a certos fatores, como veremos no decorrer deste trabalho. Os dispositivos legais que trouxeram tais novidades, entretanto, apresentam muitas dificuldades interpretativas, gerando diversas dúvidas, o que complica sobremaneira o processo de inventário e partilha, principalmente após o art. 982 do Código de Processo Civil ganhar nova redação, dada pela Lei nº 11.441/2007, passando a permitir que o inventário e a partilha sejam realizados extrajudicialmente, desde que não haja testamento e todos os herdeiros sejam capazes e estejam concordes. Apesar dos numerosos trabalhos doutrinários existentes a respeito da matéria, não se pretende aqui realizar uma compilação das diferentes opiniões esboçadas pelos seus autores, seja para apoiar-se nelas, seja para refutá-las. A ideia é, ao contrário, obter uma interpretação própria, com base exclusivamente na legislação, mas que procure refletir uma coerência do direito sucessório legislado como um todo. Isso explica a carência de referências bibliográficas sobre obras doutrinárias que tratem do direito das sucessões. No presente trabalho, nosso objetivo é buscar uma interpretação coerente e que contemple uma visão holística do direito das sucessões em vigor, ao invés Revista da Escola da Magistratura - nº 13 25 de procurar obter uma interpretação meramente individual de cada dispositivo isoladamente, dissociada de uma visão geral, o que poderia conduzir a soluções ilógicas ou desvinculadas dos princípios sucessórios elementares expressos no próprio Código 1 Civil . Dessa forma, esperamos enfrentar as dificuldades existentes na legislação (que não são poucas) e fornecer uma solução para a maioria dos problemas práticos envolvendo a sucessão legítima do cônjuge no Novo Código Civil. 2. O DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE Inicialmente, vejamos os dizeres dos dois primeiros artigos do Capítulo I do Título II do Livro V da Parte Especial do Novo Código Civil: “Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares; II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III – ao cônjuge sobrevivente; IV – aos colaterais. Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de 2 (dois) anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente”. Apesar da ordem dos dispositivos no Código, é conveniente iniciar a nossa análise pelo art. 1830. Ele estipula que o cônjuge sobrevivente, separado judicialmente ou separado de fato há mais de dois anos do cônjuge falecido ao tempo de sua morte (exceto quando a convivência se tornou impossível sem culpa sua), não tem direito sucessório, mesmo na ausência de descendentes e ascendentes (hipótese em que devem herdar os colaterais). Portanto, o cônjuge sobrevivente, para participar da sucessão legítima, não pode estar (1) separado judicialmente do autor da herança nem (2) separado de fato há mais de dois anos ao tempo da morte de seu consorte. Apesar do art. 1.830 fazer referência apenas à separação judicial, o art. 1.124A do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei nº 11.441/2007, permite que a separação consensual, não havendo filhos menores ou incapazes, seja feita extrajudicialmente. A coerência do sistema exige, portanto, que também não seja reconhecido direito sucessório ao cônjuge separado extrajudicialmente, por escritura pública. Evidentemente, a prova da separação (judicial ou extrajudicial) se faz através da certidão de casamento com a separação averbada. Já a prova do tempo de separação 26 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 de fato é mais problemática, e pode ser feita documentalmente (por exemplo, através da comprovação de que houve ajuizamento de ação de alimentos por um dos cônjuges contra o outro, motivado pela separação de fato) ou através de testemunhas. Cabe aos descendentes ou aos ascendentes, nos casos dos incisos I e II do art. 1.829, e aos colaterais, no caso de inexistência de descendentes e ascendentes do falecido (inciso III do art. 1.829), arguir a ausência de direito sucessório do cônjuge sobrevivente. Tal alegação deve ser formulada na própria petição inicial do inventário, nas primeiras declarações do inventariante (art. 993 do Código de Processo Civil) ou em forma de impugnação, nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, após as primeiras declarações. Os colaterais, que a princípio não são citados para o inventário (art. 999 do mesmo diploma legal), exceto se o inventário for promovido por um deles, ainda poderão, a qualquer tempo, desde que antes da partilha, caso o inventário seja promovido pelo cônjuge sobrevivente, pedir a sua admissão no inventário nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Em caso de impugnação nos termos do art. 1.000 ou de pedido dos colaterais de admissão no inventário nos termos do art. 1.001 do diploma processual, deve o magistrado ouvir a respeito o inventariante e o cônjuge sobrevivente, designar audiência para colher a prova testemunhal, caso haja necessidade, e depois decidir acerca da impugnação ou do pedido. Cabe ao cônjuge sobrevivente, em sua manifestação e sendo o caso, alegar e comprovar documentalmente (ou arrolar testemunhas), na hipótese de mera separação de fato, que a convivência se tornou impossível sem culpa sua. Observe-se que a alegação de inexistência de direito sucessório do cônjuge sobrevivente não constitui matéria de alta indagação, devendo sempre ser decidida nos próprios autos do inventário, seja porque a separação judicial ou de fato pode ser comprovada documentalmente, seja porque quando a existência e data da separação de fato tiverem que ser comprovadas por testemunhas, a prova oral a ser produzida é bastante simples. Da mesma maneira, havendo alegação do cônjuge sobrevivente, em caso de mera separação de fato, de que a convivência se tornou impossível sem culpa sua, ainda que a prova não possa ser feita documentalmente, a prova oral a respeito também é de simples produção. Não há necessidade, portanto, de remessa da questão aos meios ordinários. No sistema anterior, o cônjuge era apenas meeiro, jamais concorrendo na sucessão com os descendentes ou ascendentes do autor da herança. Segundo o art. 1.611 do Código Civil anterior (Lei nº 3.071/1916), o cônjuge era herdeiro legítimo apenas na ausência de descendentes e ascendentes, se ao tempo da morte do outro 2 não estava dissolvida a sociedade conjugal , hipótese em que lhe cabia a totalidade da herança. Mas não era herdeiro necessário. Por essa razão, e na ausência de descendentes e ascendentes, o testador podia excluí-lo da herança testando todo o seu patrimônio. No novo Código Civil, passando o cônjuge a ter o status de herdeiro necessário (art. 1.845), e concorrendo na sucessão com os descendentes ou ascendentes do falecido (art. 1.829, incisos I e II), houve a necessidade de se estipular outra hipótese em que não se reconhece direito sucessório ao cônjuge sobrevivente: a da separação de fato. É que, no Brasil, principalmente nas comunidades mais carentes e com maior dificuldade de acesso à justiça, é muito comum a pessoa permanecer separada de Revista da Escola da Magistratura - nº 13 27 fato de seu cônjuge por longo período (até mesmo por décadas) sem providenciar o divórcio, mesmo depois de formar outro núcleo familiar, através da união estável. Evidentemente que, em casos tais, não seria coerente permitir que o cônjuge figurasse como herdeiro legítimo, pois inexistente qualquer vínculo afetivo entre ele e o autor da herança. Se o relacionamento (vida afetiva) do casal já estava rompido, seja pela separação judicial, seja pela separação de fato, há necessidade realmente de exclusão da qualidade de herdeiro do cônjuge. Todavia, andou mal o legislador ao exigir, para exclusão do direito sucessório do cônjuge, uma separação de fato por prazo superior a dois anos. Entendemos que seria mais coerente estabelecer simplesmente a separação de fato, sem qualquer prazo. É que, nos termos do art. 1.723, § 1º, do Novo Código Civil, mesmo casada, mas estando separada judicialmente ou de fato (independentemente de qualquer prazo), a pessoa pode constituir união estável. Portanto, no sistema em vigor, é possível que alguém, separado de fato do cônjuge há menos de dois anos, constitua união estável com terceiro, vindo posteriormente a falecer. Nessa hipótese, o texto legal do art. 1.830 permite ao cônjuge sobrevivente pleitear a qualidade de herdeiro, ao mesmo tempo em que o companheiro, nos termos do art. 1.790 do mesmo diploma legal, também está autorizado a herdar. Não há coerência em se permitir que essas duas pessoas (cônjuge e companheiro) figurem como herdeiros ao mesmo tempo, já que, antes de seu falecimento, o autor da herança não tinha mais vínculo afetivo com seu cônjuge, em virtude da separação de fato, vínculo esse que, à época de sua morte, existia somente em relação ao companheiro. Em nosso entender, se existe união estável com terceiro posterior à separação de fato do cônjuge, independentemente do prazo dessa separação de fato, por uma questão de coerência e integridade no direito, o cônjuge perde a qualidade de herdeiro legítimo necessário, devendo participar do inventário apenas na qualidade de meeiro dos bens comuns, adquiridos anteriormente à separação de fato. O companheiro, além de meeiro dos bens adquiridos onerosamente no curso da união estável (em virtude do regime de bens adotado na hipótese, por força do art. 1.725 do Código Civil), figuraria como herdeiro desses mesmos bens, nos termos do art. 1.790 do Código Civil. Do contrário, teríamos que aceitar a abusiva hipótese do cônjuge sobrevivente herdar parte dos bens adquiridos onerosamente pelo autor da herança na vigência de união estável posterior à separação de fato (bens particulares do falecido, em relação ao cônjuge; porém, bens comuns, em relação 3 ao companheiro) . Na inexistência de união estável posterior à separação de fato, todavia, permanece o cônjuge sobrevivente com direito sucessório, se no momento do óbito o tempo de separação de fato não era superior a dois anos. Também não se houve bem o legislador ao permitir ao cônjuge separado de fato manter o direito sucessório quando não tiver culpa na separação de fato. É que, se nem mesmo na ação de separação judicial se permite atualmente a perquirição da culpa, também não faz sentido a apuração da culpa exclusivamente para fins sucessórios. Estaria melhor o art. 1.830 se se limitasse a estabelecer a separação de fato como causa de exclusão do direito sucessório do cônjuge, sem abordar a questão da culpa do cônjuge supérstite. 28 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Possuindo o cônjuge sobrevivente direito sucessório, nos termos do art. 1.830 do Código Civil, além da meação decorrente do regime de bens do casamento, ele 4 ainda poderá figurar como herdeiro necessário , em concorrência com os descendentes ou ascendentes do autor da herança. 3. O CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRENDO COM OS DESCENDENTES DO FALECIDO Voltemo-nos agora ao art. 1.829 e seu inciso I do Código Civil. Segundo tais dispositivos, a sucessão legítima defere-se primeiramente aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, desde, é claro, que o cônjuge possua direito sucessório, nos termos do já analisado art. 1.830. O inciso I do art. 1.829, porém, traz outros requisitos para que o cônjuge supérstite possa herdar, ao excluí-lo da sucessão quando: (1) casado com o falecido sob o regime da comunhão universal; (2) casado com o falecido sob o regime da separação obrigatória de bens; (3) casado com o falecido sob o regime da comunhão parcial, quando o autor da herança não houver deixado bens particulares. As duas primeiras hipóteses não comportam maior debate. No regime da comunhão universal, comunicam-se todos os bens adquiridos pelos cônjuges, antes ou depois do casamento (art. 1.667 do Código Civil). Assim, como o cônjuge supérstite já é meeiro de todos os bens adquiridos pelo falecido, ainda que anteriormente ao casamento, não há necessidade de protegê-lo na sucessão, atribuindo-lhe quinhão na herança, pois de qualquer maneira ele já é detentor de metade do patrimônio total do casal. Já no regime da separação obrigatória de bens, aplicável nas hipóteses de (1) casamento contraído com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento, (2) casamento de pessoa maior de 60 anos e (3) casamento de pessoa que dependeu de suprimento judicial (art. 1.641 do Código Civil), é a própria lei que obriga os contraentes a administrarem com exclusividade os seus bens particulares, adquiridos anteriormente ao casamento (art. 1.687 do Código Civil). Assim, não seria coerente, na dissolução do casamento pela morte de um dos cônjuges, que o outro pudesse herdar parte do patrimônio particular do falecido, já que o regime da separação obrigatória de bens tinha o objetivo oposto, ou seja, impedir que os bens particulares de um cônjuge se comunicassem ao patrimônio do outro. Vale ressaltar que o inciso I do art. 1.829 fez remissão equivocada ao art. 1.640, parágrafo único, já que as hipóteses de obrigatoriedade de adoção do regime da separação de bens estão descritas, na verdade, no art. 1.641 do Código Civil. Estranhamente, ao excluir expressamente da qualidade de herdeiro, em concorrência com os descendentes, o cônjuge supérstite casado com o falecido no regime da separação obrigatória de bens, o art. 1.829, inciso I, permite que o cônjuge casado sob tal regime não em virtude de obrigação legal, mas por opção do casal (separação convencional de bens), ocupe a qualidade de herdeiro. É uma incongruência 5 da lei, já que, se o próprio Código Civil, em seu art. 1.640, parágrafo único , permite que os contraentes optem pelo regime da separação de bens, não deveria agora, após a Revista da Escola da Magistratura - nº 13 29 morte de um dos cônjuges, aquinhoar o outro com parte na herança, em concorrência com os descendentes, já que isso obviamente contraria o objetivo do casal ao optar por aquele regime. Não cabe aqui, todavia, qualquer interpretação restritiva que possa prejudicar o cônjuge casado sob o regime da separação convencional de bens, sendo recomendável, no entanto, alteração legislativa que venha a suprimir a palavra “obrigatória” no inciso I do art. 1.829, a fim de melhorar a coerência do sistema. O ponto nevrálgico é, sem dúvida, a situação do cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial. Lembre-se que, no Brasil, na quase totalidade dos casamentos celebrados a partir da vigência da Lei nº 6.515/1977 (Lei do Divórcio), que modificou 6 o art. 258 do Código Civil de 1916 , foi adotado o regime da comunhão parcial. O Novo Código Civil continua adotando o regime da comunhão parcial como regime 7 legal de bens, na ausência de estipulação em contrário pelos cônjuges . De acordo com o art. 1.829, inciso I, e apesar da péssima redação do dispositivo, acreditamos que o fator mais importante a ser analisado não é a estranha pontuação utilizada pelo legislador, mas sim a finalidade da norma, que é, sem dúvida, proteger o cônjuge sobrevivente em determinada situação, aumentando-lhe o patrimônio através da atribuição de quinhão na herança. A melhor interpretação, portanto, é a de que o cônjuge supérstite, casado com o autor da herança sob o regime da comunhão parcial, e desde que possua direito sucessório (art. 1.830), só concorre à herança com os descendentes caso o falecido tenha deixado bens particulares. Evidentemente, na ausência de bens particulares do falecido, não é necessário atribuir ao viúvo o status de herdeiro, pelas mesmas razões já expostas quando tratamos do regime da comunhão universal: é que a meação do cônjuge sobrevivente, nesse caso, já é equivalente à metade de todos os bens do casal (ou até superior, caso ele próprio possua bens particulares), não havendo necessidade de protegê-lo na sucessão. Ao contrário, havendo bens particulares do falecido (adquiridos anteriormente ao casamento, ou recebidos em virtude de doação ou sucessão), e sendo tais bens de valor significativo, a meação do cônjuge supérstite será proporcionalmente pequena em relação à totalidade dos bens do casal. Nessa hipótese, é perfeitamente justificável a intenção da lei de aquinhoar o cônjuge sobrevivente, como forma de proteção patrimonial, evitando que ele permaneça apenas com a sua meação, que poderia ser, comparada ao patrimônio total do casal, ínfima ou desproporcional, incapaz de manter o seu padrão de vida após a viuvez. Por outro lado, todavia, caso os bens particulares deixados pelo autor da herança sejam de pequeno valor, em comparação com o montante dos bens pertencentes ao casal, ou se, ao contrário, é o viúvo quem possui bens particulares de valor significativo, o cônjuge sobrevivente ficará em vantagem despropositada na partilha dos bens, ao figurar como meeiro e herdeiro, ainda que ausente qualquer necessidade protetiva, em prejuízo, portanto, dos descendentes, que terão seu quinhão reduzido injustamente. Esse, infelizmente, é o preço a pagar pela fórmula açodada que o legislador adotou, e cujo objetivo é aumentar o amparo patrimonial do cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão parcial, mas que pode, em certos casos, aumentar indevidamente o patrimônio de quem não precisa dessa proteção. Caberá, portanto, à jurisprudência, nos casos em que a aplicação do dispositivo venha provocar uma situação contrária à 30 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 pretendida pela finalidade da norma, optar pela sua não utilização, a fim de manter a coerência e integridade do sistema. Apesar da redação do dispositivo exigir que o falecido tenha deixado “bens particulares” (no plural), entendemos que, por uma questão de coerência do sistema, basta que o falecido tenha deixado um único bem particular para que o cônjuge supérstite, casado sob o regime da comunhão parcial, possa concorrer à sucessão com os descendentes. Observe-se que um único bem particular autor da herança pode ter valor superior à totalidade dos aquestos. Nos demais regimes de bens (de participação final nos aquestos ou dotal, este último no caso de casamento celebrado sob a vigência do antigo Código Civil), o cônjuge, possuindo direito sucessório (art. 1.830), é sempre herdeiro em concorrência com os descendentes. Evidentemente, e não havendo no art. 1.829 nenhuma restrição, o quinhão de herança do cônjuge sobrevivente, da mesma maneira que o dos demais herdeiros necessários, recai sobre a totalidade da herança, formada pela meação do falecido sobre os bens comuns do casal e pelos seus bens particulares, sobre os quais o viúvo não possui meação, em decorrência do regime de bens do casamento (de comunhão parcial, de separação convencional, de participação final nos aquestos ou dotal, este último celebrado na vigência do Código Civil anterior). A interpretação realizada por parte da doutrina, no sentido de que o quinhão do cônjuge supérstite não recai sobre a totalidade do monte, mas apenas sobre os bens particulares do falecido, não encontra amparo algum na lei. Todos os herdeiros legítimos, constantes do rol do art. 1.829, participam da partilha de todos os bens do espólio, à exceção dos legados. É o que prevê o art. 1.788 do Código Civil: “Art. 1.788. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos; o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento; e subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar, ou for julgado nulo”. 8 Além disso, o art. 1.832 do Código Civil estipula, como regra, que concorrendo com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça. Evidentemente, não será possível respeitar tal disposição atribuindo-se quinhão aos herdeiros sobre a totalidade dos bens passíveis de sucessão legítima e quinhão ao viúvo incidente apenas sobre parte daquele acervo (os bens particulares do falecido). O art. 1.829 não formulou nenhuma exceção à regra geral, de que o quinhão recai sobre todos os bens não testados, que possa ser aplicada ao cônjuge sobrevivente. Pelo contrário, a referência do inciso I à existência de bens particulares do falecido serve apenas para conferir ao viúvo, casado sob o regime da comunhão parcial, a qualidade de herdeiro concorrente, jamais para limitar o quinhão do cônjuge, qualquer que seja o regime de bens do casamento (exceto, evidentemente, os da comunhão universal e da separação obrigatória de bens, em que o cônjuge não é herdeiro concorrente por expressa disposição legal), aos bens particulares deixados pelo autor da herança. Entender o contrário seria permitir, por absurdo, que o companheiro pudesse 9 vir a ter um tratamento mais afortunado que o cônjuge no tocante à herança (quando Revista da Escola da Magistratura - nº 13 31 os bens comuns totalizarem valor muito superior aos bens particulares do falecido), já que o quinhão daquele recai exclusivamente sobre os bens comuns (art. 1.790 do Código Civil). Por esse motivo também, entendemos que o quinhão do cônjuge, casado sob regime de bens que lhe permita herdar concorrendo com os descendentes do falecido, deve incidir sobre todos os bens do espólio (comuns e particulares). Resta esclarecer que não estamos sustentando aqui que o cônjuge merece tratamento privilegiado em relação ao companheiro no tocante à sucessão, mas apenas buscando a interpretação mais coerente dentre as possíveis na hipótese. Desde a Constituição Federal de 1988, passando pelas Leis de nº 8.971/1994 e 9.278/1996, e agora pelo Novo Código Civil, a legislação tem buscado garantir, cada vez mais, os direitos daqueles que vivem em união estável. Se ainda não chegamos à situação ideal, ou se o Novo Código Civil acabou suprimindo direitos sucessórios anteriormente materializados nas Leis de nº 8.971/1994 e 9.278/1996, é possível sustentar que a legislação deve evoluir no sentido de equiparar a situação do companheiro à do cônjuge em relação aos direitos sucessórios. Não é possível, porém, a nosso ver, afirmar que, em determinadas situações, o companheiro pode receber tratamento privilegiado em relação ao cônjuge no tocante à sucessão, pois tal interpretação é portadora de inconfundível incoerência, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista sistemático, violando qualquer integridade que se pretenda atribuir ao sistema. Por fim, vale acrescentar que o legislador atribuiu ao cônjuge supérstite não somente a condição de herdeiro concorrente com os descendentes (art. 1.829, inciso I), mas também a condição de herdeiro necessário (art. 1.845). Dessa forma, não pode o intérprete trilhar o caminho de, como regra, privilegiar o interesse dos descendentes em relação ao do cônjuge (por exemplo, reduzindo o monte sobre o qual recai a herança do viúvo), sem que a lei expressamente o permita, sob pena de estar agindo na contramão do que pretendeu o legislador. Se for assim, melhor seria retornarmos ao sistema do Código Civil de 1916, em que o cônjuge, além de não ser considerado herdeiro necessário, somente herdava na ausência de descendentes e ascendentes, jamais concorrendo com eles à sucessão. Situação bem diferente é a do companheiro que, nos termos do art. 1.790, também é herdeiro legítimo (apesar da estranha localização que o legislador deu a esse dispositivo), mas seu quinhão incide apenas sobre a meação do falecido nos bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Note-se, ainda, que como o companheiro não é herdeiro necessário (conforme o art. 1.845 do Código Civil), nada impede que o testador o exclua da sucessão legítima, dispondo da metade de seu patrimônio, se houver herdeiros necessários, ou da totalidade, não os havendo. Observe-se que, havendo herdeiros necessários, eles possuem direito, nos termos do art. 1.846 do Código Civil, à metade dos bens da herança (legítima). Se o testador dispôs da outra metade sem contemplar o companheiro, nada lhe caberá nos termos do art. 1.790, pois o companheiro não poderá ter quinhão incidindo sobre a legítima dos herdeiros necessários, sob pena de redução da legítima e violação ao art. 1.846. Essa é a solução apresentada pela conjugação dos arts. 1.790, 1.845 e 1.846 do Código Civil. Não foi boa, todavia, a opção legislativa. Seria melhor se o legislador, suprimindo o art. 1.790, incluísse o companheiro no art. 1.829, tratando cônjuge e companheiro da mesma maneira no tocante à sucessão legítima. 32 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Não é recomendável, todavia, a inclusão do companheiro no rol dos herdeiros necessários constante do art. 1.845, mas sim a retirada dessa qualidade do cônjuge, 10 pelas razões que ainda teremos oportunidade de expor . O tema da sucessão legítima do companheiro, todavia, é matéria para outro trabalho. Sobre o tema deste item, resta analisar o art. 1.832 do Código Civil, que dispõe: “Art. 1.832. Em concorrência com os descendentes (art. 1.829, I) caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que sucederem por cabeça, não podendo a sua quota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com que concorrer”. A regra, portanto, é de que cabe ao cônjuge sobrevivente a mesma fração da herança atribuída aos demais herdeiros que sucedem por direito próprio (por cabeça). Assim, concorrendo com filhos do falecido (sejam também filhos seus ou não), caberá ao cônjuge ¼ da herança, havendo três filhos, 1/3 da herança, havendo dois filhos, e metade da herança, havendo apenas um filho. Por exceção, a parte final do dispositivo atribuiu ao cônjuge supérstite uma quota mínima de ¼ da herança, desde que ele seja ascendente de todos os herdeiros com que concorrer, ou seja, desde que não existam descendentes exclusivos do falecido concorrendo à sucessão. Nesse caso, havendo quatro filhos do casal, caberá ¼ da herança ao cônjuge, e 3/16 a cada um dos filhos; havendo cinco filhos do casal, caberá ¼ da herança ao cônjuge, e 3/20 a cada um dos filhos; havendo seis filhos do casal, caberá ¼ da herança ao cônjuge, e 3/24 a cada um dos filhos; e assim sucessivamente. Havendo, todavia, pelo menos um descendente exclusivo do falecido, não se podendo aplicar a exceção, aplica-se a regra geral da primeira parte do artigo. Não comungamos, portanto, da opinião de que o legislador esqueceu-se de prever a hipótese de existência de descendentes comuns e exclusivos do autor da herança concorrendo com o cônjuge supérstite à sucessão. Na verdade, o art. 1.832 é bastante claro ao atribuir, por exceção, uma quota mínima da herança ao viúvo somente na hipótese de concorrência à sucessão exclusivamente com descendentes comuns, não se podendo falar em quota mínima do cônjuge quando houver pelo menos um descendente exclusivo do falecido, restando ao cônjuge, nessa hipótese, a aplicação da regra geral, atribuindo-lhe quota igual a dos herdeiros que sucederem por cabeça. É princípio básico do direito sucessório que os herdeiros que ocupam a mesma categoria devem receber o mesmo quinhão na herança. O Novo Código Civil, a respeito do tema, estipula: “Art. 1.834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão de seus ascendentes”. Esse dispositivo afasta, por absoluta incoerência com o sistema, qualquer interpretação que, garantindo uma fração mínima da herança ao cônjuge sobrevivente, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 33 permita que os descendentes comuns e os descendentes exclusivos do falecido, ocupantes da mesma classe (filhos, por exemplo), recebam quinhões desiguais. Considerando, todavia, a possibilidade do testador destinar parte do patrimônio a título de sucessão testamentária, deve-se interpretar a palavra “herança”, constante do art. 1.832, como sendo a parte da herança sujeita à sucessão legítima. Dessa maneira, a quota mínima do cônjuge, caso concorra exclusivamente com seus descendentes, não é a quarta parte da herança, mas sim a quarta parte do montante passível de sucessão legítima. Se aplicássemos aqui uma interpretação literal, tendo o falecido testado metade da herança, e cabendo ao cônjuge sobrevivente ¼ da mesma (25% do total da herança), restariam aos filhos comuns apenas ¼ do total, para ser entre eles dividido. Em nossa opinião, não foi boa ideia estabelecer, ainda que por exceção, uma quota mínima em favor do viúvo. É que o número de descendentes comuns do casal é variável, de forma que é impossível ao legislador estabelecer uma quota fixa que reflita uma situação justa em qualquer hipótese. Seria melhor suprimir do art. 1.832 a parte final, ou seja, a exceção da quota mínima, mantendo exclusivamente a regra contida na primeira parte. 4. O CÔNJUGE SOBREVIVENTE CONCORRENDO COM OS ASCENDENTES DO FALECIDO Inexistindo descendentes do autor da herança, o cônjuge sobrevivente possuidor de direito sucessório (nos termos do art. 1.830) concorre na sucessão com os ascendentes (arts. 1.829, inciso II, e 1.836, ambos do Novo Código Civil). Note-se que, ao contrário da hipótese anterior (concorrência com os descendentes), o cônjuge supérstite agora herda qualquer que seja o regime de bens do casamento. Nos termos do art. 1.837 do Código Civil, se concorrer com ascendente em primeiro grau (pais do falecido), caberá ao cônjuge sobrevivente um terço da herança. Porém, se houver um só ascendente, ou se for maior aquele grau (avós do falecido), caberá ao cônjuge metade da herança. Na última hipótese, a outra metade da herança ainda deverá ser dividida entre os ascendentes da linha paterna e da linha materna do falecido (art. 1.836, § 2º, do Novo Código Civil), à razão de 25% do espólio para cada linha (já que os outros 50% cabem ao cônjuge sobrevivente). Observe-se que a divisão aqui não é por cabeça entre os ascendentes de segundo grau ou superior, mas por linha. Apenas dentro de cada linha é que a divisão é por cabeça (por exemplo, entre o avô e a avó maternos). Não existe direito de representação na classe dos ascendentes, de forma que o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas (art. 1.836, § 1º, do Novo Código Civil). Não havendo descendentes nem ascendentes do falecido no momento da abertura da sucessão, ao cônjuge sobrevivente, desde que possua direito sucessório (art. 1.830 do Novo Código Civil), caberá a totalidade da herança (arts. 1.829, inciso III, e 1.838, ambos do mesmo diploma legal). 34 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Se o cônjuge sobrevivente não tiver direito sucessório, a totalidade da herança caberá aos colaterais até o quarto grau (art. 1.839 do Código Civil). 5. O CÔNJUGE COMO HERDEIRO NECESSÁRIO Estipula o Novo Código Civil: “Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge”. É importante ressaltar que, apesar do teor do dispositivo, o cônjuge sobrevivente nem sempre é herdeiro necessário. Somente possuirá esse status o cônjuge que tiver 11 direito sucessório (art. 1.830) e, se concorrer com os descendentes do falecido (art. 12 1.829, inciso I), o regime de bens do casamento também o permitir . Concorrendo, ao contrário, com ascendentes do falecido, e tendo direito sucessório, nos termos do art. 1.830, independentemente do regime de bens do casamento, o cônjuge será herdeiro necessário. Portanto, não nos parece correto incluir o cônjuge no rol dos herdeiros necessários, já que, para ser herdeiro, deverá ele preencher os requisitos dos arts. 1.829, inciso I, e 1.830 do Código Civil, requisitos esses que não se aplicam aos demais herdeiros necessários. Assim, os descendentes e ascendentes sempre terão assegurada a sua participação na sucessão legítima, enquanto que a concorrência do cônjuge fica condicionada a certos fatores. Assim, seria mais lógico e coerente excluir o cônjuge do art. 1.845, já que nem sempre ele poderá participar da sucessão legítima. 6. O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO A respeito do tema, o Novo Código Civil estipula que: “Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar”. Portanto, o cônjuge sobrevivente, possuindo direito sucessório ou não, e independentemente do regime de bens do casamento, tem o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único imóvel residencial do espólio. A finalidade do dispositivo é resguardar o cônjuge supérstite, garantindo-lhe a mesma moradia que possuía na constância do casamento após a partilha dos bens, evitando o seu desamparo. Todavia, se constar do espólio mais de um bem imóvel de natureza residencial, não haverá direito real de habitação em favor do viúvo. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 35 Lamentavelmente, sendo omisso a respeito o art. 1.831, o direito real de habitação é conferido vitaliciamente ao cônjuge supérstite. Atualmente, seria recomendável estipular a cessação desse direito real em caso de novo casamento ou união estável do titular do benefício. Aliás, o art. 1.611, § 2º, do revogado Código Civil de 1916, já previa a limitação do direito real de habitação enquanto durasse a viuvez do cônjuge sobrevivente. Note-se que o Novo Código Civil não concedeu o direito real de habitação ao companheiro. E não é possível invocar tal direito com base no art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/1996, não revogada expressamente pelo Novo Código Civil. A nosso ver, o Novo Código Civil, ao regulamentar integralmente a união estável no Título III do Livro IV da Parte Especial, ab-rogou as Leis de nº 8.971/1994 e 9.278/1996. A respeito do tema, estabelece a Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei nº 4.657/1942): “Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. § 1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior”. Além disso, o inciso IV do art. 7º da Lei Complementar nº 95/1998 estabelece que “o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa”. O Novo Código Civil, evidentemente, não quis complementar as leis anteriores que tratavam da união estável, nem fez qualquer remissão expressa aos referidos diplomas legais. Assim, como o Novo Código Civil regulamentou inteiramente a união estável nos arts. 1.723 a 1.727 e 1.790, estão revogados os diplomas legais anteriores que tratavam do mesmo tema. É bem verdade, todavia, que o Novo Código Civil deveria ter revogado expressamente as Leis de nº 8.971/1994 e 9.278/1996, como estipula o 13 art. 9o da Lei Complementar 95/1998 . Reconhecemos, por fim, que seria recomendável incluir o companheiro na redação do art. 1.831 do Código Civil, garantindo-lhe tratamento igualitário ao cônjuge também no tocante ao direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência familiar, se for o único bem imóvel residencial a inventariar. 7. CONCLUSÃO Ao tentar obter uma interpretação coerente do direito sucessório como um todo, e que esteja calcada exclusivamente na lei, chegamos, evidentemente, a algumas conclusões que podem ser contestadas por diversos motivos. Para exemplificar, nossa opinião de que o cônjuge sobrevivente, casado sob o regime da comunhão parcial, herda sobre a totalidade da herança passível de sucessão 36 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 legítima (e não apenas sobre os bens particulares do falecido) não reflete a posição majoritária na doutrina nacional. Esperamos, todavia, ter obtido a melhor interpretação que uma visão holística da legislação sucessória permitiria, considerando que, apesar de nossos esforços em realçar a integridade do sistema, diversas falhas legislativas, que foram abordadas em nossa exposição, dificultaram o nosso propósito. Isso nos levou, inclusive, a elaborar algumas sugestões de reforma, visando tornar a legislação mais coerente. Não foi nossa intenção desconsiderar os trabalhos doutrinários já realizados, mas apenas produzir uma interpretação sob uma ótica diferente, que focasse não em cada dispositivo separadamente, mas que procurasse uma lógica no direito sucessório visto em seu conjunto, que encontrasse ali os seus princípios e os respeitasse, para que tais princípios viessem, depois, nos ajudar na interpretação de cada dispositivo individualmente. Por isso, deixamos de embasar nossas conclusões em trabalhos realizados por outros autores, procurando sempre realçar o fundamento legal. 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. Decreto-lei nº 4.657, de 4 set. 1942 (Lei de Introdução ao Código Civil). ______. Lei nº 3.071, de 1º jan. 1916 (antigo Código Civil). ______. Lei nº 6.515, de 26 dez. 1977 (Lei do Divórcio). ______. Lei nº 8.971, de 29 dez. 1994. ______. Lei nº 9.278, de 10 mai. 1996. ______. Lei nº 10.406, de 10 jan. 2002 (Novo Código Civil). ______. Lei nº 11.441, de 4 jan. 2007. ______. Lei Complementar nº 95, de 26 fev. 1998. DWORKIN, Ronald. O império do direito. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Notas 1 Segundo Ronald Dworkin, “temos dois princípios de integridade política: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio jurisdicional, que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista como coerente nesse sentido” (O império do direito, p. 213). Ao defender a integridade no direito, Dworkin esclarece que a integridade na legislação restringe aquilo que nossos legisladores podem fazer ao expandir ou alterar nossas normas, e que a integridade na deliberação judicial requer que nossos juízes tratem nosso sistema de normas como se este expressasse e respeitasse um conjunto coerente de princípios, e que interpretem essas normas de modo a descobrir normas implícitas entre e sob as normas explícitas (idem, p. 261). Para ele, “a integridade é uma virtude ao lado da justiça, da eqüidade e do devido processo legal, mas isso não significa que... a integridade seja necessariamente, ou sempre, superior às outras virtudes” (idem, pp. 261-262). 1 Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.515/1977 (Lei do Divórcio), a sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento, pela separação judicial e pelo divórcio. 2 Esta passagem será melhor compreendida após a leitura do item 3. 3 Conforme esclareceremos no item 5, não nos parece correto incluir o cônjuge no rol dos herdeiros necessários, já que sua qualidade de herdeiro depende de outros fatores, não aplicáveis aos demais herdeiros necessários (descendentes e ascendentes). Revista da Escola da Magistratura - nº 13 37 4 “Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula...” Art. 258. Não havendo convenção, ou sendo nula, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. 6 Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial. 7 Tal dispositivo será melhor analisado ao final deste item. 9 Recorde-se, aqui, que na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil), o que já garante ao companheiro um tratamento igual ao da grande maioria dos casamentos na constituição do patrimônio comum. 8 Vide item 5 deste trabalho. 9 Vide item 2 deste trabalho. 10 Vide item 3 deste trabalho. 11 “Art. 9º. A cláusula de revogação deverá enumerar, expressamente, as leis ou disposições legais revogadas”. 5 —— • —— 38 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 A Inconstitucionalidade do Art. 273 do Código Penal Marcio Evangelista Ferreira da Silva Juiz de Direito Introdução O 1 Código Penal vigente no Título VIII, Capítulo III, trata dos crimes contra 2 a saúde pública e o art. 273 trata especificamente do crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. O citado artigo já foi alvo de alterações legislativas no decorrer dos anos, 3 mas a mais sensível – oriunda da Lei n.º 9.677/98 – segundo NUCCI , foi a elevação “excessiva” da pena. Imediatamente após a entrada em vigência da nova redação do art. 273 do Código Penal vozes se levantaram acoimando-o de inconstitucional. No presente articulado será abordado o tema à luz da Constituição Federal e seus princípios, para ao final apresentarmos uma conclusão sobre a novel legislação reformadora do Código Penal. Da proporcionalidade As primeiras vozes argumentaram que o art. 273 do Código Penal seria desproporcional, eis que sua pena seria extremamente alta. 4 NUCCI relatou que a pena sofreu “uma abrupta e excessiva elevação”, pois no seu entender a sanção está em descompasso com a classificação do crime, qual seja, crime abstrato. Realmente a pena é elevada e mais, é superior de crimes de dano, c.p.e., o crime 5 de homicídio simples . Há, no meu sentir, um descompasso, pois o autor do crime de dano – que efetivamente lesiona um bem jurídico tutelado – tem uma reprimenda estatal inferior à sanção do crime abstrato, que apenas expõe a perigo de lesão. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 39 Com efeito, a sanção penal prevista no citado dispositivo é desproporcional 6 ferindo, assim, o princípio da proporcionalidade, que segundo FRANCO “... obriga a ponderar a gravidade da conduta, o objeto da tutela e a consequência jurídica.” 7 GOMES abordando o tema relata que a intervenção penal do legislador só tem fundamento se houver “... proporcionalidade e equilíbrio na medida ou na pena” argumentando ainda que há se realizar um “juízo de ponderação” para um balanço entre os bens em conflito. Após a análise supra, fica cristalino que se a conduta que se visa repreender, pelo artigo em comento, tem uma sanção inadequada, ou seja, o legislador infraconstitucional ofendeu o princípio da proporcionalidade. Ora, basta uma análise perfunctória no preceito secundário que encontramos um vício legislativo, qual seja, o de legislar em desrespeito ao princípio da proporcionalidade. 8 É um vício legislativo pelo fato de que o legislador – como ensina PERELMAN – não tem liberdade plena para legislar, deve respeitar os princípios como se regras positivas fossem. W. J. GANSHOT, citado por PERELMAN, argumenta que o juiz é quem faz o direito ao aplicar a lei ao caso concreto. Deve o juiz, segundo GANSHOT, sempre ter em mente – ao adaptar os dispositivos legais ao caso concreto – os princípios gerais de direito, pois a aplicação só tem validade se a legislação em análise os respeita. Confira: “Os princípios gerais do direito, que são ‘aplicáveis mesmo na ausência de um texto’ (acórdão Aramu, Conselho de Estado francês, 26 de out. de 1945, G.A., p. 260), não são uma criação jurisprudencial e não poderiam ser confundidos com simples considerações de equidade. Não são, tampouco, regras consuetudinárias: o juiz, aplicando-os ou controlando-lhes a aplicação, não se refere à constância de usa aplicação. Eles têm valor de direito positivo: sua autoridade e sua força não se reportam uma fonte escrita; eles existem independentemente da forma que lhes dá o texto quando eles se refere; o juiz os declara; constata-lhes a existência, o que permite dizer que a determinação dos princípios gerais do direito não autoriza uma investigação científica livre. Eles se formam independentemente do juiz, mas, uma vez formados, impõem-se a ele. O juiz é obrigado a garantir-lhes 9 o respeito.” FR. GORPHE traz a pá de cal sobre o assunto, pois para ele “Todas as vezes que as consequências das regras escritas parecerem ir além da medida, procura-se afastá-las 10 recorrendo a princípios mais justos.” QUEIROZ apresentando comentários ao art. 273, §1º-B do Código Penal, também levanta a pecha de inconstitucionalidade pelo fato de que o legislador equiparou condutas graves a condutas que não são tão graves, apontando, assim – uma desproporcionalidade, pois “... acabou por colocar em pé de igualdade condutas absolutamente distintas do ponto de vista da lesividade/gravidade que representam, igualando situações 11 jurídico-penalmente inigualáveis.” 40 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Outro aspecto considerado pelo citado autor – reforçando a ideia da desproporcionalidade – é o fato de que a pena prevista para o crime de perigo abstrato (art. 273, §1º-B do CP) é superior ao crime de dano que o produto vendido poderia causar. E continua o citado autor relatando que: “... a pena mínima cominada/aplicada ao crime do art. 273, §1°-B (e incisos), do CP, excede em mais de três vezes a pena máxima do homicídio culposo (CP, art. 121, §3°), corresponde a quase o dobro da pena mínima do homicídio doloso simples (CP, art. 121, caput), é igual à pena máxima do aborto provocado sem consentimento da gestante (CP, art. 125), além de corresponder à cinco vezes a pena mínima da lesão corporal de natureza 12 grave (CP, art. 129, §1°).” Assim, fica nítido que o crime mencionado no art. 273 do Código Penal é uma conduta que deve ser reprimida, mas não com a sanção que o legislador estipulou – pois desproporcional. A conveniência política do legislador em criminalizar condutas e estabelecer a sanção é inquestionável, mas a interpretação das normas deve ser em conformidade com a Constituição Federal, pois como ensina CANOTILHO “o princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição é fundamentalmente um princípio de controlo 13 (tem como função assegurar a constitucionalidade da interpretação)...” Destarte, diante da flagrante desproporcionalidade e ofensa explícita ao Princípio da Proporcionalidade o preceito secundário do art. 273 do Código Penal é realmente inconstitucional e como tal deve ser considerado e não aplicado pelos operadores do direito. Da interpretação na norma penal e a inconstitucionalidade de seu preceito secundário Como vimos, o art. 273 do Código Penal tem uma sanção inconstitucional, entretanto, cabe salientar que a conduta prevista abstratamente como crime merece reprovação social - não deve ser declarada inconstitucional. A sociedade não tolera que condutas – como a narrada no citado artigo – sejam cometidas e fiquem impunes, pois a potencialidade de dano causa uma reprovação social. Note-se que afastada a incidência do preceito secundário previsto no art. 273 do 14 Código Penal não faz com que o preceito primário também seja afastado, entretanto, cabe ao intérprete estabelecer o preceito secundário proporcional à conduta incriminada. Poder-se-ia argumentar que o juiz – assim agindo – estaria legislando, entretanto, sem razão críticas de tal estirpe, eis que o juiz moderno tem novo papel na aplicação da lei, pois a muito se abandonou a antiga máxima de que o juiz é a boca da lei. Neste sentido confira o escólio de PERELMAN: “Essa dialética, implicada pela busca de uma solução convincente, instauradora da paz judiciária, por ser ao mesmo tempo razoável e conforme o direito, coloca o Poder Judiciário numa relação nova diante o Poder Legislativo. Nem inteiramente subordinado, nem simplesmente oposto ao Revista da Escola da Magistratura - nº 13 41 Poder Legislativo, constitui um aspecto complementar indispensável seu, que lhe impõe uma tarefa não apenas jurídica, mas também política, a de harmonizar a ordem jurídica de origem legislativa com as ideias dominantes sobre o que é justo e equitativo em dado meio. É por essa razão que a aplicação do direito, a passagem da regra abstrata ao caso concreto, não é um simples processo dedutivo, mas uma adaptação constante dos dispositi15 vos legais aos valores em conflito nas controvérsias judiciais.” E continua PERELMAN: “Em uma sociedade democrática, é impossível manter a visão positivista do direito, segundo a qual este seria apenas a expressão arbitrária da vontade do soberano. Pois o direito, para funcionar eficazmente, deve ser aceito e 16 não só imposto por coação.” 17 Surgiu então uma interpretação de que poder-se-ia aplicar o preceito secundário da Lei n.º 11.343/06, entretanto, no meu entender seria uma aplicação de analogia in malam partem, vedada no sistema penal vigente. Ora, a interpretação deve atender ao que mais se aproxime dos princípios norteadores do direito penal. Verifica-se que o preceito secundário que mais se adapta 18 ao caso é o previsto na antiga redação do art. 273 do Código Penal , eis que o legislador foi proporcional e razoável. 19 O escólio de MEDEIROS , vem bem a calhar, vejamos: “A norma inconstitucional impede, frequentemente, a aplicação de normas diversas que se situam aliunde. A correspondente decisão de inconstitucionalidade tem, então eficácia positiva. Isto mesmo pode ser, facilmente ilustrado com o chamado efeito repristinatório. O próprio Mestre da escola de Viena, teorizados do Tribunal Constitucional como legislador negativo, considerava que uma decisão de inconstitucionalidade que determinasse a repristinação da norma anterior constituía ‘não um simples acto negativo de legislação, mas um acto positivo’. ... As normas repristinadas não são, seguramente, criadas pelo órgão de controlo da constitucionalidade, não se confundindo portanto com as normas resultantes de uma decisão modificativa.” E mais, se tal interpretação for acoimada de analogia, será in bonam parte – permitida no direito penal moderno. Neste sentido confira o voto do Exmo. Sr. Desembargador Sérgio Rocha: “Seguindo tal entendimento, admito a aplicação do preceito secundário do art. 273 do CP, em sua redação original (pena de reclusão de um a três anos e multa) ao art. 273 do CP com a redação dada pela Lei 9.677/98, tendo em vista a inconstitucionalidade do preceito secundário estabelecido 20 pela nova legislação.” 42 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 21 Tal entendimento é corroborado pelo que ensina MEDEIROS , verbis: “A decisão de inconstitucionalidade deve, segundo este entendimento, atingir apenas a norma que expressa ou implicitamente restringe o âmbito de aplicação da lei, obtendo-se, por essa via, a ampliatio do regime favorável.” Ao fim e ao cabo, atender-se-á a vontade da sociedade em reprimir as condutas descritas no art. 273 do Código Penal e se aplicará uma sanção proporcional, conforme a Constituição Federal e seus princípios. Conclusão Concluindo, o preceito primário do art. 273 do Código Penal é constitucional, seu preceito secundário é inconstitucional e, quando da aplicação do citado artigo, deve incidir o antigo preceito secundário do citado dispositivo. Notas 1 de 7 de dezembro de 1940 pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. 3 NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, São Paulo, RT, 2009, p. 927/928 4 obra citada 5 pena – reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos. 6 FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. São Paulo: RT, 2005, p. 364 7 apud LAURENTINO, Wendel. A inconstitucionalidade do artigo 273 do Código Penal. Disponível em http://www.lfg.com.br. 05 agosto. 2008 – acesso em 06/09/2010 8 PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica, Martins Fontes, 1998, p. 92 9 apud PERELMAN - ob. cit. p. 103 10 FR. GORPHE. Les décisions de justice, Presses Universitaires de France, 1952, p. 38, apud PERELMAN ob. cit. p. 230 11 http://pauloqueiroz.net/a-proposito-do-art-273-%C2%A71%C2%B0-b-do-codigo-penal/ - acesso em 06/09/2010 12 ibidem 13 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Edição. Coimbra: Almedina, 2003, p. 1226 14 descrição abstrata da conduta criminosa 15 ob. cit. p. 116 16 ob. cit. p. 241 17 algumas vezes foi sustentada por membros do MPDFT 18 reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa 19 MEDEIROS, Rui. A decisão de Inconstitucionalidade. Os autores, o Conteúdo e os Efeitos da Decisão de Inconstitucionalidade da Lei. Lisboa: Universidade Católica, 1999, P. 491 20 TJDFT – Argüição de Inconstitucionalidade n.º 2010.00.2.008435-4 21 ob. citada, p. 456 2 —— • —— Revista da Escola da Magistratura - nº 13 43 Quem tem Medo do Racismo? Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios O jornal Correio Braziliense publicou em 14 de dezembro de 2010 no caderno Brasil matéria intitulada “Na rede, racismo. Na cadeia, quem?”. A história revelada pelo jornalista Vinicius Sassine mostra a aceitação pacífica da sociedade brasileira em torno de manifestações discriminatórias divulgadas em vários sistemas de redes sociais e virtuais à margem do controle estatal. Trata-se de relatos sobre fatos ocorridos há mais de cinco anos sem que se tenha conseguido tirar do ar as páginas com conteúdos racistas. Segundo a matéria, em um único mês, mais de 700 denúncias apontam casos de discriminações veiculadas na internet. Sob o título “A Justiça não deu jeito”, uma das reportagens dedica espaço ao caso do promotor de justiça de São Paulo Nadir de Campos Júnior que é alvo de uma série de ofensas em comunidade criada no Orkut e que, embora tenha havido remessa de ofício para retirada do conteúdo, a empresa mantém íntegras as mensagens, sob os argumentos de que só com a identificação dos autores das manifestações poderiam ser tomadas providências, a menos que houvesse sentença judicial determinando a retirada da comunidade do ar. A questão pontual é que há complacência velada e expressa em relação a esses tipos delituosos, comportamento natural não só da sociedade civil como dos representantes do Estado. De uma maneira geral, vive-se no Brasil sob o signo da democracia racial preconizada por Gilberto Freire que acaba por escamotear o racismo. O máximo que se permite é o reconhecimento da discriminação sob o viés social ou econômico, não se admitindo, porém, o critério ideológico que domina as posturas racistas. O juiz de direito sergipano Edinaldo César Santos Junior, em entrevista à Revista de Cultura e Direitos Humanos da AMB editada em outubro de 2010, deixa ver que a realidade é bem outra: Uma última pesquisa realizada pela AMB entre os juízes do Brasil constatou que da totalidade de juízes no país, apenas 0,9% é negro. Essa é uma estatística preocupante, a demonstrar, por exemplo, que o acesso à magistratura para o negro é ainda um sonho distante. Faço parte da exceção. Ora, partindo da premissa da ausência de racismo ideológico, muitos poderiam afirmar que um negro juiz não seria alvo de preconceito ou discriminação. Sou a prova do contrário. Não importa como ou onde esteja, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 45 a consciência social ainda não crê na possibilidade de ascensão do negro e, por isso, discrimina-o. Se o negro social e economicamente bem situado dirige o carro zero, é o motorista particular, se está de traje formal no shopping, é abordado como segurança, se está de pasta a tiracolo, é o fotógrafo do evento, e mesmo dentro do “gabinete do juiz”, se está acompanhado do assessor não-negro, a ele a palavra sequer é dirigida. Todos esses fatos já ocorreram comigo. Esse chamado critério ideológico do racismo é também entendido como insulto 1 moral (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2004) . Caracteriza-se pelo poder exercido por quem discrimina com base exclusiva na cor. Daí a dificuldade de percepção do fenômeno, que muitas vezes passa desapercebido porquanto é quase sempre velado e dissimulado como nas hipóteses lançadas pelo juiz Edinaldo César e transcritas acima. Só com atenção especial é possível reconhecer-se a prática indesejada, sobretudo porque o racismo à brasileira, embora enraizado culturalmente, é também e por paradoxo socialmente repugnante. Não é por outra razão que há uma tendência perigosa de relativizar-se o preconceito racial, legitimando-se o negro com suporte nos parâmetros considerados brancos, o que se vulgariza e pode ser sintetizado pela máxima cruel “negro de alma branca”. Exemplo marcante é o citado por Cardoso de Oliveira (2004) referente a uma líder do movimento negro, filha de mãe branca e racista e pai negro; ao ser indagada pela filha sobre o casamento e a contrariedade de suas convicções racistas, a mãe explicitou de forma espontânea e natural: “Ah! seu pai é especial, é um homem inteligente, bonito, elegante, charmoso etc....” É nesse contexto que o problema se apresenta ao Direito e ao Poder Judiciário. No mais das vezes, torna-se improvável a leitura do racismo por esses dois sistemas ante a falta de violência em sua forma evidenciada e material. Entretanto, é ainda 2 Cardoso de Oliveira (2005) que, retomando o conceito de insulto moral, explicita suas características de maneira irrepreensível: (1) trata-se de uma agressão objetiva a direitos que não pode ser adequadamente traduzida em evidências materiais; e, (2) sempre implica uma desvalorização ou negação da identidade do outro. Tais atributos e consequências, a despeito de suas estruturas jurídicas, são pouco assimilados e difundidos pelo Direito, seja pela via legislativa, seja no âmbito do Poder Judiciário. O resultado é a impunidade temperada pelo sentimento de abandono e impotência. Raras vezes em que a prática do racismo é reconhecida como crime e, nessas poucas oportunidades, ainda subsiste a possibilidade de não observância da decisão judicial, como narrado na matéria jornalística mencionada no início deste estudo. A Lei 7.716/89 define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor; há um rol de situações normatizadas pela referida legislação caracterizando-as como o que convencionalmente passou a ser conhecido como “crime de racismo”. Uma boa parte das condutas descritas na lei relaciona-se a impedimentos, óbices ou empecilhos de acesso a espaços públicos e privados pelas pessoas, se tais condutas operam-se em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, vale dizer, são condutas 3 segregacionistas. O art. 20 , contudo, prevê como ilícito criminal a prática em si, além da incitação e do induzimento, do preconceito ou da discriminação em razão daqueles critérios. Aí reside a resistência dos juristas em geral e dos juízes em particular em reconhecer em determinadas atitudes o preconceito ou a discriminação em razão da cor, 46 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 tendo em vista que esse ato, como dito, é revestido de alta simbologia e normalmente desacompanhado de vestígios materiais. Não restam dúvidas de que “praticar a discriminação ou preconceito de cor” é uma norma penal em branco, que exige do aplicador do Direito o preenchimento de seus contornos. É nesse dever que se omitem, muitas vezes, os julgadores, preferindo a via facilitadora e cômoda da atipicidade. Afinal, os juízes em sua grande maioria também são forjados na crença de que a miscigenação benigna no Brasil é prova viva de democracia racial e, portanto, de convivência harmônica, pacífica e livre de preconceito de cor. Contudo, é preciso um aprofundamento da questão, observando-se que nem sempre o crime exigirá 4 a presença real e material da violência física ou até mesmo moral . Ainda assim poderá subsistir o delito pela ocorrência da violação à dignidade da pessoa humana numa perspectiva conceitual evolutiva da ideia de honra para a de identidade, como 5 sugerimos em outra oportunidade (LOPES, 2008) . Não há hoje outra possibilidade de leitura e aplicação do art. 20 da Lei 7.716/89, sob pena de alijarmos o país da agenda e do projeto transnacional em prol do diálogo da tolerância por meio da pauta de prevalência dos direitos humanos. Para tanto, o aprofundamento a que aludimos acima deve passar pela 6 compreensão da política do reconhecimento (TAYLOR, 1994) , associada ao ideal da identidade, definida por Charles Taylor “como a maneira como uma pessoa se define, como é que suas características fundamentais fazem dela um ser humano” (1994: p. 45). Essa política não se resume à esfera da pessoa, para atingir um status além e transmudarse no reconhecimento igualitário (TAYLOR, 1994: p. 48), fruto das ondas renovatórias da democracia e disseminadas no período pós Guerra Fria projetadas na exigência de um estatuto igualitário para as diversas culturas. Interessante anotar que essa igualdade a ser emprestada às variadas culturas condiz com a importância dedicada à diversidade de manifestações culturais. Com isso quer-se dizer que a política do reconhecimento igualitário comporta novo componente: o da diferença (TAYLOR, 1994: p. 58). É necessário reconhecer-se a singularidade de cada grupo social (e de cada indivíduo), percebendo-se, assim, que a igualdade e a diferença são os dois lados da mesma moeda. 7 A moeda do reconhecimento . A omissão do Estado brasileiro em relação a casos de prática de racismo tem levado o país a ser demandado na órbita internacional, o que está a exigir premente mudança de postura. Existem dois processos em tramitação na Comissão Interamericana 8 envolvendo o Brasil em matéria de racismo. O primeiro diz respeito à morte de Wallace de Almeida, ocorrida em 13 de setembro de 1998, que teria sido ocasionada por policiais militares em missão no morro da Babilônia, Rio de Janeiro. Wallace era um jovem negro, de dezoito anos, servindo o Exército como recruta; a questão foi levada à Comissão pela ONG Justiça Global, em 20 de dezembro de 2001, obtendo o protocolo 872/2001 9 e se transformando no Caso 12.440 . Segundo a petição, houve excesso na operação dos policiais e, passados mais de três anos e meio do fato, o inquérito distribuído às 12ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1998, não foi concluído e não havia denúncia oferecida pelo Ministério Público. Os peticionantes apontam 10 violações aos arts. 4º, 8º e 25, c/c o art. 1º,1 todos da Convenção Americana de Direitos Humanos. No pedido, há descrição dos fatos, reportando-se aos antecedentes Revista da Escola da Magistratura - nº 13 47 relacionados à violência policial no Brasil, à força letal da Polícia fluminense e à 11 violência e raça ; a seguir, há narrativa sobre o homicídio e a investigação realizada no Brasil, além de considerações sobre a admissibilidade do pedido e acerca do mérito, com registro da análise dos recursos internos e das violações de direitos humanos. Ao final, o pedido está assim posto: 1 – Que sejam iniciados os trâmites formais para abertura desse caso contra o Estado do Brasil. 2 – Que a República Federativa do Brasil seja condenada pelas violações descritas acima. 3 – Que ordene o governo brasileiro a investigar, julgar e punir criminalmente os responsáveis. 4 – Que ordene ao governo brasileiro pagar indenização às vítimas ou seus familiares. 5 – Que ordene o governo brasileiro a tomar medidas eficazes para garantir que não mais existam ações policiais violentas, desta natureza, e que adote medidas eficazes para proteger os direitos da população em geral, contra policiais violentos. 6 – Que ordene o governo brasileiro, como medida preventiva, incorporar aos cursos de reciclagens já existentes para policiais, e implementar onde não existam, palestras sobre a questão racial, a ser ministrado pelas ONGs do movimento negro do Brasil. A Comissão Interamericana, após o trâmite do Caso, fez as seguintes recomendações ao Estado brasileiro: 1. Levar a cabo uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos, por órgãos judiciais independentes do foro policial civil/militar, a fim de estabelecer e punir a responsabilidade pelos atos relacionados com o assassinato de Wallace de Almeida e os impedimentos que impossibilitaram a realização tanto de uma investigação quanto de um julgamento efetivos. 2. Proporcionar plena reparação aos familiares de Wallace de Almeida, incluindo tanto o aspecto moral quanto o material, pelas violações de direitos humanos indicadas no presente relatório e, em particular, 3. Adotar e instrumentar as medidas necessárias à efetiva implementação da disposição constante no artigo 10 do Código de Processo Penal Brasileiro. 4. Adotar e instrumentar medidas adequadas dirigidas aos funcionários da justiça e da polícia, a fim de evitar ações que impliquem 48 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 discriminação racial nas operações policiais, nas investigações, no processo ou na sentença penal. Em março de 2009 foram avaliadas as medidas adotadas pelo Brasil, considerandose que houve algum avanço, mas não foram cumpridas as metas estipuladas, o que levou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a reiterar as recomendações. 12 O outro caso, sob o número 12.100 , refere-se a Simone André Diniz, que teria sofrido discriminação racial na busca de um emprego. Em 7 de outubro de 1997, a ONG CEJIL – Centro pela Justiça e o Direito Internacional apresentou petição junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que, por meio do Relatório 13 37/02 , de 9 de outubro de 2002, declarou a admissibilidade do pedido relativamente 14 a eventuais violações aos arts. 1º, 8º, 24 e 25 da Convenção. Segundo consta, Simone 15 teria atendido a um anúncio de jornal para ocupar a vaga de empregada doméstica na residência de Aparecida Gisele Mota da Silva, mas foi recusada por ser negra. Houve inquérito policial, manifestando-se o Ministério Público pelo arquivamento, por ausência de provas do crime de racismo, o que foi acatado pelo Poder Judiciário de São Paulo. O Caso 12.001 teve tramitação na Comissão, que se colocou à disposição das partes para iniciar procedimento de solução amistosa, em maio de 2003, sobrevindo desistência dos peticionários em novembro do mesmo ano, por ausência de proposta do Estado brasileiro. Assim é que em 28 de outubro de 2004, em seu 121º período de sessões, a Comissão aprovou o Relatório de Mérito 83/04, elencando um rol de doze recomendações a serem cumpridas pelo Brasil. Em razão da inércia do Estado brasileiro, recentemente, 16 em 21 de outubro de 2006, em cumprimento ao art. 51 da Convenção, foi publicado 17 o Relatório de Mérito 66/06 , ratificando as recomendações do documento anterior. Nesse relatório, a Comissão inicia por analisar a responsabilidade internacional por fato praticado por particular, assinalando que o Estado deve velar pelo respeito aos direitos humanos nas relações entre particulares. Em seguida, a Comissão dedica-se à apreciação do direito à igualdade perante a lei e à não-discriminação; nesse item, tece 18 considerações sobre a situação racial no Brasil , a evolução do ordenamento jurídico 19 anti-racismo no país, os problemas de aplicação da lei anti-racismo , além de abordar os fatores que levaram à constatação da violação do direito de Simone André Diniz à 20 igualdade e à não-discriminação, tecendo juízo de valor sobre a conduta praticada em desfavor da vítima. Consta, ainda, no relatório, análise do direito às garantias judiciais e à proteção judicial, com repúdio da Comissão à não-instauração da ação penal no caso denunciado por Simone. Ao final, ratificam-se as recomendações feitas ao Brasil, nestes termos: 1. Reparar plenamente a vítima Simone André Diniz, considerando tanto o aspecto moral como o material, pelas violações de direitos humanos determinadas no relatório de mérito e, em especial, 2. Reconhecer publicamente a responsabilidade internacional por violação dos direitos humanos de Simone André Diniz; 3. Conceder apoio financeiro à vítima para que esta possa iniciar e concluir curso superior; Revista da Escola da Magistratura - nº 13 49 4. Estabelecer um valor pecuniário a ser pago à vítima à título de indenização por danos morais; 5. Realizar as modificações legislativas e administrativas necessárias para que a legislação anti-racismo seja efetiva, com o fim de sanar os 21 obstáculos demonstrados nos parágrafos 78 e 94 do presente relatório; 6. Realizar uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos, com o objetivo de estabelecer e sancionar a responsabilidade a respeito dos fatos relacionados com a discriminação racial sofrida por Simone André Diniz; 7. Adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de justiça e da polícia a fim de evitar ações que impliquem discriminação nas investigações, no processo ou na condenação civil ou penal das denúncias de discriminação racial e racismo; 8. Promover um encontro com organismos representantes da imprensa brasileira, com a participação dos peticionários, com o fim de elaborar um compromisso para evitar a publicidade de denúncias de cunho racista, tudo de acordo com a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão; 9. Organizar Seminários estaduais com representantes do Poder Judiciário, Ministério Público e Secretarias de Segurança Pública locais com o objetivo de fortalecer a proteção contra a discriminação racial e o racismo; 10. Solicitar aos governos estaduais a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes de racismo e discriminação racial; 11. Solicitar aos Ministérios Públicos Estaduais a criação de Promotorias Públicas Estaduais Especializadas no combate ao racismo e a discriminação racial; 12. Promover campanhas publicitárias contra a discriminação racial e o racismo. Em março de 2006, com a aprovação do relatório, a Comissão sugeriu ao Brasil o cumprimento das recomendações, sendo que em outubro do mesmo ano os autores informaram que nenhuma medida havia sido adotada, o que levou a Comissão a reiterar as recomendações. É preciso aprofundar a reflexão sobre o tema, ao menos até que tenhamos resposta para esta indagação: até quando vamos nos omitir? REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS CARDOSO DE OLIVEIRA, Luís R. Racismo, direitos e cidadania, em Estud. av. vol.18 no.50 São Paulo Jan./Apr. 2004 Direitos, Insulto e Cidadania (Existe Violência Sem Agressão Moral?), em http:// vsites.unb.br 50 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira. O sistema de cotas para afrodescendentes e o possível diálogo com o direito. Brasília: Dédalo, 2008 SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo – Examinando a política de reconhecimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. Notas 1 Racismo, direitos e cidadania, em Estud. av. vol.18 no.50 São Paulo Jan./Apr. 2004 (acesso em 29/12/2010). Direitos, Insulto e Cidadania (Existe Violência Sem Agressão Moral?), em http://vsites.unb.br (acesso em 29/12/2010). 3 Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de um a três anos e multa. § 1º Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do nazismo. (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. § 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa. § 3º No caso do parágrafo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência: (Redação dada pela Lei nº 9.459, de 15/05/97) I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos exemplares do material respectivo; II - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou televisivas. III - a interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) § 4º Na hipótese do § 2º, constitui efeito da condenação, após o trânsito em julgado da decisão, a destruição do material apreendido. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.459, de 15/05/97). 4 Em tais hipóteses, será possível a configuração da injúria qualificada prevista no art. 140, § 3º, do Código Penal: Art. 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: § 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência: 5 Pena – reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa. LOPES, Carla Patrícia Frade Nogueira, O sistema de cotas para afrodescendentes e o possível diálogo com o direito. Brasília: Dédalo, 2008. 6 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo – Examinando a política de reconhecimento. Lisboa: Instituto Piaget, 1994. 7 Coincidente com essa posição é o entendimento de Boaventura de Sousa Santos (Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003: p. 458): “O multiculturalismo progressista pressupõe que o princípio da igualdade seja utilizado de par com o princípio do reconhecimento da diferença [...] temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza; temos o direito de ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza.” 8 Os dados estão disponíveis no site da ONG Justiça Global: www.global.org.br (acessos em 20 e 21/12/2006) e no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: www.cidh.org (acesso em 21/12/2006). 9 A petição foi encaminhada pelo Ofício JG/RJ 231/01; segundo consta no site www.global.org.br (acessos em 20 e 21/12/2006), o pedido teria sido aberto em 24/01/2001, o que, à primeira vista, parece ser um equívoco em relação a ano, que deve ser 2002. Não foi encontrado, no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (acesso em 21/12/2006) o relatório de admissibilidade ou inadmissibilidade da petição; há dados contidos no relatório do 121º período ordinário de sessões, datado de 28/10/2004, no sentido de que a Comissão realizou audiência sobre a violência policial no Estado do Rio de Janeiro, em função do Caso Wallace de Almeida. 2 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 51 10 “Artigo 4º - Direito à vida 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido. 4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, nem a delitos comuns conexos com delitos políticos. 5. Não se deve impor a pena de morte e pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. 6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente.” “Artigo 8º - Garantias judiciais 1. Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas: a) direito do acusado de ser assistido por um tradutor ou intérprete, caso não compreenda ou não fale a língua do juízo ou tribunal; b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada; c) concessão ao acusado do tempo e dos meios necessários à preparação de sua defesa; d)direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor; e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio, nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei; f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no Tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos; g) direito de não ser obrigada a depor contra si mesma, nem a confessar-se culpada; e h)direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. 3. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza. 4. O acusado absolvido por sentença transitada em julgado não poderá ser submetida a novo processo pelos mesmos fatos. 5. O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça.” “Artigo 25 – Proteção judicial 1. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. 2. Os Estados-partes comprometem-se: a) a assegurar que a autoridade competente prevista pelo sistema legal do Estado decida sobre os direitos de toda pessoa que interpuser tal recurso; b) a desenvolver as possibilidades de recurso judicial; e c) a assegurar o cumprimento, pelas autoridades competentes, de toda decisão em que se tenha considerado procedente o recurso.” O artigo 1º, 1 encontra-se transcrito na nota 130. 11 Sob esse aspecto, encontra-se o seguinte trecho na petição, que merece transcrição: “De acordo com o relatório do pesquisador do ISER, Professor Ignácio Cano, o papel da raça no uso da força policial letal, talvez seja a fonte das violações mais severas dos direitos humanos no Brasil. Após avaliar mais de 1000 homicídios cometidos pela polícia do Rio de Janeiro, entre os anos de 1993 e 1996, o relatório conclui que a raça constitui um fator que influencia a polícia – seja conscientemente ou não – quando se atira para matar. Quanto mais escura a pele da pessoa, mais suscetível ela está de ser vítima de uma violência 52 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 fatal por parte da polícia. Os registros apontam que entre os mortos, pela polícia, os negros e pardos são 70,2% e os brancos 29,8%.” Os dados estão disponíveis nos sites da ONG CEJIL – www.cejil.org e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – www.cidh.org (acessos em 21/12/2006). 13 De acordo com este Relatório, a posição dos peticionantes sobre o caso é assim resumida: “Segundo os peticionários, na data de 2 de março de 1997, a senhora Aparecida Gisele Mota da Silva, fez publicar no jornal A Folha de São Paulo, jornal de grande circulação no Estado Paulista, na parte de Classificados, nota através da qual comunicava o seu interesse em contratar uma empregada doméstica onde informava dentre outras coisas, que tinha preferência por pessoa de cor branca. Tomando conhecimento do anúncio, a estudante e empregada doméstica Simone André Diniz, chamou o número indicado, apresentando-se como candidata ao emprego. Atendida pela senhora Maria Tereza - pessoa encarregada por D. Aparecida para atender os telefonemas das candidatas, foi indagada por esta sobre a cor de sua pele, que de pronto contestou ser negra, sendo informada, então, que não preenchia os requisitos para o emprego. 8 . Incontinenti, a senhora Simone Diniz, denunciou a discriminação racial sofrida e o anúncio racista à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, na Subcomissão do Negro e, acompanhada de advogado, prestou notitia criminis junto à então Delegacia de Crimes Raciais. Em 5 de março de 1997 foi instaurado Inquérito Policial sob o número 10.541/97-4 para apurar a violação do artigo 20 da Lei 7716/89, que define a prática de discriminação ou preconceito de raça como crime. O delegado de polícia responsável pelo Inquérito tomou depoimento de todas as pessoas envolvidas: a suposta autora da violação e seu esposo, a suposta vítima e uma amiga e a senhora que atendeu o telefonema da senhora Simone Diniz. 9 . De acordo com os peticionários, na data de 19 de março de 1997 o delegado de polícia elaborou relatório sobre a notícia crime e o enviou ao Juiz de Direito. Dando ciência ao Ministério Público sobre a Inquérito – somente o Ministério Público tem legitimidade para começar a Ação Penal pública, este manifestou-se em 02 de abril de 1997 pedindo arquivamento do processo fundamentando que “… não se logrou apurar nos autos que Aparecida Gisele tenha praticado qualquer ato que pudesse constituir crime de racismo, previsto na Lei 7.716/89…” e que não havia nos autos “… qualquer base para o oferecimento de denúncia”. 10 .Os peticionários informaram que o Juiz de Direito, prolatou sentença de arquivamento em 07 de abril de 1997, com fundamento nas razões expostas pelo membro do Ministério Público.” A posição do Estado brasileiro foi no sentido de que a petição era manifestamente improcedente, e que a investigação, o processo e o julgamento do caso no Brasil se operaram de acordo com a legislação interna aplicável à hipótese. 14 “Artigo 24 – Igualdade perante a lei Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, sem discriminação alguma, à igual proteção da lei.” O artigo 1º encontra-se transcrito na nota 130, e os artigos 8º e 25 na nota 134. 15 O anúncio foi publicado nos Classificados do jornal Folha de São Paulo, edição de 02/03/1997, com o seguinte texto: “doméstica. Lar. P/ morar no empr. C/ exp. Toda rotina, cuidar de crianças, c/ docum. E ref.; Pref. Branca, s/ filhos, solteira, maior de 21 a. Gisele”. 16 “Artigo 51 – 1. Se no prazo de três meses, a partir da remessa aos Estados interessados do relatório da Comissão, o assunto não houver sido solucionado ou submetido à decisão da Corte pela Comissão ou pelo Estado interessado, aceitando sua competência, a Comissão poderá emitir, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, sua opinião e conclusões sobre a questão submetida à sua consideração. 2.A Comissão fará as recomendações pertinentes e fixará um prazo dentro do qual o Estado deve tomar as medidas que lhe competir para remediar a situação examinada. 3.Transcorrido o prazo fixado, a Comissão decidirá, pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, se o Estado tomou ou não as medidas adequadas e se publica ou não seu relatório.” 17 A íntegra do relatório está disponível no site da Comissão Interamericana de Direitos Humanos: www.cidh.org (acesso em 21/12/2006). 18 Nessa parte do relatório, a Comissão apresenta alguns dados estatísticos sobre a questão racial no Brasil: reporta-se a uma pesquisa do IPEA pela qual se verificou que em 1999 os negros eram 45% da população brasileira, mas correspondiam a 64% da população pobre e 68% da população indigente; segundo conclusão dessa pesquisa, “nascer negro no Brasil está relacionado a uma maior probabilidade de crescer pobre.” Na área da educação, o relatório cita dados do IBGE de que em 1999, 21% dos afrodescendentes eram analfabetos, enquanto 8% dos brancos também o eram; partindo-se do conceito de “analfabeto funcional”, elaborado pela UNESCO (educação até o 4º ano do ensino fundamental), 22,7% dos brancos ostentavam essa condição e, na mesma situação, 41% de afrodescendentes. No item mortalidade infantil, o relatório da CIDH cita que, no mesmo ano, para cada grupo de 1000 crianças negras ou mestiças, 62 não viviam até a idade de 1 ano, enquanto a taxa para as crianças brancas era de 37 para cada grupo de 1000 crianças. Um outro dado é o relacionado ao sistema criminal judicial brasileiro: na cidade de São 12 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 53 Paulo, em 1980, a população branca era de 72,1%, e a negra (pretos e pardos), de 24,6%; nesse universo, era encontrada uma maior proporção de réus negros condenados (68,8%) do que réus brancos (59,4%) pelo mesmo crime; a absolvição favorecia preferencialmente brancos (37,5%) comparativamente a negros (31,2%). Outra pesquisa apontada é um levantamento feito no Rio de Janeiro mostrando que o perfil da maioria das crianças e adolescentes assassinados, em um conjunto de 265 investigações, é de pobre, sexo masculino, negro e mulato. No que concerne às relações de emprego, o relatório alude à pesquisa do IBGE em que se vê que 5.7% da população branca empregada ocupava funções de empregadores, contra 1.3% de negros e 2.1% de mestiços; igualmente, 5.7% da população branca empregada ocupava posição de trabalhador doméstico contra 13.4% de negros e 8,4% de mestiços. 19 Sobre essa questão, elucidativo é o item 75 do relatório: “75. Para ilustrar com alguns dados o padrão de desigualdade no acesso à justiça para as vítimas de crimes de cunho racial, de 300 Boletins de Ocorrência analisados, de 1951 a 1997, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre, apenas 150 foram considerados como crime pelos delegados de polícia achegando ao estágio de inquérito policial. Desses, somente 40 foram encaminhados pelo Ministério Público para uma ação pena contra o discriminador, dos quais apenas nove – cinco em São Paulo e quatro no Rio Grande do Sul – chegaram a julgamento.” 20 Este o posicionamento da CIDH: “Em primeiro lugar a Comissão entende que excluir uma pessoa do acesso ao mercado de trabalho por sua raça constitui um ato de discriminação racial”, passando a referir-se ao art. 1º da Convenção Internacional para Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial (esse dispositivo encontra-se transcrito no item 3.3 deste capítulo). Nesse contexto, está redigido o item 107 do relatório, como advertência: “107. A Comissão chama a atenção do governo brasileiro que a omissão de autoridades públicas em efetuar diligente e adequada persecução criminal de autores de discriminação racial e racismo cria o risco de produzir não somente um racismo institucional, onde o Poder Judiciário é visto pela comunidade afro-descendente como um poder racista, como também resulta grave pelo impacto que tem sobre a sociedade na medida em que a impunidade estimula a prática do racismo.” 21 “78. Segundo ilação da Comissão, a Lei 7716/89, ‘não representou maior avanço no campo da discriminação racial por ser excessivamente evasiva e lacônica e exigir, para a tipificação do crime de racismo, o autor, após praticar o ato discriminatório racial, declare expressamente que sua conduta foi motivada por razões de discriminação racial’. Se não o fizesse, seria sua palavra contra a do discriminado.” “94. Mesmo com a posterior criação da figura penal da injúria racista, aquela que associa elementos como raça, cor, etnia, religião ou origem, o governo vai mais longe e aponta que mesmo que a lei tenha feito distinção entre injúria genérica e aquelas baseadas em discriminação (por raça, cor, origem, etnia ou religião), conferindo a esta uma pena mais severa, essa lei permanece mais fraca que o tratamento prescrito para os crimes de racismos prescritos na lei 7716/89, além do que, por ser esse crime perseguível somente por ação privada, quando um particular tipo de conduta é reduzida de racismo para injúria, a vítima é forçada a abrir uma ação de breve prazo de seis meses restantes, o que leva o crime a não ser punido.” —— • —— 54 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Incidente de Julgamento de Demandas Repetitivas no PLS 166: uma Apresentação da Proposta no Novo CPC. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito titular da 14a Vara Cível de Brasília. Mestre em Direito pela Universidade de Brasília. Doutoranda em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília – Uniceub. 1- Apresentação do tema P 1 or ocasião dos debates acerca do PLS166/10 , que cria o novo Código de Processo Civil, algumas inovações chamaram de pronto a atenção da comunidade jurídica, sendo certo que uma das mais interessantes foi o incidente de resolução de demandas repetitivas. Sem precedente no CPC atual, o procedimento pretende organizar o julgamento das demandas que versem sobre idêntica questão de direito e com possibilidade de causar grave insegurança jurídica, decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes. O objetivo do presente ensaio é fazer uma apresentação panorâmica do instituto, principalmente à luz da justificativa apresentada pelos membros da comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto do código. Conforme apresentado na exposição de motivos do anteprojeto, o procedimento foi inspirado no direito alemão, o “musterverfahren e gera decisão que serve de modelo (= muster) para resolução de uma quantidade expressiva de processos em que as partes estejam na mesma situação, não se tratando necessariamente do mesmo autor e nem do mesmo réu.” Assim, o julgamento de demandas identificadas a partir da mesma questão de direito, ainda em primeiro grau de jurisdição e que tenham potencial para gerar uma expressiva repercussão de demandas com risco de decisões conflitantes, cria a possibilidade de suspensão do processamento das demais ações, “tanto no juízo de primeiro grau, quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam 2 tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento.” Revista da Escola da Magistratura - nº 13 55 Ainda segundo a exposição de motivos, a medida reflete a tendência de 3 coletivização do processo , nesse caso caracterizado em função do julgamento de um número expressivo de demandas. A coletivização do processo inclui-se entre as linhas atuais do processo civil moderno, na busca de um processo civil de resultado, com o qual se busca a obtenção do maior efeito útil possível, num cotejo entre o máximo resultado, com o mínimo de custo. Assim, vem o procedimento ao encontro do julgamento de demandas que englobem interesses de segmentos sociais de largo espectro, como os consumidores, deficientes, crianças e adolescentes, idosos, entre tantos outros. Na atual sistemática já existem algumas tentativas pontuais de julgamento de feitos repetitivos como é o caso do art. 285-A, que permite o julgamento liminar de mérito ou o julgamento de recursos representativos da controvérsia, nos termos do art. 543, b e c. Este último estabelece critérios para aferição da repercussão geral, por meio da seleção de recursos representativos da controvérsia, com o sobrestamento dos demais recursos até decisão final da corte, ou o julgamento pelo STJ de recurso especial representativo de controvérsia (art.543-C, § 1º, do CPC), que pressupõe o reconhecimento, pelos Tribunais de Justiça, da existência de multiplicidade de recursos com o mesmo tema, sendo o processo, nestas circunstâncias, remetido ao STJ, com 4 suspensão das demais ações semelhantes . O incidente de julgamento de demandas repetitivas, tal como proposto, representa ainda, uma forma de desvencilhamento da chamada jurisprudência defensiva para o julgamento de teses relevantes. Segundo afirmou o Ministro Luiz Fux, presidente da Comissão que elaborou o anteprojeto do Código, o incidente é uma das principais novidades no sentido de reduzir o numero de processos em tramitação, afirmando que “graças a esse incidente, será possível selecionar um número reduzido de processos-piloto em ações de massa para serem julgados pelos tribunais (estaduais, regionais ou superiores) – os demais ficam parados. Uma vez julgados os processos-piloto, a decisão adotada se aplica a todos os outros casos idênticos, novos e em trâmite. Na prática, o novo instrumento adapta o previsto pela Lei dos Recursos Repetitivos, utilizado exclusivamente pelo STJ, para os demais tribunais”. 2 – Requisitos O art. 895 do projeto 166/10 estabelece como requisitos para a instauração do incidente: • Controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de processos; • Fundado em idêntica questão de direito; • Capaz de causar grave insegurança jurídica decorrente do risco de coexistência de decisões conflitantes; • Análise da conveniência da adoção da decisão paradigmática (art. 898, § 1º). 56 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 À instauração do incidente seguir-se-á a mais ampla publicidade, por meio do registro eletrônico no CNJ (art. 896), devendo os tribunais promover a atualização de banco eletrônico de dados sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando imediatamente ao CNJ (parágrafo único). Tal procedimento vem previsto também no projeto da nova Lei de Ação Civil Pública, em tramitação no Congresso Nacional. 3 - Competência O art. 30, parágrafo único do projeto estabelece que a competência para decidir o incidente será do órgão especial, onde houver ou do tribunal pleno. Trata-se de modalidade de competência funcional, inserida na seção, III, do título III da parte geral do projeto. O mesmo disciplinamento vem repetido no art. 898, segundo o qual o juízo de admissibilidade e o julgamento do incidente competirão ao pleno do tribunal ou, onde houver, ao órgão especial. Admitido o incidente, o tribunal julgará a questão de direito, que vinculará os demais órgãos fracionários situados no âmbito de sua competência (898, § 2º). 4 - Procedimento • Legitimação para o pedido de instauração: relator ou juiz, por ofício e partes, Ministério Público e Defensoria Pública, por petição. O pedido deverá ser instruído com os documentos necessários à demonstração da necessidade de instauração do incidente. (art. 895) • O Ministério Público intervirá obrigatoriamente no processo e pode assumir a titularidade se houver desistência ou abandono. (art. 895,§ 3º) • Pedido de informações: após a distribuição o relator pode requisitar informações ao juízo onde originalmente tramita o processo, que deverão ser apresentadas num prazo de 15 dias. (art. 897) • Suspensão dos feitos: admitido o incidente, na própria sessão o presidente do tribunal determinará a suspensão dos processos pendentes em primeiro e segundo grau de jurisdição. Durante a suspensão poderão ser concedidas medidas urgentes no juízo de origem. • Oitiva das partes e pedidos de diligências: o relator ouvirá as partes e demais interessados, que num prazo comum de 15 dias, poderão requerer providências e juntada de documentos. No mesmo prazo se manifestará o Ministério Público. (art. 901) • Do julgamento: após a exposição do incidente pelo relator, autor e réu no processo originário e, em seguida o Ministério Público, poderão se manifestar pelo prazo de 30 minutos. Depois os demais Revista da Escola da Magistratura - nº 13 57 interessados terão 30 minutos, divididos entre todos (art. 902). O prazo para julgamento será de seis meses e terá preferência sobre os demais, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus (art. 904). • Fim da suspensão: superado o prazo de seis meses para julgamento, cessará a eficácia suspensiva do incidente, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário. 5 - Julgamento dos Recursos Extraordinários e dos Recursos Especiais Nos termos do disposto no PLS 166, as partes, os interessados, o Ministério Público e a Defensoria Pública são legitimados a requerer, nos recursos extraordinários ou Recursos especiais, a suspensão dos processos em tramitação em todo território nacional que versem sobre questão objeto do5 incidente competente. Admite-se a intervenção do amicus curiae (art. 900, § único). Esclarece o texto do projeto que o recurso extraordinário ou o recurso especial interposto pelas partes, pelo Ministério Público ou por terceiro interessado da decisão do incidente terá efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida. Por fim, mantém-se o julgamento de recurso extraordinário e Recurso especial, quando repetitivos, sempre que houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, selecionando-se um recurso representativo da controvérsia e suspendendo-se os demais, até a decisão do recurso representativo. 6 – Reclamação A decisão do incidente que julgar questão de direito será de observância obrigatória pelos demais juízes e órgãos fracionários situados no âmbito de sua competência. Não observada a tese adotada pela decisão proferida no incidente, caberá reclamação para o tribunal competente, sendo o julgamento da reclamação processado nos termos dos regimentos internos dos tribunais. (art.906) 7- Julgamento liminar dos processos O juiz rejeitará liminarmente a demanda, sem julgamento do réu se o pedido contrariar entendimento do STF ou STJ, sumulado ou adotado em julgamento de casos repetitivos de casos repetitivos. 8- Considerações finais Após uma breve apresentação dos principais aspectos atinentes ao incidente de julgamento de demandas repetitivas, verifica-se que sua proposição vem em resposta aos anseios da sociedade em relação a uma atuação judicial mais célere e efetiva. Não 58 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 obstante, após amplos debates acerca do novo texto, algumas perplexidades merecem ser pontuadas, uma vez que não apreciadas no projeto. A primeira delas diz respeito a como selecionar o processo-piloto, qual o critério de escolha a ser adotado? O mais abrangente? A tese mais representativa? E quando existirem teses remanescentes nos processos escolhidos para julgamento? Outro ponto não esclarecido, diz respeito ao efeito vinculante da decisão do incidente, pois, na forma como disciplinada a questão, parece-nos haver a criação de uma espécie de súmula vinculante não prevista constitucionalmente. Por fim, releva destacar que se não houver um controle eficiente do banco de dados relativo à suspensão dos feitos, os efeitos pretendidos não serão alcançados. Notas 1 O texto encontra-se atualmente na Câmara dos Deputados e recebeu o n. PL nº 8046/2010, tendo sido aprovado no Senado Federal. No Senado Federal O relator geral foi o Senador Valter Pereira. Na Câmara, até 26/04/2011, não houve a designação de relator. 2 Exposição de motivos do PLS 166, pág. 28. 3 Verifica- se uma tendência à superação do modelo clássico do processo civil dos séculos XVIII e XIX, centrado, sobretudo, no individualismo, pois em sociedades complexas e plurais como as contemporâneas esse modelo de processo não se apresenta como apto a dar respostas às demandas da chamada sociedade de massa. Sobre o tema preleciona Ives Gandra Martins: “Constituição de 1988 albergou, em seu art.129, III, instrumento de extrema importância para a defesa de direitos coletivos e difusos, que é a ação civil pública. Trata-se do principal veículo da coletivização do processo, em que as demandas individuais, que caracterizaram o processo tradicional, passam a se concentrarem em ações coletivas, nas quais uma associação ou o Ministério Público esgrime, em nome da coletividade, o direito genericamente lesado.O futuro aponta para o crescimento dessa modalidade processual, na medida em que o Poder Judiciário não tem condições de dar resposta célere e satisfatória a uma infinidade de ações de caráter individual e repetitivo. Assim, a concentração de demandas num único processo, para reconhecimento genérico da existência de lesão de determinado direito, em ação de caráter cominatório, permite um sensível desafogamento do Poder Judiciário. (Os Direitos fundamentais e os Direitos Sociais na Constituição de 1988 e sua defesa; Brasília, vol. 1, n. 4, agosto 1999; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/ Rev_04/direitos_fundamentais.htm) 4 O regime seguido pelos recursos repetitivos dentro do STJ, nos termos da Resolução 8/STJ, prescreve que, havendo multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria num TJ ou TRF, é facultado ao Presidente, em juízo de admissibilidade, selecionar 1 ou 2 processos que são enviados ao STJ para fixação da tese, ficando sobrestados os demais. Os paradigmas enviados ao STJ são autuados distintamente, recebendo uma capa de cor azul, seguindo trâmite diferenciado na forma do 543-C e seguintes. 5 “Termo latino que significa “amigo da corte”, refere-se a uma pessoa, entidade ou órgão, com profundo interesse em uma questão jurídica, na qual se envolve como um terceiro, que não os litigantes, movido por um interesse maior que o das partes envolvidas no processo. O amicus é amigo da corte e não das partes. Originado de leis romanas, foi plenamente desenvolvido na Inglaterra pela English Common Law e, atualmente, é aplicado com grande ênfase nos Estados Unidos (EUA). Seu papel é servir como fonte de conhecimento em assuntos inusitados, inéditos, difíceis ou controversos, ampliando a discussão antes da decisão dos juízes da corte. A função histórica do amicus curiae é chamar a atenção da corte para fatos ou circunstâncias que poderiam não ser notados.Por esse instrumento, o amicus apresenta um documento ou memorial, informando à Corte Suprema sobre determinado assunto polêmico de relevante interesse social, objeto de julgamento. Tem como objetivo não favorecer uma das partes, mas dar suporte fático e jurídico à questão sub judice, enfatizando os efeitos dessa questão na sociedade, na economia, na indústria, no meio ambiente, ou em quaisquer outras áreas onde essa discussão possa causar influências.” (Esther Maria Brighenti dos Santos. Amicus curiae:um instrumento de aperfeiçoamento nos processos de controle de constitucionalidade. WWW. Jus navegandi.com.br) —— • —— Revista da Escola da Magistratura - nº 13 59 O Juiz-Administrador * Oriana Piske de Azevedo Barbosa * Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Pós-graduação em: Teoria da Constituição; Direito do Trabalho; e Direito Civil pelo CESAP – UniCEUB. Doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino (UMSA). INTRODUÇÃO O objetivo da presente ensaio é tecer algumas reflexões sobre o juiz administrador, no desenvolvimento de uma Gestão Democrática do Poder Judiciário, que está se construindo nas últimas décadas. Nessa reflexão abordamos os seguintes aspectos: o dilema do acesso à Justiça; a nova reengenharia do processo: formas alternativas de resolução de conflito, informática e simplificação da linguagem jurídica; o juiz no Estado Democrático de Direito; o juiz e a conciliação; o juiz como administrador; e a Gestão democrática do Judiciário. Nesse panorama, procuramos delinear os desafios da magistratura contemporânea, destacando dentre eles a necessidade da concretização dos direitos de cidadania, para tanto, analisamos a nova revolução processual – mudança de mentalidade dos operadores do Direito, em especial –, do juiz-conciliador e pacificador social, na emergência dos novos direitos, que se apresentam. Examinamos a necessidade de recorrer a interdisciplinariedade, melhor dizendo – da transdiciplinariedade –, em busca das decisões mais eficazes e eficientes, seja no âmbito judicial ou administrativo. Nesse trilhar, observamos, no contexto – juiz-administrador –, que os princípios e conhecimentos da Ciência da Administração, tanto na seara pública, quanto na privada serão fundamentais para uma Gestão judiciária que prime pela qualidade de seus serviços e contribua para viabilizar o maior acesso à Justiça brasileira. Foram utilizados e manejados, para o desenvolvimento do trabalho, livros e artigos jurídicos, e de outras Ciências Sociais, ou seja, a pesquisa bibliográfica. Na conclusão, construímos uma síntese a partir das abordagens jurídicas e de Administração visando delinear o papel da magistratura brasileira no fortalecimento da cultura de Direitos humanos. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 61 1. O DILEMA DO ACESSO À JUSTIÇA O acesso à Justiça sempre foi um dilema a ser solucionado pela humanidade. Ao longo da história, observa-se que as estruturas dos Tribunais passaram a ter uma administração cada vez mais lenta e congestionada, seja, por um lado, pelo reconhecimento de um maior número de direitos, seja, de outro, pelo excesso de rigor, de formalismo e de recursos processuais gerando insatisfação e falta de confiança dos cidadãos quanto ao Poder Judiciário como instituição. É preciso que um número cada vez maior de pessoas tenha a oportunidade de chegar aos umbrais da Justiça, como um fato natural e inerente à condição da própria pessoa humana, como parte indispensável do complexo de direitos e deveres que caracteriza o viver em sociedade. Só assim se conseguirá estabelecer o acesso à ordem 1 jurídica justa. Atualmente, há uma tendência para simplificar as normas processuais, tanto no campo cível como no penal, uma vez que sem elas não será possível restabelecer a paz social rompida nos limites comportamentais das partes. As sistemáticas processuais formalistas que antes representavam etapas de garantias de direitos individuais e coletivos, para um devido processo legal, hoje, em excesso, caracterizam uma justiça tardia e inconcebível deformação de valores, conceitos e atitudes, os quais devem ser repensados e modificados para atender aos reclamos da sociedade contemporânea. A propósito, quando se almeja equacionar as dificuldades do acesso à Justiça, não se pode perder de vista que uma grande parcela da população passa ao largo da proteção jurídica, em função da situação particular em que vive, causada notadamente pela gritante diferença na distribuição da renda, criando camadas e subcamadas populacionais que vivem à margem da sociedade. Ressalte-se que, muitas vezes diante da pequenez do bem jurídico violado, quase sempre o ofendido acaba renunciando ao próprio direito por saber que a morosidade do Judiciário lhe trará mais prejuízo do que benefício. Em geral, é a camada menos favorecida da população quem sofre com as consequências mais desastrosas da dificuldade do acesso à Justiça. A falta de acesso ao Judiciário constitui um dos problemas que mais afligem a sociedade brasileira moderna. Algo em torno de 80% da nossa população é considerada carente, na acepção social e jurídica do termo, já que não pode pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família. E mesmo aqueles que reúnem condições para tais gastos, são afastados do Judiciário por variados motivos, dentre eles o longo tempo para 2 solução da demanda. Garantia maior da cidadania, um dos fundamentos do Estado o democrático (artigo 1 , inciso II, da Constituição Federal), é o acesso ao Judiciário – por sua vez um dos mais importantes direitos fundamentais elencados na Constituição (art. o 5 , incisos XXXV e LXXIV). É oportuno destacar que o Brasil, infelizmente, é um dos primeiros colocados na pesquisa do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em desigualdade social no mundo. Em nosso país, 5% dos mais ricos detém 37% do PIB e 10% dos mais ricos detém 3 56% do PIB (produto interno bruto). Outro problema que se revela preocupante são as 62 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 consequências do fenômeno da demanda reprimida oriunda de uma gama de conflitos de interesses não solucionados. A sua banalização vem gerando desestabilidade social e diversas formas de violência, visto que, sem acesso à Justiça, a sociedade busca formas alternativas de solução, nem sempre dotadas de ética e orientadas pelos caminhos legais. 2. A REENGENHARIA DO PROCESSO: FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO, INFORMÁTICA E SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM JURÍDICA o Verifica-se que a Constituição Federal, no artigo 5 , inciso XXXV, ao dispor que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito”, não pretendeu impor limitação à forma de soluções de conflitos, mas, ao contrário, implicitamente pretende possibilitar a composição dos litígios de um modo geral, mesmo que fora de seu âmbito. O Poder Judiciário caminha atualmente ao encontro de formas alternativas de resolução das demandas, por meio de instrumentos de ação social participativa. E dentro desse raciocínio, insere-se, em última ratio, toda filosofia e o próprio idealismo daqueles que estão empenhados em mudanças razoáveis e factíveis para que outras perspectivas e outros horizontes se abram para o povo em geral, especialmente para os hipossuficientes econômicos, graças à facilitação do acesso à Justiça, com a utilização de meios e instrumentos alternativos, como, v. gratia, a conciliação, a mediação e a arbitragem, com todos os desdobramentos deles derivados. Estamos passando, atualmente, por uma revolução na forma de fazer justiça, caminhando, com a reengenharia do processo, para uma modificação estrutural e funcional do Judiciário em si. Procura-se remodelar o seu perfil no sentido de adequá-lo ao da Justiça que se espera na nova era pós-industrial, que vem sendo constituída principalmente nas três últimas décadas, na qual a informática transforma o conhecimento no instrumento de satisfação das necessidades da sociedade e é ferramenta de trabalho hábil para encurtar o tempo e a distância. Esses fatores, em uma sociedade que anda à velocidade da luz e em constante competição globalizada, assumem destaque como a espinha dorsal da qualidade de todo e qualquer serviço. A Justiça, como serviço e instrumento de pacificação social, precisa comungar das idéias que estão modificando a civilização, sob pena de perder-se no tempo e no espaço. Uma dessas valorosas idéias é a simplificação da linguagem jurídica, que é um instrumento fundamental para a Justiça, que oportuniza o acesso à Justiça e contribui para a compreensão do funcionamento e da atuação do Poder Judiciário. Reconhecer a necessidade de simplificação da linguagem jurídica é um dos primeiros passos na direção da democratização e pluralização da Justiça. De outra face, é de se observar que inúmeras críticas têm sido feitas recentemente à atuação do Poder Judiciário no Brasil. Contudo, carece o Judiciário de melhores instrumentos de trabalho. A legislação nacional, além da técnica deficiente, é hoje de produção verdadeiramente caótica. Deficientes são os instrumentos dispoRevista da Escola da Magistratura - nº 13 63 níveis ao Judiciário, porque já não se aceita a verdadeira liturgia do processo, o amor desmedido pelos ritos, que quase passaram a ter fim em si mesmos, numa inversão de valores. É certo que a entrega da prestação jurisdicional não pode deixar de transitar por um processo, previamente regrado, no qual os interessados possam ser ouvidos. Trata-se de elemento essencial para a legitimação da atividade do juiz. Mas, este processo deve ser caminho de realização da Justiça desejada pelos cidadãos, não estorvo incompreensível e inaceitável. É preciso perceber que o contato diário do juiz com o jurisdicionado e a própria sociedade não enfraquece o Poder Judiciário. Ao inverso, tende a conferir-lhe maior grau de legitimidade. Com efeito, “a prestação da tutela jurisdicional não pode ser enxergada apenas como a desincumbência, por um dos componentes do Estado tripartite, de uma tarefa que lhe é ínsita. É muito mais do que isso. Além de perseguir a pacificação social, ao instante em que diz a quem pertence o direito, tem a atividade jurisdicional um plus deveras salutar: a pedagogia de mostrar aos jurisdicionados como deve ser a conduta 4 destes nas suas relações interpessoais e interinstitucionais.” Neste passo é que a Lei dos Juizados Especiais veio propiciar Justiça ágil, desburocratizada, simplificada, desformalizada e acessível a todos os cidadãos. Desta forma, os Juízes estão despertando para deixar de lado o monólogo criptografado nas suas sentenças para exercitar um diálogo compreensível que aproxime a Justiça de todos. Neste sentido, é fundamental que os Tribunais adotem uma linguagem mais compreensível; realizem campanhas de simplificação da linguagem jurídica, como a feita pela AMB; promovam cursos de atualização da linguagem jurídica que integrem uma percepção simplificadora; criem revistas que contemplem peças jurídicas que contenham exemplos de expressões substituídas por alternativas mais simples. Assim, percebemos que a necessidade de adaptar o Poder Judiciário às múltiplas demandas do mundo moderno, a premência de torná-lo mais eficiente, de definir suas reais funções, sua exata dimensão dentro do Estado Constitucional e Democrático de Direito, a incessante busca de um modelo de Judiciário que cumpra seus variados papéis de modo a atender às expectativas dos seus usuários. 3. O JUIZ NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO O Estado Constitucional de Direito caracteriza-se por ser direito e limite, direito e garantia. Cabe ao juiz assegurar o seu reconhecimento e a sua eficácia. Deve concretizar o significado dos enunciados constitucionais para, a partir deles, julgar a validade ou invalidade da obra do legislador. É na observância estrita da Constituição, assim como na sua função de garante do Estado Constitucional de Direito, que assenta, 5 o fundamento da legitimação e da independência do Poder Judiciário. Trata-se de uma revolução de envergadura. É, em suma, a substituição do Estado Legal pelo Estado de Direitos. A positivação dos direitos já não está, em última instância, nas mãos do Legislador, senão nas do Juiz, a quem cabe concretizar o significado dos 64 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 enunciados constitucionais para julgar, a partir deles, a validade ou invalidade da obra do legislador, mediante uma atuação judicial criativa e pragmática. O Estado Democrático de Direito não mais aceita uma postura omissa e passiva do Poder Judiciário. Este deixou de ser um Poder distanciado da realidade social, para tornar-se um efetivo partícipe da construção dos destinos da sociedade e do país, sendo, 6 além disso, responsável pelo bem da coletividade. A missão do juiz não se esgota nos autos de um processo, mas está, também, compreendida na defesa do regime democrático. O Judiciário enfrenta a articulação de um direito positivo, conjuntural, evasivo, transitório, complexo e contraditório, numa sociedade de conflitos crescentes, e, por isso, impõe-se a diversificação do Judiciário para atender às necessidades de controle da norma positiva. O juiz, como agente político (não partidário), deve estar atento às transformações do mundo moderno, ao aplicar o Direito, valorando os aspectos sociais, políticos e econômicos dos fatos que lhe são submetidos. Cabe ao juiz exercer a atividade recriadora do Direito através do processo hermenêutico, bem como a de adaptador das regras jurídicas às novas e constantes condições da realidade social e, com responsabilidade, deve buscar as soluções justas aos conflitos, visando à paz social. Verifica-se que a politização do juiz deriva do fato de que ele soluciona litígios aplicando normas, que são condutoras de valores e expressões de um poder político. Não existe, assim, norma neutra. Logo, se o juiz é um aplicador de normas, não existe juiz neutro. Em verdade, no marco do Estado Constitucional de Direito, a atividade política e a atividade judicial estão estreitamente unidas pelo império do Direito. Um outro aspecto da politização do juiz está no fato de que as constituições modernas contemplam normas de conteúdo poroso, a ser complementado pela práxis. E o Poder Legislativo derivado, em muitas situações, não só não se esforça para preencher o vazio, senão prima por seguir a mesma técnica da legislação aberta e indeterminada. Incapaz de solucionar alguns megaconflitos modernos, muitas vezes o legislador acaba atribuindo ao Judiciário a responsabilidade de moldar a norma final aplicável. Assim, o Judiciário não somente passou a solucionar os conflitos intersubjetivos de interesses, segundo o modelo liberal individualista, como também a atuar como órgão calibrador de tensões sociais, solucionando conflitos de conteúdo social, político e jurídico, além de implementar o conteúdo promocional do Direito contido nas normas 7 constitucionais e nas leis que consagram direitos sociais. 4. O JUIZ E A CONCILIAÇÃO Atualmente, está surgindo um modo novo de pensar a Justiça, não mais problema do Estado, mas também da sociedade, que é chamada a participar do exercício da jurisdição através da atuação de voluntários como conciliadores. Por outro lado, exige-se dos operadores do direito que saiam de seus gabinetes e procurem, em outras instituições e segmentos sociais, respostas adequadas para os problemas jurídicos, muitos deles associados a questões sociais. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 65 A comunidade, através de associações, escolas, universidades, hospitais, etc. têm papel importante na ação preventiva de atos contrários ao direito. Neste contexto, os Juizados Especiais apresentam-se como uma alternativa nova e moderna para problemas do nosso tempo, instrumentado para enfrentar os problemas que lhe são postos de acordo com o grande pilar do direito moderno que é a busca de maior eficácia às garantias dos Direitos fundamentais do cidadão, mediante suas práticas simplificadoras. Neste panorama, os conciliadores passam a ser fundamentais para o bom desempenho dos Juizados Especiais e da Justiça como um todo. A presença e a atuação constante dos conciliadores permite uma inequívoca agilidade e dinamismo processual com a efetiva solução de um número extraordinário de demandas contribuindo para a eficiência da Justiça. Afinal, como conciliar? O dia-a-dia, a experiência dos casos concretos, o tirocínio de cada um e as técnicas de mediação e composição já consagradas na teoria levarão à resposta. Os conciliadores dirigem com a supervisão do Juiz o ato processual conciliatório sendo que ficam investidos da imparcialidade, equidistância e, principalmente, da ponderação de agir e de proceder com reflexão, pois conciliador e árbitro falam em nome da Justiça que deve, antes de tudo, prevenir e promover o bem-comum. Os conciliadores devem ter conhecimento da matéria, de fato e de direito, objeto do conflito. Necessário mostrar os riscos do processo, na hipótese de não haver acordo e, principalmente, as vantagens da conciliação. O juiz leigo e o conciliador são funções relevantes que contribuem com a sua participação para a racionalização da Justiça. O conciliador deve garantir às partes que a discussão proporcione um acordo fiel e justo ao direito da comunidade em que vivem. É, o terceiro neutro, que deve ter conhecimento jurídico e técnico necessário para o bom desenvolvimento do processo; sua função é a de restabelecer a comunicação entre as partes, conduzindo as negociações quanto à maneira mais conveniente a portarem-se perante o curso do processo com o objetivo de obterem a sua efetiva concretização. O interesse pela conciliação e a importância de que as vias conciliativas se revestem na sociedade contemporânea foram considerados pelo legislador no sentido de que a conciliação, é mais uma dessas relevantes alternativas. Portanto, é fundamental que o juiz seja, antes de tudo, um conciliador e um pacificador social. Nesta tarefa, o juiz deve recorrer a interdisciplinariedade, melhor dizendo – a transdiciplinariedade –, em busca das decisões mais justas, efetivas e eficientes –, seja no contexto judicial ou administrativo, vez que os fenômenos humanos devem ser compreendidos numa perspectiva única, globalizada. Segundo o professor Ubiratan D’Ambrósio, A transdisciplinariedade procura superar a organização disciplinar encarando sempre fatos e fenômenos como um todo. Naturalmente, não se nega a importância do tratamento disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar para se conhecer detalhes dos fenômenos. Mas a análise disciplinar, inclusive a multi e a interdisciplinar, será sempre subordinada ao fato e ao fenômeno como um todo, com todas as suas implicações e inter-relações, em nenhum instante perdendo-se a percepção e a reflexão da totalidade. As propostas da visão holística, da complexidade, da sinergia e, em geral, 66 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 a busca de novos paradigmas de comportamento e conhecimento são típicas da busca 8 transdisciplinar do conhecimento. É preciso acreditar nessa visão e utilizar os diversos referenciais teóricos trazidos pelos profissionais advindos da Psicologia, do Serviço Social, da Antropologia, e demais Ciências Sociais, além das abordagens sistêmica, psicanalítica e da teoria de resolução de conflitos a fim de não perder a riqueza que a diversidade de conhecimentos oferece ao desenvolvimento desse trabalho humanístico em prol da dignidade da pessoa humana da construção de uma cultura de efetivação da cidadania. De outra face, é fundamental que o juiz, sem comprometer sua imparcialidade, tenha um compromisso marcado com a racionalização dos serviços judiciários, com o atendimento ao público e aos advogados, e com um diálogo próximo aos demais órgãos públicos, entidades de classe e com outros âmbitos da sociedade civil. A interdisciplinariedade é, sem dúvida, fator marcante na racionalização dos serviços prestados pelo Judiciário, na medida em que possibilita agregar o conhecimento jurídico ao de outras Ciências, permitindo a otimização de métodos de gerenciamento do serviço judiciário, objetivando práticas mais eficazes e eficientes. Nesse trilhar, observamos que os princípios e conhecimentos da Ciência da Administração, tanto na seara pública, quanto na privada serão, certamente, fundamentais para uma gestão judiciária que prime pela qualidade de seus serviços e contribua para viabilizar o maior acesso à Justiça brasileira, como veremos a seguir. 5. O JUIZ ADMINISTRADOR Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, constantes na Carta Constitucional, no art. 37, deverão orientar a administração pública direta e indireta de quaisquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a fim de dar fiel aplicação à nova ordem jurídica constitucional que visa assegurar a defesa e o equilíbrio entre os interesses públicos, individuais e coletivos. A atividade administrativa pública é o exercício da função, ou seja, o cumprimento obrigatório do “dever jurídico funcional” de acertar, ante a ocorrência do caso 9 concreto, a medida tendente a alcançar da melhor forma possível a finalidade da lei. Por conseguinte, o administrador público deverá observar com rigor os aludidos princípios insculpidos na Constituição Federal, simultaneamente com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e os princípios gerais de Direito, bem como a finalidade da lei, como condição para a validade e legitimidade de seus atos. De outra banda, impõe-se a adoção de conduta administrativa pública em harmonia com os termos e requisitos estabelecidos na norma, a fim de resguardar os princípios democráticos. Os princípios constitucionais da administração pública encontram-se em consonância com os princípios basilares éticos da administração como um todo, posto que ambos têm como escopo desenvolver, respectivamente, atividades e relações que promovam o progresso social-econômico do Estado e da sociedade. Ressalte-se que os princípios constitucionais da administração pública apresentam-se, ainda, como Revista da Escola da Magistratura - nº 13 67 valioso critério de atuação e desempenho, seja nos atos administrativos, legislativos 10 ou judiciais. Desta forma, ao administrador público compete o dever de bem administrar. Não seria diferente a responsabilidade do juiz-administrador no Poder Judiciário. No que concerne aos princípios gerais da Administração, estes permitem que o administrador possa bem exercer as suas funções. Neste sentido, é a abalizada assertiva de Idalberto Chiavenato: O administrador deve obedecer a certas normas ou regras de comportamento, isto é, a princípios gerais que lhe permitam bem desempenhar as suas funções de planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Daí surgirem os chamados princípios gerais de Administração ou simplesmente princípios de Administração, desenvolvidos por quase todos os autores clássicos, como normas ou leis capazes de resolver os problemas organizacionais. Contudo, a colocação dos princípios mostra algumas divergências entre os autores clássicos. Fayol chegou a 11 coletar cerca de quatorze princípios. O rol de princípios gerais da administração sistematizados por Henri Fayol são: 1. Divisão do trabalho: consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. 2. Autoridade e responsabilidade: autoridade é o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. 3. Disciplina: depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. 4. Unidade de comando: cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. 5. Unidade de direção: uma cabeça e um plano para cada grupo de atividades que tenham o mesmo objetivo. 6. Subordinação dos interesses individuais aos interesses gerais: os interesses gerais devem sobrepor-se aos interesses particulares. 7. Remuneração do pessoal: deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. 8. Centralização: refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. 9. Cadeia escalar: é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo. É o princípio do comando. 10. Ordem: um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana . 11. Equidade: amabilidade e justiça para alcançar lealdade do pessoal. 12. Estabilidade do pessoal: a rotatividade tem um impacto negativo sobre a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer num cargo, tanto melhor. 68 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 13. Iniciativa: a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. 14. Espírito de equipe: harmonia e união entre as pessoas são grandes 12 forças para a organização. Esta enumeração de princípios da Administração realizada por Henri Fayol – fundador da Teoria Clássica da Administração – demonstra sua visão universal e global da empresa. Verifica-se, neste contexto, que os referidos princípios gerais da administração encontram-se em sintonia com os princípios constitucionais constantes no art. 37 da Constituição brasileira de 1988. Assim, são parâmetros orientadores para a ação dos administradores públicos e privados, por serem linhas de conduta a serem seguidas pelos mesmos. Com efeito, entendemos que esta abordagem principiológica revela a compatibilidade das disposições, dos princípios e da filosofia de ação tanto da administração pública quanto da privada. Os indivíduos, os administradores são, também, como o Estado, agentes que devem orientar suas ações de acordo com os princípios gerais constitucionais da atividade. O administrador é capaz de exercer uma notável influência nos vários âmbitos sociais e econômicos, como destaca Chiavenato: é ele um agente de mudança e de transformação das empresas, levando-as a novos rumos, novos processos, novos objetivos, novas estratégias, novas tecnologias; é ele um agente educador no sentido de que, com sua direção e orientação, modifica comportamentos e atitudes das pessoas; é ele um agente cultural na medida em que, com o seu estilo de Administração, modifica a cultura organizacional existente nas empresas. Mais do que isso, o administrador deixa marcas profundas na vida das pessoas, à medida que lida com elas e com seus destinos dentro das empresas e à medida que sua atuação na empresa influi no comportamento dos consumidores, 13 fornecedores, concorrentes e demais organizações humanas. (grifo nosso) Assim, verifica-se que o papel do administrador público e privado é fundamental pois, à medida que desenvolve uma postura ética, manifesta atenção aos princípios atinentes à administração e às disposições constitucionais que velam por uma sociedade mais justa e equânime. Portanto, para realizar uma boa gestão administrativa, o administrador precisa considerar a pauta de cidadania que a Constituição Federal de 1988 expressa. 6. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO PODER JUDICIÁRIO O Judiciário contemporâneo não pode se propor a exercer função apenas jurídica, técnica, secundária, mas deve exercer papel ativo, inovador da ordem jurídica e social, visto que é chamado a contribuir para a efetivação dos direitos sociais, procurando dar-lhes sua real densidade e concretude. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 69 Desta forma, o Poder Judiciário brasileiro depara-se, nos últimos tempos, com o desafio da concretização dos direitos de cidadania mediante adoção de uma gestão democrática. Para tamanho desafio, não há fórmula pronta. É preciso estar sempre disposto para essa luta. É importante não esmorecer ante a adversidade do volume de serviço crescente, mas recusar-se a entregar uma jurisdição de papel, alienada, sem a necessária e profunda reflexão sobre os valores em litígio, em que as partes sejam vistas somente como números. É preciso que os juízes tenham o propósito de realizar uma jurisdição que proporcione pacificação social. É preciso reconhecer que a maior parte dos brasileiros ainda não tem acesso à Justiça e que é preciso reverter esse débito de cidadania. Neste panorama, verifica-se que a Gestão Democrática do Poder Judiciário será fator determinante no sentido de garantir a concretização dos direitos de cidadania, mediante uma prestação jurisdicional célere, eficiente e eficaz. O Poder Judiciário possui vários gestores – magistrados, servidores – Diretores de Secretaria, etc., os quais, nesta Gestão Democrática, competem colocar em prática o objetivo angular do Poder Judiciário – a entrega da prestação jurisdicional de forma eficiente. Para Sidnei Agostinho Beneti: O juiz deve ser encarado como um gerente de empresa, de um estabelecimento. Tem sua linha de produção e o produto final, que é a prestação jurisdicional. Tem de terminar o processo, entregar a sentença e a execução. Como profissional de produção, é imprescindível mantenha ponto de vista gerencial, aspecto da atividade judicial que tem sido abandonado. É falsa a separação estanque entre as funções de julgar e de dirigir o processo – que implica orientação ao cartório. (...) Como um gerente, o juiz tem seus instrumentos, assim como um fabricante os seus recursos. São o pessoal do cartório, as máquinas de que dispõe, os impressos. É o lugar em que trabalha; são os carimbos, as cadeiras, o espaço da sala de audiências e de seu gabinete; são a própria caneta, a máquina de escrever, o fluxo de 14 organização dos serviços e algumas coisas imateriais . Nessa Gestão Democrática é fundamental desenvolver estratégias visando o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis; a padronização eficiente dos procedimentos judiciais e cartorários. Para tanto, deve-se verificar: os recursos materiais (Inventário) e humanos disponíveis (quantitativo e qualitativo); as necessidades imediatas e tomada de ações pertinentes; os serviços a serem executados no cartório; a distribuição de atividades atendendo ao perfil do servidor o qual deve ser capacitado para este fim. É importante realizar: fluxograma – Detalhamento dos procedimentos a serem executados; o compartilhamento de idéias para aprimorar os procedimentos com uma visão global do processo, com envolvimento, motivação e comprometimento da equipe (Juiz, Diretor, Oficial de Gabinete, Secretário, Servidores e Estagiários); a criação de andamentos racionalizados e otimizados à real situação dos processos; o posicionamento 70 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 estratégico dos escaninhos; a organização dos documentos de juntada, os quais devem ser selecionados por categorias (petições, mandados cíveis, criminais, ofícios e Ar’s) e juntados diariamente; a criação e manutenção das pastas imprescindíveis. É necessária a racionalização da expedição com a criação de rotinas simplificadas que concentrem informações imprescindíveis, como exemplo, nos Juizados Especiais – do ato citatório constar a data e a hora da audiência de conciliação, instrução e julgamento, número máximo de testemunhas, da obrigatoriedade de presença pessoal das partes em audiência, necessidade das partes informarem as alterações de endereço, sob pena de reputarem–se eficazes as que forem expedidas nos endereços constantes nos autos. É importante a designação de servidor com linha direta com o Diretor de Secretaria para coordenação da sala de conciliação; a análise processual do Juiz com fito de suprimir diligências prescindíveis, tais como: intimações sem observância do art. 19 caput e §2º da Lei nº 9.099/95; condenação em custas processuais em valores inexeqüíveis; conclusões desnecessárias, para tanto, baixando portaria delegando a execução de atos de mero expediente aos Diretores de Secretaria; a implementação de Pauta una de Conciliação, Instrução e Julgamento. È indispensável que em curto, médio e longo prazo seja feita avaliação de todos os aspectos acima elencados e o estabelecimento de novas metas a cada ano. Assim, a Gestão Democrática do Judiciário dar-se-á mediante planos estratégicos e operacionais mais eficazes para atingir os objetivos propostos; com a concepção de estruturas e estabelecimento de regras, políticas e procedimentos mais adequadas aos planos desenvolvidos; implementação, coordenação e execução desses planos mediante o comando e o controle dessas ações. Portanto, essa gestão, mediante o envolvimento diuturno de todas as pessoas ligadas a esse processo, deve ser volvida para a excelência do serviço prestado pelo Poder Judiciário. CONCLUSÕES A sociedade vem clamando uma postura cada vez mais ativa do Judiciário, não podendo este ficar distanciado dos debates sociais, devendo assumir seu papel de partícipe no processo evolutivo das nações. Eis que é também responsável pelo bem comum, notadamente em temas como a dignidade da pessoa humana, a redução das desigualdades sociais e a defesa dos direitos de cidadania. O juiz contemporâneo deve estar atento às transformações do mundo moderno, porque, ao aplicar o Direito, não pode desconhecer os aspectos sociais, políticos e econômicos dos fatos que lhe são submetidos. Cabe ao juiz exercer a atividade recriadora do Direito através do processo hermenêutico, bem como adaptar as regras jurídicas às novas e constantes condições da realidade social e, com responsabilidade, deve buscar soluções justas, eficazes e eficientes. Neste mister, temos que a prestação jurisdicional deve ser exercida como instrumento de pacificação social e afirmação da cidadania, o que é facilmente verificado quando da ocorrência de sua aplicação célere e justa, consubstanciando-se, dessa forma, como um poderoso instrumento a serviço da população. Esta sim, é a razão primordial da existência do Poder Judiciário. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 71 Dentro do sistema jurídico-constitucional vigente, deve a Magistratura desempenhar as seguintes funções básicas: solução de litígios, controle da constitucionalidade das leis, tutela dos direitos fundamentais e garante da preservação e desenvolvimento do Estado Constitucional e Democrático de Direito contemplado na Constituição de 1988. Mas para que cumpra suas funções a Magistratura deve ser independente, responsável e criativo. O Judiciário enfrenta a articulação de um direito positivo, conjuntural, evasivo, transitório, complexo e contraditório, numa sociedade de conflitos crescentes, e, por isso, impõe-se a diversificação do Judiciário para atender às necessidades de controle da norma positiva. Por outro lado, o Poder Legislativo derivado, em muitas situações, não só não se esforça para preencher o vazio, senão prima por seguir a mesma técnica da legislação aberta e indeterminada. Incapaz de solucionar alguns megaconflitos modernos, muitas vezes o legislador acaba atribuindo ao Judiciário a responsabilidade de moldar a norma final aplicável. Assim, o Judiciário não somente passou a solucionar os conflitos intersubjetivos de interesses, segundo o modelo liberal individualista, como também a atuar como órgão calibrador de tensões sociais, solucionando conflitos de conteúdo social, político e jurídico, além de implementar o conteúdo promocional do Direito contido nas normas constitucionais e nas leis que consagram direitos sociais, visando permitir o acesso 15 pleno e eficaz à Justiça. O acesso à Justiça sempre foi um dilema a ser solucionado pela humanidade. Ao longo da história, observa-se que as estruturas dos Tribunais passaram a ter uma administração cada vez mais lenta e congestionada, seja, por um lado, pelo reconhecimento de um maior número de direitos, seja, de outro, pelo excesso de rigor, de formalismo e de recursos processuais gerando insatisfação e falta de confiança dos cidadãos quanto ao Poder Judiciário como instituição. É preciso que um número cada vez maior de pessoas tenha a oportunidade de chegar aos umbrais da Justiça, como um fato natural e inerente à condição da própria pessoa humana, como parte indispensável do complexo de direitos e deveres que caracteriza o viver em sociedade. Só assim se conseguirá estabelecer o acesso à ordem 16 jurídica justa. As sistemáticas processuais formalistas que antes representavam etapas de garantias de direitos individuais e coletivos, para um devido processo legal, hoje, em excesso, caracterizam uma justiça tardia e inconcebível deformação de valores, conceitos e atitudes, os quais devem ser repensados e modificados para atender aos reclamos da sociedade contemporânea. O Poder Judiciário caminha atualmente ao encontro de formas alternativas de resolução das demandas, por meio de instrumentos de ação social participativa. E dentro desse raciocínio, insere-se, em última ratio, toda filosofia e o próprio idealismo daqueles que estão empenhados em mudanças razoáveis e factíveis para que outras perspectivas e outros horizontes se abram para o povo em geral, especialmente para os hipossuficientes econômicos, graças à facilitação do acesso à Justiça, com a utilização de meios e instrumentos alternativos, como, v. gratia, a conciliação, a mediação e a arbitragem, com todos os desdobramentos deles derivados. 72 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Estamos passando, atualmente, por uma revolução na forma de fazer justiça, caminhando, com a reengenharia do processo, para uma modificação estrutural e funcional do Judiciário em si. Procura-se remodelar o seu perfil no sentido de adequá-lo ao da Justiça que se espera na nova era pós-industrial, que vem sendo constituída principalmente nas três últimas décadas, na qual a informática transforma o conhecimento no instrumento de satisfação das necessidades da sociedade e é ferramenta de trabalho hábil para encurtar o tempo e a distância. Esses fatores, em uma sociedade que anda à velocidade da luz e em constante competição globalizada, assumem destaque como a espinha dorsal da qualidade de todo e qualquer serviço. A Justiça, como serviço e instrumento de pacificação social, precisa comungar das idéias que estão modificando a civilização, sob pena de perder-se no tempo e no espaço. Uma dessas valorosas idéias é a simplificação da linguagem jurídica, que é um instrumento fundamental para a Justiça, que oportuniza o acesso à Justiça e contribui para a compreensão do funcionamento e da atuação do Poder Judiciário. Reconhecer a necessidade de simplificação da linguagem jurídica é um dos primeiros passos na direção da democratização da Justiça. De outra face, é de se observar que inúmeras críticas têm sido feitas recentemente à atuação do Poder Judiciário no Brasil. Contudo, carece o Judiciário de melhores instrumentos de trabalho. A legislação nacional, além da técnica deficiente, é hoje de produção verdadeiramente caótica. Deficientes são os instrumentos disponíveis ao Judiciário, porque já não se aceita a verdadeira liturgia do processo, o amor desmedido pelos ritos, que quase passaram a ter fim em si mesmos, numa inversão de valores. É certo que a entrega da prestação jurisdicional não pode deixar de transitar por um processo, previamente regrado, no qual os interessados possam ser ouvidos. Trata-se de elemento essencial para a legitimação da atividade do juiz. Mas, este processo deve ser caminho de realização da Justiça desejada pelos cidadãos, não estorvo incompreensível e inaceitável. Assim, percebemos a necessidade de adaptar o Poder Judiciário às múltiplas demandas do mundo moderno, a premência de torná-lo mais eficiente, de definir suas reais funções, sua exata dimensão dentro do Estado Constitucional e Democrático de Direito, a incessante busca de um modelo de Judiciário que cumpra seus variados papéis de modo a atender às expectativas dos seus usuários. Atualmente, está surgindo um modo novo de pensar a Justiça, não mais problema do Estado, mas também da sociedade, que é chamada a participar do exercício da jurisdição através da atuação de voluntários como conciliadores. A presença e a atuação constante dos conciliadores permite uma inequívoca agilidade e dinamismo processual com a efetiva solução de um número extraordinário de demandas contribuindo para a eficiência da Justiça. A comunidade, através de associações, escolas, universidades, hospitais, etc., também, têm papel importante na ação preventiva de atos contrários ao direito. Por outro lado, exige-se dos operadores do direito que saiam de seus gabinetes e procurem, em outras instituições e segmentos sociais, respostas adequadas para os problemas jurídicos, muitos deles associados a questões sociais. Portanto, é fundamental que o juiz seja, antes de tudo, um conciliador e um pacificador social. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 73 Nesta tarefa, o juiz deve recorrer a interdisciplinariedade, melhor dizendo – a transdiciplinariedade –, em busca das decisões mais efetivas e eficientes –, seja no contexto judicial ou administrativo, vez que os fenômenos humanos devem ser compreendidos numa perspectiva única, globalizada. De outra face, é fundamental que o juiz, sem comprometer sua imparcialidade, tenha um compromisso marcado com a racionalização dos serviços judiciários, com o atendimento ao público e aos advogados, e com um diálogo próximo aos demais órgãos públicos, entidades de classe e com outros âmbitos da sociedade civil. A interdisciplinariedade é, sem dúvida, fator marcante na racionalização dos serviços prestados pelo Judiciário, na medida em que possibilita agregar o conhecimento jurídico ao de outras Ciências, permitindo a otimização de métodos de gerenciamento do serviço judiciário, objetivando práticas mais eficazes e eficientes. Nesse trilhar, observamos que os princípios e conhecimentos da Ciência da Administração, tanto na seara pública, quanto na privada serão, certamente, fundamentais para uma gestão judiciária que prime pela qualidade de seus serviços. Os princípios constitucionais da administração pública encontram-se em consonância com os princípios basilares éticos da administração como um todo, posto que ambos têm como escopo desenvolver, respectivamente, atividades e relações que promovam o progresso social-econômico do Estado e da sociedade. Ressalte-se que os princípios constitucionais da administração pública apresentam-se, ainda, como valioso critério de atuação e desempenho, seja nos atos adminis17 trativos, legislativos ou judiciais. Desta forma, ao administrador público compete o dever de bem administrar. Não seria diferente a responsabilidade do juiz-administrador e do juiz-gestor no Poder Judiciário. O Judiciário possui vários gestores – magistrados, servidores – Diretores de Secretaria, etc., os quais, nesta Gestão Democrática, competem colocar em prática o objetivo angular do Poder Judiciário – a entrega da prestação jurisdicional de forma eficiente. Nessa Gestão Democrática é fundamental desenvolver estratégias visando o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis; a padronização eficiente dos procedimentos judiciais e cartorários. Assim, a Gestão Democrática do Poder Judiciário dar-se-á mediante planos estratégicos e operacionais mais eficazes para atingir os objetivos propostos; com a concepção de estruturas e estabelecimento de regras, políticas e procedimentos mais adequadas aos planos desenvolvidos; implementação, coordenação e execução desses planos mediante o comando e o controle dessas ações. Desta forma, o Poder Judiciário brasileiro depara-se, nos últimos tempos, com o desafio da concretização dos direitos de cidadania mediante adoção de uma gestão democrática que prime pela excelência de seus serviços e que viabilize o maior acesso à Justiça brasileira. Lembramos, que é importante reconhecer que a maior parte dos brasileiros ainda não tem acesso pleno à Justiça e que é preciso reverter esse débito de cidadania. Neste panorama, verifica-se que a Gestão Democrática do Poder Judiciário será fator determinante no sentido de garantir a implementação dos direitos sociais, mediante a transdisciplinariedade e a interdisciplinariedade, objetivando, diuturnamente, uma prestação jurisdicional célere, eficiente e eficaz; contribuindo para o fortalecimento da cultura da plenitude dos direitos humanos. 74 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral da cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias constitucionais e processuais. São Paulo: Saraiva, 1995. BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. São Paulo: Saraiva, 1997. CAPPELETTI, Mauro. Dimensioni della giustizia nelle societa contemporanee, Bolonha II Mulino, 1994. CARVALHO, Ivan Lira de. Eficácia e democracia na atividade judicante. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, v. 171, jul./ago. 1999, p. 53-63. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. DALARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Paz ética e educação: uma visão transdisciplinar. Caderno Técnico de Metodologias e Técnicas do Serviço Social, Brasília: SESI-DN, n. 23, 1996, p. 44-50. DIAS, Rogério A. Correia. Administração da Justiça: a gestão pela qualidade total. Campinas, SP: Millennium Editora, 2004. FAYOL, Henri. Administração industrial e geral. São Paulo: Atlas, 1950. Segunda parte, cap. I. FERNANDES, Raimundo Nonato. Justiça e Ideologia. Revista do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Natal, v. 19-24, n.1, 1965, p. 12. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 4. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. FRIGINI, Ronaldo. Comentários à Lei de Pequenas Causas. São Paulo: Livraria e Editora de Direito, 1995. GOMES, Luís Flávio. A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. LEAL FILHO, José Garcia. Gestão estratégica participativa. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2007. MARQUES, Luiz Guilherme. A Psicologia do juiz. Disponível em: http:/www.apriori. com.br/cgi/for/viewtopic.php?t= 775. Acesso em: 09/11/2005. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da constitucionalidade do processo legislativo. São Paulo: Dialética, 1998. ________.Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999. MORAES, Silvana Campos. Juizados de Pequenas Causas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. POGREBINSCHI, Thamy. Ativismo judicial e Direito: considerações sobre o debate contemporâneo. Direito, Estado e Sociedade, v. 9, n. 17, ago./dez. 2000, p. 121-143. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 75 SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiro dos Juizados Especiais Cíveis. Rio de Janeiro: Destaque, 1997. TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O juiz seleção e formação do magistrado no mundo contemporâneo. Belo Horizonte Del Rey, 1999. VASCONCELOS, Pedro Carlos Bacelar de. Teoria geral do controlo jurídico do poder público. Lisboa: Cosmos, 1996. RESUMO O presente ensaio analisou o juiz-administrador no desenvolvimento de uma Gestão Democrática do Poder Judiciário, que está se construindo nas últimas décadas. Nessa reflexão abordamos os seguintes aspectos: o dilema do acesso à Justiça; a nova reengenharia do processo: formas alternativas de resolução de conflito, informática e simplificação da linguagem jurídica; o juiz no Estado Democrático de Direito; o juiz e a conciliação; o juiz como administrador; e a Gestão democrática do Judiciário. Nesse panorama, procuramos delinear os desafios da magistratura contemporânea, destacando dentre eles a necessidade da concretização dos direitos de cidadania, para tanto, analisamos a nova revolução processual, – mudança de mentalidade dos operadores do Direito, em especial –, do juiz-conciliador e pacificador social, na emergência dos novos direitos, que se apresentam. Examinamos a necessidade de recorrer à transdiciplinariedade, em busca das decisões mais eficazes e eficientes, seja no âmbito judicial ou administrativo. Nesse trilhar, observamos, no contexto – juiz-administrador –, que os princípios e conhecimentos da Ciência da Administração, tanto na seara pública, quanto na privada serão fundamentais para uma Gestão judiciária que prime pela qualidade de seus serviços e contribua para viabilizar o maior acesso à Justiça brasileira. Foram utilizados e manejados, para o desenvolvimento do trabalho, livros e artigos jurídicos, e de outras Ciências Sociais, ou seja, a pesquisa bibliográfica. Na conclusão, construímos uma síntese a partir das abordagens jurídicas e de Administração visando delinear o papel da magistratura brasileira no fortalecimento da cultura de Direitos Humanos. Palavras-chave: juiz-administrador, gestão democrática, Justiça eficiente. Notas 1 3 4 MORAES, Silvana Campos. Juizados de Pequenas Causas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 33. SALOMÃO, Luis Felipe. Roteiro dos Juizados Especiais Cíveis. Rio de Janeiro: Destaque, 1997. p. 24. Idem, ibidem. CARVALHO, Ivan Lira de. Eficácia e democracia na atividade judicante. Revista Trimestral de Jurisprudência dos Estados, v. 171, jul./ago. 1999, p. 53-63. 5 GOMES, Luís Flávio, A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 116-117. 2 76 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 6 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O juiz: seleção e formação do magistrado no mundo contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 1999. p. 182. GOMES, Luís Flávio, A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 47. 8 D’AMBRÓSIO, Ubiratan. Paz ética e educação: uma visão transdisciplinar. Caderno Técnico de Metodologias e Técnicas do Serviço Social, Brasília: SESI-DN, n. 23, 1996, p. 44-50. 9 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. 10 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999. 11 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 115-116. 12 Apud, CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 106-107. 7 13 CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 5 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999, p. 15. BENETI, Sidnei Agostinho. Da conduta do juiz. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 12. 15 GOMES, Luís Flávio, A dimensão da magistratura no Estado Constitucional e Democrático de Direito: independência judicial, controle judiciário, legitimação da jurisdição, politização e responsabilidade do juiz. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997. p. 47. 16 MORAES, Silvana Campos. Juizados de Pequenas Causas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 33. 17 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: Dialética, 1999. 14 —— • —— Revista da Escola da Magistratura - nº 13 77 O Dever de Informar nas Relações de Consumo Atalá Correia Juiz de Direito I. Introdução. O objeto do presente artigo é a análise do dever de informar, suas características no âmbito da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, o assim chamado Código de Defesa do Consumidor (“CDC”). II. A Liberdade Contratual e seus Limites. Foi com o iluminismo cultural que a sociedade ocidental procurou desvincular-se de um determinismo religioso teocentrista que predominava até os fins da Idade Média. Apenas a razão haveria de ser pautar o agir humano, sendo que alguns direitos eram naturais ao homem, podendo ser deduzidos racionalmente e preexistentes ao Estado. Entre tais direitos encontrava-se a liberdade, irrestrita num estado natural, mas restrita no estado de direito apenas e tão somente nos termos impostos pelo contrato social. Mas a liberdade não designava apenas um valor positivo que devesse ser respeitado e alcançado. Pelo contrário, a liberdade no início da idade moderna tinha um conteúdo descritivo claro, qual seja, a capacidade dos homens em ditar o seu próprio destino ou sua própria conduta. A liberdade contratual é vista, portanto, como assente na dignidade humana. Um dos precursores desta visão de liberdade como autodeterminação, em oposição ao determinismo religioso onipresente no decorrer da idade medida, foi Giovanni Pico della Mirandola, que em sua famosa obra “Oratio. De Hominis Dignitate” assim trata do tema: “Ó suprema liberalidade de Deus Pai, ó suprema e admirável felicidade do homem! Ao qual é dado de obter aquilo que deseja, de ser aquilo que quer. Os brutos, ao nascer, trazem consigo, no seio Revista da Escola da Magistratura - nº 13 79 materno, tudo o que terão. Os espíritos superiores, ou desde o início, ou pouco depois, foram aquilo que serão nos séculos dos séculos. No homem nascente, o Pai colocou sementes e germes de toda e qualquer vida. E conforme cada um os houver cultivado, eles crescerão e darão nele os seus frutos. E se forem vegetais, será planta; se forem sensíveis, será bruto; se racionais, tornar-se-á animal celeste; se intelectuais, será anjo e filho de Deus. Mas se, não contente com a sorte de nenhuma criatura, ele se recolher no centro de sua unidade, feito um só espírito com Deus, na solitária escuridão do Pai, aquele que foi colocado sobre todas as coisas estará sobre todas as coisas” (De Hominis Dignitate, 131r-131-v, Ed. E. Garin, Vallecchi ed. Firenze, 1942, pp. 104/107 – apud CZERNA, Renato Cirell. Justiça e História. Ensaios. São Paulo: Edusp, 1987, p. 13), Na visão de Pico os homens gozam de liberdade para escolher entre serem “brutos”, “vegetais” ou “animais celestes”. E aí a liberdade não pode ser compreendida apenas como a autodeterminação, mas também como responsabilidade ou assunção de riscos pela escolha realizada. Se Deus teria dado dons (“sementes e germes”) aos 1 homens, fazê-los frutificar, ou não, seria legado à, e resultado da, escolha humana . Assim, o racionalismo característico do iluminismo leva à conclusão de que a liberdade é universal, porque verdadeiro direito natural, sendo que todos os homens teriam a capacidade de se autodeterminar. Consequentemente, todos os homens teriam a capacidade de ser responsabilizados pelas condutas que livremente realizaram. Esta responsabilização, note-se, rapidamente deixou de ser apenas fática e passou a ser também deôntica ou jurídica. Se o Estado salvaguardava a liberdade individual, os indivíduos haveriam de ser responsabilizados perante o Estado pelo exercício de sua liberdade além dos limites legais. Por isto, desde o advento do iluminismo até a Segunda Guerra Mundial, época em que também prevaleceu a doutrina do liberalismo econômico, o contratual foi entendido como sinônimo de justo. O contrato correspondia a regras de conduta ditadas por aquele que as haveria de cumprir, ou seja, correspondia ao autoestabelecimento de regras jurídicas. Nenhuma obrigação contratual poderia ser imposta contra a vontade daquele que seria vinculado. Pressupunha-se que as pessoas de um modo geral fossem livres, porque dotadas de capacidade de se autodeterminar. E a responsabilidade contratual, porque advinda da liberdade, seria a exata medida da justiça. A racionalização e a abstração que lhe é particular levaram, assim, a sociedade moderna a obnublar diferenças ou desigualdades particulares. Isto é, a racionalização típica do iluminismo pressupõe a liberdade como algo natural, ou imanente ao ser humano. Mas não se pode olvidar que nem todos terão a mesma capacidade de ditar o seu destino. A liberdade não é irrestrita. Pressupô-la assim seria admitir o irreal. É por isto que o homem não é livre para realizar algo que está além de suas capacidades, como caminhar sobre a água. É a capacidade, portanto, que dita a medida de liberdade. Quanto mais capaz, mais livre. E se faticamente nem todos os homens são dotados da mesma capacidade 80 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 (econômica, de discernimento, de compreensão, de realização de seus atos, etc), nem todos serão igualmente livres para pactuar aquilo que bem desejarem. A história tratou de expor estas incongruências do pensamento liberal. Durante todo o decorrer do século passado a iniquidade do pressuposto de uma igualdade formal e do dogma da vontade livre dos contratantes acabou sendo revelada. Com efeito, a expansão de uma ordem econômica predominantemente capitalista possibilitou uma concentração de riquezas sem precedentes na história. Tais riquezas concentram-se justamente nas mãos daqueles que exploravam uma atividade econômica de forma profissional e organizada, ou seja, os empresários. Eram estes empresários quem contratavam com empregados e consumidores, que não detinham nada mais que sua força de trabalho e a necessidade de sobrevivência. É neste sentido que inúmeros trabalhadores foram obrigados a trabalhar por longas jornadas de trabalho apenas porque não tinham capacidade econômica (e social) de buscar trabalho mais ameno ou de sobreviver de outra forma. Igualmente, inúmeros foram os consumidores que adquiram produtos que lhes eram lesivos por não ter a capacidade de compreender os riscos que tal aquisição implicaria nem capacidade de utilizá-los de forma correta. O avanço das tecnologias veio, da mesma forma, contradizer o pressuposto de igualdade que fora imaginado pela sociedade liberal. Cada vez mais os produtos passaram a ser resultado de uma longa e complexa cadeia de produção, sendo que só o empresário poderia conhecer perfeitamente o produto ou serviço por ele desenvolvido. Ao adquirente do produto/serviço restaria apenas acreditar no que lhe fora informado pelo vendedor. Da mesma forma, a técnica ou tecnologia de venda desenvolveu-se de forma excepcional. A publicidade, entre outras técnicas ou tecnologias de venda, passou a criar no consumidor a necessidade de adquirir este ou aquele produto, ou seja, a convencer as pessoas a adquirir determinado produto ou serviço. E a própria hiper-especialização profissional acaba contribuindo para esta necessidade de consumo, pois atualmente ninguém é autossuficiente. Ou se consome, ou se está fadado à indigência. O ato de adquirir deixou de ser, consequentemente, voluntário e livre, como supunha a ótica liberal. Na sociedade contemporânea não há lugar para a liberdade de não consumir, sendo praticamente inviável imaginar que alguém possa sobreviver sem energia elétrica, por exemplo. Isto equivale a dizer que atualmente as pessoas não são capazes de se abster do consumo. Isto não significa, entretanto, que o consumo seja um mal em si. Com efeito, desenvolvimento nacional é um dos fins da República Federativa do Brasil (art. 3º, 2 II, CF ), devendo ser entendido como a majoração do nível de qualidade de vida fato que pressupõe a expansão do sistema de produção e do próprio consumo. Ou seja, o consumo, em sua acepção econômica, passou a ser uma das finalidades essenciais de toda a sociedade. A liberdade contratual e a sua conseqüência imediata de obrigatoriedade perdem força na sociedade atual, sobretudo naqueles contratos, como os de consumo, onde a vulnerabilidade de uma das partes, assim entendida como falta de capacidade do amplo exercício da sua liberdade, é patente. Não se quer dizer, todavia, que a obrigatoriedade simplesmente não exista em relações como a de consumo, pois admitir tamanho despautério significaria por abaixo o postulado de segurança jurídica. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 81 III. O Dever de Informação. Dadas as imensas diferenças fáticas entre as partes contratantes, as legislações nacionais, entre as quais se inclui a brasileira, têm procurado reequilibrar as relações de consumo. Para aplacar tais desigualdades, muitas soluções têm sido adotadas, como 3 a previsão de um direito de arrependimento , a lesão e a onerosidade excessiva. Todas estas compensações ou ajustes ao contrato fundamentam-se em dois “novos” princípios do direito privado: a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. O equilíbrio contratual é princípio adstrito aos contratos sinalagmáticos e visa a manter uma razoável correspondência entre prestação e contraprestação. Tal princípio 4 manifesta-se, sobretudo, em institutos como a lesão e a revisão contratual . Assim, deixa-se de lado, como única medida de justiça, a vontade livremente manifestada, procurando-se adotar como padrão de justiça contratual a igualdade, ou ao menos 5 correspondência, entre prestação e contraprestação . Por sua vez, a boa-fé objetiva é verdadeira regra de conduta estabelecida pelo art. 6 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor e impõe que tanto o fornecedor quanto o consumidor não quebrem o vínculo de confiança que a relação contratual pressupõe. Cada uma das partes contratantes deve agir com lealdade buscando aquilo que é melhor para si e para o outro, e não apenas aquilo que é melhor para si. Por ser regra de conduta devemos entender que a boa-fé objetiva é um dever legal a ser cumprido e cuja não observância trará consequências jurídicas. A boa-fé neste sentido objetivo difere amplamente daquele sentido com o qual estamos habituados a lidar, o subjetivo, pois neste último a boa-fé está relacionada com o estado anímico do agente. O conteúdo do dever de agir consoante a boa-fé é amplo, ou seja, pressupõe a 7 análise do quanto seja esperado segundo padrões socialmente aceitos . Mas a significação do que seja agir segundo a boa-fé não é ampla a ponto de retirar a eficácia de tal dever. Inúmeras normas, sobretudo em termos de direito do consumidor, acabam por descrever a conduta a ser seguida para que se esteja cumprindo a boa-fé objetiva. Por isto, tem-se comumente dito que é a boa-fé quem cria os chamados deveres laterais, como o de informar, o de colaborar na execução do contrato, e quem também limita a validade de cláusulas pactuadas, como as abusivas. Mas a par de criar deveres laterais e limitar, a boa fé objetiva pode ser vista também como princípio jurídico. Como princípio, a boa-fé objetiva terá a função principal de orientar qual o sentido em que as demais normas deste do microssistema de defesa do consumidor deverão ser interpretadas. O princípio é, portanto, o guia deontológico do intérprete, do aplicador e de todos aqueles que devem seguir a conduta prescrita 8 nas normas insertas em um determinado sistema . Isto corresponde a dizer que, se determinada regra pode ser cumprida de mais de uma maneira, não se poderá cumpri-la de modo a ferir a orientação dada a esta regra pelo princípio jurídico. Ou seja, as regras do Código de Defesa do Consumidor não podem ser cumpridas de modo a violar o princípio da boa-fé objetiva. Dito isto, voltemos nossa atenção para a boa-fé objetiva como a criação de deveres laterais. Naquilo que diz respeito à criação de deveres laterais a boa-fé impõe basicamente 82 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 que as partes não façam da sua relação uma fonte de prejuízos para o outro. Jorge Cesa Ferreira da Silva, baseando-se em Stoll, é claro no sentido de que o vínculo obrigacional não implicaria apenas a prestação e obtenção, em contrapartida, da contraprestação. As partes estariam, ainda, interessadas na manutenção de seus bens (materiais ou não) e direitos, pois “quando se estabelece uma relação entre duas partes, ambas esperam 9 legitimamente que essa relação não seja o veículo para a sujeição a danos”. Entre tais deveres laterais o de maior relevância é sem dúvida o dever de informar, que é objeto de nosso estudo. Assim, o dever de informar deve ser visto como um dever lateral imposto pela boa fé objetiva. Mas como visto o dever de informar não é exigido pela lei como um mero capricho. A informação exercerá duas funções básicas que nos cumpre analisar: (i) permitir a livre contratação; e (ii) evitar que o vínculo obrigacional seja fonte de prejuízos para quaisquer das partes. (a) O Dever de Informar como viabilizador da livre contratação. Uma contratação livre pressupõe uma parte que saiba, ou pelo menos tenha capacidade de saber, diante de quais possibilidades de conduta ele se encontra. Ou seja, o contratante deve compreender que ele está sempre diante de algumas opções. Ele pode contratar desta ou daquela forma, este ou aquele produto/serviço, com uma ou outra parte, neste momento ou posteriormente, por este ou aquele preço, bem como simplesmente se abster de contratar. Ademais, a parte deve ser apta a compreender qual consequência advirá de seu ato, sopesando, portanto, quais vantagens e desvantagens obterá. Como já ressaltado, na relação contratual contemporânea praticamente não há partes com capacidades iguais de discernimento, sobretudo no que diz respeito ao objeto da prestação. Isto é, as relações fáticas e jurídicas destes tempos pós-modernos são marcadas essencialmente pela hiper-complexidade, daí advindo a natural dificuldade 10 para se compreender as principais consequências dos vínculos obrigacionais assumidos . Em outras palavras, são raros os negócios jurídicos em que as partes detêm o mesmo grau de liberdade contratual porque amplamente capazes que compreender a realidade que as cerca. A tamanha especialização e desenvolvimento técnico a que chegamos impede a exata mensuração pelo consumidor dos benefícios e consequências dos contratos que celebra. Mesmo a aquisição da mais simples das verduras pode envolver o emprego de técnicas agrícolas que possam representar riscos para o consumidor. O consumidor não se encontra, assim, em posição de conhecer todas as características, vantagens e desvantagens do produto ou serviço. O resultado inexorável desta hiper-complexidade contemporânea é que a parte mais fraca, como o consumidor, ao contratar algo, arca com o risco de que aquela contratação não lhe traga as vantagens esperadas. Neste sentido, Ronaldo Porto Macedo Junior traz-nos a ideia de que o consumidor tem racionalidade limitada (bounded rationality). Sobre o assunto este autor assevera o seguinte: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 83 “A ideia de racionalidade limitada (bounded rationality) reconhece que os indivíduos não estão aptos a receber, armazenar e processar um grande volume de informações. Diante de decisões complexas, eles tendem a simplificar o problema e reduzir alternativas. Este conceito é de fundamental importância para a regulação dos contratos de consumo. As transações de consumo que importam em maiores quantias e valores, como, por exemplo, a compra de um carro ou a contratação de um plano de saúde ou previdência privada, muitas vezes envolvem relações que se estendem por um longo período. Ademais elas costumam ter natureza complexa, visto que envolvem compromissos de crédito, contratos de serviço, garantias, assistência técnica prolongada etc. É improvável que os consumidores ao tempo em que firmam um contrato estejam aptos a prever, a planejar todas as possíveis contingências futuras. Conforme já apontado anteriormente, esta impossibilidade de planejar o futuro é uma característica geral dos contratos contemporâneos, em especial dos contratos rela11 cionais de consumo” . Assim, para reequilibrar tal situação de natural racionalidade limitada, o ordenamento jurídico nacional impõe, com base na boa-fé objetiva, o dever de que o fornecedor informe ao consumidor tudo aquilo que ele pode esperar do produto, bem como os riscos contra os quais ele deve se precaver. Ao cumprir com o dever de informar, o fornecedor quer que o consumidor seja trazido para um nível superior de capacidade cognitiva, ou para uma racionalidade equivalente à do fornecedor, fazendo com que, consequentemente, a contratação seja livre e, nesta acepção, justa. Vê-se, portanto, que o legislador não abandona totalmente o dogma da vontade como paradigma de justiça contratual. Pelo contrário, diante da realidade fática, o legislador procura igualar as partes materialmente desiguais, pelo menos naquilo que é necessário à livre contratação. O fornecedor se transforma, portanto, em muito mais que um mero provedor de serviços e produtos; ele se torna um provedor de informação 12 para que os consumidores possam contratar de forma livre e, consequentemente, digna . Não é demais lembrar que esta função do dever de informar, equilibrando partes a fim de viabilizar uma justa contratação, só está presente em dois momentos: antes e durante a formação do contrato. Não haveria sentido em se falar em função equilibradora do dever de informar durante a execução ou posteriormente ao contrato, pois aí o vínculo jurídico já está formado. Foi com este intuito, portanto, que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu uma série de deveres de informação pré-contratuais, fazendo constar até mesmo a forma pela qual a informação deve ser prestada. Neste contexto vale destacar as seguintes normas do CDC: Art. 6º - “São direitos do consumidor: (...) II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; 84 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (grifamos). Art. 31 – “A oferta e a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentem à saúde e a segurança dos consumidores”. Art. 66 – “Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: Pena - Detenção de três meses a um ano e multa”. Não se olvide aqui o papel da publicidade na formação da vontade do consumidor. Como já destacado, a melhoria dos padrões de qualidade de vida implica na necessidade de desenvolvimento nacional, que quase impreterivelmente é traduzido em crescimento econômico (que abrange o crescimento do consumo). Um dos fatores importantes, mas não o único, que conduzem a este crescimento do consumo é, sem dúvida, a eficiência da publicidade. Seu papel fundamental é persuadir o consumidor a contratar determinado produto ou serviço, sem deixar de colocar à sua disposição informações que uma contratação livre. O correto papel da informação publicitária afasta-se, consequentemente, da sugestão, que é descrita pelo Prof. Alcides Tomazzetti Junior como “o ato ou a situação que provoca uma acentuada ou integral paralisia (senão mesmos supressão) do senso de discernimento e crítica da pessoa, conservando-se no entanto em níveis normais 13 ou próximos da normalidade todas as suas outras funções psíquicas” . A publicidade sugestiva é, desta forma, abusiva na medida em que suprime ou falseia informação que, se transmitida ao consumidor, o levaria a não contratar ou, pelo menos, contratar de forma diversa. A dicção do art. 37, § 1º do Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvidas sobre o caráter informativo, e não sugestivo, da publicidade, reconhecendo a importância desta última na formação do contrato. Confira-se: Art. 37, § 1º - “É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por, qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 85 Assim, resta claro que dentro do sistema de proteção ao consumidor o legislador preencheu o conteúdo de uma cláusula que poderia ser geral e abstrata, a boa-fé, determinando até mesmo quais informações serão essencialmente fornecidas à parte vulnerável e qual a forma pela qual esta informação será transmitida. É por isto que a informação deve ser transmitida de maneira eficiente, ou seja, de forma clara com conteúdo compreensível e suficiente, possibilitando a livre escolha do consumidor. Desta forma, a performance do dever de informar deve levar em conta a sua função, que é a de ser instrumento da justiça contratual. Estando clara esta primeira função do dever de informar especialmente nas fases pré-contratual e de formação do contrato, qual seja, permitir a contratação livre, resta-nos averiguar neste momento qual a sanção imposta pela lei àquele que o descumprir. A resposta parece ser intuitiva. Caso não seja adequadamente informado sobre o conteúdo de suas obrigações e sobre aquilo que legitimamente pode esperar do produto ou do serviço, o consumidor não se encontra vinculado ao que houvera prometido. Esta é a clara dicção do artigo 46 do Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. Art. 46 – “Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”. Como veremos a consequência do descumprimento do dever de informar pode ir além, possibilitando a rescisão do contrato. Entretanto, parece-nos que este outro efeito está mais ligado a uma segunda função do dever de informar e, por isto trataremos do assunto no tópico a seguir. (b) O Dever de Informar na Função de Prevenir Prejuízos. Como visto o dever de informar, como decorrência da boa-fé objetiva, tem ainda a função de evitar que vínculo obrigacional seja fonte de prejuízos para quaisquer das partes. As informações prestadas ao consumidor devem orientá-lo, portanto, sobre as características dos produtos e serviços ofertados, sobre a sua forma de utilização e sobre os riscos que lhes são inerentes. Esta segunda função do dever de informar difere-se, assim, da primeira por estar muito mais relacionada ao princípio “altere non laedere” (“a ninguém lesar”) do que à liberdade contratual propriamente dita. Ora, se uma das decorrências claras da boa-fé, e do dever de informar que dela se desdobra, é a prevenção de prejuízos”, não há como se negar que o Código de Defesa do Consumidor agiu bem ao deixar tal regra clara em seu artigo 6º, VI. Confira-se: Art. 6º - “São direitos básicos do consumidor: (...) VI a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos” (grifou-se). 86 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Pois bem. Mas quais prejuízos seriam evitados pela correta, clara e suficiente informação? Dada a sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, parece ser razoável dividir estes prejuízos evitáveis em dois grupos distintos. Haveria um prejuízo imanente à contratação e outra alheio a ela. Os primeiros prejuízos seriam aqueles “imanentes” à contratação. São aqueles danos que o consumidor experimenta por ter contratado um produto ou um serviço que não desejaria se soubesse de suas reais qualidades. Assim, se a contratação corresponde a um automóvel anunciado com determinadas características, mas a entrega corresponde a um veículo com outras características, o consumidor sofre dano equivalente ao preço pago. Os outros prejuízos são, por assim dizer, “mediatos”, ou seja, alheios ao que se despendeu para a contratação. Bens, patrimoniais ou não patrimoniais, do consumidor podem ser atingidos pelo descumprimento do dever de informar. Assim, a ausência de informação sobre o conteúdo de um filme que contenha, por exemplo, cenas de violência podem lesionar bens não patrimoniais de menores (integridade psicológica), sendo claro que tal dano não pode ser resumido aos valores envolvidos na contratação. Ademais, cabe frisar que a classificação ora adotada toma como base apenas a sistemática proposta pelo Código de Defesa do Consumidor e não diferenças ontológicos na natureza do prejuízo. Com efeito, a diferença da classificação proposta reside na relação do dano experimentado pelo consumidor com aqueles bens que inicialmente estavam envolvidos na relação de consumo. Esta classificação dos tipos de prejuízos que podem ser evitados com a adequada informação do consumidor é importante, pois para cada um deles o Código de Defesa do Consumidor reservará uma consequência jurídica diversa. Eis aí a utilidade da classificação proposta: a correta inteligência da sistemática adotada pelo sistema de proteção ao consumidor. É assim, portanto, que nos casos de prejuízo meramente contratual, o Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor (i) a devolução do preço eventualmente pago caso ele tenha sido levado a ter falsas expectativas sobre o produto ou serviço; (ii) o abatimento no preço quando a má prestação das informações trouxeram como consequência o pagamento de quantia superior ao valor do bem; ou (iii) a substituição do produto ou reexecução do serviço para que estes se adeqüem às informações prestadas. É esta a clara dicção dos artigos 18 e 20 do CDC: Art.18 – “Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas os variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a Revista da Escola da Magistratura - nº 13 87 substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço”. Art. 20 – “O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço” (grifou-se). Já naqueles casos em que o prejuízo experimentado pelo ultrapassa a esfera contratual (mediatos), atingindo-lhe bens outros que não estavam inicialmente envolvidos na relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor assegura a sua efetiva reparação, o que envolve a indenização das perdas e danos bem como a compensação dos danos morais. Neste sentido, os artigos 12 e 14 são claros: Art.12 – “O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos” (grifou-se). Art.14 – “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (grifou-se). Ou seja, a fim de evitar que prejuízos imanentes ou mediatos ocorram, o Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor o dever de informar eficientemente, possibilitando ao consumidor uma escolha livre e alertando-o sobre os riscos do produto ou serviço. Para o descumprimento de tal dever, são impostas as sanções jurídicas acima destacadas. Assim, de acordo com a sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o dever de informar cumpre a função de evitar tantos os danos imanentes (contratuais) como os mediatos. E neste sentido, não se pode dizer que o dever de informar 88 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 esteja presente apenas na fase pré-contratual, mas também na fase de conclusão e execução do contrato e até mesmo após o seu fim. E a mero título exemplificativo, vale lembra que um dos claros exemplos de dever de informar após a conclusão contratual 14 com base na prevenção de danos ao consumidor envolve o procedimento de “recall” . Até aqui procuramos dissecar a dinâmica inerente ao direito de informar à luz de suas duas funções básicas, a de possibilitar a contratação livre e a de prevenir prejuízos. Mas para que se possa ter uma visão adequada do dever de informar, deve-se ademais, analisar as formas pelas quais ele pode ser inadimplido. Esta análise nos possibilitará, ao final, visualizar qual o conteúdo da informação que deve ser passada ao consumidor. IV. O Conteúdo do Dever de Informar. O Código de Defesa do Consumidor trata o cumprimento do dever de informar numa base meramente dicotômica. Ou o dever é cumprido, e não há consequências jurídicas, ou o dever não é cumprido e aí se tem um vício ou um defeito de informação. Estes casos de não cumprimento do dever de informar poderiam ser chamados simplesmente de ineficiência informativa, pois neles a informação não foi passada ou, se passada, não foi compreendida pelo consumidor. Em outras palavras, a informação não eficiente é aquela que não atinge o seu fim. Mas algo ainda deve ser dito acerca da diferenciação das ineficiências em vícios e defeitos, pois esta é a nomenclatura adotada pela lei brasileira. No primeiro caso, o de vício de informação (arts. 18 e 20 transcritos acima) dá origem a danos imanentes ou circunscritos à contratação. Já no segundo caso, o de defeito (arts. 12 e 14 acima mencionados), a falha no cumprimento do dever de informar origina danos mediatos, isto é, em bens jurídicos que não eram inicialmente abrangidos pela relação jurídica de consumo. Tal divisão das ineficiências informativas em vício ou defeito leva em consideração, portanto, a sua conseqüência para o patrimônio dos consumidores. Outras classificações, entretanto, podem ser propostas. Uma classificação que leve em conta, por exemplo, a qualidade das informações transmitidas ao consumidor pode-se revelar muito útil para compreendermos o que exatamente deve ser transmitido ao consumidor para que ele possa se precaver de danos e contratar livremente. Assim, pode-se dizer que pode haver: (i) falta total de informações; (ii) insuficiência das informações prestadas; e (iv) informações suficientes ou eficientes e (iii) hipereficiência. Interessa-nos a princípio apenas analisar as três hipótese ligadas à ineficiência das informações prestadas (falta, insuficiência e hipereficiência). A falta ou a insuficiência são os tipos de ineficiência mais comuns, sendo constatados com a omissão, total ou parcial, daqueles dados que permitiriam ao consumidor decidir acerca da contratação bem como precaver-se contra eventuais danos. Por outro lado, os casos de hipereficiência não são assim tão comuns. A identificação deste último tipo de violação ao dever de 15 informar pode ser atribuída ao Prof. Alcides Tomasetti Junior . Para ele haveria vício ou defeito por hipereficiência quando as informações são prestadas em quantidade tamanha que ao consumidor torna-se difícil distinguir quais os aspectos que realmente lhe parecem ser importantes para a contratação. Estes vícios, entretanto, tendem a ser Revista da Escola da Magistratura - nº 13 89 mais frequentes na praxe comercial, especialmente porque a circulação de informações torna-se a cada dia mais fácil e mais barata. Com efeito, não são raros os exemplos, sobretudo nas redes de computação, onde é exigido consumidor a aceitação de contratos enormes, cuja leitura demandaria horas. E estas práticas não possibilitam ao consumidor distinguir o que é importante daquilo que não o é. Mas qual seria, então, o grau ou a medida da eficiência? Qual a qualidade que deve ser atribuída à informação prestada ao consumidor para que não haja vício ou defeito? O Código de Defesa do Consumidor se vale de expressões vagas para definir a eficiência da informação, mas de um modo geral pode-se dizer que suficiente é a informação que transmite ao consumidor uma legítima expectativa sobre os fins e usos do produto ou do serviço oferecido. Esta fórmula geral de eficiência pode ser extraída dos seguintes artigos do CDC: Art. 12, § 1º - “O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi colocada em circulação”. Art. 14, § 1º - “O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido”. Art. 18, § 6º - “São impróprios ao uso e consumo: I - os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; II - os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; III - os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam” (grifou-se). Art. 20, § 2º - “São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade”. Melhor explicando, tem-se que a lei considera impróprio ou defeituoso aqueles produtos ou serviços que não atendam aos fins, ou que não tenham o uso, que deles razoavelmente se espera. Ao fornecedor impõe-se, portanto, a obrigação de entregar 16 serviços ou produtos que atendam à expectativas legítimas de seus consumidores . O problema resume-se, consequentemente, na razoabilidade das expectativas do consumidor. Pois bem. Em termos de contratação, podemos dizer que a expectativa 90 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 corresponde a uma ideia formada sobre um produto ou um serviço antes mesmo de se ter acesso ou contato a estes produtos e serviços. A origem das expectativas só pode ser, assim, encontrada na própria pessoa ou fora dela. Ou o consumidor já vivenciou experiências semelhantes no decorrer de sua vida, e isto lhe dá a ideia sobre o que está prestes a contratar, ou outras pessoas lhes passaram informações, conhecimentos e opiniões sobre tais serviços e produtos. Temos, consequentemente, que a expectativa só deixa de ser razoável quando ela não corresponde à experiência pessoalmente adquirida ou quando ela não corresponde às informações fornecidas. Assim, não atende às expectativas de consumo, uma faca que não corte. É justamente neste ponto que entra a importância da informação. O fornecedor tem obrigação de esclarecer ao fornecedor todas as informações relativas às características e aos riscos de seu produto ou serviço a fim de que (i) o consumidor não crie expectativas errôneas sobre a contratação que realizará e (ii) eventuais expectativas errôneas já existentes na mente do consumidor sejam afastadas. Tome-se o exemplo da faca novamente e se poderá visualizar melhor o problema. A expectativa geral, presente em toda a população, é de que facas cortem. Uma faca de cozinha que não corte será considerada defeituosa, pois afinal ela não atende ao fim que legitimamente dela se espera. Isto impede, portanto, que facas de enfeite não cortantes sejam vendidas? A resposta, que pode ser dada até mesmo intuitivamente, é a negativa. Facas que não cortam podem ser vendidas. Entretanto, é dever de seu fornecedor informar que a utilidade de seu produto é diversa daquela razoavelmente esperável. Ou seja, a informação é correta e eficiente quando não cria, mas afasta, uma expectativa incorreta que o consumidor fazia sobre o produto, seus fins e suas utilidades. Neste sentido, vale destacar que Iain Ramsay já asseverou que “a ‘via informativa’ leva em consideração as preferências existentes, partindo-se do entendimento que, 17 corrigindo-se os erros de informação, alcançar-se-á a soberania do consumidor” . A lição de Alcides Tomasetti Junior não destoa de tal afirmação: “As disfunções do mercado (...) são, na sua maior parte, explicáveis em suas manifestações e suscetíveis de modificações ao nível de minoração e/ou correção, pelo intermédio de aplicações progressivas do modelo de transparência potenciado pela difusão de informação 18 suficiente nas relações jurídicas de consumo” . A verdade deve estar acessível ao consumidor para que ele possa fazer livremente suas escolhas, bem como se prevenir adequadamente de eventuais danos. Dispor tal verdade, informando o consumidor, é conduta esperável e devida pelos fornecedores, com base na boa-fé objetiva, como vimos demonstrando no decorrer deste trabalho. Isto equivale a dizer que o fornecedor cumpre seu dever de informar eficazmente quando a o consumidor sabe o que pode esperar do produto ou serviço que lhe é oferecido. Por outro lado, ao não informar eficazmente o consumidor, o fornecedor contraria a boa-fé objetiva frustrando a legítima expectativa de seus consumidores e obtendo vantagem econômica que não obteria caso todas as informações sobre seu produto ou Revista da Escola da Magistratura - nº 13 91 serviço estivessem à disposição da coletividade consumidora. Justamente por isto o Código de Defesa do Consumidor sanciona a falha de informação. Mas antes de concluir o tema, algumas outras considerações devem ser tecidas sobre o conteúdo das informações que devem ser prestadas pelo fornecedor. E aqui passamos a entrar no campo das limitações impostas ao dever de informar. Questiona-se frequentemente se o fornecedor estaria obrigado a divulgar, em nome da boa-fé, que o mesmo produto que é por si oferecido também é vendido no estabelecimento de seu concorrente por preço menor. A resposta parece a tal questão parece ser negativa, pois a boa-fé não é sinônimo de altruísmo, mas de honestidade e de atuação em conformidade com padrões socialmente aceitos. Há de se convir, 19 entretanto, que não uma obrigação jurídica nem social de altruísmo . E neste ponto não seria incorreto afirmarmos que existe para o consumidor o dever de se informar minimamente antes de celebrar qualquer contratação. Da mesma forma, não parece razoável que o fornecedor seja obrigado a informar mesmo aqueles fatos cunho conhecimento seja notório e que integrem, assim, a legítima expectativa de qualquer consumidor. Que facas cortam todos nós sabemos e, por isto, o fornecedor estaria eximido de informar tal fato na embalagem de seu produto. A boa-fé não impõe o dever de que o fornecedor transmita experiências mínimas de vida aos consumidores para que estes formem, assim, corretas expectativas sobre seus produtos ou serviços. Exigir o contrário seria ignorar que o princípio da boa-fé não se aplica apenas aos fornecedores, mas também aos consumidores. Não encontra amparo jurídico o consumidor que age de má-fé, alegando que sua expectativa não foi atendida e que danos lhe foram causados, quando tal expectativa diverge daquela comum à uma série de consumidores em situações semelhantes. Por isto é acertada a conclusão de que a expectativa a ser atendida pelo fornecedor não deve ser exclusivamente subjetiva, pois, como a lei deixa claro, apenas aquelas expectativas razoáveis deverão ser satisfeitas. E razoabilidade pressupõe padrões objetivos de conduta reiterada num mesmo grupo social. VI. Conclusão. Viu-se que o dever de informar é decorrência direta da boa-fé objetiva, entendido como um dos princípios fundamentais das relações de consumo. A informação prestada pelo fornecedor ao consumidor deve ser eficiente, ou seja, cumprir suas funções que são a viabilização da contratação livre e a efetiva prevenção de danos para o consumidor. A informação eficiente, ademais, não deve criar expectativas errôneas no consumidor, mas, pelo contrário, deve afastá-las. Isto não implica, entretanto, a obrigação de se fornecer toda e qualquer informação ao consumidor, que deve agir de boa-fé e procurar se informar minimamente sobre a contratação que irá realizar. VII. Referências Bibliográficas. • AMARAL JÚNIOR, Alberto. Proteção do Consumidor no Contrato de Compra e Venda. São Paulo: RT, 1993. 92 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 • ASCENSAO, José de Oliveria. Direito Civil - Teoria Geral. Acções e Factos Jurídicos. Vol. II. Coimbra: Coimbra Editora, 1999 • AZEVEDO, Antônio Junqueira de. O Direito Pós-Moderno e a Codificação. In Revista de Direito do Consumidor, n. 33. São Paulo: RT, jan-mar/2000, p. 123. • _________________. A Boa-fé na Formação dos Contratos. In Revista de Direito do Consumidor, n. 3. São Paulo: RT, 1993, p. 78. • BINETTI, Saffo Testoni. Iluminismo. In Dicionário de Política. Brasília: Ed. UnB, 1993. Coord. de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Trad. Carmem C. Varriale et. al. • CASTILLA, Gustavo Ordoqui. Deber de Informacion en la Ley 17.189, de 20 de setiembre de 1999. In Revista de Direito do Consumidor, n. 34. São Paulo: RT, jan-mar/2000, p. 45. • CARPENA, Heloísa. Abuso do Direito nos Contratos de Consumo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. • CZERNA, Renato Cirell. Justiça e História. Ensaios. São Paulo: Edusp, 1987. • FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. A Boa-fé a Violação Positiva do Contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 19 • FILOMENO, José Geraldo Brito et alie. Código de Defesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001. • GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996. • GRIMBERG, Rosana. O Sentido do Artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. In Revista de Direito do Consumidor, n. 4. São Paulo: RT, 1992, p. 235. • MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 1999. • MARTINS-COSTA, Judith. A Incidência do Princípio da Boa Fé no Período PréNegocial: Reflexões em Torno de uma Notícia Jornalística. In Revista de Direito do Consumidor, n. 4. São Paulo: RT, 1992, p. 140. • MARTINS, Marcelo Guerra. Lesão Contratual no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. • OPPENHEIM, Felix E. Liberdade. In Dicionário de Política. Brasília: Ed. UnB, 1993. Coord. de Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino. Trad. Carmem C. Varriale et. al. • TOMASETTI JUNIOR, Alcides. O Objetivo de Transparência e o Regime Jurídico dos Deveres e Riscos de Informação nas Relações Negociais para Consumo. In Revista de Direito do Consumidor, n. 4. São Paulo: RT, 1992, p. 52. • RAMSAY, Iain. O Controle da Publicidade em um Mundo Pós-Moderno. Trad. Míriam de Almeida Souza. In Revista de Direito do Consumidor, n. 4. São Paulo: RT, 1992, p. 26. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 93 Notas 1 Neste sentido, Czerna (op. cit, p. 14) assim trata do tema, citando Guido De Ruggiero (RUGGIERO, Guido de. Rinascimento, Riforma e Contrariforma, vol. I, p. 138/9): “Expressão de uma intuição mais luminosa são as palavras de Guido de Ruggiero; ‘Não é somente uma predeterminação natural que leva o homem, pelo fato de sua posição média na criação, a ser a síntese do universo, mas uma atividade livre, que não exercida conforme a natureza pode torná-lo bruto. Portanto ele não é uma mera essência média, mas uma atividade mediadora, que tem em sai razão, e por conseqüência também a responsabilidade da sua própria obra’”. 2 Art. 3º, Constituição Federal – “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) II - garantir o desenvolvimento nacional”. 3 Art. 49, CDC. Além disto, é de crucial importância para o correto entendimento do direito à reflexão as seguintes lições de Alberto do Amaral Júnior: “A exigência de divulgar informações verdadeiras a respeito dos diferentes produtos e serviços colocados no mercado é insuficiente para garantir a proteção do consumidor se não lhe é deixado tempo necessário à formação livre e esclarecida da vontade. O interesse do consumidor em receber informações somente se justifica se ele dispõe de tempo suficiente para assimila-las ou apreciar o seu alcance” (AMARAL JÚNIOR, Alberto. Proteção do Consumidor no Contrato de Compra e Venda. São Paulo: RT, 1993, p. 159). 4 O Prof. Antônio Junqueira de Azevedo ao prefaciar o livro de Marcelo Guerra Martins assim se posiciona sobre o tema: “Portanto, procurando sintetizar, entre os princípios contratuais, além dos três antigos, ligados à autonomia da vontade – o princípio de liberdade contratual, o de obrigatoriedade dos efeitos, ou do pacta sunt servanda, e o da relatividade dos efeitos -, há, hoje, outros dois: o da boa-fé e o do equilíbrio contratual conjugado à proteção da parte mais fraca. Os três primeiros, antes, eram absolutos e, hoje, estão ora reforçados ora controlados pelos outros dois. A boa-fé funciona, em matéria contratual para interpretar, suprir ou corrigir o contrato (além de atuar nas fases pré e pós contratual), e o princípio do equilíbrio, limitado aos contratos sinalagmáticos, atua, através de figuras causais, das quais as mais importantes são a lesão, na fase de formação, e a revisão por alteração de circunstância, na fase de execução. A autonomia corresponde à idéia de que dar regras para si mesmo faz parte do desenvolvimento da dignidade humana e da livre iniciativa (princípios constitucionais) mas essa liberdade tomada com exclusividade nem sempre levará à solução justa, daí os outros dois princípios, que supõem o contrato como valor social – também princípio constitucional” (MARTINS, Marcelo Guerra. Lesão Contratual no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2001). 5 José de Oliveira Ascensão ao tratar sobre a cláusula “rebus sic stantibus” assim trata da questão: “O contrato vinculava e isso era justo; mas se as circunstâncias se alterassem profundamente, o contrato poderia deixar de vincular, desde que essa alteração ferisse a justiça contratual. Essa maneira de ver estava ligada a uma preocupação substancialista, que levava o direito a preocupar-se com a substância dos contratos. Os contratos não só pelo consentimento, mas porque fundavam uma relação justa” (ASCENSAO, José de Oliveria. Direito Civil Teoria Geral. Acções e Factos Jurídicos. Vol. II. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 409). 6 Art.. 4 – “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (...) III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (Art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores”. 7 Luís Renato Ferreira da Silva é claro a este respeito: “Com a objetividade do princípio busca-se afirmar os valores éticos, sociais, econômicos que vão preencher o conteúdo da cláusula geral da boa-fé que são apanhados pelo aplicador/intérprete no que pode ser constado na sociedade. Seu conteúdo é retirado dos costumes do tráfico jurídico, ou no critério do homem médio (diligens pater familias), ou nas expectativas razoáveis dentro de uma dada sociedade. Ao falar-se em boa-fé objetiva pensa-se nela como um standart jurídico apreensível no contexto em que a conduta examinada se dá” (apud MARTINS, Marcelo Guerra. Lesão Contratual no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 2001). 8 Eros Roberto Grau destaca que “os princípios obrigam seus destinatários igualmente, sem exceção, a cumprir as expectativas generalizadas de comportamento (...) A prestação jurisdicional orientada por princípios (= normas) – anota Habermas – deve decidir qual pretensão e qual conduta são corretas em um dado conflito, e não como equilibrar bens ou relacionar valores. A validade jurídica do juízo tem o sentido deontológico de um comando e não o sentido teleológico do que podemos alcançar sob dadas circunstâncias no horizonte dos nossos desejos; o que é melhor para nós em um determinado ponto não coincide eo ipso com o que é 94 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 igualmente bom para todos” (GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros, 1996, p.79). FERREIRA DA SILVA, Jorge Cesa. A Boa-fé a Violação Positiva do Contrato. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 19. 10 Para uma melhor compreensão das características do pós-modernismo, especialmente em relação aos aspectos jurídicos, vide artigo do professor Antônio Junqueira de Azevedo intitulado “O Direito Pós-Moderno e a Codificação” (in Revista de Direito do Consumidor, n. 33. São Paulo: RT, jan-mar/2000, p. 123). 11 MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Direito à Informação nos Contratos Relacionais de Consumo. In Revista de Direito do Consumidor, n. 35. São Paulo: RT, julho-set/2000, p. 113. 12 A informação possibilita a contratação livre, não opressora, e, portanto, digna. Nesta medida é correto afirmar que o dever do fornecedor corresponde ao direito do consumidor de ser informado. Tal direito a informação não se limita a um direito de fundamento meramente legal, mas sim constitucional na medida em que valoriza a dignidade humana (artigos 1º, III, e 5º, XIV, CF). E neste aspecto, o consumo é parte de um espectro maior, a cidadania. 13 TOMASETTI JUNIOR, Alcides. O Objetivo de Transparência e o Regime Jurídico dos Deveres e Riscos de Informação nas Relações Negociais para Consumo. In Revista de Direito do Consumidor, n. 4. São Paulo: RT, 1992, p. 52. 14 o Neste sentido, vale destacar a prescrição do art. 10, §1 ., CDC: “O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários”. 15 Alcides Tomasetti Junior. op. cit. , p. 58. 16 No consumo vale o princípio do caveat praebitor, (o vendedor que se acautele), e não o caveat emptor. Neste sentido, confira-se Alcides Tomazetti Junior, op. cit., p. 61. 17 RAMSAY, Iain. O Controle da Publicidade em um Mundo Pós-Moderno. Trad. Míriam de Almeida Souza. In Revista de Direito do Consumidor, n. 4. São Paulo: RT, 1992, p. 26. 18 Alcides Tomazetti Junior, op. cit., p. 58. 19 Embora não tratem especificamente de direito do consumidor, mas de direito civil, as lições de José Oliveira Ascensão são neste sentido: “Particularmente há de se conjugar estes deveres com o dolus bonus: é difícil fazer admitir que o comerciante deva informar o potencial cliente dos locais onde se vende produto mais barato que o seu. Pode-se assim concluir com Almeida Costa que a esfera de acção do art. 227/1 começa onde termina a do art. 253/2 – portanto, no limite do dolo tolerado” (op. cit., p. 371). 9 —— • —— Revista da Escola da Magistratura - nº 13 95 Partidos e Coligações: a Sucessão dos Suplentes Rodrigo Cordeiro de Souza Rodrigues Juiz de Direito C oligação partidária, como nos ensinou o Professor Edisio Souto – em aulas ministradas na Escola Superior da Magistratura da Paraíba, é ‘um grande partido’. Essa definição, ainda que simplista, traduz o ensinamento transmitido por outros 1 renomados doutrinadores, como Joel Candido . 2 Djalma Pinto, por sua vez, pontifica : “A Coligação é a reunião de partidos, em determinado pleito, para buscarem juntos a conquista do poder público. Podem as agremiações celebrar coligação para a eleição majoritária, proporcional ou para ambas”. 3 Portanto, a coligação, ‘pessoa jurídica pro tempore’ , é um instituto finalístico e viabilizador da representatividade dos pequenos partidos, os quais abdicam de parcela considerável e momentânea de sua autonomia em favor da efetiva participação política. Mais uma vez, o mestre Djalma Pinto, ao tratar da representatividade da coligação, estipula com clareza peculiar: “A coligação é representada em juízo pela pessoa designada pelos partidos que a integram. Esse representante tem atribuições equivalentes às de um presidente de partido político no gerenciamento dos interesses e defesa da coligação durante o processo eleitoral (art.5, I, da Res. 21.608/2004). Podem igualmente representar a coligação perante a Justiça Eleitoral: três delegados perante o Juiz Eleitoral; quatro delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e cinco delegados perante o TSE (art.6, IV, da Lei nº9.504/97)” Revista da Escola da Magistratura - nº 13 97 Nesse ínterim, é preciso esclarecer que o processo eleitoral brasileiro adota dois sistemas de cômputo dos votos, quais sejam: o sistema proporcional e majoritário. Em linhas gerais, o sistema majoritário é aplicável às eleições de prefeitos, governadores, senadores e presidente da república. O sistema proporcional, por sua vez, aplica-se às eleições para vereadores, deputados estaduais e federais, em regra. Aqui, caso nenhum dos candidatos alcance o chamado coeficiente eleitoral, a eleição adotará o regime majoritário (art.111, Código 4 Eleitoral ), embora não haja relatos da aplicação desse critério em nosso país. Pois bem! Viabilizando a elegibilidade majoritária e proporcional, a legislação eleitoral permite a propositura de candidaturas por partidos políticos e/ou coligações. Esse grande partido político que é a coligação funcionará unitariamente no relacionamento interno (interpartidário) e externo (perante o Poder Judiciário). Embora essa sociedade eleitoral finalística destine-se a servir para o microprocesso eleitoral (que vai das convenções até a diplomação dos eleitos), não se pode rejeitar os efeitos decorrentes, sobretudo porque, para o ato final da diplomação, a coligação ainda existe. 5 Sobre o tema, o art.4º, caput, da Lei n.º7.454/1985 , devidamente integrado 6 pelo art.112 do Código Eleitoral , confirma a tese já exposta, à medida que a sociedade finalística chamada de coligação perderia sua razão de existir, caso fosse desconsiderada justamente para a sua finalidade maior, qual seja, a homologação do resultado das eleições e a consequente diplomação dos eleitos. 7 Confirmando esse entendimento, o art.49 da Resolução TSE n.º23.217 , ao estatuir a prestação de contas para as eleições 2010, legitimou a coligação para, mesmo após a diplomação, intentar Investigação Judicial Eleitoral sobre a arrecadação e gastos públicos. 8 Ora, se a corporação sui generis subsiste além da diplomação para diversos fins, como aquele exemplificado, não há razão plausível para extingui-la quanto ao seu principal efeito. Noutro naipe, tem-se que, historicamente, os partidos políticos e as coligações foram utilizados como instrumento de elegibilidade dos candidatos, numa verdadeira ‘dança de cadeiras’ que sempre punha em xeque a representatividade popular. Atento a essa realidade fática, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em julgamento plenário que “(...) os partidos políticos e as coligações partidárias têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional, se, não ocorrendo razão legítima que o justifique, registrar-se ou o cancelamento de filiação partidária ou a transferência para legenda diversa, do candidato eleito por outro partido (...)” (STF – Plenário, MS 26602/DF, rel. Min. Eros Grau, 3 e 4.10.2007. (MS-26602), MS 26603/DF, rel. Min. Celso de Mello, 3 e 4.10.2007. (MS-26603), MS 26604/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, 3 e 4.10.2007. (MS-26604), informativo n.º482, outubro de 2007). 98 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Esse entendimento, no entanto, cerceou-se aos limites impostos pela data da 9 Consulta do Tribunal Superior Eleitoral n.º1.398/DF, ou seja, 27.03.2007 . A consulta levada à Corte Eleitoral estabeleceu em sua primeira parte: “Os partidos e coligações têm o direito de preservar a vaga obtida pelo sistema eleitoral proporcional quando houver pedido de cancelamento de filiação ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda?” A resposta foi afirmativa, desde que não houvesse causa justa para desfiliação, o que foi especificado na Resolução TSE n.º22.610/2007. O julgamento proferido pela Corte Constitucional, ainda dispôs, obter dictum: “(...) afirmando que o caráter partidário das vagas é extraído, diretamente, da norma constitucional que prevê o sistema proporcional (CF, art. 45, caput: “A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito Federal.”), e que, nesse sistema, a vinculação entre candidato e partido político prolonga-se depois da eleição, considerou-se que o ato de infidelidade, seja ao partido político, seja ao próprio cidadão-eleitor, mais do que um desvio ético-político, representa, quando não precedido de uma justa razão, uma inadmissível ofensa ao princípio democrático e ao exercício legítimo do poder, na medida em que migrações inesperadas não apenas causam surpresa ao próprio corpo eleitoral e as agremiações partidárias de origem, privando-as da representatividade por elas conquistada nas urnas, mas acabam por acarretar um arbitrário desequilíbrio de forças no Parlamento, vindo, em fraude à vontade popular e afronta ao próprio sistema eleitoral proporcional, a tolher, em razão da súbita redução numérica, o exercício pleno da oposição política.” Essa inovação jurisprudencial, nos estritos termos da função tipicamente judiciária, tornou-se fundamento para recente julgamento cautelar proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal - MS 29988 MC/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 9.12.2010, Informativo n.º612/2010. Neste julgamento, o STF deferiu medida liminar para assegurar ao partido integrante duma coligação o direito de suceder o membro do seu partido que haja renunciado ou se afastado para o exercício do cargo para o qual fora eleito. Segue trecho fundamentador do julgado em epígrafe: “Citou-se a jurisprudência tanto do TSE quanto do STF no sentido de o mandato parlamentar conquistado no sistema eleitoral proporcional pertencer ao partido político. Aludiu-se à Resolução TSE 22.580/2007, segundo a qual o mandato pertence ao partido e estará sujeito a sua perda o parlamentar que mudar de agremiação partidária, ainda que para legenda integrante da mesma coligação pela qual eleito. Asseverou-se que esse posicionamento teria levado em Revista da Escola da Magistratura - nº 13 99 conta o fato de as coligações partidárias constituírem pessoas jurídicas pro tempore, cuja formação e existência ocorreriam apenas em virtude de determinada eleição, desfazendo-se logo que encerrado o pleito. Assim sendo, a pessoa jurídica da coligação partidária não se confundiria com as pessoas jurídicas dos partidos que a comporiam. Afirmou-se que essa orientação constituiria aplicação da tese jurisprudencial firmada pelo STF no julgamento conjunto dos mandados de segurança 26602/DF, 26603/DF e 26604/DF (DJe de 17.10.2008). Reportou-se, também, ao que consignado pela Corte no julgamento do MS 27938/DF (DJe de 30.4.2010), no sentido de que o reconhecimento da justa causa para a desfiliação partidária teria o condão apenas de afastar a pecha de infidelidade partidária e permitir a continuidade do exercício do mandato, mas não de transferir ao novo partido o direito à manutenção da vaga. (...) Concluiu-se que o posicionamento mais consentâneo com essa jurisprudência seria o de dar posse ao suplente do próprio partido político detentor do mandato eletivo antes exercido pelo parlamentar que renunciara (Supremo Tribunal Federal - MS 29988 MC/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, 9.12.2010, Informativo n.º612/2010). Ao que parece, o fundamento teórico daquele julgado anterior foi revisto para, por vias transversas, ceifar a representação popular. Senão, vejamos um exemplo elucidador. Numa situação hipotética, um parido A coligou-se com um partido B para eleição proporcional em um Município onde existam 20 (vinte) cargos de vereadores disponíveis. O partido A possuiu 100.000,00 (cem mil) votos, enquanto que o partido B englobou 10.000,00 (dez mil) votos. Logo, a Coligação AB possuiu um total de 110.000,00 (cento e dez mil votos). Nessa disputa municipal, o coeficiente eleitoral ficou estabelecido em 10.000,00 (dez mil) votos. Com base nisso, a coligação AB conseguiu ocupar onze cargos disponíveis. Para tanto, será desconsiderado as sobras partidárias, posto que essa temática, além de dificultar o entendimento do que se objetiva, em nada influirá na conclusão. Acontece que, no partido A, os candidatos mais votados foram: Candidato1 (19.000,00); Candidato2 (8.000,00); Candidato3 (8.000,00); Candidato4 (8.000,00) Candidato5 (8.000,00) Candidato6 (8.000,00) Candidato7 (8.000,00) Candidato8 (8.000,00) Candidato9 (8.000,00) Candidato10 (8.000,00); Candidato11 (8.000,00), Candidato12, Candidato13, Candidato14 e Candidato15 (1.000,00 – juntos). Noutro giro, o partido B teve a seguinte votação: CandidatoX (7.000,00), CandidatoY (2.000,00), Candidatos Z,K,Q (1.000,00 – juntos). Nessa situação, os onze candidatos eleitos pela coligação AB seriam os candidatos em negrito (todos do partido A), posto que dentro da coligação prevalece o sistema majoritário. Até então, tudo bem. 100 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 O problema surge, pois, tradicionalmente, o sistema majoritário interno fixava a classificação de todos os candidatos dos partidos formadores da coligação. Logo, o primeiro suplente da coligação seria o CandidatoX, integrante do partido B. O referido julgamento do STF, caso prevaleça, fará com que o primeiro suplente da coligação hipotética seja o Candidato 12, o qual teve menos que 1.000,00 (mil) votos. O CandidatoX e o CandidatoY, por sua vez, ainda que possuíssem votação superior, jamais assumiriam qualquer mandato vago da coligação. E pior, no exemplo citado, o partido B, se concorresse isolado, teria coeficiente para eleger um candidato próprio. Embora a formação de coligações possa provocar distorções na vontade popular, e não é isso que se questiona aqui, o entendimento do STF, ao que parece, desviou-se do fim primordial das coligações, que é justamente propiciar a junção de partidos hi10 possuficientes , os quais, isolados, jamais conseguiriam participar do poder legislativo. Todavia, repise-se, o entendimento adotado pela Corte de Justiça Pátria, ao partir de uma premissa imposta em outro julgamento anterior, esqueceu-se de que as coligações são verdadeiros partidos, cuja unidade precisa ser considerada durante toda legislatura. Do contrário, supultar-se-ão as coligações dos grandes partidos com aqueles partidos nanicos, os quais, ainda que unidos, dificilmente, conseguirão coeficiente necessário para a devida representatividade. Ademais, seguindo os ensinamentos doutrinários dispostos por Gilmar Ferreira 11 Mendes , cumpre considerar a situação disposta sob a óptica do ‘distinguishing’, ou seja, deixando de aplicar o precedente anterior, à medida que entre este julgado e o novo caso existe circunstância fundamental que os distingam. Do contrário, conclui-se que a cláusula de barreira, veementemente, rejeitada 12 em recente reforma eleitoral – pelo próprio STF, nas ADI 1351-3 e 13540-8 , ressurgirá, jurisprudencialmente, cerceando o direito das minorias e convalidando representações cada vez mais ilegítimas. Aqui, os maiores prejudicados não são os candidatos dos pequenos partidos, mas o povo que votou em candidatos de uma coligação (que deveria possuir ideologias simétricas) e não terá o direito de ver os representantes preferidos dessa coligação (conforme votação distribuída internamente) exercerem as suas atribuições, o que violaria, no dizer de Caio Mario de Silva Velloso e Walber de Moura Agra, a legiti13 mação democrática . O julgado paradigma acima, no entanto, dificilmente, alcançará um julgamento meritório, pois a legislatura à qual se refere findou-se no último dia 1º de fevereiro de 2011. Caberá, pois, aguardar a conclusão de recentíssimo feito, relatado pela Ministra 14 Carmen Lúcia , na esperança de que os argumentos dos Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Ayres Britto (vencidos no julgamento cautelar anterior) venham a prevalecer, confirmando as breves linhas acima expostas. Diversamente, caso prevaleça o julgamento cautelar no STF, espera-se, ao menos, a adoção de uma típica decisão transitiva, sob a modalidade de uma decisão de aviso – 15 adotando a classificação proposta pelo constitucionalista José Adércio Leite Sampaio . Efetivamente, tal modalidade de decidir esclarece que o prenúncio de uma mudança na orientação doutrinária e jurisprudencial não deve se aplicar no caso ou Revista da Escola da Magistratura - nº 13 101 no curso da ação (no caso, no curso da legislatura), na qual foi proferida pela primeira vez, de modo meritório e definitivo. Com isso, a representatividade, ainda que diminuída, ao menos seria sem a cláusula da surpresa. Notas 1 CANDIDO, J. Joel. Direito Eleitoral Brasileiro, 13ª edição, Bauru: São Paulo: Edipro, 2008. PINTO, Djalma, Direito Eleitoral: improbidade administrativa e responsabilidade fiscal- noções gerais, 4ª edição, São Paulo: Atlas, 2008, p.125. 3 TSE, Ac. nº 24.531, de 25.11.2004, rel. Min. Luiz Carlos Madeira. 4 Art. 111 - Se nenhum Partido ou coligação alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. (Redação dada pela Lei nº 7.454, de 30.12.1985) 5 Art 4º - A Coligação terá denominação própria, a ela assegurados os direitos que a lei confere aos Partidos Políticos no que se refere ao processo eleitoral, aplicando-lhe, também, a regra do art. 112 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, quanto à convocação de Suplentes. Citado por 8 6 Parágrafo único - Cada Partido poderá usar sua própria legenda sob a denominação da Coligação Art.112. Considerar-se-ão suplentes da representação partidária: (Vide Lei nº 7.454, de 30.12.1985) I - os mais votados sob a mesma legenda e não eleitos efetivos das listas dos respectivos partidos; 7 II - em caso de empate na votação, na ordem decrescente da idade. Art. 49. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 dias da diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas da Lei nº 9.504/97 e desta resolução relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº 9.504/97, art. 30-A, caput). 8 TARTUCE, Flavio, Direito Civil, volume I, 6ª edição, São Paulo: Método, 2010, p.247/248. 9 Para os cargos do executivo, o marco inicial será 16.10.2007 – conforme data da consulta do TSE n.º 1407, acessado em http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=947241, 1º.02.2011, às 21:49h. 10 Caso pequenos partidos se coliguem e alcancem, conjuntamente, apenas 10.000 (dez mil) votos, tão somente o partido do candidato mais votado será beneficiado, enquanto que todos os outros pequenos partidos, ainda que possuam candidatos bem votados, ficarão à margem da sucessão de poder. 11 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª edição, revista e atualizada, São Paulo: Saraiva: 2008, p.530. 12 Lei n.º9.096/1995 - Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. (Vide Adins nºs 1.351-3 e 1.354-8) 13 VELLOSO, Caio Mario da Silva, AGRA, Walber de Moura, Elementos de Direito Eleitoral, São Paulio: Saraiva, 2009, p.4/6. 14 http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=171158, acessado em 07.02.2011, às 20:50h – MS 30.272. 15 SAMPAIO, José Adércio Leite. Hermenêutica e Jurisdição Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p.172-176. 2 —— • —— 102 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Sentença Cível em Interdito Proibitório e Manutenção de Posse Ana Maria Ferreira da Silva Juíza de Direito Relatório Processo n.º 3.369-6/06 - Manutenção de Posse AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE ajuizou, em 19/05/2006, em desfavor de CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASILIA, a presente Ação de MANUTENÇÃO DE POSSE, pela qual pleiteia a manutenção de posse sobre a servidão de passagem da área denominada “Entrada n.º 2 do Ville”, composta do imóvel tido por QD-03, CONJ-23, LOTE-03, CONDOMINIO SOLAR DE BRASÍLIA, e da área externa, contígua a ele. Alega a Requerente que antes da implantação do Condomínio Solar de Brasília, há pelo menos dez anos, estabeleceu-se e consolidou-se informalmente uma passagem alternativa dando acesso à parte Sul do Condomínio Ville de Montagne, grande em extensão, com mais de mil casas e pelo menos três mil pessoas. Que tal acesso configurou-se como servidão de trânsito não titulada. Esclarece que depois de todo esse tempo, implantou-se o Condomínio Solar de Brasília, o qual abrangeu a referida faixa de terras utilizada como passagem pelos moradores, trabalhadores e transeuntes do Ville de Montagne. Esclarece que a referida passagem, apesar de haver sido integrada à área do Condomínio Solar de Brasília, seria, em verdade, parte, em terra pública. Assevera, ainda, que, com a implantação do condomínio Solar de Brasília, parte da área em questão foi transformada em lote, o qual foi adquirido por ela, AMORVILLE, diante do receio de perder a passagem. Prossegue, asseverando que ali edificou uma guarita para controle da entrada de pedestres. Narra que, visando melhorar as instalações da entrada em tela, iniciou a construção de um muro, no qual instalou um portão de ferro, e de uma portaria, dentro do seu lote, respeitando as normas de edificação. Informa que em decorrência das obras foi notificada pelo Condomínio Solar de Brasília para adequar a obra à finalidade Revista da Escola da Magistratura - nº 13 103 do imóvel, sob pena de multa e outras medidas. Aduz que, a par disso, o Condomínio Solar de Brasília começou a edificar, há cerca de dois meses, uma nova cerca ao lado da DF-001, em área que não integra o seu perímetro, fechando o acesso entre a rodovia e a “Entrada n.º 2 do Ville”, a qual foi definitivamente fechada após a construção de um muro pelo Requerido. Declara que vem, sem êxito, tentando resolver a questão amigavelmente e que o Requerido reconhece a servidão de trânsito em questão. Ao final, além do de praxe, requer, liminarmente, a manutenção da posse sobre a servidão de trânsito a ser dimensionada por perícia, sob pena de cominação de multa, e ulterior procedência do pedido, com confirmação da medida liminar. Relatório Processo nº 4.161.-8/06 - Insterdito Proibitório CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA ajuizou, em 19/06/2006, em face de MARCO ANTONIO ELEUTÉRIO DE BARROS LIMA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, a presente Ação de Interdito Proibitório, pela qual, em síntese, o Requerente declara constituir-se condomínio com projeto Urbanístico do parcelamento do solo aprovado pela Lei Complementar n.º 585/2002. Informa, igualmente, a existência de decisão judicial garantido sua posse sobre o imóvel onde está implantado o Condomínio Solar de Brasília, obtida no AGI-24-4/98 e de decisão proferida na Ação de Manutenção de Posse n.º 61.099/97, ajuizada perante a 4.ª Vara da Fazenda Pública do DF e proposta pelo Requerido em face da CIA. IMOBILIÁRIA DE BRASILIA - TERRACAP.e do DISTRITO FEDERAL. Assevera que desde janeiro de 1998 a sua área está protegida por cercas, as quais vêm sendo substituídas por muro e alambrado, sendo sua posse respeitada pelos Agentes Públicos e por particulares, em especial, pelos seus vizinhos. Declara que a segunda Requerida é sua condômina desde 04/04/2006 e que, em março de 2006, tentou abrir uma via de circulação e edificar portaria na sua unidade condominial, destinada para residência unifamiliar, afrontando o Projeto Urbanístico do Requerido, a sua Convenção e a Lei Complementar n.º 585/2002. Aduz que, mesmo advertida para suspender as obras, a segunda Requerida prosseguiu com as edificações e afixou uma faixa incitando terceiros a utilizarem a fração como passagem. Informa que MARCO ANTÔNIO ELEUTÉRIO DE BARROS LIMA, em 15/05/2006, associado da segunda Requerida, motivado pela faixa, cortou a cerca do alambrado do Requerente e iniciou a destruição do muro e do mesmo alambrado, que cercam a área do Requerente - fatos que deram ensejo a registro de Boletim Policial. Aduz que, apesar da turbação sofrida, permanece na posse da área. Ressalta que, na qualidade de condômina, cumpre à segunda Requerida observar as normas condominiais vigentes, especialmente, quanto à destinação da sua fração. Destaca recear que novos atos atentatórios sejam perpetrados contra a sua posse. Ao final, pleiteia a concessão de liminar para determinar que os Requeridos se abstenham de praticar atos tendentes a molesta a posse do Requerente e que segunda Requerida retire a faixa afixada no local, sob pena de multa. Como pedido principal requer que os Requeridos sejam condenados a se absterem de praticar atos atentatórios à posse 104 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 do Requerente, bem como a condenação da segunda Requerida a dar destinação residencial ao imóvel de sua titularidade (QD-03, CONJ-32, LOTE-03, Condomínio Solar de Brasília), além da condenação pelos prejuízos causados. Eis os relatórios. DECIDO. Cuida-se de Ações de Manutenção de Posse e de Interdito Proibitório, com polos invertidos, conexas, em que as partes disputam a posse da área tida por QD-03, CONJ32, LOTE-03, Condomínio Solar de Brasília, bem como a da área externa contígua àquela. A AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE pleiteia a livre utilização do imóvel, utilizado, segundo ela, há muito tempo, como segunda entrada para o interior do Condomínio Ville de Montagne, situação que configura servidão de passagem aparente e não titulada. Por outro lado, o CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA, do qual faz parte o lote em questão, afirma que a AMORVILLE, titular do imóvel, ao tentar edificar uma portaria no local, desvirtua a sua destinação, a qual, explica, é residencial, ameaçando a posse. Ambos requerem a tutela possessória. Ressalto que foi deferida liminar em favor do Condomínio Solar de Brasília, proibindo a AMORVILLE de praticar qualquer ato que representasse molestação à posse do Condomínio Solar de Brasília e determinada a retirada da faixa afixada no muro do referido lote. Os autos se encontram aptos a serem sentenciados, eis que as provas carreadas, a nosso sentir, são suficientes para o acerto do litígio. Destaque-se que a decisão proferida em ambos os feitos, indeferindo a produção da prova oral, restou acobertada pela preclusão. Inicialmente, verifica-se penderem questões de ordem formal a exigir enfrentamento. Na Contestação oferecida pelo Condomínio Solar de Brasília, nos autos da Manutenção de Posse, foi suscitada preliminar de carência de ação sob o argumento de que as terras sobre as quais está assentado o Condomínio Ville de Montagne são públicas. Já na réplica apresentada nos autos do Interdito Proibitório, esse mesmo litigante reclama a revelia tanto da AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTANGE, quanto do Requerido Marco Antônio Eleutério de Barros Lima. Daquela porque apresentou a defesa fora do prazo e deste por não ter apresentado defesa. Em relação às matérias de ordem formal aventadas pelo Condomínio Solar, urge esclarecer que, em referência à decretação da revelia do Requerido Marco Antônio Eleutério de Barros Lima, tal pleito resta prejudicado em face dos termos da Transação Penal entabulado entre as partes, quando da Audiência de Instrução e Julgamento relativa ao TC-Queixa-Crime n.º 6477-3, figurando como Querelante CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA e como Querelado MARCO ANTONIO ELEUTÉRIO DE BARROS LIMA. Pelo termo houve a composição civil dos danos, obrigando-se o Querelado a indenizar o Querelante pelos prejuízos causados. Por sua vez, naquela assentada, o Condomínio Solar de Brasília obrigou-se a desistir do Interdito em relação Revista da Escola da Magistratura - nº 13 105 ao Requerido Marco Antonio Eleutério de Barros Lima - tudo conforme Ofício do 1º Juizado Especial de Competência Geral do Paranoá-DF (fl. 492/496). Com efeito, diante da desistência apresentada, ainda que, inicialmente, formulada em outro feito, a sua homologação é medida que se impõe. No tocante à preliminar de carência de ação no feito da Manutenção de Posse ao argumento de que o CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE estaria em terras públicas, tal preliminar não merece albergue porque, de acordo com entendimento já cristalizado pelo egrégio Tribunal de Justiça, a tutela possessória, mesmo sendo o imóvel litigioso público, pode ser deferida quando disputada entre particulares. Nesse sentido, mencionam-se alguns julgados: a)20090020083352AGI, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3ª Turma Cível, julgado em 10/09/2009, DJ 20/10/2009 p. 66; b)20020210037775APC, Relator ANGELO PASSARELI, 2ª Turma Cível, julgado em 26/08/2009, DJ 14/09/2009 p. 152; c)20050710024239APC, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6ª Turma Cível, julgado em 05/08/2009, DJ 19/08/2009 p. 84; d)20080310152175ACJ, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 25/11/2008, DJ 15/01/2009 p. 83; e)20030110266038APC, Relator MARIA BEATRIZ PARRILHA, 4ª Turma Cível, julgado em 28/04/2008, DJ 09/06/2008 p. 227. Outrossim, o pedido de decretação da revelia da AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE, nos autos do Interdito Proibitório, não pode ser acolhido. Senão, confira-se: a publicação da decisão que apreciou o pedido liminar se deu no DJ de 27/07/2206 (fl. 417), uma quinta-feira. Contando-se o prazo segundo a sistemática do Código de Processo Civil, tem-se como termo a quo o dia 11/08/2006, uma sexta-feira. Como o dia 11/08/2006, a exemplo de todos os anos, foi feriado - dia da instalação dos cursos jurídicos no Brasil - o prazo para apresentação da defesa adiou-se para o dia 14/08/2006, segunda-feira, data do protocolo da contestação (f. 418), que foi entregue no serviço de Drive-Thru. Com efeito, não se pode falar em intempestividade da peça. À luz desses argumentos, rejeitam-se as preliminares arguidas. Resolvidos os aspectos formais, avançamos ao mérito da causa. A pretensão possessória deduzida pela AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE se esteia na posse da servidão de passagem alegada sobre a área hoje localizada nos limites do CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA. Segundo aquela Associação, tal fato ocorreu antes mesmo do surgimento do Condomínio Solar de Brasília, ou seja, aproximadamente, em 1998. É oportuno estabelecer que precede ao julgamento de um demanda a apuração dos fatos ocorridos pela análise e aquilatamento das provas apresentadas. Uma vez delineados os fatos e identificadas as normas, realizar-se-á a subsunção daqueles a estas. Em outras palavras, habilitado estará o Juiz a aplicar o direito ao caso concreto, verificando a exata relação de pertinência legal com o fito de realizar a Justiça. Com efeito, orientados pela natureza das pretensões deduzidas, mister, primeiramente, apurar os fatos relevantes a serem considerados no julgamento. No caso vertente, analisando-se o acervo probatório no intuito de se esquadrinhar o quadro fático, apurou-se: a) Em que pese que a implantação do Condomínio Ville de 106 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Montagne tenha se dado anteriormente à do Condomínio Solar de Brasília, este teve posse reconhecida judicialmente sobre a área que ocupa em 1998. Registre-se que a posse do Condomínio Solar de Brasília sobre as terras onde se instalou foi reconhecida em 16/01/98, data da decisão no AGI n.º 1998.00.2.000024-4, proposto pelo Condômino Solar de Brasília nos autos da Manutenção de Posse n.º 61.099/97, onde figura como Requerente e, como Requerida, a TERRACAP. Anote-se, por oportuno, que a sentença julgou procedente o pedido de manutenção de posse do Condomínio Solar de Brasília, tendo sido confirmada em 2.ª Instância (fls. 131/195); b) o Condomínio Solar de Brasília se posicionou entre o Ville de Montagne, em sua parte Sul, e a DF-001 (fls. 14, 222 224, 226; c) o Condomínio Ville de Montagne não é imóvel encravado, dispondo de acesso à via pública, para a qual tem sua portaria principal voltada (fl.09); d) o Condomínio Ville de Montagne adquiriu a unidade sita na QD-03, CONJ-32, LOTE-03, Condomínio Solar de Brasília, passando a dele fazer parte, na qualidade de condômina, em 18/02/2004 (fls.16/18); e) o Condomínio Ville de Montagne iniciou, um pouco antes do aforamento do feito, a construção de uma guarita no referido lote, intentado instalar uma portaria, e afixando no local uma faixa com os seguintes dizeres: “Atenção interessados:qualquer pessoa identificada poderá passar por aqui. Se alguém impedi-lo, chame a polícia. Se alguém tocar em você, processe. AMORVILLE.”; f) O imóvel indicado tem destinação residencial; e g) Não existiam obras anteriores, realizadas pela AMORVILLE, na alegada Servidão de Passagem. Desenhados os contornos fáticos, firmemos os marcos legais relacionados às temáticas tocadas pelo litígio. Com esse desiderato, confira-se o que prevê o artigo 1.378 do Código Civil, litteris: “Art. 1.378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante, e grava o prédio serviente, que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários, ou por testamento, e subsequente registro no Cartório de Registro de Imóveis.” Já o artigo seguinte do mesmo Diploma preceitua: “Art. 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por 10(dez) anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a usucapião.” Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de 20 (vinte) anos. Por sua vez, o art. 1.213 do Código Civil, integrante do Capítulo que cuida dos efeitos da posse, enuncia: “Art. 1.213. O disposto nos artigos antecedentes não se aplica às servidões não aparentes, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do prédio serviente, ou daqueles de quem este o houve.” Revista da Escola da Magistratura - nº 13 107 Ainda, na fixação dos marcos legais, pela pertinência ao caso concreto, é valioso rememorar o que consigna o art. 1.208 do Código Civil, verbis: “Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.” Eis os principais marcos legais, a nosso aviso, relevantes e aplicáveis à espécie. Identificados os fatos ocorridos, as teses esposadas e as normas regentes, impende laborar a subsunção dos primeiros às últimas. Assim, vejamos. Conforme se extrai do texto legal, a Servidão de Passagem pressupõe a existência de dois prédios, com diversidade de donos, constituindo-se por ato de vontade ou, excepcionalmente, por usucapião. É direito real e, por conseguinte, originado com o respectivo registro no Registro de Imóveis. Observe-se que dentre os requisitos para aquisição de uma Servidão de Passagem por usucapião destaca-se o exercício (entenda-se posse) incontestado e contínuo desta servidão, que deve ser, frise-se, aparente, por determinado período de tempo. Na hipótese, a servidão de passagem alegada, consoante o declarado pela AMORVILLE, seria aparente e não titulada, isso porque não decorreu de ato de vontade inter vivos, tampouco de testamento e, sequer, de declaração judicial de usucapião. Constata-se não haver o direito real, na medida em que não há registro. Não obstante a ausência de registro, a posse de uma suposta servidão poderia ser defendida por meio de interditos possessórios, nos termos do permissivo contido no art. 1.213 do Código Civil - retro transcrito. Por uma exegese contrario senso deste artigo, conclui-se que as servidões de passagem, quando aparentes, são passíveis de tutela via interditos possessórios. A nosso entender, o legislador, ao permitir a proteção possessória às servidões aparentes, não discrimando se tituladas ou não, fitava, certamente, proteger o fato posse. Ou melhor, nos casos daquelas situações consolidadas pelo tempo, em que, por exemplo, uma estrada em terras de um prédio serviente fosse possuída pelo proprietário do prédio dominante, independentemente do registro ou não, tal situação poderia ser defendida pela via interdital. Todavia, a servidão necessária deve ostentar sinais exteriores, de constatação icto oculi. Ora, o que o legislador quis proteger, como o fez em todo o Livro III, Título I - Da Posse, do Código Civil, é tutelar a posse. Então, para se fazer jus a essa proteção exige-se do pleiteante que demonstre a posse sobre a servidão, a qual, frise-se, será, necessariamente, aparente. Volvendo ao caso em exame, a posse do Condomínio Ville de Montagne sobre a faixa de terras integrantes do Condômino Solar de Brasília, que classifica como servidão de passagem, não foi demonstrada. Senão, observe-se. Posse, de acordo com definição repetida à exaustão, é a visibilidade do domínio. O poder físico sobre a coisa, donde se deduz que o poder é demonstrado pela subordinação da coisa ao seu possuidor. Melhor aclarando: enquanto na posse o possuidor tem “poder” 108 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 sobre a coisa, o mesmo não ocorre quando se fala de detenção, por exemplo. Posse, fixemos, é a exteriorização do domínio. Para que ela se apresente é necessário que o possuidor se encontre imbuído da legitimidade do seu direito, subordinando a coisa a si. É cediço que atos de tolerância não geram posse porque àquele que utiliza da coisa por tolerância do seu real titular não detém sobre ela qualquer poder, qualquer ingerência. No caso concreto, adiantamos, não se constata posse da AMORVILLE em relação à servidão da passagem, porquanto a não resistência do Solar de Brasília anteriormente faz crer mera tolerância, não induzido posse aos usuários, além de outras circunstâncias que serão abordadas adiante. É oportuno pôr em relevo que, não decorrendo de ato de vontade nem de declaração judicial, a alegada servidão não poderia ser registrada, como de fato, não o foi. Não sendo registrada no Registro de Imóveis não ascendeu à categoria de Direito Real, oponível erga omnes. Com efeito, não se cuida de Direito Real. Acresça-se que a posse do Condomínio Solar de Brasília sobre a área na qual se instalou foi reconhecida e garantida desde a decisão judicial proferida em janeiro de 1998. Ou seja, há mais de oito anos do ajuizamento das presentes Ações. O Condomínio Solar de Brasília, como o próprio nome indica, representa, ainda que não regularizado, um domínio compartilhado por vários titulares, com áreas comuns, unidades autônomas, convenção, etc. Um condomínio, diga-se, com fins residenciais e com a destinação das suas unidades integrantes previstas nas normas internas. Não é crível que um condomínio do tamanho do Solar de Brasília tenha assentido à posse de faixa de suas terras ao seu vizinho, o qual pretendia a área para fazer uma segunda portaria para si, por mera comodidade, haja vista não ser imóvel encravado, principalmente quando é notória a preocupação dos condomínios com segurança. A abertura de uma portaria em área do Condomínio Solar de Brasília sem sua expressa anuência para servir ao Condomínio vizinho, postado ao seu lado, indubitavelmente, fragiliza a sua segurança e expõe os condôminos próximos a ela a uma gama de dissabores facilmente presumíveis. Destarte, se os empregados do Condomínio Ville de Montagne e alguns condôminos utilizaram a passagem por algum período, tal fato deve ser creditado a mera tolerância por parte do Condomínio Solar de Brasília. Atos de mera tolerância, nos exatos termos do art. 1.208 do Codex Civil, não induzem posse. Reforça a convicção de que o Condomínio Solar de Brasília não reconhecia o local como passagem e apenas tolerava o trânsito de estranhos ali o fato de haver dado destinação residencial e classificado como fração ideal a faixa denominada de QD03, CONJ-32, LOTE-03. Caso contrário, não teria criado uma unidade residencial autônoma no local. Acresça-se, por oportuno, que a aquisição pela AMORVILLE do lote em referência corrobora essa conclusão, na medida em que, reconhecida fosse a servidão pelo Condomínio Solar de Brasília, não necessitaria adquirir onerosamente o que já lhe era reconhecido. À frente dos argumentos tecidos é legítimo concluir que o uso da passagem se deu por mera tolerância do Condomínio Solar de Brasília, não gerando posse em favor da AMORVILLE sobre a área. Ainda, a abonar esse entendimento, colaciono julgado da relatoria do eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, quando do julgamento da APC n.º Revista da Escola da Magistratura - nº 13 109 20040810056829, cujo teor da ementa é transcrito adiante. Destaque-se que o caso objeto do aresto guarda estreita similitude com o ora apreciado, de acordo com o que se depreende da passagem do voto, também adiante transcrito. Confira-se. “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. ALTERAÇÃO. IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO. TURBAÇÃO. SERVIDÃO DE PASSAGEM. EMBARAÇO AO LIVRE CURSO DAS ÁGUAS. CONSTRUÇÃO DE CERCA. INDENIZAÇÃO. 1 - O art. 264, do CPC, permite que o autor altere o pedido inicial até a citação, sem o consentimento do réu. 2 - A tolerância do possuidor quanto à utilização de estrada por vizinho, mesmo durante anos, não lhe confere qualquer direito sobre o seu uso. 3 - Compete aos titulares de imóveis marginais aos cursos d’água conservá-los livres de embaraços que provoquem prejuízos a terceiro. 4 - É lícito ao autor cumular, na ação de manutenção de posse, o pedido possessório com o de recebimento de indenização por perdas e danos e a imposição de pena em caso de reincidência (art. 921, do CPC). 5 - Apelo improvido. Sentença mantida.(20040810056829APC, Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 3ª Turma Cível, julgado em 29/10/2008, DJ 17/11/2008 p. 94). A certa altura do seu voto, o eminente Desembargado Arnoldo Camanho de Assis se pontifica: “... A conclusão a que se chega, inclusive levando em conta o laudo pericial de fls. 210/252, é a de que a utilização da referida estrada pelo apelante dá-se por mera tolerância das apeladas, já que a fazenda do mesmo não é encravada e possui cerca de quatrocentos metros de divisa com a via pública. Ora, a inércia das apeladas durante certo período não induz posse e o fato de o apelante utilizar a estrada há muitos anos, e antes mesmo de as requerentes adquirirem os direitos de posse sobre o imóvel, não lhe confere nenhum direito...” Na mesma linha de entendimento julgou a festejada Desembargadora Ana Maria Duarte Amarante Brito, no acórdão cuja ementa se colaciona a seguir: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. PASSAGEM DE VEÍCULOS NO IMÓVEL. ATO DE MERA TOLERÂNCIA. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, “o possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório, em que se comine ao 110 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 réu determinada pena pecuniária, caso transgrida o preceito. Defere-se a proteção possessória em favor do legítimo possuidor do imóvel, quando, a despeito deste permitir a travessia de veículos vizinhos no interior de sua propriedade, ocorre abuso por parte dos transeuntes, os quais, não se limitando a atravessar o imóvel com seus automóveis, passam a erigir no local construções irregulares. A tolerância de um proprietário de imóvel na travessia de veículos alheios sobre suas terras está no rol de atos meramente “precários e transitórios, consistindo em anuência tácita do proprietário as condutas praticadas por terceiros em seus imóveis” (ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 3ª edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2004. pág. 315); não constitui, portanto, servidão de passagem. Apelo conhecido e provido. (20070610048978APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6ª Turma Cível, julgado em 15/04/2009, DJ 29/04/2009 p. 106). É oportuno, nesse ponto da análise, recuperar importante aspecto do instituto da Servidão de Passagem que é o aumento da comodidade do prédio dominante em detrimento do prédio serviente. Esclarecendo, enquanto um prédio se beneficia, aumentando a sua comodidade, o outro sofre uma restrição, um ônus, consistente na transferência, para o dominante, de algumas das prerrogativas do proprietário. A servidão, em última análise, é ônus imposto ao senhor de um prédio em prol de outro. Por envolver uma obrigação negativa ao dono do prédio serviente, redunda em restrição de direito, conforme já anotado. Aí a justificativa para a Servidão decorrer de um ato de vontade ou, excepcionalmente, por declaração judicial. Devem, pois, as servidões serem interpretadas restritivamente, de acordo com os limites do seu título. No caso em julgamento, ainda que existente de fato a servidão, ela acarretaria desproporcionais, injustificáveis e iníquos ônus ao prédio serviente, no caso, o Condomínio Solar de Brasília. Há que se observar, igualmente, a situação de ambas as partes: tanto o Condomínio Ville de Montagne quanto o Condomínio Solar de Brasília são “condomínios” ditos “irregulares”, mas em processo de regularização o qual exige o preenchimento de certas exigências, dentre as quais, a apresentação por parte deles de um projeto urbanístico composto pela planta do condomínio. Nota-se que o mapa relativo ao projeto urbanístico apresentado do Condomínio Ville de Montagne, que deu azo ao Projeto de Lei Complementar n.º 1.235/01 (fl. 2870, não indica existência de passagem no local onde reclama a servidão de passagem. A omissão desta segunda portaria demonstra que, de fato, nunca foi reconhecida como tal, tanto pelo Condomínio Solar de Brasília quanto pelo próprio Condomínio Ville de Montagne. Apesar de a lei não o prever, a jurisprudência vem exigindo o encravamento como requisito para a declaração judicial de servidão de passagem, preocupada, certamente, com o grave ônus que possa recair sobre o imóvel serviente. Assim, com o intuito de reconhecer a servidão de passagem somente em casos de necessidade, os Tribunais vem Revista da Escola da Magistratura - nº 13 111 ampliando os seus requisitos, compelindo o interessado a demonstrar a sua verdadeira necessidade de se utilizar de imóvel alheio. Aqui, apenas para ilustrar, eis que, como já constatado, o Condomínio Ville de Montagne não está em situação de imóvel encravado. Eis algumas ementas de julgados nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - SERVIDÃO DE PASSA-GEM - HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO SE COMPROVANDO OS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA PROTE-ÇÃO POSSESSÓRIA, OU SEJA, A PROVA DA POSSE E A CARACTERI-ZAÇÃO DE ESBULHO E TURBAÇÃO, NÃO HÁ COMO SE ACOLHER O PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA POSSE. NÃO SE CONSTITUI SERVIDÃO DE PASSAGEM A ESTRADA SE, NA GLEBA, HÁ OUTROS ACESSOS À VIA PÚBLICA. MOSTRAM-SE BEM FIXADOS HONORÁRIOS DE ADVOGADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA, SE O PEDIDO FOI JULGADO IMPROCEDENTE, SEM CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (APC4859998, Relator WELLINGTON MEDEIROS, 3ª Turma Cível, julgado em 21/09/1998, DJ 14/10/1998 p. 54)”. “AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM - ABERTURA DE VIA PÚBLICA ACESSÍVEL AO PRÉDIO DOMINANTE - EXTINÇÃO (CC, ART. 709, II). 01 - A servidão de passagem extingue-se pela abertura de estrada pública, acessível ao prédio dominante. 02 - O mau estado de conservação da via pública não tem o poder de restabelecer servidão extinta. 03 - Apelação conhecida e improvida. Unânime. (APC3510095, Relator JOSE DILERMANDO MEIRELES, 5ª Turma Cível, julgado em 05/06/1995, DJ 28/06/1995 p. 9.043)”. “SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMÓVEL ENCRAVADO. ESTRADA ENTRE DUAS GLEBAS. INEXISTÊNCIA DE SERVIDÃO. IMPRESCINDÍVEL À CONFIGURAÇÃO DA SERVIDÃO DE PASSAGEM SEJA O IMÓVEL ENCRAVADO, DE MODO A IMPOSSIBILITAR O ACESSO A LUGARES PÚBLICOS. (APC3263494, Relator NÍVIO GERALDO GONÇALVES, 3ª Turma Cível, julgado em 01/08/1994, DJ 17/08/1994 p. 9.481)”. De outro lado, causa perplexidade a atitude da AMORVILLE que, mesmo sendo um condomínio, cabendo-lhe zelar pela observância dos seus regimentos por parte dos seus condôminos, recorrendo em muitos casos ao Judiciário para fazê-los cumprir, quando na situação de condômina e, portanto, sujeita às normas da mesma natureza daquelas que defende o cumprimento, age diametralmente em sentido oposto. O desvirtuamento pela AMORVILLE da destinação do imóvel do qual é titular no Condomínio Solar de 112 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Brasília, transformando em portaria um lote residencial, configura abominável paradoxo, com o qual não se compraz o Direito. No caso em exame, a AMORVILLE não demonstrou exercer posse sobre a faixa de terras que chamou de servidão. Não demonstrada a posse, o indeferimento do pleito possessório é medida que se impõe. Por seu turno, o Condomínio Solar de Brasília demonstrou sobejamente a sua posse sobre a área litigiosa. No tocante às ameaças de turbação promovidas pela AMORVILLE estão suficientemente comprovas pelos documentos carreados e pela própria conduta da Associação, declarada nas peças processuais por ela apresentadas. Dentre os fatos que confirmam as ameaças à posse, sobressai a faixa afixada no lote em que a AMORVILLE pretendia instalar a portaria, insuflando terceiros a turbarem a posse do Condomínio Solar de Brasília. No mesmo sentido, convence o Boletim de Ocorrência que culminou com o TC-Queixa-Crime n.º 6477-3, figurando como Querelante CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA e como Querelado MARCO ANTONIO ELEUTÉRIO DE BARROS LIMA. Naquele expediente, segundo declarações colhidas perante a Autoridade Policial, o Requerido Marco Antônio Eleutério de Barros Lima atentou contra a posse do Condomínio Solar de Brasília, serrando a grade externo do condomínio (fl. 151/152). No tocante ao pedido de indenização, as partes se limitaram a deduzir o ressarcimento, sem demonstrar sua ocorrência, tampouco detalhar os alegados danos sofridos, razão pela qual não merece acolhimento. Quanto ao pedido de indenização formulado pelo Condomínio solar de Brasília, nos autos do Interdito, anote-se que nos autos do TC n.º TC-Queixa-Crime n.º 6477-3 houve a composição dos danos por parte do Requerido Marco Antônio Eleutério de Barros Lima, em relação ao qual a desistência do feito é ora homologada. Isso posto, firme nas razões expendidas: a) HOMOLOGO a desistência noticiada nos autos de Interdito Proibitório em relação ao Requerido MARCO ANTÕNIO ELEUTÉRIO DE BARROS LIMA; b) JULGO IMPROCENDENTE o pedido de manutenção de posse formulado pela AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTANGE; e c) JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA nos autos da Manutenção de Posse e do Interdito Proibitório, CONDENANDO a AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTANGE a se abster de praticar qualquer ato que desvirtue a destinação do imóvel tido por QD-03, CONJ-32, LOTE-03, CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA-DF, sob pena do pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis. Destarte, resolvo o mérito das demandas, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTANGE, em ambos os feitos, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em cada um deles, com esteio no artigo 20, §4.º, do Código de Processo Civil. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 113 A AMORVILLE - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTANGE fica intimada, desde já, que deverá cumprir o presente julgado no prazo de 15 (quinze), contados a partir do trânsito em julgado, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento), prevista no art. 475-J do Código de Processo Civil. Transitado em julgado o presente decisum e passado o prazo de cumprimento espontâneo da obrigação, intime-se o CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASLIA a requerer o que de direito, apresentando, se o caso, a planilha atualizada dos cálculos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Paranoá-DF, 09 de dezembro de 2009. —— • —— 114 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Drawback segundo a Jurisprudência do STJ José Roberto da Silva Ex aluno da ESMA/DF 1. INTRODUÇÃO O objetivo do presente trabalho é um estudo a respeito do regime especial de drawback, concentrando na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O Regime Aduaneiro Especial de Drawback é um incentivo à exportação e compreende a restituição, suspensão ou isenção de tributos incidentes na importação de mercadoria utilizada na industrialização de produto exportado ou a exportar. O drawback de restituição praticamente não é mais utilizado, então o regime em exame compreende, basicamente, as modalidades de isenção e suspensão. O instrumento de incentivo à exportação compreende a suspensão ou isenção do Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Imposto sobre Operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS). Não se pretende, de forma alguma, exaurir o tema, mesmo porque a delimitação de espaço faz com que o assunto seja tratado com menos profundidade. 2. CONCEITO O regime aduaneiro especial de Drawback, como bem ensina Leone Soares de Resende, “é palavra inglesa de uso internacional e seu significado genérico é reembolso de direito alfandegários, representando em consequência, benefício fiscal”. Outra conceito foi muito bem apresentado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Humberto Gomes de Barros, no REsp 196.161/RS, que consignou no seu voto o seguinte: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 115 “(...) drawback (‘arrastar de volta’, em tradução literal) é a operação pela qual o contribuinte se compromete a importar mercadoria, assumindo o compromisso de a exportar após beneficiamento. O Estado, de sua vez, interessado em agregar valor à mercadoria, aceita o compromisso, concedendo benefícios fiscais ao importador. Isto significa, a operação resulta de um negócio sinalagmático, em que o importador assume a obrigação de beneficiar e reexportar e o Estado, de sua parte, outorga o benefício”. O Drawback consiste, basicamente, na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para utilização em produto exportado. O objetivo é incentivar as exportações, pois, ao desonerar as importações e aquisições no mercado interno, o produto nacional se torna mais competitivo no mercado internacional. As vantagens para o produtor ou industrial que se utiliza do regime de drawback são as seguintes, segundo Leone Soares de Resende, em seu livro Exportação e “Drawback”: - poderá melhorar a margem de resultado dos produtos exportados, considerando que os insumos importados passarão a ser obtidos a preços sensivelmente reduzidos; ou - poderá reduzir o preço de venda de seus produtos na exportação, permitindo com isso penetrar em mercados até então inacessíveis, em virtude da economia havida no custo dos insumos importados sob ‘drawback’. O Ministro José Delegado no REsp 209.998/RJ citando Helson C. Braga (in “O Processo de Liberalização e Generalização do Drawback”, artigo publicado na Revista de Finanças Públicas, nº 359, julho/set. de 1984, pgs. 71 e segs.) muito bem conceituou o instituto do drawback, explicando o seguinte: “O “drawback” é um incentivo concedido às empresas fabricantes-exportadoras, que permite importar, livres do pagamento de tributos e taxa, itens destinados a integrar um produto final, com a condição básica de este ser exportado. O objetivo central do incentivo é, portanto, aumentar a competitividade no mercado externo, ao retirar dos custos – e, consequentemente, dos preços de venda – os encargos fiscais que incidem sobre os componentes importados. Introduzido na legislação brasileira em 1966 (Decreto-lei nº 37, de 18/11/66), o “drawback” só entrou em operação três anos depois. Até 1979, o sistema “drawback” foi administrado conjuntamente pela CACEX, pela Comissão de Política Aduaneira (CPA) e pela Secretaria de Receita Federal (SRF). Em janeiro daquele ano, todas as funções administrativas do sistema foram concentradas na CACEX, à exceção dos procedimentos relacionados com a restituição de 116 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 impostos, que permaneceu com a SRF. A centralização operacional na CACEX não resultou, porém, em simplificação do mecanismo, em função de várias medidas restritivas introduzidas a partir de 1980, entre as quais: a) o estabelecimento dos programas de importação, em dezembro de 1980, negociado pelas empresas juto à CACEX, e no qual as importações sobre o “drawback” foram incluídas; b) a criação, em março de 1982, de uma lista de produtos cuja importação foi temporariamente suspensa. A lista alcançou praticamente todos os produtos produzidos internamente, deixando de fora apenas aqueles produtos não fabricados domesticamente sob condições de preço e qualidade comparáveis com o similar de origem externa. Somente esses últimos produtos poderiam se importados sob “drawback”; e c) a exigência, a partir de fevereiro de 1983, de um financiamento externo mínimo. As importações sob “drawback”, passaram, assim, a depender do suprimento de crédito dos fornecedores e/ou da exportação à vista. O ano de 1983 marcou, também, o início da reversão da tendência restritiva da administração do “drawback”, no sentido da maior liberalização (automatismo na concessão de guias de importação) generalização (extensão do mecanismo aos vários estágios do processo de produção) do sistema. O primeiro movimento, ocorrido em março, consistiu na introdução do “drawback” verde-amarelo (Portaria nº 68, de 28/3/83, do Ministro da fazenda), com o que se procurou ampliar o regime aos estágios anteriores à exportação do produto final, envolvendo insumos domésticos (ver Seção 2). O passo mais importante, entretanto, foi dado com o Comunicado CACEX nº 52 de 27/6/83, que desvinculou as importações sob “drawback” dos programas de importação e da lista de mercadorias com emissão de guia suspensa, além de liberá-las do exame de similaridade nacional (ver Seção 3). No mesmo precedente acima citado, também, é mencionado trecho do artigo “Análise Jurídica do Drawback – Suspensão”, publicado na Revista de Direito Administrativo, nº 176, pgs. 161/166, abril/jun. 1989, conforme passo a registrar (fls. 161/165) de Maria Teresa Borja que assim define drawback: “Nos termos do parágrafo único do art. 314 do Regulamento Aduaneiro (RA), o “drawback” é um regime aduaneiro especial; visa a incentivar a exportação, pela eliminação, no custo final dos produtos nacionais exportáveis, do ônus tributário relativo a mercadorias estrangeiras utilizadas naqueles. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 117 O inc. I do mencionado art. 314 prevê a possibilidade de “suspensão do pagamento exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após o beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou ao acondicionamento de outra a ser exportada.” Nesta modalidade de “drawback”, quando da importação, ocorrem os fatos geradores das obrigações fiscais que ficam registrados e confessados em termo de reponsabilidade firmado pelo beneficiário (art. 249 do RA). A cobrança é adiada pelo prazo máximo de, em regra, dois anos, podendo chegar a cinco anos, quando se trate da importação de mercadoria destinada à produção de bens de capital. Dentro deste prazo, devem se realizar as exportações (art. 4º do Decreto-lei 1.722/79 e arts. 250 e 318 do RA). Ocorrendo a exportação dentro do prazo, a suspensão do pagamento transforma-se em isenção definitiva. Não sendo assim, o beneficiário deverá liquidar o débito correspondente em 30 dias. (art. 319 do RA). Como veremos a seguir, o “drawback”-suspensão é uma isenção suspensivamente condicionada. José Souto Maior Borges, em seu Isenções Tributárias, esclarece a diferença básica entre isenções sujeitas a condições suspensiva e resolutiva: “Nas isenções suspensivamente condicionadas, antes da complementação do ciclo formativo do fato gerador da isenção, existe a obrigação tributária, precisamente porque ainda não incidiu a regra jurídica de isenção, de vez que a sua hipótese de incidência não chegou a realizar-se, posto que não se verificaram concretamente todos os elementos necessários à composição do suporte fático da regra isentiva. A isenção sob condição suspensiva não se objetiva antes do cumprimento da condição e, portanto, existe obrigação tributária até que se realize a condição exigida para o gozo da isenção. Contrariamente, a isenção concedida sob a condição resolutiva existe até o implemento da condição e, pois, inexiste obrigação tributária antes da realização da condição.” Conforme observação de Ruy Jorge R. Pereira Filho, nas isenções suspensivamente condicionadas, o incentivo não é a suspensão da exigibilidade dos tributos, pois o fato gerador terá ocorrido e a obrigação tributária existitá, ficando apenas pendente. Na verdade, a suspensão é tão-somente uma etapa entre a ocorrência dos fatos geradores dos tributos e a sua exoneração após cumprida a condição que, no caso do “drawback” – suspensão, é a exportação. Evidentemente, a simples suspensão gera uma vantagem financeira em favor do contribuinte que deixa de efetuar desembolso significativo. Entrementes, esta vantagem é provisória e precária, pois a 118 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 isenção definitiva depende do implemento da condição de exportação, sem a qual o contribuinte estará obrigado a liquidar o débito em 30 dias a contar da data do vencimento do prazo para exportação, constante do respectivo ato concessório de “drawback”. 2.1. Modalidades Existem três modalidades de Drawback: a) Suspensão: de competência da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), consiste na suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após o beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada; b) Isenção: concessão e administração de alçada do Banco do Brasil, por delegação da Secex, consiste na isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalente à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado. c) Restituição: de competência da Secretaria da Receita Federal (SRF), consiste na restituição dos tributos pagos na importação de mercadoria posteriormente exportada. Esta modalidade praticamente não é mais utilizada. 2.2. Abrangência do Regime O regime aduaneiro especial originou-se no inciso II, do art. 78 do Decreto-Lei nº 37, de 18 de novembro de 1966, o qual assevera que poderá ser concedida “suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada”. As condições impostas por esta norma foram estabelecidas pelo art. 5º da Lei nº 8.032/90 que asseverou o seguinte: O regime aduaneiro especial de que trata o inciso II do art. 78 do o Decreto-Lei n 37, de 18 de novembro de 1966, poderá ser aplicado à importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes destinados à fabricação, no País, de máquinas e equipamentos a serem fornecidos no mercado interno, em decorrência de licitação internacional, contra pagamento em moeda conversível proveniente de financiamento concedido por instituição financeira internacional, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 119 da qual o Brasil participe, ou por entidade governamental estrangeira ou, ainda, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, com recursos captados no exterior. A Lei nº 11.732/2008 explicou, ainda, em seu art. 3º que “licitação internacional é aquela promovida tanto por pessoas jurídicas de direito público como por pessoas jurídicas de direito privado do setor público e do setor privado”. A Portaria SECEX nº 10, de 24 de maio de 2010, discriminou a abrangência do regime nos seguintes termos: Art. 62. O regime de drawback poderá ser concedido a operação que se caracterize como: I - transformação – a que, exercida sobre matéria -prima ou produto intermediário, importe na obtenção de espécie nova; II - beneficiamento – a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto; III - montagem – a que consista na reunião de produto, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal; IV - renovação ou recondicionamento – a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização; V - acondicionamento ou reacondicionamento – a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação de embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem colocada se destine apenas ao transporte de produto; a) entende-se como “embalagem para transporte”, a que se destinar exclusivamente a tal fim e for feito em caixas, caixotes, engradados, sacaria, bar ricas, latas, tambores, embrulhos e semelhantes, sem acabamento ou rotulagem de função promocional e que não objetive valorizar o produto em razão da qualidade do material nele empregado, da perfeição do seu acabamento ou da sua utilidade adicional. Art. 63. O regime de drawback poderá ser, ainda, concedido a: I - mercadoria para beneficiamento no País e posterior exportação; II - matéria-prima, produto semielaborado ou acabado, utilizados na fabricação de mercadoria exportada, ou a exportar; III - peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, de máquina, de veículo ou de equipamento exportado ou a exportar; IV - mercadoria destinada à embalagem, acondicionamento ou apresentação de produto exportado ou a exportar, desde que propicie, compro vadamente, uma agregação de valor ao produto final; V - animais destinados ao abate e posterior exportação; 120 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 VI - matéria-prima e outros produtos que, embora não integrando o produto a exportar ou exportado, sejam utilizados em sua industrialização, em condições que justifiquem a concessão; e VII - (alterado pela Portaria SECEX n° 12, de 28 de junho de 2010) (revogado pela Portaria SECEX n° 15, de 13 de agosto de 2010) Art. 64. Não poderá ser concedido o regime de drawback para: I - importação de mercadoria utilizada na industrialização de produto destinado ao consumo na Zona Franca de Manaus e em áreas de livre comércio localizadas em território nacional; II - exportação ou importação de mercadoria suspensa ou proibida; III - exportações conduzidas em moedas não conversíveis (exceto em reais), inclusive moedaconvênio, contra importações cursadas em moeda de livre conversibilidade; e IV - importação de petróleo e seus derivados, exceto coque calcinado de petróleo e nafta petroquímica; e (alterado pela Portaria SECEX n° 12, de 28 de junho de 2010) V – as hipóteses previstas nos incisos IV a IX do art. 3º da Lei nº 10.637, de 30 de dezembro de 2002, nos incisos III a IX do art. 3º da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e nos incisos III a V do art. 15 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004. (incluído pela Portaria SECEX n° 12, de 28 de junho de 2010). 3. O DRAWBACK E O DUMPING É necessário ressaltar que as normas que disciplinam as medidas antidumping aplicam-se às modalidades de drawback. As normas que disciplinam a aplicação de procedimentos administrativos relativos às medidas antidumping são as previstas no Decreto 1.602, de 23 de agosto de 1995. A conceituação de dumping encontra-se no art. 4º do referido Decreto, o qual assevera: “Art. 4º Para os efeitos deste Decreto, considera-se prática de dumping a introdução de um bem no mercado doméstico, inclusive sob as modalidades de drawback , a preço de exportação inferior ao valor normal”. A verificação do que seja “valor nominal” é feita com base em critérios estabelecidos pelo próprio decreto, nos seguintes termos: Art. 5º Considera-se valor normal o preço efetivamente praticado para o produto similar nas operações mercantis normais, que o destinem a consumo interno no país exportador. § 1º O termo “produto similar” será entendido como produto idêntico, igual sob todos os aspectos ao produto que se está examinando, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 121 ou, na ausência de tal produto, outro produto que, embora não exatamente igual sob todos os aspectos, apresente característica muito próximas às do produto que se está considerado. § 2º O temo “país exportador” será entendido como país de origem e de exportação, exceto na hipótese prevista no art. 10. § 3º Serão normalmente consideradas como em quantidade suficiente para a determinação do valor normal as vendas do produto similar destinadas ao consumo do mercado interno do país exportador, que constituam cinco por cento ou mais das vendas do produto em questão ao Brasil, admitindo-se percentual menor quando for demostrado que vendas internas nesse percentual inferior ocorrem, ainda assim, em quantidade suficiente que permita comparação adequada. Art. 6º Caso inexistam vendas do produto similar nas operações mercantis normais no mercado interno ou quando, em razão das condições especiais de mercado ou do baixo volume de vendas, não for possível comparação adequada, o valor normal será baseado: I - no preço do produto similar praticado nas operações de exportação para um terceiro país, desde que esse preço seja representativo; ou II - no valor construído no país de origem, como tal considerado o custo de produção no país de origem acrescido de razoável montante a Título de custos administrativos e de comercialização, além da margem de lucro. § 1º Poderão ser consideradas, por motivo de preço, como operações mercantis anormais e desprezadas na determinação do valor normal, as vendas do produto similar no mercado interno do país exportador ou as vendas a terceiro país, a preços inferiores aos custos unitários do produto similar, neles computados os custos de produção, fixos e variáveis, mais os administrativos e de comercialização. § 2º O disposto no parágrafo anterior aplica-se-á somente quando se apurar que as vendas são realizadas: a) ao longo de um período dilatado, normalmente de um ano, mais nunca inferior a seis meses; b) em quantidades substanciais, como tal consideradas as transações levadas em conta para a determinação do valor normal, realizadas a preço médio ponderado de vendas inferior ao custo unitário médio ponderado, ou um volume de vendas abaixo do custo unitário correspondente a vinte por cento ou mais do volume vendido nas transações consideradas para a determinação do valor normal; e c) a preços que não permitam cobrir todos os custos dentro de período razoável. § 3º O disposto na alínea c do parágrafo anterior não se aplica quando se apurar que os preços abaixo do custo unitário, no momento da 122 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 venda, superam o custo unitário médio ponderado obtido no período de investigação. § 4º Poderão ser consideradas como operações mercantis anormais e desprezadas na determinação do valor normal as transações entre partes consideradas associadas ou que tenham celebrado entre si acordo compensatório, salvo se comprovado que os preços e custos, a elas relacionados, sejam comparáveis aos das operações efetuadas entre partes que não tenham tais vínculos. § 5º Os custos, de que trata o inciso II deste artigo, serão calculados com base em registros mantidos pelo exportador ou pelo produtor objeto de investigação, desde que tais registros estejam de acordo com os princípios contábeis aceitos no país exportador e reflitam os custos relacionados com a produção e a venda do produto em causa. § 6º Serão levados em consideração os elementos de prova disponíveis sobre a correta distribuição de custos, inclusive aqueles fornecidos pelo exportador ou produtor durante os procedimentos da investigação, desde que tal distribuição tenha sido tradicionalmente utilizada pelo exportador ou produtor, particularmente na determinação dos períodos adequados de amortização e depreciação e das deduções decorrentes de despesas de capital e outros custos de desenvolvimento. § 7º Será efetuado ajuste adequado em função daqueles itens de custos não-recorrentes que beneficiem a produção futura, atual, ou ambas, ou de circunstâncias nas quais os custos, observados durante o período de investigação, sejam afetados por operações de entrada em funcionamento, a menos que já se tenham refletido na distribuição contemplada no parágrafo anterior. § 8º Os ajustes efetuados em razão da entrada em funcionamento devem refletir os custos verificados ao final do período de entrada ou, caso tal período se estenda além daquele coberto pelas investigações, os custos mais recentes que se possam levar em conta durante a investigação. § 9º O cálculo do montante, referido no inciso II deste artigo, será baseado em dados efetivos de produção e de venda do produto similar, efetuadas pelo produtor ou pelo exportador sob investigação, no curso de operações mercantis normais. § 10. Quando o cálculo do montante não puder ser feito com base nos dados previstos no parágrafo anterior, será feito por meio de: a) quantias efetivamente despendidas e auferidas pelo exportador ou produtor em questão, relativas à produção e à venda de produtos da mesma categoria, no mercado interno no país exportador; b) média ponderada das quantias efetivamente despendidas e auferidas por outros exportadores ou produtores sob investigação, em reRevista da Escola da Magistratura - nº 13 123 lação à produção e à comercialização do produto similar no mercado interno do país exportador; ou c) qualquer outro método razoável, desde que o montante estipulado para o lucro não exceda o lucro normalmente realizado por outros exportadores ou produtores com as vendas de produtos da mesma categoria geral, no mercado interno do país exportador. Art. 7º Encontrando-se dificuldades na determinação do preço comparável no caso de importações originárias de país que não seja predominantemente de economia de mercado, onde os preços domésticos sejam em sua maioria fixados pelo Estado, o valor normal poderá ser determinado com base no preço praticado ou no valor construído do produto similar, em um terceiro país de economia de mercado, ou no preço praticado por este país na exportação para outros países, exclusive o Brasil, ou, sempre que isto não seja possível, com base em qualquer outro preço razoável, inclusive o preço pago ou a pagar pelo produto similar no mercado brasileiro, devidamente ajustado, se necessário, a fim de incluir margem de lucro razoável. § 1º A escolha do terceiro país de economia de mercado adequado levará em conta quaisquer informações fiáveis apresentadas no momento da seleção. § 2º Serão levados em conta os prazos da investigação e, sempre que adequado, recorrer-se-á a um terceiro país de economia de mercado que seja objeto da mesma investigação. § 3º As partes interessadas serão informadas, imediatamente após a abertura da investigação, do terceiro país de economia de mercado que se pretende utilizar, e poderão se manifestar no prazo fixado para a restituição dos respectivos questionários, de que trata o caput do art. 27. Percebemos, assim, que as medidas protetivas do Dumping também se aplicam ao drawback, ou seja, a mercadoria não pode ser importada com preço inferior ao praticado pelo país de onde se originou a exportação, contendo assim a prática desleal no comércio internacional. 4. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO A Lei 8.212/91, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências, em seu art. 47, I, a, assevera que “é exigida Certidão Negativa de Débito – CND, fornecida pelo órgão competente da empresa na contratação com o Poder Público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício concedido por ele”. Já o art. 60 da Lei 9.069/95 dispõe que “a concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à 124 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais”. Resta saber qual o momento a CND pode ser exigida do contribuinte, ou na concessão do benefício, ou no seu reconhecimento, ou ainda, exigir a certidão nos dois momentos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se exigir a CND no momento da concessão, não podendo ser exigida novamente a certidão no desembaraço. O Ministro do Humberto Gomes de Barros, no REsp 196.161/RS, define com precisão o momento da exigência da CND no regime de drawback, nos seguintes termos: Com efeito, drawback (‘arrastar de volta’, em tradução literal) é a operação pela qual o contribuinte se compromete a importar mercadoria, assumindo o compromisso de a exportar após beneficiamento. O Estado, de sua vez, interessado em agregar valor à mercadoria, aceita o compromisso, concedendo benefícios fiscais ao importador. Isto significa, a operação resulta de um negócio sinalagmático, em que o importador assume a obrigação de beneficiar e reexportar e o Estado, de sua parte, outorga o benefício fiscal. Como se percebe, a operação é uma só – embora se prolongue no tempo e se reparta em várias operações. Vale dizer: ela se aperfeiçoa em um ato complexo. A teor do Art. 47, I, a, da Lei 8.212/91, exige-se certidão negativa na contratação de benefício do incentivo fiscal. A União assevera que, por força do Art. 60 da Lei 9.069/95, a exigência de certidão incide, tanto na concessão quanto no reconhecimento do incentivo. Não é bem assim: o Art. 60 exige a certidão, na concessão, ou no reconhecimento: em um ou no outro momento. Na hipótese, houve a concessão do benefício, antecedida pela exibição do documento negativo. Não há, pois, como exigir nova certidão, para que o importador cumpra seu compromisso de drawback (arrastar de volta a mercadoria beneficiada).Sustentar o contrário seria atentar contra o bom senso. De fato, vedar a importação, após concedido o benefício, seria impedir o aperfeiçoamento da operação drawback, em prejuízo da própria União. O Ministro do STJ Luiz Fux ao julgar o REsp 839.116/BA, também, esclareceu sobre o tema, asseverando o seguinte: Drawback é a operação pela qual a matéria-prima ingressa em território nacional com isenção ou suspensão de impostos, para ser reexportada após sofrer beneficiamento. O artigo 60, da Lei nº 9.069/95, dispõe que: “A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais.” Revista da Escola da Magistratura - nº 13 125 A indagação que se faz é se o drawback é uma operação única, com três momentos distintos, ou uma operação bipartida, em que o Fisco pode exigir do contribuinte nova documentação quando da reexportação. Adotando o posicionamento desta Corte, caracteriza-se o drawback - “arrastar para trás” ou “arrastar de volta” - como negócio jurídico único, de efeito diferido, que se aperfeiçoa em um ato complexo. Desta sorte, o artigo 60 da Lei nº 9.069/95, ao contrário do sustentado pela Fazenda Nacional, exige a certidão na concessão ou no reconhecimento do incentivo, vale dizer: em um momento ou em outro e não sob a forma cumulativa. Com efeito, consoante jurisprudência reiterada deste Superior de Justiça, concedido o drawback não se admite que a CND seja exigida no momento do desembaraço aduaneiro, quando há comprovação da regularidade fiscal antes do deferimento do benefício. Nesse mesmo sentido foi o julgamento do REsp 652.276/RS, relator Ministro Teori Albino Zavascki, que decidiu da seguinte forma: Tanto o acórdão recorrido como o recurso especial afirmam que, no momento da concessão do benefício tributário, foi apresentada a certidão negativa de débito, tendo sido novamente exigida a comprovação da regularidade fiscal da empresa no momento do desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas. Nesse contexto, observa-se que o entendimento exposto pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, haja vista que “não é licita a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro da respectiva importação, se já ocorreu a apresentação do certificado negativo antes da concessão do benefício por operação no regime de drawback “ (REsp 434.621/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 23.09.2002). Corroborando, ainda, este entendimento cito o REsp 413.934/RS, relator Ministro Castro Meira, que no voto condutor do acórdão assim afirma: Preliminarmente, cumpre ressaltar, que o conceito de drawback (“arrastar de volta” ou “arrastar para trás”, em tradução literal), segundo o entendimento deste Tribunal, consiste na operação que o contribuinte se compromete à importação de mercadoria, vindo a assumir o compromisso de a exportar, após seu beneficiamento. Assim, merece reparos o acórdão regional, visto que esta Corte tem-se orientado em considerar exigível a apresentação da Certidão Negativa de Débito apenas em um dos momentos da operação drawback :ou na concessão do benefício ou no reconhecimento de que o con126 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 tribuinte faz jus a ele. Por consequência, não é necessária a apresentação da CND no momento do desembaraço aduaneiro, na hipótese em que já houve a comprovação de regularidade fiscal anterior ao deferimento do benefício. Tal deferimento, assim, tem como pressuposto o atendimento à exigência legal, quanto à quitação dos tributos e contribuições federais, como se depreende do disposto no artigo 60 da Lei nº 9.069/95: “Art. 60. A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais”. O Ministro José Delgado, no REsp 434.621/RS, acrescenta a esses entendimentos que o Fisco não pode fazer uma exigência que não está na lei e que fazendo isso estaria causando dano tanto ao contribuinte, quanto a ele mesmo, pois estaria burocratizando o regime cada vez mais. Já a Ministra Eliana Calmon, no REsp 240.322/RS, explica com precisão o fato do drawback ser uma operação única com três momentos distintos, aduzindo o seguinte: Entende-se como DRAWBACK a operação pela qual há isenção ou suspensão no pagamento de matéria prima importada, que será reexportada após sofrer beneficiamento. A operação é do interesse do Estado que, na condução da política fiscal, estabelece o regime de drawback, com a outorga de beneficio fiscal. Dentro da sistemática existem três momentos distintos: a)quando a mercadoria ingressa no território nacional; b)quando a mercadoria, no País, sofre o beneficiamento; e c)quando a mercadoria beneficiada vai ser reexportada. Na hipótese dos autos, a empresa importou mercadorias estrangeiras, apresentou a documentação pertinente, beneficiou-as e, quando da exportação, não apresentando certidão negativa, teve obstada a operação no momento do despacho aduaneiro, porque vigente a MP 569/94, convertida na Lei 9.069/95, que dispõe no seu art. 60: A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal, relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica condicionada à comprovação pelo contribuinte, pessoa física ou jurídica, da quitação de tributos e contribuições federais. E como exige o regulamento aduaneiro a comprovação do cumprimento de todas as obrigações fiscais, por ocasião do desembaraço aduaneiro (art. 444, Decreto 91.010, de 05/03/85), a sentença e o acórdão denegaram a segurança. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 127 A questão que se coloca é saber se o drawback é operação única, com três momentos distintos, ou operação bipartida, em que o Fisco pode exigir do contribuinte nova documentação quando da reexportação. Entendo, pela sistemática do drawback (o que significa “arrastar para trás” ou “arrastar de volta”), que temos um negócio único, um ato jurídico singular, de efeito diferido, porque pendente uma condição resolutória que poderá frustrar o negócio. Deste modo, não se há de exigir nova documentação, ou novos encargos, senão aqueles existentes quando do fato gerador da operação. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento, portanto, que a Certidão Negativa de Débito deve ser exigida no momento da concessão do drawback, não sendo admitida a sua exigência no momento do desembaraço aduaneiro. Isso porque o regime aduaneiro especial de drawback é operação única que possui três momentos distintos: quando a mercadoria ingressa no território nacional, quando sofre o beneficiamento e quando é exportada. Assim, não se pode exigir nova documentação em cada momento, pois o fato gerador é único. 5. A TAXA DE CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS O assunto a ser tratado neste tópico refere-se à incidência da taxa de classificação de produtos vegetais quando os referidos produtos destinarem-se a exportação sob o regime de drawback. Será analisado a evolução deste tema baseado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na Lei 9.9972/2000 que revogou a Lei 6.305/75. Os artigos 1º e 7º da Lei 6.305/75 previam a incidência da taxa nos seguintes termos: Art. 1º - Fica instituída, em todo o território nacional, a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico, destinados à comercialização interna. Art. 7º - Ficam sujeitos também ao regime estabelecido nesta Lei, os estabelecimentos que beneficiam, descascam e enfardam produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, incluídos na pauta a que alude o art. 5º. O art. 5º a que se refere o art. 7º da Lei 6.305 assim dispõe: “Art. 5º - Os produtos, subprodutos e resíduos de valor econômico sujeitos à classificação, na forma desta Lei, serão inscritos em pauta de prioridade estabelecida pelo Ministério da Agricultura”. O Ministro João Otávio de Noronha no REsp 357.107/SC assim explanou sobre o tema: No que tange à questão central da controvérsia – incidência da taxa de classificação dos produtos vegetais quando destinados à impor128 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 tação sob o regime de drawback –, matéria devidamente apreciada pela Corte de origem, é conveniente transcrever o art. 1º da Lei n. 6.305/75, in verbis : ‘Art. 1º Fica instituída, em todo o território nacional, a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico, destinados à comercialização interna’. Tem-se, pois, que a dicção do citado preceito não deixa margem de dúvidas de que a classificação dos produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico é aplicável tão-somente aos produtos destinados à comercialização interna, tornando, portanto, inexigível nas situações de que ora se cogita, isto é, empresa submetida ao regime de drawback , porquanto os produtos vegetais por ela importados destinam-se ao exterior. Instituindo a Lei n. 6.305/75 a exigibilidade da taxa de classificação dos produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, quando destinados à comercialização interna, é de se entender, diversamente, que os produtos vinculados ao regime de drawback não se sujeitam à imposição fiscal da referida norma legal. Ora, prevendo o regime de drawback que impõe-se à matéria-prima que ingressa no território nacional a submissão de futura exportação, posta-se incólume de reparos o entendimento exarado no voto divergente, fls. 187/190, ao afastar qualquer inferência de que ‘pode haver fraude, e, em vez de ser reexportado, o produto fica no país’, pois ‘presume-se que um produto importado sob o regime drawback vai ser reexportado’. Utilizando o princípio da legalidade tributária como fundamento de decidir, o Ministro Castro Meira, no REsp 365.684/SC, afirma que submeter à classificação os produtos importados em regime de drawback seria violar o citado princípio. Transcrevo trecho do voto condutor do citado recurso especial: A Lei nº 6.305/75 instituiu o procedimento de classificação de produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, quando assim estabeleceu: ‘Art. 1º. Fica instituída, em todo o território nacional, a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico, destinados à comercialização interno’. O artigo 7º do mesmo diploma legal assim dispõe: ‘Art. 7º. Ficam sujeitos, também ao regime estabelecido neste Lei, os estabelecimentos que beneficiam, descascam e enfardam produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, incluídos na pauta a que alude o art. 5º’. Conclui-se que, despicienda a ocorrência ou não do processo de beneficiamento dos produtos, subprodutos ou resíduos, o que importa, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 129 é o fato de serem ou não destinados à comercialização interna a fim de que se submetam ao regime de classificação e, por via de consequência, à exigência da taxa. Entretanto, caso os produtos sejam destinados à reexportação, sob o regime de drawback , porque não direcionados à comercialização interna, não se sujeitam à cobrança da Taxa de Classificação de Produtos Vegetais, ainda que beneficiados, descascados ou enfardados. O tributo torna-se exigível se a lei assim expressamente o declare, indicando os elementos do fato gerador, da sua base imponível, da alíquota e revelando quais são os sujeitos ativos e passivos. Se a Lei nº 6.305/75 determinou que a Taxa de Classificação de Produtos Vegetais somente se aplicaria quando destinados à comercialização interna, submeter à classificação aqueles que não tenham tal destinação, caracterizar-se-ia afronta ao princípio da legalidade tributária. A natureza da importação, produto importado em regime de drawback suspensão - destina-se a exportação futura e não à comercialização no mercado interno. No REsp 417.821/RS, o Min. Luiz Fux muito bem explana sobre o conceito de drawback e a incidência da taxa de classificação de produtos vegetais fazendo o cotejo entre as razões do contribuinte e do Fisco. O voto condutor do acórdão foi proferido nos seguintes termos: Destaque-se que o Decreto-Lei n.º 37/68, que dispõe sobre o Imposto de Importação, instituiu o regime aduaneiro denominado drawback o qual pode ser concedido sob três modalidades: restituição, suspensão, e isenção do tributo, as quais estão disciplinadas em seu art. 78: Decreto-Lei n.º 37, de 18 de novembro de 1966. “Art. 78. Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento: (...) II – Suspensão do pagamento dos tributos incidentes sobre a importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada ; (...)” O Decreto n.º 68904/71, que regulamenta o art. 78, do Decreto-Lei n.º 37/68, traz, em seus arts. 4º a 6º a disciplina do draw-back, concedido sob a modalidade de suspensão, destacando que, nos casos em que a exportação do produto importado não for efetivada no prazo constante do expediente autorizativo da suspensão (art. 4º, alínea “d” c/c art. 6º), o exportador deverá quitar o débito tributário no 130 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 prazo de 30 (trinta) dias, dando conhecimento ao órgão responsável pela concessão do drawback. Verifica-se, assim, que os produtos importados no regime de draw-back a que está submetido a empresa recorrida que não forem exportados no prazo estabelecido quando da sua concessão ficam com a exigibilidade do imposto de importação suspensa, até o implemento da exportação (condição suspensiva) a qual, se efetivada dentro daquele lapso temporal, isenta o contribuinte de tal exação. Forçoso concluir, então, que os produtos importados no regime de drawback , na modalidade de suspensão, são destinados ao mercado externo. Por sua vez, da dicção do o art. 1º, da Lei n.º 6.305/75, que instituiu a classificação dos produtos vegetais, subprodutos e resíduos de valor econômico, depreende-se que tal classificação aplica-se, somente, aos produtos destinados à comercialização interna, tornando, portanto, inexigível da empresa recorrente, a cobrança da taxa de classificação: Lei n.º 6.305, de 15 de dezembro de 1975. “Art. 1º Fica instituída, em todo o território nacional, a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico, destinados à comercialização interna. (...)” Argumenta a recorrente que o citado preceito normativo foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 1.899/91, no qual não consta a limitação da classificação aos produtos destinados à comercialização interna: Decreto-Lei n.º 1.899, de 21 de dezembro de 1981 “Art. 1º. Ficam instituídas as taxas de classificação, inspeção e fiscalização, de competência do Ministério da Agricultura, relativas a produtos animais e vegetais ou de consumo nas atividades agropecuárias. Art. 2º. O valor das taxas será determinado em função de múltiplos ou frações do valor nominal de uma Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional (ORTN), fixado para os meses de janeiro e julho de cada ano, na forma seguinte: (...) III – pela classificação de produtos vegetais (...) Art. 3º. O fato gerador das taxas é a prestação dos serviços referidos no artigo precedente, pelo Ministério da Agricultura, no uso de sua competência, bem como o regular exercício de seu poder de polícia.” Aduz, ainda, a recorrente que a Lei n.º 8.171/91 ampliou os limites do poder de polícia de classificação atribuído ao Ministério da Agricultura pela Lei n.º 9.649/98 (art. 14, III), verbis: LEI N° 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991 “Art. 37. É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de produtos vegetais e animais, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 131 subprodutos e derivados e seus resíduos de valores econômico, bem como dos produtos agrícolas destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo.” LEI Nº 9.649, DE 27 DE MAIO DE 1998 “Art 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são os seguintes: (...) III - Ministério da Agricultura e do Abastecimento: (...) g) classificação e inspeção de produtos e derivados animais e vegetais; (...)’ Por sua vez, sustenta a empresa recorrida, nesta parte: “(...) Trata-se de legítima e documentada importação de produtos vegetais (soja em grão) sob o regime de ‘drawback’, por isso que destinados à reexportação, e não à comercialização interna, e por isso mesmo alheios ao regime de classificação instituído pela Lei n.º 6.305/75, cujo artigo 1º é expresso por demais claro no sentido de que somente seriam objeto de classificação (sob o regime da referida lei), os produtos vegetais, os subprodutos e resíduos de valor econômico, ‘destinados à comercialização interna’, o que, por óbvio, não pode atingir aqueles vegetais legal e contratualmente destinados à reexportação, sob o regime de ‘drawback’. Foi exclusivamente sob o regime dessa mesma lei, aliás, conforme facultado no respectivo artigo 3º, que o Ministério da Agricultura atribuiu a empresas privadas, como no caso ora ‘sub judice’, para o exercício da atividade de classificar os produtos vegetais, não em todas e quaisquer situações, mas exclusivamente, conforme dito no artigo 1º da Lei n.º 6.305/75, para efetuar ‘a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico, destinados à comercialização interna (sublinhou-se). Diverso é o regime de classificação instituído através da Lei n.º 5.025/96, relativo ao comércio exterior que atribui ao CONCEX, ou entidades ou a órgãos por ele credenciados, a classificação dos produtos agrícolas, pecuários, etc., destinados à exportação. Um e outro regime, atribuído a autoridades e órgãos distintos, complementam-se, mas não se misturam e não se sobrepõem. Esses dois regimes convivem paralelamente, sem que as autoridades que zelam por um se imiscuem no outro, e isto até mesmo para a segurança jurídica das empresas, submetidas, conforme o caso, a um e outro regime. Nem mesmo a Lei n.º 8.171/91, que dispõe sobre a política agrícola em nosso País, contradita esse dúplice regime de classificação, an132 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 tes o reafirma, no artigo 37, ao dizer que ‘É mantida, no território nacional, a exigência de padronização, fiscalização e classificação de produtos vegetais e animais, subprodutos e derivados e seus resíduos de valor econômico, bem como dos produtos agrícolas destinados ao consumo e à industrialização para o mercado interno e externo’. E nem poderia ser diferente, pois essa Lei n.º 8.171/91, é expressa em manter a exigência, entre outras, da classificação, porque já vinha sendo imposta, indiscutidamente, através de regimes legais diferentes. Trata-se, pois, ao contrário do que pretende a ASCAR, de mais uma razão, e de reforço, a que, sob o regime de classificação instituído através da Lei n.º 6.305/75, o Ministério da Agricultura e a ASCAR se mantenham a classificar produtos vegetais exclusivamente quando destinados ao comércio interno, não se avançando nos destinados à exportação, como ocorre no caso presente. (...)” Do cotejo entre as razões das partes verifica-se que desassiste razão à ASCAR. Os produtos vegetais destinados ao comércio exterior serão classificados por órgão diverso daqueles destinados ao mercado interno, os primeiros pelo Conselho Nacional de Comércio Exterior – CONCEX (art. 3º, III, da Lei n.º 5.025/66) e estes pelo Ministério da Agricultura (art. 14, III, “g”, da Lei nº 9.649/98 c/c art. 1º, da Lei n.º 6.305/75). Em assim sendo a classificação de produtos destinados ao mercado interno e os que serão exportados, têm órgãos fiscalizadores e diplomas legais distintos. Nesse sentido são os preceitos da Lei n.º 5.025/66, que trata da classificação dos produtos vegetais destinados à exportação: Lei n.º 5.025, de 10 de junho de 1966 “Art. 3º. Compete privativamente, ao Conselho Nacional de Comércio Exterior: (...) III – Decidir sobre normas, critérios e sistemas de classificação comercial dos produtos objeto do comércio exterior; (...) Art. 19. Os produtos agrícolas, pecuários, matérias-primas minerais e pedras preciosas destinadas à exportação deverão ser classificados, padronizados ou avaliados, previamente, quando assim o exigir o interesse nacional, observado o disposto no artigo 20. Art. 20. O Conselho Nacional do Comércio Exterior baixará os atos necessários à máxima simplificação e redução de exigências de papéis e trâmites no processamento das operações de exportação e deverá, também, de imediato, promover, definir e regular: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 133 a) a determinação dos produtos a que se refere o art. 19, destinados à exportação que devam ser previamente classificados, padronizados ou avaliados, vem como as normas e critérios a serem adotados e o sistema de fiscalização e certificação; (...)” Ademais, forçoso é convir que a taxa de classificação somente é devida pelos estabelecimentos cujos produtos vegetais sejam destinados à comercialização interna, e não pelas empresas submetidas ao regime de draw-back , porquanto- os produtos vegetais por ela importados são destinados à reexportação. E, nessa última hipótese não há o ato a que se refere ao art. 20 supratranscrito. Consequentemente, não há lei determinando o pagamento de taxa de classificação de produtos vegetais a serem exportados. Sob esse ângulo, como é cediço, é defeso criar obrigação tributária não prevista em lei, em razão do Princípio da Legalidade a que está submetida a Administração Pública. Ocorre que a Lei 9.972, de 25 de maior de 2000, em seu art. 13 revoga expressamente a Lei 6.305/75. A questão a ser analisada é saber se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça ainda persiste em face da aludida revogação. Primeiramente, cumpre ressaltar que a obrigatoriedade da classificação de produtos vegetais continua, pois a Lei 9.972/2000 estabelece a mesma exigência quanto a classificação. Verifica-se, entretanto, que a Lei 9.972/2000 não mais estabelece que a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico sejam destinados à comercialização interna, que era a pedra de toque que conduzia todos os precedentes acima citados. Observa-se, portanto, que a classificação dos produtos vegetais também é perfeitamente possível quando a comercialização encontra-se sob o regime de drawback. Outra inovação introduzida pela nova lei de classificação de produtos vegetais é o fato de não ser possível à aplicação da palavra “taxa” para se denominar o valor pago pela referida classificação, pois os dois artigos que se referiam aquela palavra foram vetados. As razões que levaram o Presidente da República a vetar os referidos artigos reside basicamente no fato de que não só o Estado-Membro e o Distrito Federal poderão exercer a fiscalização, podendo, também, ficar autorizadas a fiscalizar órgãos ou empresas especializada, as cooperativas agrícolas, as empresas ou entidades especializadas na atividade; as bolsas de mercadorias, as universidades e os institutos de pesquisa, conforme determina o art. 4º da referida lei. E o art. 5º do Código Tributário Nacional estabelece que taxa é um tributo, e o art. 77 da mesma lei assevera que a taxa “tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição”, não sendo possível, por conseguinte denominar o valor pago pela classificação de “taxa”, tendo em vista a prestação desse serviço pelo setor privado. 134 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 6. Princípio da vinculação física versus Princípio da fungibilidade A modalidade de suspensão no regime especial de Drawback tem como princípio a vinculação física entre o insumo importado e o produto objeto da exportação conforme se depreende do art. 389 do novo regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 6.759/09, o qual assevera que as mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas. O princípio da vinculação física se coaduna com o princípio da fungibilidade, pois a legislação aduaneira não proíbe a utilização de bens fungíveis com o fim de se comprovar a adequação ao regime, desde que a operação seja realizada dentro do prazo de validade do Ato Concessório de Drawback. A vinculação física do Drawback na modalidade suspensão traz riscos às empresas que realizam operações de comércio exterior. Ressaltando as que utilizam os materiais importados tanto para a produção para o mercado interno, quanto para o externo. Há de ser feito o cotejo do “princípio da vinculação física” com o “princípio da fungibilidade”, com o objetivo de não se inviabilizar o regime aplicando-se somente a vinculação sem temperamentos, quanto desfigurá-lo aplicando-se indiscriminadamente o princípio da fungibilidade. O Superior Tribunal de Justiça já sinaliza para essa nova visão como se demonstrará da análise de julgados que trataram do tema. No REsp 341.285/RS a Segunda Turma do STJ, rel. Min. Herman Benjamim, deixou consignado que “em se tratando de insumo fungível, não é necessária a identidade física para fins de drawback, bastando a equivalência entre o produto importado e aquele destinado à exportação”. O Decreto nº 7.213/2010 ao incluir o art. 384-A ao Decreto nº 6.759/2009 deixou bem claro o tema ao disciplinar o seguinte: Art. 384-A. Poderá ser concedido o regime de drawback, na modalidade de suspensão, para mercadoria importada, de forma combinada ou não, com mercadoria adquirida no mercado interno, para: I - emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado. No caso do recurso especial citado o contribuinte adquiria soda cáustica tanto no mercado externo, quanto no externo, para a fabricação de celulose. Sendo que a 2ª Turma não considerou nem mesmo razoável que a fábrica tivesse dois estoques de soda cáustica, um com o produto importado e outro com o adquirido no mercado nacional, mesmo sendo idênticos os produtos. Já no REsp 413.564/RS, Primeira Turma, relator para o acórdão Ministro José Delgado, também, foi mitigada a exigência prevista no art. 389 do Decreto 6.759/2009, que estabelece a vinculação física entre as mercadorias importadas e as que vierem a ser exportadas. É salutar que analisemos o andamento deste julgamento para entendermos a evolução do tema da vinculação física no Superior Tribunal de Justiça. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 135 A Ministra Denise Arruda relatora original do recurso especial iniciou o julgamento votando pela necessidade da observância da vinculação física no regime de drawback, citando a legislação pertinente à época, nos seguintes termos: O Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966, que dispõe sobre o Imposto de Importação, reorganiza os serviços aduaneiros e dá outras providências – ao disciplinar, no Título III, os regimes aduaneiros especiais, especificamente no capítulo III desse título, que trata das Importações vinculadas à Exportação - prevê o regime de drawback , nas seguintes modalidades: “Art.78 - Poderá ser concedida, nos termos e condições estabelecidas no regulamento: I - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam incidido sobre a importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada; II - suspensão do pagamento dos tributos sobre a importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada; III - isenção dos tributos que incidirem sobre importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalentes à utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado.” Por sua vez, o anterior Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 91.030, de 5 de março de 1985, trazia as seguintes normas gerais sobre o drawback : “Art. 314 - Poderá ser concedido pela Comissão de Política Aduaneira, nos termos e condições estabelecidas no presente capítulo, o benefício do drawback nas seguintes modalidades: I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada; II - isenção dos tributos exigíveis na importação de mercadoria, em quantidade e qualidade equivalente à utilização no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado; III - restituição, total ou parcial, dos tributos que hajam sido pagos na importação de mercadoria exportada após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementação ou acondicionamento de outra exportada. Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo é considerado incentivo à exportação. Art. 315 - O benefício do drawback poderá ser concedido: I - à mercadoria importada para beneficiamento no País e posterior exportação; II - à mercadoria - matéria-prima, produto semielaborado ou acabado utilizada na fabricação de outra exportada, ou a exportar; 136 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 III - à peça, parte, aparelho e máquina complementar de aparelho, máquina, veículo ou equipamento exportado ou a exportar; IV - à mercadoria destinada a embalagem, acondicionamento ou apresentação de produto exportado ou a exportar, desde que propicie comprovadamente uma agregação de valor ao produto final; V - aos animais destinados ao abate e posterior exportação. § 1º - O benefício também poderá ser concedido para matéria-prima e outros produtos que, embora não integrando o produto exportado, sejam utilizados na sua fabricação em condições que justifiquem a concessão. § 2º - O benefício poderá ainda ser concedido, em caráter especial, na modalidade do inciso II do artigo anterior, a setores definidos pela Comissão de Política Aduaneira, a fim de ser reposta a matéria-prima nacional utilizada na exportação, de sorte a beneficiar a indústria exportadora ou o fornecedor nacional e para atender peculiaridades de mercado.” Como visto, o regime aduaneiro especial de drawback, instituído pelo Decreto-Lei 37/66, é um incentivo à exportação. Segundo Roosevelt Baldomir Sosa, esse regime tem por finalidade: “propiciar ao exportador nacional condições competitivas em termos de preços internacionais desonerando-o dos encargos financeiros devidos numa importação comum, sob condição de que os produtos importados sejam empregados, direta ou indiretamente na industrialização dos produtos nacionais a serem exportados”’ (Comentários à Lei Aduaneira: Decreto 91.030/85, São Paulo: Aduaneiras, 1995, p. 269). No regime de drawback, modalidade suspensão, os fatos geradores das obrigações tributárias ocorrem por ocasião do desembaraço aduaneiro. Como se trata de importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento, ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada, há a suspensão do pagamento dos tributos exigíveis. Dessarte, havendo a exportação no prazo e condições legais, a suspensão do pagamento transforma-se em isenção definitiva, ensejando a exclusão do crédito tributário. Todavia, não-atendidas as condições legais, tornam-se exigíveis os tributos suspensos, independentemente de constituição formal do crédito tributário. Conforme Roosevelt Baldomir Sosa (ob. cit., p. 271): “A condição resolutiva do regime é, obviamente, a exportação. Realizada esta, a suspensão tributária se transmuta numa isenção de fato. Esgotado o prazo de exportação sem que esta se efetive in concreto ressurge integralmente a exigência do crédito fiscal.” Conforme se depreende da leitura do § 2º do art. 315 do citado Regulamento, no drawback suspensão, ao contrário do que ocorre na modalidade isenção, tem-se que é imprescindível a vinculação física entre os insumos importados e os produtos exportados, ou seja, os insumos importados devem ser efetivamente empregados na indusRevista da Escola da Magistratura - nº 13 137 trialização dos produtos a serem exportados. Segundo José Lopes Vazquez (Comércio Exterior Brasileiro, 3ª edição, São Paulo: Atlas, 1998, p. 80), havendo o inadimplemento do compromisso de exportar, em razão da não-utilização ou utilização parcial das mercadorias importadas, incidirão os tributos suspensos, haja vista que, de acordo com a legislação, o beneficiário do incentivo fiscal deverá: “a. providenciar a devolução ao exterior ou a reexportação das mercadorias não utilizadas; b. requerer a destruição das mercadorias imprestáveis ou das sobras; c. destinar as mercadorias remanescentes para consumo interno, quando os tributos suspensos deverão ser pagos com os acréscimos legais.” Entender dispensada a identidade física entre a mercadoria importada e a posteriormente exportada implica descaracterizar o incentivo instituído pelo drawback, modalidade suspensão. O disposto no art. 341 do atual Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4.543/2002, coaduna-se com o entendimento acima exposto: “Art. 341. As mercadorias admitidas no regime, na modalidade de suspensão, deverão ser integralmente utilizadas no processo produtivo ou na embalagem, acondicionamento ou apresentação das mercadorias a serem exportadas. Parágrafo único. O excedente de mercadorias produzidas ao amparo do regime, em relação ao compromisso de exportação estabelecido no respectivo ato concessório, poderá ser consumido no mercado interno somente após o pagamento dos impostos suspensos dos correspondentes insumos ou produtos importados, com os acréscimos legais devidos.’ Tal orientação também harmoniza-se com o comando do art. 111 do Código Tributário Nacional: ‘Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.’ No sentido da necessária observância da vinculação física no regime de drawback , já decidiu tanto o extinto Tribunal Federal de Recursos quanto este Superior Tribunal de Justiça, conforme consta dos julgados cujas ementas são transcritas a seguir: “TRIBUTÁRIO. IMPORTAÇÃO. REGIMES BEFIEX E ‘DRAW-BACK’. AFRMM. I- Não se confundem os regimes Befies e ‘Drawback’, haja vista que, enquanto aquele está visceralmente ligado a um programa especial de exportação em determinado espaço de tempo, condicionado a divisas positivas no saldo comercial, irrelevante o bem exportado (produto de manufatura138 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 ção programada), este último, o ‘drawback’, consiste em que o importador, para o gozo dos benefícios instituídos, obrigue-se a manter o vínculo de reexportação da mercadoria adentrada ao território nacional, com a adição de qualquer implemento industrial (melhoramento, utilização em fabrico de outro produto, etc.). II- Dá-se a isenção tão somente pelo fundamento da reexportação em face do vínculo físico da mercadoria (drawback). O vínculo econômico ou financeiro (Befiex) não autoriza a isenção do AFRMM. III- Legítima a exigência do AFRMM, dada a sua previsão legal e ausência de norma legal que isente o programa Befiex de seu recolhimento. IV- Segurança cassada. Provimento da remessa oficial e do recurso voluntário da União Federal.” (AMS 116.571/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Pedro Acioli, DJ de 11.10.1988; RTFR, vol. 164, p. 397) “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DO ADICIONAL DE FRETE PARA A MARINHA MERCANTE - AFRMM. EQUIVALÊNCIA COM O SISTEMA DRAWBACK. IMPOSSIBILIDADE. A isenção, no sistema jurídico-tributário vigorante, só é de ser reconhecida pelo Judiciário em benefício do contribuinte, quando concedida, de forma expressa e clara pela lei, devendo a esta se emprestar compreensão estrita, vedada a interpretação ampliativa. Para efeito da isenção do AFRMM, o regime Befiex não se equipara, juridicamente, ao sistema denominado DRAWBACK. Enquanto, naquele (Befiex), o beneficiário do incentivo obriga-se a efetivar, em determinado prazo, um programa especial de exportação de produtos manufaturados, devendo, na dilação, apresentar saldo positivo de divisas (seja qual for o bem exportado), no regime aduaneiro do DRAWBACK, o que se verifica é o vínculo físico (e não financeiro) entre a mercadoria importada e exportada; aquela deverá ser usada na fabricação (complementação ou acondicionamento) do produto exportado. A lei instituidora do sistema Befiex (Decreto-lei n. 1.219/72) veda, de forma expressa, a cumulação do referido benefício fiscal com outros previstos na legislação tributária. O Befiex, segundo a jurisprudência predominante, é coberto, apenas, pelos benefícios fiscais consignados no Decreto-lei n. 1.219/72, que o instituiu, gozando, tão só, da isenção do IPI e do imposto de exportação. Recurso provido. Decisão unânime.” (REsp 36.551/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJ de 4.10.1993; RSTJ, vol. 59, p. 324)” Logo após este voto, o Ministro José Delgado abriu a divergência, no que foi acompanhado pelos demais ministros, proferindo o voto vencedor nos seguintes termos: “O acórdão considerou que a empresa está beneficiada pelo regime “drawback”, com base nos seguintes fundamentos: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 139 “TRIBUTÁRIO. DRAWBACK. SUSPENSÃO. SODA CAÚSTICA. DESVIO DE FINALIDADE. EMPREGO DE MATÉRIA-PRIMA IDÊNTICA NA FABRICAÇÃO DO PRODUTO EXPORTADO. IMPOSTO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O fato da soda cáustica empregada na industrialização da celulose não ter sido aquela objeto da importação não descaracteriza o drawback, quando utilizado similar nacional e realizada a exportação da mercadoria, sendo a finalidade deste regime de tributação especial incentivar a indústria exportadora. 2. Se a contribuinte deu outra destinação às matérias-primas importadas, não as utilizando nos produtos a serem exportados, mas empregando em sua fabricação insumos nacionais em quantidade e qualidade equivalentes, não há razão para desconstituir o benefício da suspensão do tributo, eis que inexistente prejuízo à Fazenda Pública.” Ora, o benefício tributário foi reconhecido por: a) a empresa não ter empregado a soda cáustica importada na industrialização da celulose, porém, em similar nacional que foi exportado; b) o fato da empresa ter dado outra destinação às matérias-primas importadas não ser suficiente para desconstituir o benefício fiscal em questão. Reconheceu-se que a empresa, pelo fato de ter aplicado produto nacional – similar à soda caústica importada – na fabricação da celulose, que foi regularmente exportada, não constitui causa suficiente para afastar o benefício fiscal. A jurisprudência desta Casa encontra-se firme no entendimento de que é desnecessária a identidade física entre a mercadoria importada e a posteriormente exportada no produto final, para fins de fruição do benefício de drawback, não havendo nenhum óbice a que o contribuinte dê outra destinação às matérias-primas importadas quando utilizado similar nacional para a exportação. Merece, portanto, ser mantido o aresto de segundo grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos”. Já no REsp 591.624-AgRg/RS, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma do STJ, a hipótese dos autos foi a importação de óleo de soja bruto, e a exportação do mesmo produto após processo de industrialização, sob o regime do drawback, no voto condutor do acórdão o relator asseverou a desnecessidade da vinculação física nos seguintes termos: “Conforme consta no acórdão recorrido, não é necessário que exista uma identidade absoluta do produto que foi importado e o exportado, pois tratando-se de bem fungível, pode ser utilizado outro de igual espécie, qualidade e quantidade para que faça valer o benefício fiscal. 140 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 No caso em testilha, trata-se de importação de óleo de soja bruto e a exportação de igual produto, após processo de industrialização, razão que enseja a aplicação do benefício fiscal conhecido como ‘drawback’. Nesse sentido, destaco o voto proferido no acórdão recorrido: ‘Toda essa absurda e indefensável exigência do fisco estadual ,de que o óleo bruto que entra na importação , deve ser exata e rigorosamente o mesmo que, refinado, sai exportado, não podendo ser substituído por outro, já pronto, me faze lembrar a estória daquela ‘velhinha’ que, depositando diariamente, em caderneta de poupança, as sua modesta economias, semanalmente comparecia ao banco e exigia do gerente que a levasse ao cofre e lhe mostrasse que todo o seu dinheirinho, nota por nota, ali estava, intacto, reservado e disponível, isto é, para a velhinha, o dinheiro tinha que ser, absurdamente, o mesmo que ela havia depositado no banco!’” A edição da Medida Provisória 497/2010 tende a regulamentar a matéria aqui debatida, no sentido de se admitir a substituição dos produtos. A citada medida provisória em seu art. 8º deu nova redação ao art. 17 da Lei 11.774/08, que ficou assim redigido: “Art. 17. Para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. § 1o O disposto no caput aplica-se também ao regime aduaneiro de isenção e alíquota zero, nos termos, limites e condições estabelecidos pelo Poder Executivo. § 2o A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Secretaria de Comércio Exterior disciplinarão em ato conjunto o disposto neste artigo” (NR) 7. Decadência As matérias-primas ao serem importadas em regime especial de drawback na modalidade suspensão e não sendo cumprido o prazo para exportação dos produtos com ela fabricados são exigíveis os tributos referentes à citada importação. Resta, portanto, saber o prazo de decadência para que o Fisco possa cobrar os referidos tributos. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 658.404/RJ, rel. Min. Denise Arruda, expõe de forma didática a jurisprudência da Corte sobre este tema nos seguintes termos: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 141 A Primeira Seção desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 572.603/PR, sob a relatoria do eminente Ministro Castro Meira, DJ de 5.9.2005, p. 199, afastou o entendimento de que a Fazenda Pública estaria impedida de efetivar o lançamento do crédito tributário, cuja exigibilidade esteja suspensa em decorrência de ordem judicial, sob a justificativa de que tal orientação implicaria a interrupção do prazo decadencial, fenômeno que não se coaduna com a natureza do instituto da decadência. Eis, a propósito, a ementa do referido julgado: “TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. SUSPENSÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nas exações cujo lançamento se faz por homologação, havendo pagamento antecipado, conta-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4º, do CTN), que é de cinco anos. 2. Somente quando não há pagamento antecipado, ou há prova de fraude, dolo ou simulação é que se aplica o disposto no art. 173, I, do CTN. 3. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede o Fisco de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à regular constituição do crédito tributário para prevenir a decadência do direito de lançar . 4. Embargos de divergência providos.” Ocorre que, na hipótese dos autos, tendo sido importadas matérias-primas do exterior sob o regime de drawback , modalidade suspensão, a recorrente acabou por descumprir o prazo que lhe fora concedido para exportar os produtos com elas fabricados, recebendo, por isso, intimação para recolher os tributos incidentes sobre tais importações. A respeito das disposições gerais aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais, assim estabelecia o Decreto-Lei 37/66: “Art 71. Ressalvado o disposto no Capítulo V deste Título, as obrigações fiscais e cambiais relativas a mercadoria transportada sob controle aduaneiro, ou quando sujeita a regimes aduaneiros especiais , se constituirão mediante termo de responsabilidade e serão cumpridas nos prazos fixados no regulamento, não superiores a 1 (um) ano, salvo prorrogação em caráter excepcional, a qual, a juízo da autoridade aduaneira não ultrapassará, igualmente, o prazo originariamente concedido. 142 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 § 1º Aplica-se a disposição deste artigo ao termo de responsabilidade para cumprimento de formalidades ou apresentação de documento. § 2º No caso deste artigo, a autoridade aduaneira poderá exigir garantia pessoal ou real. Art 72. O Departamento de Rendas Aduaneiras poderá estabelecer a forma e momento de apresentação do documento comprobatório da chegada da mercadoria a seu destino.” Sobreveio o Decreto-Lei 2.472/88, conferindo a seguinte redação aos mencionados artigos do Decreto-Lei 37/66: “Art.71 - Poderá ser concedida suspensão do imposto incidente na importação de mercadoria despachada sob regime aduaneiro especial, na forma e nas condições previstas em regulamento, por prazo não superior a 1 (um) ano, ressalvado o disposto no § 3º, deste artigo. § 1º - O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado, a juízo da autoridade aduaneira, por período não superior, no total, a 5 (cinco) anos. § 2º - A título excepcional, em casos devidamente justificados, a critério do Ministro da Fazenda, o prazo de que trata este artigo poderá ser prorrogado por período superior a 5 (cinco) anos. § 3º - Quando o regime aduaneiro especial for aplicado à mercadoria vinculada a contrato de prestação de serviços por prazo certo, de relevante interesse nacional, nos termos e condições previstos em regulamento, o prazo de que trata este artigo será o previsto no contrato, prorrogável na mesma medida deste. § 4º - A autoridade aduaneira, na forma e nas condições prescritas em regulamento, poderá delimitar áreas destinadas a atividades econômicas vinculadas a regime aduaneiro especial, em que se suspendam os efeitos fiscais destas decorrentes, pendentes sobre as mercadorias de que forem objeto. § 5º - O despacho aduaneiro de mercadoria sob regime aduaneiro especial obedecerá, no que couber, às disposições contidas nos artigos 44 a 53 deste Decreto-Lei. § 6º - Não será desembaraçada para reexportação a mercadoria sujeita à multa, enquanto não for efetuado o pagamento desta. Art.72 - Ressalvado o disposto no Capítulo V deste Título, as obrigações fiscais relativas à mercadoria sujeita a regime aduaneiro especial serão constituídas em termo de responsabilidade . § 1º - No caso deste artigo, a autoridade aduaneira poderá exigir garantia real ou pessoal. § 2º - O termo de responsabilidade é título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação às obrigações fiscais nele constituídas . § 3º - O termo de responsabilidade não formalizado por quantia certa será liquidado à vista dos elementos constantes do despacho aduaneiro a que estiver vinculado. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 143 § 4º - Aplicam-se as disposições deste artigo e seus parágrafos, no que couber, ao termo de responsabilidade para cumprimento de formalidade ou apresentação de documento.” (original sem grifo) Por sua vez, o Regulamento Aduaneiro anterior, aprovado pelo Decreto 91.030/85, vigente à época da impetração, assim dispunha: “Art. 249 - As obrigações fiscais suspensas pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais serão constituídas em termo de responsabilidade firmado pelo beneficiário (Decreto-Lei nº 37/66, artigo 71, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.223/72). § 1º - A autoridade aduaneira poderá exigir garantia real ou pessoal para o termo de responsabilidade no valor das obrigações suspensas (Decreto-Lei nº 37/66, artigo 71 - alterado pelo Decreto-Lei nº 1.223/72 - § 2º). § 2º - Não estará sujeito a assinatura de termo de responsabilidade o beneficiário do regime de entreposto industrial (Decreto-Lei nº 37/66, artigo 71, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.223/72). ............................................................................................ Art. 547 - O termo de responsabilidade é o documento mediante o qual se constituem obrigações fiscais cujo adimplemento fica suspenso pela aplicação dos regimes aduaneiros especiais ou pela postergação de cumprimento de formalidades ou de apresentação de documentos, ou, ainda, por outros motivos previstos neste Regulamento ou em atos normativos destinados a complementá-lo (Decreto-Lei nº 37/66, artigo 71, alterado pelo Decreto-Lei nº 1.223/72). Parágrafo único - O termo não formalizado por quantia certa será liquidado à vista dos elementos constantes do despacho aduaneiro a que se vincula. Art. 548 - O termo de responsabilidade constitui título representativo de direito líquido e certo da Fazenda Nacional com relação à obrigação tributária nele garantida. § 1º - Não cumprida a obrigação, principal ou acessória, cuja suspensão lhe deu causa o termo será objeto de execução administrativa na forma de ato normativo do Secretário da Receita Federal. § 2º - Não efetuado o pagamento do crédito tributário exigido, o termo será encaminhado à cobrança judicial.” (original sem grifo) Anelise Daudt Prieto, Membro da Terceira Câmara do Terceiro Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, em artigo intitulado “O limite temporal para a exigência do imposto de importação no regime aduaneiro especial de drawback suspensão”, elabora um minucioso estudo a respeito do termo final do prazo para a Fazenda Nacional exigir o imposto de importação no drawback suspensão, transcrevendo, dentre várias referências bibliográficas, trechos do livro “Regimes Aduaneiros Especiais”, de autoria do professor e 144 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 tributarista Osíris de Azevedo Lopes Filho. Confiram-se, por serem bastante oportunos, os seguintes excertos do mencionado estudo: “2.3. Fato Gerador e Lançamento No que concerne ao fato gerador nos regimes aduaneiros especiais trago, novamente, trecho da obra de Lopes Filho, que discorreu muito bem sobre o tema. Ressalto, entretanto, que o disposto à época em que o texto foi redigido, no artigo 71 do Decreto-Lei nº 37/66, consta, após o advento do Decreto-Lei nº 2.472/88, do artigo 72 do mesmo diploma, com alterações que não são significativas para comprometer o raciocínio elaborado: ‘........................................................................................... (...) Dispõe o Decreto-lei 37/66, em seu art. 71, introdutório dos regimes aduaneiros especiais, que as obrigações cambiais e fiscais, relativas à mercadoria sujeita a regimes aduaneiros especiais, se constituirão mediante termo de responsabilidade devendo ser cumpridas dentro dos prazos fixados para cada regime, aí incluída a sua prorrogação. O art. 44, do aludido ato legal, fixa o princípio de que o despacho aduaneiro de mercadoria importada, qualquer que seja o regime (a ênfase explicitada é do próprio dispositivo legal), será processado com base em declaração a ser apresentada na repartição aduaneira. Comprova-se, assim, que a legislação de imposto, de forma sistemática, considera que as importações submetidas aos regimes aduaneiros estão na área de incidência do tributo, já que, pela sua entrada no país, materializou-se o fato imponível via adequação do acontecimento à hipótese tributária. O elemento temporal dos regimes aduaneiros especiais, de natureza suspensiva, materializa-se na data em que o importador firma o termo de responsabilidade correspondente ao regime. Tal conclusão deriva do mandamento contido no art. 71 do Decreto-lei 37/66, que determina que as obrigações fiscais se constituirão mediante termo de responsabilidade. Dentre essas obrigações, obviamente, há de estar a principal, que tem por objeto o pagamento do tributo. A redação do referido dispositivo não é clara e padece de imperfeições. Não teria, todavia, consistência um termo de responsabilidade que não previsse o montante do tributo, caso não fosse observada a destinação estabelecida no disciplinamento do regime. Por outro lado, seria inócuo um termo de responsabilidade que dispusesse apenas sobre medidas de controle fiscal, fixando um compromisso da parte do contribuinte.’ ............................................................................................ Elucidativo, também, do raciocínio do autor, o texto que transcrevo a seguir: ‘Veja-se que o fato gerador do Imposto de Importação é a entrada da mercadoria estrangeira no território nacional. Entretanto, a lei elege, por ficção, um momento adiante para caracterizar o seu elemento temporal – o despacho para consumo. No caso dos regiRevista da Escola da Magistratura - nº 13 145 mes suspensivos, será o da assinatura do termo de responsabilidade, quando exigido, ou da declaração para o regime. Todavia, as mercadorias podem ser, ao invés de reexportadas, despachadas para consumo. Neste último caso, o elemento temporal, apresentação do despacho para consumo, sobrepõe-se ao anterior e dá ensejo a novo lançamento – importantíssimo se tiver ocorrido mudanças nos elementos da relação jurídica, como a base de cálculo, alíquota ou sujeito passivo – que tem a propriedade de fazer desaparecer o elemento temporal anterior, tendo em vista que a ficção instituída tem esse efeito. Não se trata de dois elementos temporais existentes e aplicáveis ao mesmo tempo, em relação a um fato imponível. O que ocorre é que a própria lei estabelece coordenadas temporais de formação sucessiva e excludente que, uma vez verificadas, tornam o aspecto temporal anterior irrelevante, exatamente por ser característico dessa ficção, ao prever o novo elemento, fazer desaparecer o anterior, como se não houvesse existido, alterando, portanto, por consequência, os outros elementos da obrigação tributária, caso, na época de sua integralização, já tenha havido modificação desses aspectos. Resta examinar a ocorrência da finalidade jurídica básica do regime: a reexportação da mercadoria, que entrou em um regime aduaneiro, de índole suspensiva. Recordando-se: o lançamento já se verificou por ocasião da lavratura do termo de responsabilidade ou da apresentação da declaração do regime , por ocorrência do elemento temporal da hipótese de incidência do tributo, que deu ensejo à instauração da obrigação tributária. A consequência é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Mas o que acontece com esse crédito tributário, quando se verificar a reexportação? Haveria ocorrência de uma condição resolutiva, que extinguiria a relação jurídica ou se considera inexistente a relação jurídica, pela ausência de elemento temporal, posto que não se verificou despacho para consumo, falta (fato gerador presumido), nem descumpriu-se o prazo do regime que tornaria exigíveis os tributos suspensos? Não é de se admitir nenhuma das duas soluções aventadas. A própria sistemática do regime vinculado à exportação, exceto o caso do trânsito interno, possibilita o entendimento de que a reexportação da mercadoria, entrada no regime suspensivo, é causa de extinção do crédito tributário, anteriormente materializado, e que teve, posteriormente, suspensa a sua exigibilidade. Será, assim, a reexportação mais uma hipótese prevista de extinção do crédito tributário, além das estabelecidas no art. 156 da Lei 5.172/66, que na época em que foi editada não tinha força de lei 146 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 complementar, conforme reserva estatuída pelo art. 18, I, da Emenda Constitucional 1, de 1969. Em verdade, o Decreto-lei 37/66 acrescentou mais uma modalidade de extinção do crédito tributário ao rol do prefalado art. 156. Entende-se, pois, que, nos regimes aduaneiros especiais, de índole suspensiva, o elemento temporal pode materializar-se de forma sucessiva e excludente dos anteriores, e que o lançamento realizado por ocasião da instauração do regime não é necessariamente definitivo, sendo suscetível de alteração, por surgimento de novo aspecto temporal. Por outro lado, se a mercadoria sujeita ao regime é reexportada – cumprimento da sua finalidade – o crédito tributário suspenso se extingue, por ocorrência de modalidades extintivas estabelecidas no Decreto-lei 37/66. Tem-se que o lançamento anteriormente realizado é definitivo, no caso de falta ou não reexportação da mercadoria submetida ao regime suspensivo.’ [sem destaque no original] Ao final do supracitado artigo, a autora assim se posiciona sobre a questão, e conclui: “Portanto, por ocasião da importação do produto ocorre o fato gerador, surge a obrigação tributária, há o lançamento e fica constituído o crédito tributário, que tem sua exigibilidade suspensa durante o prazo da concessão do regime aduaneiro especial, ou seja, até a data em que a mercadoria deve ser exportada. Isto porque conforme o art. 75 c/c art. 78, parágrafo 3º do DL nº 37/66, no regime de que se cuida há suspensão dos tributos que incidem sobre a importação. Além disso, e de forma mais específica, o inciso II do artigo 78 prevê, para o regime, a ‘suspensão do pagamento dos tributos que hajam incidido sobre a importação de mercadoria a ser exportada...’ Em outras palavras, ocorre a suspensão da exigibilidade do tributo. Está-se, então, diante da suspensão da prescrição, prevista de forma não exaustiva no CTN, em seu artigo 151. ............................................................................................ Em suma, depara-se com uma hipótese de suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Vencido o prazo para a exportação das mercadorias sem que esta tenha se efetivado, o crédito será exigível, correndo o prazo para a cobrança do imposto e não para o seu lançamento. Não há por que se falar em decadência, o caso será de prescrição. A Fazenda Pública terá, então, cinco anos para exigir o tributo, o que deverá ser realizado com as garantias do contraditório e da ampla defesa. ............................................................................................ Do exposto, posso elencar as seguintes conclusões: 1. Os regimes especiais de importação seguem regras e princípios que disciplinam relações que se particularizam, abrindo exceções ao regiRevista da Escola da Magistratura - nº 13 147 me comum. Surgiram sob a influência da extrafiscalidade e têm como objetivo básico evitar o pagamento do tributo, permitindo, entretanto, a entrada da mercadoria estrangeira no País, desde que atendida uma destinação específica, estabelecida em lei. 2. O regime aduaneiro especial de drawback suspensão, também conhecido por beneficiamento ativo, prevê a suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada. 3. O objetivo da decadência é a obrigação tributária. O marco a partir do qual desaparece a possibilidade de ocorrer decadência, restando a possibilidade de se verificar a prescrição, é o lançamento. Este último instituto é passível de suspensão e interrupção também em Direito Tributário. 4. No drawback suspensão, em que a lei não estabelece o dever de o sujeito passivo antecipar o pagamento, o lançamento é por declaração e ocorre com a apresentação da declaração e a assinatura do termo de responsabilidade, por meio do qual ficam constituídas as obrigações fiscais. 5. A partir de então, começa a correr o prazo de prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário. Entretanto, a exigibilidade do crédito tributário fica imediatamente suspensa, tendo em vista o disposto no artigo 78, parágrafo 3º c/c artigo 75, ambos do Decreto-Lei nº 37/66, até a data para exportação da mercadoria estabelecida no ato concessório. 6. Em decorrência, se houver inadimplemento total ou parcial da obrigação de exportar a mercadoria, a Fazenda Pública terá cinco anos a partir da data em que a mercadoria deveria ter sido exportada para exercer o seu direito de exigir aquele crédito cuja exigibilidade havia sido suspensa. 7. Em atendimento ao disposto no artigo 5º, inciso LV, da atual Carta Magna, deverá ser possibilitado ao contribuinte que exerça o contraditório e a ampla defesa, tanto administrativa quanto judicialmente.” (PRIETO, Anelise Daudt. Direito Tributário e Processo Administrativo Aplicados . Coordenadores: Heleno Taveira Tôrres/Mary Elbe Queiroz/Raymundo Juliano Feitosa. São Paulo: Quartier Latin, 2005, pp. 493-523). Para que se possa entender melhor este julgado, vamos primeiramente analisar o instituto da decadência incidente sobre o imposto de importação, lembrando que outros tributos, também, incidem sobre a entrada de produtos no território nacional. O II será examinado a título exemplificativo, podendo as considerações seguintes ser aplicadas também aos outros tributos, devendo-se apenas atentar para as singularidades do fato gerador de cada um. 148 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Preliminarmente, observa-se que o prazo de decadência para o Fisco efetuar o lançamento encontra-se disciplinado nos artigos 150 e 173 do Código Tributário Nacional que assim dispõem: Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. § 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. § 2º Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do crédito. § 3º Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua graduação. § 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Surge, então, a questão de saber qual dos dois artigos é aplicado ao imposto de importação, pois se o imposto é pago apenas após o lançamento pelo Fisco aplica-se o artigo 173 do CTN, mas, se ao contrário, o imposto for pago pelo contribuinte e só após homologado pela autoridade competente aplicar-se-ia o artigo 150 do CTN. Alberto 1 Xavier levanta a questão asseverando o seguinte: A aplicabilidade de um ou de outro artigo depende apenas da questão de saber se, de harmonia com o regime jurídico de um determinado imposto, o pagamento deva ser efetuado pelo sujeito passivo apenas após a prática pela autoridade administrativa de um ato administrativo de lançamento ou se, ao invés, o sujeito passivo pode proceder ao pagamento do tributo independentemente da prévia intervenção da autoridade administrativa, limitando-se esta última ao controle a posteriori da regularidade do pagamento previamente realizado. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 149 Verificamos, por conseguinte, que o imposto de importação amolda-se ao contido no art. 150 do CTN tendo em vista que o sujeito passivo tem o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, sendo que o pagamento antecipado pelo obrigado extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. Consequentemente, a sujeição do imposto de importação ao contido no art. 150 do CTN, implica que se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Se fosse aplicado o art. 173 do CTN o crédito tributário extinguir-se-ia após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. O Código Tributário Nacional traz em seu artigo 142 a definição de lançamento que é “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível”. Portanto, não há quanto ao imposto de importação qualquer lançamento, o que corrobora o entendimento que ao citado imposto incide o art. 150 do CTN. Analisemos a seguir o trâmite da importação de mercadoria para podermos compreender melhor como se dá a incidência do imposto de importação. Com o despacho de importação inicia-se o procedimento administrativo de entrada em território nacional de mercadoria proveniente do exterior, o citado despacho é “o procedimento mediante o qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação à mercadoria importada, aos documentos apresentados e à legislação específica” (art. 542 do Decreto 6.759/2009), este procedimento inicia-se com a declaração de importação que é o documento base do despacho de importação. A declaração deverá conter a identificação do importador; e a identificação, a classificação, o valor aduaneiro e a origem da mercadoria (art. 551, § 1º, do Decreto 6.759/2009). Constata-se que até aqui não houve o ato de lançamento, pois a declaração é um ato particular, sendo o lançamento um ato do poder público. O pagamento dos tributos e contribuições federais devidos na importação de mercadorias será efetuado no ato do registo da respectiva declaração de importação (art. 11 da Instrução Normativa SRF 680/2006), ou seja, antes do ato de lançamento, ratificando definitivamente a incidência, no caso, do art. 150 do CTN. Após, o citado registro a declaração de importação passa por procedimentos tendentes ao desembaraço aduaneiro, este desembaraço pode ser automático ou passar por uma conferência aduaneira, sendo examinados os documentos e a mercadorias, conforme dispõe o art. 21 da Instrução Normativa SRF 680/2006 nos seguintes termos: Art. 21. Após o registro, a DI será submetida a análise fiscal e selecionada para um dos seguintes canais de conferência aduaneira: I - verde, pelo qual o sistema registrará o desembaraço automático da mercadoria, dispensados o exame documental e a verificação da mercadoria; II - amarelo, pelo qual será realizado o exame documental, e, não sendo constatada irregularidade, efetuado o desembaraço aduaneiro, dispensada a verificação da mercadoria; 150 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 III - vermelho, pelo qual a mercadoria somente será desembaraçada após a realização do exame documental e da verificação da mercadoria; e IV - cinza, pelo qual será realizado o exame documental, a verificação da mercadoria e a aplicação de procedimento especial de controle aduaneiro, para verificar elementos indiciários de fraude, inclusive no que se refere ao preço declarado da mercadoria, conforme estabelecido em norma específica. § 1o A seleção de que trata este artigo será efetuada por intermédio do Siscomex, com base em análise fiscal que levará em consideração, entre outros, os seguintes elementos: I - regularidade fiscal do importador; II - habitualidade do importador; III - natureza, volume ou valor da importação; IV - valor dos impostos incidentes ou que incidiriam na importação; V - origem, procedência e destinação da mercadoria; VI - tratamento tributário; VII - características da mercadoria; VIII - capacidade operacional e econômico-financeira do importador; e IX - ocorrências verificadas em outras operações realizadas pelo importador. § 2º A DI selecionada para canal verde, no Siscomex, poderá ser objeto de conferência física ou documental, quando forem identificados elementos indiciários de irregularidade na importação, pelo AFRFB responsável por essa atividade. (Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 957, de 15 de julho de 2009) Art. 22. As declarações de importação selecionadas para conferência aduaneira serão distribuídas para os Auditores-Fiscais da Receita Federal (AFRF) responsáveis, por meio de função própria do Siscomex. Art. 23. Na hipótese de constatação de indícios de fraude na importação, independentemente do início ou término do despacho aduaneiro ou, ainda, do canal de conferência atribuído à DI, o servidor deverá encaminhar os elementos verificados ao setor competente, para avaliação da pertinência de aplicação de procedimento especial de controle. 2 Alberto Xavier esclareceu muito bem este ponto, afirmando o seguinte: “Caso o desembaraço aduaneiro se realize automaticamente, nenhum ato administrativo com as características de lançamento terá sido até então praticado. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 151 Ao invés, nas hipóteses em que a conferência aduaneira é obrigatória ela traduz-se num ato administrativo que pode ter um de dois sentidos; ou confirma a regularidade do pagamento entretanto efetuado, revestindo, assim, a natureza da “homologação” a que se refere o art. 150 do CTN; ou, caso constate que foi realizado um pagamento a menor, pratica, de ofício, um ato administrativa de lançamento, que é o título jurídico da exigência da quantia declarada em dívida. A questão da decadência do direito de lançamento coloca-se em termos diversos consoante o desembaraço aduaneiro tenha sido realizado mediante lançamento (conferência aduaneira) ou independentemente do lançamento. No caso de o desembaraço se ter realizado com lançamento, a decadência respeita aos poderes para revisão do mesmo, ou seja, aos poderes para prática de um ato tributário de segundo grau tendo por objeto a revisão de ofício de um ato tributário de primeiro grau entretanto praticado, a conferência aduaneira. Ao invés, nos casos em que não foi feito um lançamento prévio, por não ter sido realizada conferência aduaneira, a decadência respeita aos poderes para realizar o ato tributário primário em que consiste o lançamento de ofício praticado no exercício dos poderes de fiscalização e controle a posteriori das autoridades ficais.” Como bem ressaltou o citado autor, a decadência vai operar-se de maneira distinta a depender se o desembaraço aduaneiro deu-se por lançamento (com conferência aduaneira) ou sem lançamento (automático). Quanto ao primeiro a decadência tem que respeitar a revisão de ofício (ato tributário de segundo grau). Já em relação ao segundo a decadência tem que levar em consideração o lançamento de ofício (ato tributário primário). A revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de exportação (art. 638, do Decreto 6.759/2009). A revisão aduaneira conforme dispõe o § 2º, do mesmo decreto, deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da data do registro da declaração de importação correspondente e do registro de exportação, tendo em vista o princípio da segurança jurídica, não podendo, por conseguinte, a Administração Pública rever seus atos a qualquer momento, sem nenhuma limitação 3 temporal. Alberto Xavier assim se posicionou sobre a questão em tela: “O tema da revisão do lançamento por inciativa de ofício da autoridade administrativa envolve a ponderação de um conflito latente entre o princípio da legalidade – favorável à eliminação da ilegalidade que tenha afetado o ato primário de lançamento – e o princípio da segurança jurídica – favorável à estabilidade das situações 152 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 jurídicas subjetivas declaradas por atos da autoridade pública. Ora, se é certo que a restauração da legalidade violada, pela revisão do ato ilegal, reclama o afastamento de limites que a impeçam ou dificultem, também é verdade que a inexistência desses limites geraria para os particulares intoleráveis situações de incerteza, submetendo-os, porventura de surpresa, a uma pluralidade de novas definições da mesma situação jurídica, por ato da mesma autoridade ou de autoridade distinta, num reexercício ilimitado do seu poder de lançar. Sistemas baseados numa ilimitada revisibilidade dos atos tributários por inciativa da Administração só podem conceber-se em ordens jurídicas de inspiração totalitária, avessas à ideia de segurança jurídica, com a do nacional-socialismo alemão que, no § 19º da steuereinfachungsverordnung, de 14 de setembro de 1944, autorizava a Administração fiscal a corrigir, sem quaisquer limites, os erros das suas decisões. O direito brasileiro estabeleceu para os poderes da revisão do lançamento limites temporais, respeitantes ao prazo dentro do qual a revisão pode ser legitimamente efetuada.” Finalmente, verificamos que o prazo de decadência do direito ao lançamento e de sua revisão quando se tratar do regime especial de drawback suspensão será de cinco anos, sendo que o termo inicial será o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação. Este prazo foi acrescentado ao ordenamento jurídico com o Decreto 6.759/2009, mas precisamente no inciso I, § 3º, do art. 752. 7.1. A decadência do IOF no Drawback O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários (IOF) tem como fato gerador quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este (art. 63, II, do Código Tributário Nacional). A matéria aqui analisada é relativa à questão se a concessão do regime especial de drawback-suspensão seria capaz de postergar o prazo para o Estado proceder ao lançamento do IOF. Já vimos neste capítulo que o prazo decadencial não se interrompe nem se suspenda, portanto a resposta para a indagação acima seria negativa. A Ministra Eliana Calmon teceu alguns comentários sobre o tema no REsp 1.006.535/PR, que em seu voto condutor deixou clara a questão, começando com a transcrição do acórdão recorrido, para logo em seguida rebater as teses nele mencionadas. Transcreveremos a seguir trecho do citado voto: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 153 (...) Merece transcrição o acórdão recorrido: Pretende a União a satisfação de valores de IOF relativos a contrato de câmbio firmado entre o banco, ora executado, e a empresa AUTOLATINA BRASIL S/A, não recolhidos à época da liquidação da operação cambial, pois a última faria uso dos valores para a aquisição de insumos com benefício do regime de drawback-suspensão . O regime aduaneiro especial vinculado à exportação na modalidade suspensão (drawback-suspensão) é incentivo fiscal de política comercial externa, pelo qual, em regra geral, o importador se compromete a importar determinados insumos para a industrialização, exportando o produto final beneficiado em prazo certo. Em contra-partida, ficam os tributos referentes à importação suspensos, sendo extinta a obrigação tributária com a exportação do bem industrializado. Contudo, não cumprindo o contribuinte com o prazo estabelecido para a exportação dos bens, cessa o período de suspensão dos tributos, devendo ser recolhidos na medida das mercadorias não exportadas. Em linhas gerais, o benefício de drawback, a requerimento do interessado, é deferido por Ato Concessório, que detalha os bens a serem importados, seu beneficiamento e o prazo máximo para a exportação da mercadoria. A empresa beneficiária, no ato de importação, firma Termo de Compromisso, que conterá a relação dos tributos devidos para a mercadoria importada, cuja a cobrança fica suspensa por força do regime especial. O e. STJ já se manifestou no sentido de haver a constituição do crédito tributário quando da assinatura do Termo de Compromisso, restando a cobrança suspensa na vigência do drawback . Findo o prazo para a exportação e verificada a inadimplência do contribuinte em exportar, passam os valores a serem plenamente exigíveis, afastado a figura da decadência, pois os créditos estão constituídos desde a assinatura do referido termo. Colaciono decisão do e. STJ nesse sentido: RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO, DEPOIS DE TRANSITADA EM JULGADO A DECISÃO FINAL NO MANDADO DE SEGURANÇA, DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OFERECIDA PARA OBTENÇÃO DA LIMINAR E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INADIMPLEMENTO DO REGIME DE DRAWBACK, MODALIDADE SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO-OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Ao serem importadas matérias-primas do exterior sob o regime de drawback, modalidade suspensão, e ocorrendo, posteriormente, o descumprimento do prazo concedido para a exportação dos produtos 154 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 com elas fabricados, desde então passam a ser exigíveis os tributos incidentes sobre tais importações, cujas obrigações fiscais, de acordo com o art. 72 do Decreto-Lei 37/66, constituem-se mediante termo de responsabilidade assinado pelo beneficiário desse regime aduaneiro especial. 2. Nesse contexto, já constituído o crédito tributário, não se verifica a decadência do direito de a Fazenda Nacional constituí-lo no prazo a que se refere o art. 173, I, do Código Tributário Nacional. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 658404/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.12.2005, DJ 01.02.2006 p. 442) Contudo, tenho que esse não é o caso dos autos. Trata-se de executivo fiscal que pretende a satisfação de débitos de IOF relativos a operação de câmbio, cuja responsabilidade de recolhimento cabe à instituição financeira. Dessa forma, não poderiam os valores devidos constar do Termo de Compromisso firmado pelo importador, pois não lhe cabe seu recolhimento, bem como a referida exação não está diretamente ligada à mercadoria importada, mas a uma operação financeira acessória. Portanto, não tendo ocorrido a constituição do crédito de IOF pela assinatura do Termo de Compromisso, ao contrário do ocorrido com os demais tributos devidos pelo importador (II, IPI, ICMS, AFRMM), bem como não havendo nos autos notícia de qualquer outra forma de constituição, caberia ao fisco proceder o lançamento de ofício do valor dentro do prazo decadencial previsto pelo art.173 do CTN, que assim dispõe: Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. No caso, o fato gerador do IOF teve lugar em outubro de 1987, quando ocorreu a liquidação financeira do contrato de câmbio (fl. 91). No entanto, o lançamento do tributo não podia ser efetuado pela autoridade administrativa, por força do benefício de drawback. Assim, aplica-se a inteligência do inciso I do art. 173 do CTN, que define como marco inicial da decadência tributária o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido Revista da Escola da Magistratura - nº 13 155 efetuado “. Portanto, na vigência do acordo de drawback , não houve o transcurso do prazo decadencial, pois inviável o lançamento do tributo. Conforme consta do relatório fiscal juntado à fl. 85, o regime de drawback teve fim em 08/02/90, quando, não tendo sido cumprido o compromisso de exportar, poderia a autoridade fazendária proceder com o lançamento dos tributos devidos. Assim, o prazo decadencial teve início no primeiro dia do exercício seguinte, ou seja, em 01/01/1991, esgotando-se cinco anos após, em 01/01/1996. No entanto, o banco executado foi regularmente notificado do lançamento efetuado por auto de infração em 10/08/1995 (fl. 84), dentro do prazo legal para a constituição do débito, não havendo falar em decadência. Dessa forma, cabe reformar a sentença para afastar a ocorrência da decadência, determinado o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo e à remessa oficial. A premissa utilizada no acórdão - não houve a constituição do IOF pelo Termo de Compromisso - não se compatibiliza com a noção de que o Fisco somente poderia lançar o crédito do imposto no descumprimento das normas relativas ao regime aduaneiro, como se o direito de lançar ficasse impedido por ato de terceiro. Os direitos potestativos só dependem de seu titular para o exercício, o que os diferem dos direitos à pretensão, que sofrem a influência de terceiros. Por isso que se afirma que o Fisco não está impedindo de promover o lançamento enquanto subsista medida liminar ou qualquer outra causa impeditiva da exigibilidade do crédito . Portanto, o regime aduaneiro em tela somente causa a suspensão do exercício da pretensão tributária durante o prazo fixado no acordo e mantidas as condições do benefício. Se não havia sido lançado o IOF porque não compõe o Termo de Compromisso, já que é tributo estranho à operação de importação e exportação - finalidade do drawback - caberia ao Fisco lançá-lo, considerando a data da ocorrência do fato gerador - outubro de 1987 -, nos termos do art. 63, II, do CTN: Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato gerador: II - quanto às operações de câmbio, a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este; Por isso com acerto a sentença. Configurada a decadência porque o IOF não foi objeto do Termo de Compromisso e, portanto, não foi 156 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 constituído no ato da importação. Não há alegação ou prova de que o tributo foi declarado por qualquer dos sujeitos passivo. A decadência não se interrompe ou suspende e conta-se da data do fato gerador, ocorrência da obrigação tributária. Verificamos que o IOF não é um tributo que faz parte da atividade de importação ou exportação e não integra, em regra, o Termo de Compromisso, que é a forma de constituição do crédito tributário. Observamos, também, que o fato gerador do IOF ocorre a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Portanto, o drawback não interfere na fixação do termo inicial para a constituição do IOF, sendo irrelevante o fato gerador ocorrer no regime especial de drawback ou fora dele. 8. O ICMS no Drawback A incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas operações realizadas sob o regime especial de Drawback esta disciplinada na cláusula primeira do Convênio ICMS 27/90, o qual dispõe que “ficam isentas do ICMS o recebimento pelo importador ou, quando prevista na legislação estadual, a entrada no estabelecimento de mercadoria importada sob o regime de ‘drawback’”. O referido dispositivo assevera ainda, em seu parágrafo único que o benefício somente se aplica às mercadorias beneficiadas com suspensão dos impostos federais sobre importação e sobre produtos industrializado. O STJ interpretando a citada norma afirma que ela está em perfeita consonância com o contido no art. 111, II, do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que “interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção”. O precedente que nos remete a este conceito é o REsp 39.607/SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, que em seu voto conduto expõe o seguinte: “A controvérsia reside na busca da correta interpretação do item 1, do parágrafo único, da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 36/89, expressamente prorrogada pela cláusula primeira do Convênio 09/90, cuja redação é a seguinte: “Cláusula primeira – Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder, segundo o disposto na sua legislação até 31 de julho de 1989, isenção do ICMS no recebimento ou na entrada no estabelecimento do importador, conforme o caso, de mercadoria importada sob o regime “drawback”. Parágrafo único – A outorga do benefício previsto nesta cláusula fica condicionada: 1 – à concessão de suspensão do pagamento dos impostos federais de importação e sobre produtos industrializados; Revista da Escola da Magistratura - nº 13 157 2 – à entrega, pelo importador, até 10 dias após a liberação da mercadoria pela repartição federal competente, de uma cópia da correspondente Declaração de Importação – DI”. O art. 55 e seu § 1º, das Disposições Transitórias do Regulamento do ICMS, na redação do Decreto 30.092/89, ambos do Estado de São Paulo, reproduzem o texto acima transcrito, incorporando-o ao ordenamento jurídico daquela Unidade Federada. Neste passo, peço vênia para reportar-me às judiciosas ponderações contidas no voto-condutor dos Embargos Infringentes, da lavra do ilustre Des. Salles Penteado, que de forma clara e minuciosa deu a correta solução à pendenga, “verbis”: “O “drawback” vem classificado como um regime aduaneiro especial pelo artigo 78 do Decreto-lei nº 37, de 18 de novembro de 1966. Cada inciso daquele texto legal institui uma espécie daquele benefício: restituição total ou parcial de impostos que houvessem incidido na importação de mercadoria, que viesse a ser exportada, após seu emprego no beneficiamento, complementação ou acondicionamento de outra, também exportada (inciso I); suspensão dos tributos incidentes sobre a importação, se a mercadoria deve ser exportada, após seu emprego no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de outra, destinada à exportação (inciso II) e isenção dos tributos incidentes sobre importação de mercadoria, se outra, de qualidade e quantidade equivalentes, tivesse sido utilizada no beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento de produto exportado (inciso III). A suspensão é, portanto, uma isenção sob condição suspensiva; condição cujo implemento ocorre com a exportação da mercadoria, na qual se empregou o produto importado, por uma das formas mencionadas na lei. Já, no “drawback” pela modalidade da isenção, esta última beneficia produto importado, porque anteriormente outro fora exportado e nele se empregara, para beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento, mercadoria de qualidade e em quantidade equivalentes à importada. Ora, como se vê no item 1 do parágrafo único da cláusula primeira do Convênio ICMS nº 36, de 1989 e do artigo 55, § 1º, item 1, das Disposições Transitórias do anterior Regulamento do ICM, a isenção aqui em causa depende, não de isenção dos impostos federais sobre importação ou sobre produtos industrializados, mas sim, da suspensão deles. A divergência, no julgamento dos recursos anteriores a este, manifestou-se na interpretação declarativa (nem ampliativa, nem restritiva), que aos textos por último referidos deu a maioria e na exegese extensiva do ilustrado voto vencido. 158 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Lê-se neste último: “Se a isenção do ICMS incide sobre produtos beneficiados pela isenção condicionada de tributos federais, não se vislumbra razão lógica para que não ocorra também em caso de isenção simples” (fls. 223). A argumentação prossegue, com a invocação de razão, em virtude da qual se concede a isenção, que reside na política nacional de barateamento do custo de produtos exportáveis, para concluir: “Deflui-se disto que não se deve distinguir se a operação foi privilegiada “a priori”, através da suspensão, ou “a posteriori”, através da isenção simples. A distinção seria absolutamente irrelevante, sem efeitos jurídicos, dado que afinal, se cuidaria de um só fenômeno, o da isenção” (fls. 223/224). Mas, são de diversa natureza uma e outra das formas de isenção, aqui em causa. A pura e simples beneficia produto que se importa. Mas, foi noutro; no que já se exportou, que se empregou, para beneficiamento, fabricação, complementação ou acondicionamento, mercadoria em quantidade e de qualidade equivalente à importada. Esta é objeto do benefício fiscal; aquela, da exportação. A isenção condicionada beneficia o próprio produto exportado, porque nele se empregou o anteriormente importado, tornando definitivo o benefício antecipado na importação. É claro que a isenção teve por objeto o importo de importação mas o produto importado ou tornou-se parte integrante, ou acessório do exportado, motivo pelo qual a exportação torna definitiva a isenção. O Convênio ICMS nº 36, de 1989, faz a distinção criticada pelo ilustrado voto vencido, para restringir a isenção do ICMS somente à hipótese de suspensão do pagamento dos impostos federais sobre importação e sobre produtos industrializados. Feita a distinção, não há como deixar de submeter a ela a operação, ainda que ao julgador ela pareça ilógica. Isto, tanto mais, ao se considerar que deve ser literal a interpretação de lei que conceda isenção de tributos (artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional). Mas, a distinção não é ilógica, dadas as diferenças marcantes, seja quanto à forma de concessão, seja quanto ao produto beneficiado por uma e por outra espécie de isenção: a simples e a condicionada. O respeitável voto minoritário utiliza-se de outro argumento, este de ordem constitucional, para estender a isenção do ICMS à hipótese de isenção pura e simples do imposto federal sobre importação. A Constituição Federal, argumenta-se, ao dispor sobre o ICMS, diz que ele não incidirá “sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados, excluídos os semielaborados definidos em lei complementar” (artigo 155, § 2º, X, “a”). Revista da Escola da Magistratura - nº 13 159 A disposição não faz distinções, prossegue o argumento, nem se refere a nenhuma situação que, no procedimento fiscal, pudesse excluir o benefício. E conclui-se: “Daí que a menção, nas normas estaduais (convênios e regulamento) à suspensão, como fator determinante de não incidência do ICMS, deve ser interpretada como abrangentes também da isenção simples. Interpretação restrita implicaria em afronta à norma constitucional e à outras normas legais hierarquicamente superiores” (folha 224). O argumento, “data vênia”, não colhe, porque o texto constitucional se refere à não incidência do tributo e o convênio, assim como o regulamento estadual, à isenção; aquele tem por objeto produtos industrializados e estes, produtos que se empregarão na industrialização; a Constituição, menciona bens que saem do país; os outros diplomas, bens que ingressam no território brasileiro. Nada impedirá, se for o caso, que a operação que destine ao exterior o produto industrializado, com o emprego do importado, isento do Imposto Federal e onerado com o ICMS, se faça sem a incidência deste último tributo” (fls. 262/266). Como afiancei há pouco, são corretas e robustas as premissas em que se baseou o eloquente voto-condutor, tornando, a meu ver, irrespondíveis suas conclusões. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, não a vejo configurada, por isso que o aresto paradigma aborda questão afeta ao instante em que se reputa ocorrido o fato gerador do ICMS, em relação a mercadorias importadas do exterior. Nada tem a ver com o caso “in comento”, atinente à existência, ou não, de isenção de ICMS quando a operação de “drawback” ocorra sob a modalidade de isenção de IPI e Imposto de Importação.” Corroborando este entendimento cito, ainda, o REsp 128.200/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, cuja ementa transcrevo: “Na importação sob regime de drawback, só há isenção do ICMS, quando ocorre a suspensão do Imposto de Importação e do IPI. Em havendo isenção dos tributos federais”. Conforme se verifica dos precedentes citados os insumos ingressam no país sob o regime especial de drawback com isenção do ICMS, se os produtos oriundos dos referidos insumos não forem exportados, fica frustrada a condição que levou a isenção, tendo o contribuinte que pagar os impostos devidos da importação, incluindo aí o ICMS. O REsp 223.708/SP, rel. Min. Eliana Calmon, muito bem explanou sobre o tema, inclusive abordando tema da incidência da legislação em vigor à época da nacionalização da mercadoria. O voto condutor do citado recurso especial foi assim redigido: “No mérito, temos situação fática que se estriba em importação de insumos, pelo regime do drawback, os quais seriam empregados em produtos que seriam exportados com isenção de tributos. 160 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Como parte dos insumos deixou de se aplicada nos produtos destinados à exportação, foi procedida a sua nacionalização, tendo a empresa pago os impostos federais de importação e IPI. Ressalte-se que as importações, ocorreram de novembro de 1989 a agosto de 1991, mas a nacionalização dos mesmos deu-se em 1991. À época das importações vigia a isenção do ICMS nas operações de drawback, entendendo a empresa que a isenção também se estendia à nacionalização dos insumos. A tese defendida pela empresa foi acolhida na sentença que concedeu a segurança, sob o entendimento de que, embora vigesse à época da nacionalização dispositivo que previa a incidência do ICMS (art. 55 das Disposições Transitórias do Regulamento do ICMS - Convênio 27 de 13/09/90), quando da ocorrência do fato gerador estava em vigor legislação que outorgava isenção. O Tribunal de Justiça, diferentemente da sentença, entendeu que o regime do drawback, existe o fenômeno do fato gerador pendente (art. 105, combinado com os artigos 116, II e 117, I, do CTN) e, como tal, deve prevalecer a legislação vigente à época da nacionalização. Daí a interposição do recurso especial da empresa. O regime do drawback pode ser concedido sob três modalidades: a) isenção dos impostos de importação e IPI; b) suspensão dos impostos na importação para cobrança quando da importação; e c) pagamento dos impostos na importação, para ser abatido por ocasião da exportação dos produtos. A depender da situação é que se pode estabelecer diretiva quanto à incidência dos tributos em caso de nacionalização dos insumos não aproveitados na fabricação dos produtos. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que, sob a modalidade de suspensão do imposto de importação e do IPI, se o drawback não se consuma, não há incidência de outros impostos, porque perfeito e acabado o fato gerador. Contudo, o mesmo ocorre caso haja apenas isenção dos tributos federais. E isto porque esta isenção está condicionada a uma finalidade, ou seja, à reexportação do produto que, se não ocorrer, faz desaparecer o favor fiscal. ........................................................................................................ Na hipótese dos autos, temos argumento novo, embasado na vigência da lei, para saber ser lei posterior é capaz de reger fato gerador antecedente. Vejamos. Na importação dos insumos procedidos pela empresa recorrente o drawback ocorreu sob a modalidade de suspensão, ou seja, houve o fato gerador, houve a incidência, mas deixou-se para uma fase posterior o pagamento do imposto. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 161 A suspensividade era temporal ou condicional? Era condicional, ou seja, estava atrelada à exportação de produtos nos quais foram usados os insumos. No momento em que não se realizou a condição, consolidou-se a incidência, retroagindo-se à data do fato gerador, de tal modo que tudo votou à época da importação, incidindo o imposto devido ao seu tempo. À época não era devido o ICMS porque havia isenção deste imposto para as mercadorias que se destinassem à fabricação ou beneficiamento de produtos para a exportação. Verifica-se então que o ICMS não era devido porque se destinava a um fim próprio, o que leva ao raciocínio de que devido seria se a operação não fosse de drawback. Como não se realizou a incorporação dos insumos e houve a nacionalização, naturalmente que caiu a razão de ser da isenção e passou a incidir o ICMS na legislação vigente à época do fato gerador, já agora sem a finalidade que a beneficiava com o não-pagamento da exação estadual. Dentro deste raciocínio, não há como acolher-se a tese de negativa de vigência aos artigos 105 e 106 do CTN. Ao contrário, aplicou o Fisco a legislação vigente à época do fato gerador que data de novembro de 1989 a agosto de 1991, quando era devido o ICMS nas importações, embora isento para os insumos a serem usados em produtos para exportação. Não há violação, na espécie, ao artigo 116, II, porque, em verdade, o fato gerador já era ocorrido e houve a incidência quando do ingresso dos insumos no território nacional. O que ficou dispensado foi o pagamento, por uma questão de política fiscal, finalidade que desapareceu quando foram nacionalizados os insumos. Com efeito, visto o artigo 117 do CTN, temos que o não-pagamento estava subordinado a uma condição suspensiva, cujo implemento não ocorreu. Frustrando-se a condição voltou-se ao status quo ante, ou seja, a data do fato gerador.” Só há a isenção do ICMS na importação sob o regime de drawback quando ocorre a suspensão do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produto Industrializado. 9. CONCLUSÃO Conseguimos neste trabalho através do cotejo dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça conhecer como o regime aduaneiro especial de drawback é entendido e aplicado pela Justiça brasileira. O drawback é o benefício concedido pelo Estado para 162 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 o contribuinte com o objetivo de fomentar a exportação, fazendo com que a mercadoria que é importada com a finalidade de ser exportada após passar por beneficiamento, fique isenta dos tributos incidentes sobre a importação. As medidas protetivas do Dumping também se aplicam ao drawback, ou seja, a mercadoria não pode ser importada com preço inferior ao praticado pelo país de onde se originou a exportação, contendo assim a prática desleal no comércio internacional. Outro ponto que foi explanado foi o momento em que a certidão de quitação de tributos e contribuições federais (CND) pode ser exigida para que o contribuinte possa fazer jus ao benefício fiscal, se na concessão do benefício, ou no seu reconhecimento, ou ainda, exigir a certidão nos dois momentos. O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento que a Certidão Negativa de Débito deve ser exigida no momento da concessão do drawback, não sendo admitida a sua exigência no momento do desembaraço aduaneiro. Isso porque o regime aduaneiro especial de drawback é operação única que possui três momentos distintos: quando a mercadoria ingressa no território nacional, quando sofre o beneficiamento e quando é exportada. Assim, não se pode exigir nova documentação em cada momento, pois o fato gerador é único. A questão da incidência da taxa de classificação de produtos vegetais quando os referidos produtos destinarem-se a exportação foi bastante debatida pelo STJ. Sendo analisada a evolução do tema no decorrer dos anos. O STJ entende que a citada taxa não incide nas operações de drawback, pois o art. 1º da Lei 6.305/75 dispunha que a classificação dos produtos vegetais, dos subprodutos e resíduos de valor econômico seria efetuada àqueles produtos que fossem destinados a comercialização interna, o que não era o caso do drawback. Pelo princípio da legalidade a referida taxa não poderia incidir sobre o regime aduaneiro especial de drawback. Ocorre que a Lei 9.972/2000 revogou a Lei 6.305/75 que era a pedra de toque para as decisões do STJ, não sendo mais exigida, para a cobrança da classificação de produtos vegetais, que o produto seja destinado a comercialização interna. Sendo, portanto, perfeitamente cabível a classificação dos produtos vegetais no regime de drawback. Outro ponto angular decidido pelo Superior Tribunal de Justiça foi a dicotomia existente entre o princípio da vinculação física e o da fungibilidade no regime de drawback. O STJ já sinaliza no sentido de ser mitigado o princípio da vinculação física em face do princípio da fungibilidade, pois entende que não é necessária a identidade física do produto que é importado com o que é exportado sob o regime de drawback, bastando a equivalência de produtos. Sendo um absurdo o Fisco exigir que um insumo importado sob o drawback seja o mesmo a sair beneficiado. Ficando isso mais claro quando o contribuinte compra os mesmos insumos tanto no mercado externo, quanto no interno com o objetivo de beneficiados serem exportados, pois seria indefensável que o contribuinte tivesse dois estoques de um mesmo produto, um nacional e o outro importado, um para ser usado na exportação sob o regime de drawback e o outro para ser usado no beneficiamento de produto destinado ao mercado nacional. O STJ entendeu que neste caso se os insumos fossem empregados no beneficiamento dos produtos a serem exportados sob o regime de drawback em quantidade e qualidade equivalentes não haveria razão para desconstituir o benefício da suspensão do tributo. Com a edição da Medida Provisória 497/2010 esse debate tende a ser pacificado, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 163 pois a citada medida provisória aceita a substituição dos produtos, pois assevera que para efeitos de adimplemento do compromisso de exportação nos regimes aduaneiros suspensivos, destinados à industrialização para exportação, os produtos importados ou adquiridos no mercado interno com suspensão do pagamento dos tributos incidentes podem ser substituídos por outros produtos, nacionais ou importados, da mesma espécie, qualidade e quantidade, importados ou adquiridos no mercado interno sem suspensão do pagamento dos tributos incidentes. Claro que para se ter efetividade da substituição referida é necessário a regulamentação dos órgão competentes e a conversão da citada medida provisória em lei. Quando o prazo para exportação do produto adquirido sob o regime de drawback não é cumprido surge para o Fisco o direito de cobrar os tributos que foram suspensos com a aplicação do regime especial. O STJ entende que a Fazenda Pública terá cinco anos para cobrar o tributo devido a partir da data em que a mercadoria deveria ter sido exportada. O inciso I, § 3º, do art. 752, Decreto 6.759/2009 pôs fim a controvérsia estabelecendo que o prazo de decadência do direito ao lançamento e de sua revisão quando se tratar do regime especial de drawback suspensão será de cinco anos, sendo que o termo inicial será o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior ao trigésimo dia da data limite para exportação. No que se refere a incidência do ICMS na importação sob o regime de drawback só há a isenção quando ocorre a suspensão do Imposto de Importação e do Imposto sobre Produto Industrializado. Podemos verificar que o IOF não é um tributo que faz parte da atividade de importação ou exportação e não integra, em regra, o Termo de Compromisso, que é a forma de constituição do crédito tributário. Observamos, também, que o fato gerador do IOF ocorre a sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documento que a represente, ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional entregue ou posta à disposição por este. Portanto, o drawback não interfere na fixação do termo inicial para a constituição do IOF, sendo irrelevante o fato gerador ocorrer no regime especial de drawback ou fora dele. Finalmente, verificamos que a postura do Superior Tribunal de Justiça na abordagem do Drawback deu-se de forma coerente e sistemática contribuindo de forma decisiva na consolidação do instituto no ordenamento jurídico brasileiro. 10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ASHIKAGA, Carlos Eduardo Garcia. Análise da tributação: na importação e na exportação. São Paulo: Aduaneiras, 2008. BALEEIRO, Aliomar. Cálculo dos Fretes e Embalagens Internas em “Drawback”. Revista de Direito Tributário, v. 2, n. 3, p. 111-125, jan./mar., 1978. BERGAMINI, Adolpho e PEIXOTO, Marcelo Magalhães. PIS e COFINS na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo. São Paulo: MP: Apet, 2009. 164 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 BORJA, Maria Tereza. Análise jurídica do drawback-suspensão. Revista de direito administrativo, n. 176, p. 161-166, abr./jun., 1989. CARLUCI, José Lence. Uma introdução ao direito aduaneiro. São Paulo: Aduaneiras, 2001. DINIZ, Guilherme Soares. Drawback – suspensão para fornecimento no mercado interno: natureza jurídica, requisitos e condições. Revista dialética de direito tributário, n. 173, p. 75-84, fev., 2010. EÇA. Fernando Luiz da Gama Lobo d’. Tributação no Comércio exterior brasileiro. In: Direito do comércio internacional: aspectos fundamentais. São Paulo: Aduaneiras: LEX, 2004, p. 129-164. FOLLONI, André Parmo. Tributação sobre o comércio exterior. São Paulo: Dialética, 2005. GANDARA, Leonardo André. Drawback para fornecimento no mercado interno: comentários sobre os impactos nos investimentos para expansão de capacidade produtiva no Brasil. Revista dialética de direito tributário, n. 168, p. 101-112, set., 2009. GONÇALVES, Fernando Dantas Casillo. Drawback: Suspensão. Inadimplemento das condições previstas no ato concessório. Declaração de importação e termo de responsabilidade descrevendo os tributos suspensos. Necessidades da constituição do crédito tributário pelo lançamento nos termos do artigo 142 do CTN. Prazo decadencial. Repertório IOB de jurisprudência: tributário, constitucional e administrativo, n. 11, p. 456-461, 1. quinz. jun, 2007. MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. São Paulo: Dialética, 2008. MELO, José Eduardo Soares de. O ICMS nas operações com o comércio exterior. Justiça tributária, p. 475-497, São Paulo: M. Limonad, 1998 MONTEIRO, José Carlos. A prática do drawback nas relações internas e internacionais. Revista de estudos tributários, n. 55, p. 75-83, maio/jun., 2007. NEVES, Gustavo Bregalda. A prática do Drawback nas relações internas e internacionais. Revista de estudos tributários, v. 9, n. 55, p. 24-28, maio/jun., 2007. PEIXOTO, Marcelo Magalhães. A sistemática do drawback: miniconsulta. Informativo jurídico consulex, v. 16, n. 25, p. 9-10, 24 jun., 2002. PIAZERA, Marcelo. Drawback: busca incansável pela desoneração nas exportações. Justilex, v. 4, n. 43, p. 35, jul., 2005. RESENDE, Leone Soares de. Exportação e drawback. São Paulo: Aduaneiras, 1986. RIOS, Francisco José Barroso. A decadência e a prescrição no regime aduaneiro especial de Drawback. Revista dialética de direito tributário, n. 158, p. 31-44, nov., 2008. SANTIAGO, Igor Mauler. A anulação de atos concessórios de Drawback interno face à isonomia entre as empresas públicas e privadas, ao conceito de licitação internacional e aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Revista dialética de direito tributário, n. 141, p. 95-102, jun., 2007. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 165 SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. SOUZA, Cláudio Luiz Gonçalves de. A Teoria geral do comércio exterior: aspectos jurídicos e operacionais. Belo Horizonte: Líder, 2003. TECHEINER, José Maria Rosa. Mercadorias importadas do exterior em regime de drawback. Revista da Consultoria Geral. Rio Grande do Sul, v. 5, n. 13, p. 77-83, 1975. Notas 1 XAVIER, Alberto. Do Prazo de Decadência em Matéria de “draw-back” – Suspensão. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. 2 XAVIER, Alberto. Do Prazo de Decadência em Matéria de “draw-back” – Suspensão. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. 3 XAVIER, Alberto. Do Prazo de Decadência em Matéria de “draw-back” – Suspensão. In: SCHOUERI, Luís Eduardo (coord.). Direito tributário: homenagem a Alcides Jorge Costa. São Paulo: Quartier Latin, 2003. —— • —— 166 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Colisão de Direitos Fundamentais Alessandra Lopes da Silva Ex-aluna da Escola da Magistratura do Distrito Federal Introdução Os direitos fundamentais, tal qual a teoria mais contemporânea preleciona, constituem-se como pilar do sistema constitucional. Formalizam-se, assim, como verdadeiros vetores a todo o ordenamento jurídico que vinculam não só o Poder Público como os próprios particulares em suas relações individuais. No entanto, dado o caráter principiológico a eles inerente e a consequente impossibilidade de consagrações absolutas de proteção, não rara é a ocorrência de colisão entre seus âmbitos normativos em situações concretas. Com efeito, a adoção da liberdade como pilar garantístico instituído pelo ordenamento jurídico está intimamente relacionada com a imposição de limitações aos direitos fundamentais. Nessa toada, o plexo de direitos fundamentais salvaguardados pela Constituição Federal faz parte de um sistema em que o objetivo central é fornecer estruturas que viabilizem a coexistência dos interesses de vários indivíduos, os quais, se postulados sob a égide da liberdade suprema e inatingível, reconduziriam-nos ao caos insustentável do confronto direto e insolúvel entre os agentes sociais. Destarte, para que um direito fundamental possa ser consagrado de maneira a viabilizar sua convivência com os direitos de outros indivíduos é necessário verificar a gama de interesses a ele relacionados, de maneira a adequá-los dentro do sistema jurídico constitucional. Desse postulado podemos inferir que, de um modo geral, todo o leque de direitos 1 fundamentais é passível de limitações , as quais têm, por seu turno, o fito de proteger 2 outros bens consagrados pela Lei Fundamental . Portanto, para que o exercício de todas as liberdades seja viável e, na medida do possível, harmônico, reflete-se no ordenamento jurídico um cenário de liberdades limitadas. A tutela da liberdade, nestes termos, encontra-se intimamente vinculada ao princípio da igualdade, ao passo que confere, dentro de um quadro democrático, tratamento igual aos iguais e 3 desigual aos desiguais . Revista da Escola da Magistratura - nº 13 167 O que verificamos, assim, é que há uma íntima relação entre o Direito e a consagração de liberdades, ao passo que o objetivo finalístico de ambos é a materialização de um sistema constitucional coerente que possibilite a coexistência entre os indivíduos 4 pautada especialmente nos pilares da igualdade . É evidente que as trilhas ideológicas extremas nesta matéria não nos conduzem a caminhos seguros, aliás, nem mesmo a caminhos possíveis, dentro de uma realidade social heterogênea tal qual a que vivenciamos hodiernamente. Sendo assim, o Direito, por si só, já poderia ser considerado como um instrumento que, por intermédio de normas, traça um conjunto de limitações ao exercício da liberdade para que a convivência social seja sustentável. A ideológica liberdade absoluta pregada pelos defensores de um liberalismo exacerbado, portanto, não se sustenta dentro de 5 uma sociedade organizada e plural . As limitações aos direitos fundamentais, nesse diapasão, constroem-se sob as mais diversas formas, instrumentalizando-se, por vezes, no âmago do próprio texto constitucional, por outras, por atividade legislativa e, comumente, pelo Poder Judiciário quando da apreciação de casos concretos. Nesse passo, os conflitos entre os âmbitos de proteção consagrados pelas cartas constitucionais, em virtude da particular diversidade de interesses intrínsecos ao quadro democrático e do viés principiológico que os singulariza, demonstram-se viáveis e comuns na sociedade atual, de modo que o trabalho que ora se inicia tem como objetivo avaliar o arcabouço teórico e jurisprudencial que envolve a colisão de direitos fundamentais, de modo a assentar as bases dogmáticas concernentes ao tema. Tal exercício demandará necessária passagem pelos motes principais do constitucionalismo moderno e apreciação das teorias que visam a conferir respostas a este problema tão frequentemente vivenciado nos sistemas constitucionais democráticos contemporâneos. Adotaremos, destarte, como norte teórico para o tracejamento das linhas tangentes à colisão de direitos fundamentais as lições de Robert Alexy, em sua obra “Teoría de los derechos fundamentales”, assim como, dentre outras, as precisas lições doutrinárias de José Joaquim Gomes Canotilho, José Carlos Vieira de Andrade e Ingo Wolfgang Sarlet. Objetiva-se, desta feita, dar abertura a um texto contundente, não obstante, pontual e objetivo, acerca de um tema amplamente discutido no moderno cenário constitucional, com a exploração pontual da jurisprudência e da doutrina nacional e estrangeira acerca da matéria. 1. Salvaguarda dos direitos fundamentais Os Direitos Fundamentais, conforme veremos ao analisar o fundamento histórico de sua aparição, nascem intrinsecamente relacionados ao Estado de Direito, o que pressupõe que o estabelecimento da ordem será ditado pelo Direito e que sua vinculação alcançará todos os segmentos sociais e políticos. É neste sentido que os Direitos Fundamentais, como gama inalienável de garantias constitucionais do homem, desenvolvem papel central e indispensável no constitucionalismo moderno, ao passo 168 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 que laboram como certificação de que o funcionamento do Estado será pautado no princípio da dignidade da pessoa humana. 1.1. Fundamento histórico dos Direitos Fundamentais O aparecimento da expressão “Direitos Fundamentais” remonta ao ano 1770, na França, em face do movimento que impulsionou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Entretanto, se o termo possui história recente, o mesmo não se aplica 6 às suas raízes filosóficas . A história do reconhecimento dos direitos fundamentais pode mesmo ser considerada como marco de orientação e limitação ao exercício do poder, ao passo que confere, através de previsão constitucional, um rol de direitos básicos inerentes ao 7 homem – especialmente pautados no princípio da dignidade humana . Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet, orientado pelos ensinamentos de Klaus Stern, sintetiza a história dos direitos fundamentais em três etapas: “a) uma pré-história, que se estende até o século XVI; b) uma fase intermediária, que corresponde ao período de elaboração da doutrina jusnaturalista e da afirmação dos direitos naturais do homem; c) a fase da constitucionalização, iniciada em 1776, com as sucessivas declarações de 8 direitos dos novos Estados americanos” . De acordo com as notas do Professor José Joaquim Gomes Canotilho, é difícil afirmar que os direitos fundamentais já estavam presentes na Antiguidade, notadamente por assertivas como as de Platão e de Aristóteles que reconheciam determinados seres humanos como escravos “natos”. Entretanto, é possível observar indícios da idéia de igualdade entre os seres humanos já com os sofistas, axioma posteriormente lapidado pelo pensamento estoico. Contudo, os ideais de igualdade nessa época não ultrapassaram o viés filosófico, estando mesmo longe de um 9 reconhecimento jurídico . Já no período medieval, a Magna Charta Libertatum, de 1215, é lembrada pelo Professor José Joaquim Gomes Canotilho como instrumento de “abertura para a transformação dos direitos corporativos em direitos do homem”, ou seja, apesar de nesta 10 época os chamados direitos corporativos só se aplicarem a um segmento da sociedade – primordialmente a nobreza inglesa - o mencionado instrumento viabilizou, mais tarde, 11 o reconhecimento dos mesmos a todos os cidadãos . Ademais, o advento da tolerância religiosa é considerado por alguns, nomeadamente George Jellinek, como marco inicial dos diretos fundamentais, ao passo que o Estado conferia aos seus cidadãos a liberdade 12 de escolher sua religião . Seguindo o tracejo histórico, observa-se em Locke uma imensa valorização de 13 bens como a vida, a liberdade e a propriedade , porém, vistas como “liberdade no Estadosociedade, como corpos políticos indiferenciados, ao contrário das doutrinas fisiocráticas da 14 ordem natural, conducentes à concepção exclusiva de uma liberdade perante o Estado” . Revista da Escola da Magistratura - nº 13 169 Posteriormente observam-se as influências e contribuições de Rousseau, com a ideia de que a união dos cidadãos em condição de igualdade legitima a instituição de uma lei que garanta e balize a liberdade, e de Kant, com o reforço à imprescindibilidade do 15 direito à liberdade . Apesar da relevante importância das declarações inglesas do século XVII, designadamente a Pettion of Rights (1628), o Habeas Corpus Act (1679) e o Bill of Rights (1689), as quais tiveram como papel primordial dissipar os ideais de liberdade à generalidade dos cidadãos ingleses, estas não podem ser consideradas como marco de positivação dos direitos fundamentais. Isto porque os direitos e liberdades ali previstos, apesar de limitarem o poder do Rei, “não vinculavam o Parlamento, carecendo, portanto, da necessária supremacia e estabilidade, de tal sorte que, na Inglaterra, tivemos a fundamentalização, mas não uma constitucionalização dos direitos e liberdades individuais 16 fundamentais” . A doutrina se divide na determinação do primeiro diploma que “constitucionalizou” os direitos fundamentais. A disputa encontra-se entre a Declaração de Direitos do Povo de Virgínia (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Todavia, a discussão acerca das influências que cada uma das Declarações teve sobre a outra não é de grande importância para o estudo que ora propomos, importando mesmo ressaltar que ambas perfilhavam os direitos fundamentais à liberdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão, como direitos de todos os homens, atribuindo-lhes 17 as características de inalienabilidade, inviolabilidade e imprescritibilidade . A Constituição Política do Império de 25 de março de 1824, com evidentes influências provenientes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, por seu turno, inaugurou no Brasil a adoção da tutela dos chamados direitos individuais, sendo posteriormente seguida pela Declaração de Direitos da Constituição Republicana de 1891, a qual possuía como principais ideais “a liberdade, a segurança individual, a propriedade, a igualdade perante a lei, a liberdade de pensamento, a liberdade de imprensa, a 18 plenitude do direito de propriedade, (e) a anterioridade da lei” . 1.2. Delimitação conceitual dos Direitos Fundamentais Na esteira dos ensinamentos do Professor José Joaquim Gomes Canotilho, os 19 direitos fundamentais, constitucionalmente positivados , são aqueles naturais aos 20 indivíduos e dotados do caráter de inalienabilidade . Já o Professor Jorge Miranda os define como “os direitos ou posições jurídicas activas das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, seja 21 na Constituição material” . O Professor José Carlos Vieira de Andrade, por seu turno, entende os direitos fundamentais como “o conjunto dos preceitos normativos que definem, 22 a partir do seu lado positivo, o estatuto fundamental das pessoas na sociedade política” . Das definições apresentadas é possível extrair um núcleo comum que, em regra, se aplica à caracterização dos direitos fundamentais: i) são direitos inerentes ao homem; e ii) são assegurados no texto constitucional. Os Direitos Fundamentais são instrumento de limitação ao exercício do poder político, dado que impossibilitam espaços ao totalitarismo, e ao mesmo tempo 170 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 são também garantias aos cidadãos de que há uma esfera de proteção que implica a vinculação tanto das entidades públicas como das privadas. Por consequência, verificase que a instituição de Direitos Fundamentais está intimamente relacionada ao Estado de Direito, pois pressupõe que as regras da convivência em sociedade são ditadas pela lei, que há igualdade entre os iguais e que o regente de todo esse sistema é o Estado, o 23 qual, sublinhe-se, também está absolutamente vinculado à legalidade . Assim, retomando as notas caracterizadoras dos Direitos Fundamentais, observamos que estes são reconhecidos como tais quando asseguram garantias pertinentes à natureza humana. A presença dos Direitos Fundamentais no ordenamento jurídico possui, portanto, o fito de assegurar a dignidade da pessoa humana, sendo esta entendida como núcleo caracterizador do homem como sujeito racional, impassível de instrumentalização. Este é o âmago dos Direitos Fundamentais e o elemento 24 caracterizador da unidade valorativa do sistema constitucional : a proteção, a promoção 25 e o respeito das notas que caracterizam o homem . A pessoa é, portanto, fim e não meio ou instrumento para a concessão de algo. Não lhe é conferido preço, ela está acima de qualquer bem material. A dignidade da pessoa, assim, não admite discriminações, é conferida a todos, homens e mulheres, nacionais e estrangeiros e, desse modo, exige o respeito recíproco de todos em relação 26 a todos . É este o sentido da letra do art. 1° da Declaração Universal dos Direitos do Homem: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade”. A dignidade da pessoa humana ocupa, desta forma, papel central no sistema de proteção dos direitos fundamentais e é, em verdade, consoante veremos a seguir, seu 27 fundamento . A Constituição Brasileira prevê a dignidade da pessoa humana como princípio fundamental, ao passo que estabelece: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade da pessoa humana”. Apesar da ressalva de possíveis divergências doutrinárias - especialmente pela menção aos direitos fundamentais equiparados e aos sistemas que não adotam constituições escritas - o segundo ponto caracterizador dos Direitos Fundamentais é o fato de serem previstos nas cartas constitucionais. A análise desta questão impulsiona a inevitável citação do postulado constante na Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, de 26 de agosto de 1789, onde se reconhecia que “toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes estabelecida, carece de Constituição”. Daqui se infere que os direitos fundamentais devem ser assegurados pela Constituição, e não só isso, que a presença deles na carta constitucional é fundamental para o estabelecimento da ordem social. Com isto em foco, afirma o Professor Gomes Canotilho: “Sem esta positivação jurídica, os <<direitos do homem são esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política>>, mas não direitos protegidos sob 28 a forma de normas (regras e princípios) de direito constitucional” . A constitucionalização funciona, pois, como mecanismo de vinculação a todas as estruturas públicas e privadas, 29 aqui incluindo especialmente a possibilidade de controle de constitucionalidade das leis . Revista da Escola da Magistratura - nº 13 171 Insta salientar ainda a existência consagrada em muitos textos constitucionais dos chamados direitos fundamentais equiparados, também conhecidos na doutrina 30 por princípio da cláusula aberta, princípio da não identificação ou da não tipicidade 31 ou “norma com fattispecie aberta” . Em resumo, esse princípio expressa o juízo de que podem existir direitos fundamentais que não estejam consagrados no texto constitucional. Ou seja, o rol constante na Lei Fundamental não é exaustivo e, portanto, podem existir direitos fundamentais expressos em leis, normas internacionais ou até mesmo localizados em outro espaço na Constituição que não o destinado especificamente aos 32 Direitos Fundamentais . Desse modo, expressa a carta constitucional brasileira, nos termos do § 2° do artigo 5°: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. O que os textos constitucionais consagram ao prever o princípio da cláusula aberta é a possibilidade de existirem direitos fundamentais em sentido material que não o são em sentido formal, dado que não constam na letra da Carta Magna. Tal previsão reforça o traço de flexibilidade dos textos constitucionais, abrindo portas para adaptações no tempo, sem uma necessária alteração da norma constitucional, assim como reforça a importância do consenso internacional sobre determinadas matérias. A adoção desse princípio, no entanto, não representa uma contradição com os traços conceituais relativos aos direitos fundamentais apontados acima. Apesar de não estarem no texto da Constituição, os chamados direitos fundamentais equiparados possuem o mesmo status daqueles que o estão, pois que contêm o mesmo cerne que os direitos formalmente fundamentais, qual seja, a dignidade da pessoa humana. É imperioso ressaltar que a previsão dos direitos fundamentais equiparados também não foge à ideia da unidade da Constituição, mas, bem o contrário, parece-nos que reforça a noção de que a dignidade da pessoa humana deve prevalecer sobre determinismos formais. Seguindo a linha de investigação das notas que caracterizam os direitos fundamentais, vimos que estes são caracterizados por serem relativos à própria natureza do homem. Nesta esteira, portanto, é factível afirmar que os direitos fundamentais são considerados sinônimos dos direitos humanos, ao passo que ambos dizem respeito a direitos característicos à natureza humana? Efetivamente, tanto os direitos fundamentais quanto os direitos humanos possuem a mesma nota: são referentes ao homem, tido como tal. Contudo, o grande 33 elemento diferenciador entre as duas espécies citadas é a dimensão que possuem : 34 nacional e constitucionalizada para os primeiros e internacional para os segundos . Em relação a este aspecto pontua Ingo Wolfgang Sarlet: “Em que pese sejam ambos os termos (“direitos humanos” e “direitos fundamentais”) comumente utilizados como sinônimos, a explicação corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 172 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos”, guardaria relação com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional 35 (internacional).” É evidente que os direitos humanos podem e, em regra, constam dos diplomas constitucionais dos mais diversos Estados, mas é preciso registrar que não há uma relação necessária desta previsão. Em verdade, não há uma vinculação direta dos ordenamentos jurídicos nacionais aos direitos considerados, em plano internacional, como direitos humanos, o que garante aos Estados, dentro dos limites de suas soberanias, liberdade 36 para dispor acerca dos direitos fundamentais . É importante frisar, ainda, que o fato dos Direitos Fundamentais constarem na Lei Fundamental pressupõe a ideia de que os mesmos contêm embasamento histórico. Em outras palavras, isto significa dizer que neles estão imbuídos valores sociais adequados ao seu tempo, e mais, que acompanham o desenvolvimento cultural, social e político da 37 comunidade em que se aplicam . Isto, evidentemente, não implica que as perspectivas naturais e internacionais daqueles direitos considerados inerentes ao homem não sejam importantes e até mesmo aplicáveis à ordem interna. As influências desses sobre os 38 ordenamentos jurídicos internos é cediça e indiscutível . O que se ressalta com esta afirmação, por conseguinte, é que a noção de Direitos Fundamentais aqui considerada será adstrita à perspectiva interna, constitucional. Por derradeiro, ainda na esteira da lúcida explicitação de Ingo Wolfgang Sarlet, é importante esclarecer uma outra possível classificação que, por vezes, encontra-se no limbo da confusão conceitual acerca dos direitos fundamentais, qual seja, os direitos do homem. Estes, de caráter eminentemente jusnaturalista, apesar de também referirem-se a direitos inerentes à natureza humana, não estão positivados, quer no plano nacional, 39 quer no plano internacional . 1.3. Dimensões dos Direitos Fundamentais Ultrapassada a questão conceitual, é importante mencionar, em linhas gerais, as chamadas “gerações” ou “dimensões” dos direitos fundamentais, as quais foram sendo reconhecidas paulatinamente ao longo da história. Frise-se, em primeira linha, que esta segmentação não quer dizer, em nenhuma hipótese, que os direitos fundamentais são substituíveis com o correr dos anos, muito pelo contrário, a sequência dos quadros jurídicos nacionais tem demonstrado que os mesmos se acumulam e se fortalecem com 40 o passar dos tempos . A doutrina clássica costuma atribuir três dimensões aos direitos fundamentais, havendo, atualmente, quem acredite na existência de uma quarta. A primeira dimensão é constituída por um conjunto de direitos “negativos”, ou direitos de defesa, uma vez Revista da Escola da Magistratura - nº 13 173 que, absolutamente influenciados pelos ideais liberalistas da Revolução Francesa, são caracterizados pela não intervenção do Estado frente aos cidadãos. Portanto, aqui estão enquadrados os direitos subjetivos das pessoas de exercerem suas liberdades sem 41 sofrerem qualquer intervenção estatal . Neste rol estão incluídos, especificamente, os 42 direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade . A segunda dimensão, por seu turno, é constituída pelos chamados “direitos sociais, econômicos e culturais”. Esta “categoria” de direitos fundamentais decorrentes, primordialmente, do desenvolvimento econômico, surgiu como forma complementar ao ideal liberalista, para garantir efetivamente os direitos da chamada primeira dimensão. Diferentemente, todavia, do que se viu na primeira dimensão, esta possui um caráter positivo, ou seja, pressupõe intervenção do Estado nas relações privadas, para garantir o equilíbrio, nomeadamente no que diz respeito àquelas constituídas com agentes econômicos, e fornecer vias para que determinados bens jurídicos possam ser desfrutados 43 pelos cidadãos . Neste arcabouço estão incluídos o dever de agir do Estado tanto em face de possíveis lesões por parte de terceiros como para a efetivação de meios materiais 44 que produzam o efetivo desfrute do direito . Nos dizeres de Ingo Wolfgang Sarlet “não se cuida mais, portanto, de liberdade 45 do e perante o Estado, e sim de liberdade por intermédio do Estado” . Assim, os direitos de segunda dimensão são individuais, entretanto, presumem uma atuação positiva, prestativa, do Estado para garantir, por exemplo, a saúde, a educação, o trabalho, a 46 segurança, a previdência social, dentre outros . A terceira dimensão, por outro viés, diz respeito aos direitos de participação, que pressupõem a garantia da participação social na formação do quadro político 47 nacional . Em outras palavras, os direitos de participação conferem ao povo, detentor primário do poder político, o direito de escolher seus representantes dentro da esfera 48 política . Em que pese a doutrina clássica considerar apenas três dimensões de direitos fundamentais, já existem alguns autores, nomeadamente na doutrina brasileira o Professor Paulo Bonavides, que defendem a presença de uma quarta dimensão. Esta, segundo o ilustre autor, seria integrada por direitos decorrentes do processo da “globalização dos direitos fundamentais”, onde se passa a reconhecer o direito à democracia, 49 à informação e ao pluralismo . No entanto, na visão do Professor Vieira de Andrade, a quarta dimensão dos direitos fundamentais é caracterizada por não dispor acerca de direitos individuais, 50 mas de uma coletividade . Essa nova dimensão dos direitos fundamentais presume, na perspectiva do referido autor, uma participação dos Estados de maneira conjunta, 51 para que um fim seja atendido . Observemos as claras palavras do Professor Vieira de Andrade sobre o assunto: Desde logo, desenvolve-se um novo tipo de direitos, os direitos de solidariedade, que não podem ser pensados exclusivamente na relação entre o indivíduo e o Estado e que incluem uma dimensão essencial de deverosidade – como, por exemplo, os direitos-deveres de protecção da natureza e de defesa do sistema ecológico e do patrimônio cultural, e em alguns aspectos, os direitos 174 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 dos consumidores. São, na perspectiva histórica, direitos de uma quarta categoria, visto que não são basicamente direitos de defesa, nem direitos de participação, principalmente dirigidos ao Estado, mas forma um complexo de todos eles. São <<direitos circulares>>, com uma horizontalidade característica e uma dimensão objetiva fortíssima, que protegem bens que, embora possam ser individualmente atribuídos e gozados, são, ao mesmo tempo, bens comunitários que respeitam a todos – e aliás, não só a todos os vivos, mas ainda aos elementos das gerações futuras, na medida em 52 que esteja em causa a sobrevivência da sociedade.” Nesta nova dimensão dos direitos fundamentais, também mencionada nas lições de Gomes Canotilho como relativa aos direitos dos povos, encontra-se o direito a um meio ambiente saudável, à paz, ao desenvolvimento, ao patrimônio comum da humanidade, 53 à autodeterminação dos povos, à qualidade de vida etc. A Constituição brasileira apresenta, no título relativo aos direitos fundamentais, cinco capítulos referentes, respectivamente, a direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. 1.4. Eficácia dos Direitos Fundamentais A questão da eficácia dos direitos fundamentais parece não levantar grandes discussões no que diz respeito à vinculação dos poderes públicos. O que sim gera grandes discussões na doutrina é a extensão do vínculo que produz a consagração dos direitos fundamentais nas relações entre privados. Apesar da profundidade dogmática característica ao tema, apontaremos as linhas principais da discussão e suas consequentes respostas para que sirvam, mais adiante neste texto, como fundamento teórico do problema central da investigação. 1.4.1. Vinculação das entidades públicas Partindo do pressuposto apontado acima, fica claro, como classicamente reconhecido, que as entidades públicas estão vinculadas aos ditames constantes nos direitos fundamentais, ao passo que estes produzem efeitos verticais nas relações 54 entre Estado-indivíduo . Ao Estado cabe, portanto, não só a salvaguarda dos Direitos Fundamentais, mas também o dever de um comportamento positivo e um comportamento negativo, de acordo com o bem jurídico e a situação tutelada. Em outras palavras, ao poder público é designado o dever de respeitar as liberdades individuais, mas também de intervir para assegurar a efetividade dos postulados constitucionais que 55 garantem uma outra série de direitos . Por fim, insta lembrar que a referida vinculação realiza-se de maneira imediata, direta. Em outras palavras, isso representa que as determinações relativas às entidades Revista da Escola da Magistratura - nº 13 175 públicas, nada mais fixarem-se nos textos constitucionais, já passam a produzir seus 56 efeitos, sem a necessidade de qualquer lei regulamentadora . 1.4.2. A questão da aplicabilidade dos preceitos fundamentais e a vinculação aos particulares No que diz respeito à aplicação dos direitos fundamentais à esfera privada, reconhece-se, mais recentemente, sua eficácia externa - também conhecida como horizontal - como forma de impor o cumprimento e o respeito aos ditames fundamentais 57 também nas relações entre iguais . A questão problema, entretanto, é saber se a vinculação se dá de forma direta e imediata a partir da sua previsão constitucional (teoria da eficácia direta), tal qual ocorre com relação ao Estado, ou de maneira indireta e mediata, o que requer uma intervenção legislativa regulamentadora antes da efetiva 58 eficácia da norma constitucional . Sob a ótica da aplicação direta e imediata, a vinculação dos direitos fundamentais 59 se estende aos particulares , que ficam obrigados a respeitar as determinações constitucionais que protegem os direitos de outrem e de postular a satisfação e o respeito de seus próprios direitos, seja em face do Estado, como tradicionalmente já admitido, 60 seja em face de seus pares . Já nos contornos da teoria da vinculação indireta e mediata a aplicação dos direitos fundamentais estaria inevitavelmente atrelada a normas gerais 61 do direito privado . Portanto, se admitirmos a teoria de que os direitos fundamentais possuem uma aplicação direta nas relações privadas, estamos então pressupondo a existência de um 62 direito subjetivo fundamental do particular , o qual poderia ser invocado no caso da ocorrência de conflitos com seus pares. Caso contrário, se nos aliarmos à teoria da vinculação indireta ou mediata, estamos acolhendo que os direitos fundamentais necessitam sempre do respaldo infraconstitucional para produzir qualquer efeito nas relações individuais e que, portanto, por si só, não criam direitos e obrigações nas relações privadas. Como veremos adiante, essa questão será de suma importância para o entendimento dos conflitos entre direitos fundamentais. Constatando o complexo contorno dogmático que envolve a questão, nos limitamos a apontar algumas das múltiplas posições doutrinárias acerca do tema. Em consonância com o entendimento do Professor Vieira de Andrade, os particulares não são sujeitos passivos de direitos fundamentais subjetivos, a menos que estejam perante uma relação de poder com outro particular (em regra pessoa jurídica e, excepcionalmente, pessoa física). O que não quer dizer que os particulares estejam desamparados da proteção constitucional que lhes é atribuída, isto porque ao Estado, ao menos na medida do amparo à dignidade da pessoa humana, cabe o dever de proteção perante terceiros. Vejamos suas palavras, in verbis: “Quanto a nós, para além dos casos já referenciados em que a Constituição expressamente concebe os direitos perante privados, só deverá aceitar-se esta transposição directa dos direitos fundamentais, enquanto direitos 176 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 subjetivos, para as relações entre particulares quando se trate de situações em que pessoas colectivas (ou excepcionalmente, indivíduos) disponham de 63 poder especial de carácter privado sobre (outros) indivíduos” . Em contraponto, observa-se a presença de outras posições jurídicas que reconhecem a vinculação dos direitos fundamentais nas relações privadas ao menos no que diz respeito à esfera de proteção da dignidade da pessoa humana, considerada como 64 núcleo essencial de todos os direitos fundamentais . Por outro lado, segundo o entendimento do Professor Gomes Canotilho, a tendência atual no que tange à eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas é o reconhecimento de um caminho intermediário para a equalização da problemática, o qual permeia “soluções diferenciadas”. Em outras palavras, reconhece o ilustre autor 65 a eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas , admitindo a pluralidade de funções que lhes são características. Em face disso, aponta a necessidade de respostas distintas aos problemas apresentados, de acordo com as especificações do caso concreto, levando-se em conta também, como não poderia deixar de ser, os 66 alicerces do direito privado . Sublinhe-se, ademais, que a extensão da vinculação dos direitos fundamentais às relações privadas encerra um ciclo jurídico-constitucional clássico onde tal eficácia era vista e aplicada somente em relação às estruturas de poder, onde os direitos fundamentais eram vistos como instrumento de proteção do indivíduo face às forças estatais e coibição ao exercício arbitrário do poder. Neste novo ciclo, além da clássica função atribuída aos direitos fundamentais, estes passam a produzir efeitos também 67 sobre os particulares . Quanto ao texto da Constituição brasileira, o § 1° do artigo 5° limita-se a expressar a aplicação imediata da integridade das normas que dizem respeito aos direitos 68 e garantias individuais . Como se vê, a Lei Fundamental brasileira restringe a aplicação 69 imediata aos direitos e garantias , no entanto, não faz qualquer menção aos sujeitos que se encontram imediatamente vinculados às determinações constitucionais. Não obstante, a doutrina e a jurisprudência brasileiras parecem inclinar-se à aceitação da teoria da vinculação direta e imediata dos preceitos fundamentais às 70 relações privadas . Vejamos, outrossim, um emblemático trecho de ementa de recente acórdão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 201819/RJ, o qual, ainda que concretamente referido a relação privada de poder, denota o entendimento da excelsa Corte: “EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. (...) O caráter público da atividade exercida pela sociedade e Revista da Escola da Magistratura - nº 13 177 a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 71 defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88).” . (grifos nossos) Tais afirmações transparecem a tendência ao reconhecimento interno da teoria que aponta à vinculação direta dos particulares aos direitos fundamentais, nomeadamente na tutela do cunho axiológico da dignidade da pessoa humana que os marca. 1.5. A interface entre os direitos fundamentais e o direito privado De acordo com aquilo que foi visto no tópico anterior, é possível inferir quão significativa é a relevância do reconhecimento dos direitos fundamentais nas sociedades modernas. Eles estão aqui não só como instrumento de ordenação do Estado, ao passo que limitam o exercício do poder, impedindo arbitrariedades, mas também como garantia aos próprios cidadãos de que existe uma gama de proteção que nem mesmo seus iguais podem lesar. Além disso, o fato de constarem nas Cartas Constitucionais eleva os direitos fundamentais a um status de superproteção jurídica que, dada a tradicional estrutura hierárquica característica ao ordenamento jurídico em que a Constituição se encontra no ápice da pirâmide normativa, acarreta a inevitável subordinação de todas as esferas sociais aos seus ditames. Entretanto, o desenvolvimento social, econômico e jurídico trouxe consigo maior complexidade às relações entre os indivíduos e seus pares, assim como entre eles e as entidades públicas. Neste cenário, o Estado, para assegurar sua própria estrutura e garantir o bem estar social, acaba por ser compelido a expandir o leque de proteção até então característico aos direitos fundamentais. É assim que alguns princípios, tradicionalmente ligados à esfera privada do Direito, tendo em vista seus elevados graus de relevância, são inseridos nas Constituições 72 na qualidade de direitos fundamentais . Essa qualificação constitucional de preceitos genuinamente privados pode levar à derrogação de leis inconstitucionais, pode criar obrigações de legislar, assim como pode apenas salvaguardar preceitos já contidos no 73 direito privado . Foi neste sentido que a promulgação da Constituição da República Portuguesa de 1976, a guisa de exemplo, acarretou significativa alteração no direito privado português, primordialmente no que diz respeito ao Direito do Trabalho e ao 74 Direito de Família . 1.6. A Dignidade da pessoa humana como fundamento dos Direitos Fundamentais A dignidade da pessoa humana pressupõe o reconhecimento do homem como um ser livre, autônomo, impassível de qualquer ato que intencione ou tenha 75 como consequência sua instrumentalização . Destarte, o perfilhamento do princípio da dignidade da pessoa humana por determinado ordenamento jurídico requer, 178 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 inevitavelmente, a salvaguarda de direitos fundamentais do indivíduo. Estes são os termos que seguem as palavras do Professor Ingo Wolfgang Sarlet: “onde não houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação ao poder, enfim, onde a liberdade, a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, 76 poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.” Fica claro, por conseguinte, que a dignidade da pessoa humana caracteriza-se como fonte elementar dos direitos fundamentais, ao passo que confere a estes a ideia dos pilares de proteção da pessoa como ser racional, capaz de decidir por si mesmo 77 e usufruir de sua liberdade . Estes são, assim, os termos que fazem do princípio da 78 dignidade da pessoa humana coluna comum de todos os direitos fundamentais , ao passo que reflete-se em todas as dimensões da vida do ser humano, seja nas relações 79 de trabalho, na vida privada ou na qualidade de cidadão . Tanto assim o é que mesmo nas ordens constitucionais onde não há previsão expressa relativa à dignidade da pessoa humana, mas consagra-se um rol de direitos fundamentais, pode-se dizer que ela funciona como alicerce, na “condição de valor 80 informador de toda a ordem jurídica” . Isto porque, a dignidade da pessoa humana manifesta-se, mesmo que em distintos graus, em todos os direitos fundamentais como uma admissão normativa da liberdade e autonomia do homem, como valor intrínseco à vida humana. Por consequência, a consagração destes implica a adoção da dignidade da pessoa como fundamento do sistema constitucional. Outrossim, observamos que a Constituição, utilizando como elemento principiológico a dignidade da pessoa humana, deve refletir um conceito plural daquilo que é ser e dever ser na sociedade. Nestes termos, este conceito expresso nos direitos fundamentais e, por conseguinte, dotado de força normativa, far-se-á presente em todas 81 as esferas da vida dos indivíduos . Insta anotar, no entanto, que os graus de concretização específicos da dignidade da pessoa proclamados nos direitos fundamentais podem diferenciar-se e, de fato, assim se manifestam no texto constitucional. Alguns direitos são amostras diretas do princípio em referência, como é o caso do direito à vida, à integridade pessoal, à liberdade e à segurança. Outros, como ocorre com o direito à segurança social e à habitação, os quais estão sujeitos a prioridades políticas e limitados à reserva do 82 possível , possuem em seu contexto manifestações mediatas, indiretas da dignidade da pessoa humana. Todavia, em nenhuma hipótese, nem mesmo quando expressa em um segundo grau de intensidade, a dignidade da pessoa humana deixa de ser alicerce 83 dos direitos fundamentais . No que diz respeito à ordem jurídico-constitucional brasileira, insta ressaltar que o fato do legislador constituinte ter localizado topograficamente uma série de princípios fundamentais imediatamente antes do capítulo sobre direitos fundamentais, não parece, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 179 de maneira alguma, mera casualidade. Fica, assim, evidente a “intenção de outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informativas de toda a ordem 84 constitucional” . O princípio da dignidade da pessoa humana figura, por conseguinte, como pilar fundamental do Estado Democrático de Direito Brasileiro e reflete-se em todos e em cada um dos direitos fundamentais. 2. Os fundamentos dogmáticos da colisão dos direitos fundamentais sob a égide do constitucionalismo moderno 2.1. Uma visão preliminar acerca das limitações aos direitos fundamentais A limitação aos direitos fundamentais demonstra-se como fato inerente ao próprio sistema constitucional e mais eminente ainda quando vivenciamos uma realidade onde a comunicação social e o desenvolvimento econômico, tecnológico e científico são cada vez mais efêmeros e sofisticados. Se assim o é, as relações pessoais tendem a uma maior complexidade o que, inevitavelmente, acarreta um maior número de conflitos e, portanto, demanda um maior preparo por parte do Direito e de seus operadores no sentido de dar acesso a soluções justas. Desde há muito, portanto, se reconhece que a tutela do direito de um pode acarretar lesão a direitos de terceiros. As circunstâncias fáticas que apresentam problemas como este, por seu turno, são incontáveis e percorrem caminhos muitos distintos, de maneira que suas resoluções também exigem respostas diferenciadas. Ademais, as limitações aos direitos fundamentais não se reduzem a situações clássicas de 85 conflitos, percorrendo também outras esferas como é o caso dos limites imanentes , das 86 autolimitações e das restrições constitucionais imediatas e expressamente autorizadas 87 pela Constituição . Dada a vastidão dogmática inerente à natureza do tema e observadas as limitações próprias ao caráter do presente trabalho, destinaremos as próximas linhas ao exame dos fundamentos dogmáticos que particularizam a teoria da colisão de direitos fundamentais sob a égide do constitucionalismo moderno com a finalidade de identificar possíveis vias de solução dos mesmos. 2.2. Conflitos entre Direitos Fundamentais 2.2.1. Noção conceitual introdutória Partindo do pressuposto do reconhecimento do efeito horizontal ou eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre privados, já avaliada anteriormente, vislumbra-se facilmente dentro do contexto social a possibilidade de conflitos reais entre bens jurídicos tutelados pela Lei Fundamental. De maneira que, não raro hodiernamente, se apresentam casos em que dois titulares de direitos fundamentais 180 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 exigem a satisfação de seus respectivos direitos fundamentais, os quais se encontram em absoluta contradição. Entretanto, o que significa um conflito entre direitos fundamentais? Vimos que os direitos fundamentais, assim que consagrados, produzem seus efeitos nas relações entre os privados. Ou seja, podem ser exigidos de maneira imediata, sem a necessidade de qualquer intervenção legislativa regulamentativa. Entretanto, não obstante o princípio da unidade da Constituição, nem sempre a harmonia absoluta entre todos os preceitos é factível na realidade social, o que acarreta um inevitável mundo de conflitos entre os mesmos. Assim é que o magistério do Professor Vieira de Andrade expressa: “haverá colisão ou conflito sempre que se deva entender que a Constituição protege simultaneamente dois 88 valores ou bens em contradição numa determinada situação concreta (real ou hipotética)” . Por seu turno, as lições de Gomes Canotilho, aparentemente admitindo a similitude entre o que se entende por colisão e conflito, proclamam: “considera-se existir uma colisão autêntica de direitos fundamentais quando o exercício de um direito fundamental por parte do 89 seu titular colide com o exercício do direito fundamental por parte de outro titular” . Em outras palavras, detecta-se a presença de conflito quando dois titulares de direitos igualmente consagrados pela Lei Maior, porém em choque entre si, invocam a satisfação destes em uma situação concreta. Este é, portanto, o chamado conflito “autêntico” entre direitos fundamentais que, na esteira das lições de Gomes Canotilho, ocorre quando do choque direto entre direitos fundamentais, o que não obsta a possibilidade de um conflito “em sentido impróprio”, marcado pela colisão entre um 90 direito fundamental e um bem constitucionalmente protegido . Vale lembrar, por fim, que as referidas marcas caracterizadoras diferenciam as circunstâncias de conflito - onde colidem direitos consagrados de dois ou mais titulares - das situações de concorrência de direitos - onde se vislumbra a presença de vários 91 direitos referentes ao mesmo titular em uma mesma situação fática . 2.2.2. O caráter principiológico dos direitos fundamentais na base da teoria dos conflitos De acordo com os ensinamentos do Professor Gomes Canotilho, um modelo de “constitucionalismo adequado” exige uma concepção da constituição como um “sistema 92 aberto de regras e princípios” . A análise da diferença entre regras e princípios, ambos 93 compreendidos como espécies do gênero norma , é de fundamental importância para a compreensão dos direitos fundamentais e da problemática questão dos conflitos a eles inerentes. Assim que, partindo pela delimitação conceitual, verificamos que os princípios representam uma norma jurídica passível de concretização que se manifesta no ordenamento por linhas largas e carregadas de certa abstração, consequentemente, possibilitam leituras particulares adequadas aos quadros fáticos e jurídicos apresentados 9495 nos casos concretos . As regras, por seu turno, são normas que “prescrevem imperativamente exigência”, ou seja, determinam de maneira concreta um direito ou um Revista da Escola da Magistratura - nº 13 181 96 dever . Tal diferenciação demonstra-se fulcral quando da análise posterior que faremos sobre os conflitos entre direitos fundamentais, pois em consonância com o que aponta o Professor Gomes Canotilho: “os princípios, ao constituirem exigências de optimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as regras, à <<lógica do tudo ou nada>>) consoante o seu peso e a ponderação de outros princípios eventualmente conflituantes; as regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem validade) deve cumprir97 -se na exacta medida das suas prescrições, nem mais, nem menos.” Das observações realizadas podemos inferir quão importante é o estabelecimento de um sistema jurídico constitucional misto, entre regras e princípios. Limitá-lo exclusivamente às regras seria o mesmo que engessá-lo, impondo uma previsão sempre exaustiva que impediria seu desenvolvimento, para a realização de adaptações históricoculturais. Em contraponto, prever apenas princípios rechearia o sistema normativo de inseguranças jurídicas. Assim que princípios como a dignidade da pessoa humana, dentro do chamado sistema normativo de regras e princípios, têm o condão de conferir certa abertura à Constituição, de maneira a possibilitar seu desenvolvimento e facilitar a resolução de conflitos por meio de ponderações. E mais, através de seus traços largos, fundamentar também os postulados das regras jurídicas, conferindo unidade de sentido ao sistema 98 constitucional . Outrossim, é importante frisar que os princípios consagram em seu âmago valores jurídicos, como é o caso da dignidade da pessoa humana. De acordo com Alexy, valor e princípio apenas se diferenciam pelo caráter axiológico do primeiro e deontológico do segundo. Em outras palavras, segundo o autor, valor representa aquilo que é melhor e 99 princípio aquilo que é devido . É dizer, por conseguinte, que os princípios, ainda que por vias largas que possibilitam diferentes graus de concretização, expressam de maneira evidente o dever ser. No entanto, nada obsta que um princípio seja fundado em um 100 valor jurídico, aliás, a ligação entre eles se mostra reiteradamente presente . O fato de um valor constar de um princípio fortifica seus preceitos, de maneira a conceder-lhe 101 maior vinculação jurídica . Assim sendo, à guisa de exemplo, é possível asseverar que a dignidade da pessoa 102103 humana aparece nos sistemas constitucionais como um “princípio de valor” responsável pela concessão de uma unidade de sentido que exalta a primeiro plano 104 a autonomia e liberdade da pessoa . É assim que, ademais, se pode afirmar que a 105 dignidade da pessoa humana funciona como alicerce de todos os direitos fundamentais , 106 ainda que em distintos graus . Seguindo tais pressupostos, em consonância com os já explicitados ensinamentos de Alexy, observamos que a admissão de um conflito material entre regras é mesmo inviável. Os conflitos entre regras somente se demonstram factíveis quanto à validade 107 das mesmas, a menos que esteja presente uma cláusula de exceção . A colisão entre 182 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 princípios, porém, funda-se no choque entre seus conteúdos, diz respeito a um problema 108 de preferência . Portanto, podemos concluir que as soluções para o conflito entre regras e as soluções para o conflito entre princípios serão, necessariamente, diferenciadas. Se uma regra está em conflito com outra e se parte-se do pressuposto que o mesmo decorre da dimensão de validade delas, então a decisão fática acerca do conflito deverá repousar única e exclusivamente sobre esse ponto. Neste arcabouço, a resolução de conflitos entre regras na esfera da validade resolver-se-á de acordo com os critérios cronológico (lex posterior derogat priori), hierárquico (lex superior derogat lex inferior) e da especialidade (lex specialis derogat generali). Outra solução apontada por Alexy que, entretanto, parece implicar em uma indispensável atividade legislativa, é a introdução de uma cláusula de exceção na norma, a qual teria como função extirpar, através de uma exceção expressa, a contradição 109 vislumbrada entre as regras . Já na esfera da colisão entre princípios, dada toda a abertura particular ao seu próprio conceito, vislumbra-se a possibilidade, aliás, bastante comum, da ocorrência 110 de conflitos de conteúdo . Neste caso, como veremos, observadas as circunstâncias específicas do caso concreto, realizar-se-á uma harmonização ou ponderação para a 111 concessão da decisão mais justa . A conclusão que expressamos não quer dizer que os direitos fundamentais, como rotineiramente encontram-se em conflito na realidade social, não possam ser expressos por regras. Muito pelo contrário: como vimos, o sistema constitucional é constituído por regras e princípios. No entanto, não podemos olvidar-nos que, mesmo sendo caracterizado como um sistema misto de regras e princípios, ainda que expressos 112 por regras, os direitos fundamentais invariavelmente reconduzem-se a princípios . Partindo desta premissa principialista acerca do sistema constitucional admite-se, por 113 conseguinte, que os direitos fundamentais consagram direitos prima facie , os quais poderão, deste modo, sofrer limitações fundadas na harmonização ou na ponderação. Por outro lado, se os titulares desses bens jurídicos podem pleitear sua satisfação perante o Poder Judiciário, estamos admitindo também que estes são detentores de direitos subjetivos, que, de acordo com as lições de Gomes Canotilho, são consagrados “quando o titular de um direito tem, face ao seu destinatário, o <<direito>> a um determinado 114 acto, e este último tem o dever de, perante o primeiro, praticar esse acto (...)” . Com efeito, face à presença de um direito subjetivo, cria-se uma relação jurídica onde há, por um lado, um direito e, por outro, um dever. Assim, levando em consideração a aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, o titular de um direito subjetivo fundamental pode, por exemplo, utilizando-se da via judicial, requerer a satisfação de seu direito em face daquele que tem o dever de respeitá-lo. Ressalte-se que, com isso, não estamos negando que os direitos fundamentais possuam também uma fundamentação 115 objetiva , mas tão somente que os mesmos devem ser considerados “em primeira linha” 116 como direitos subjetivos . Assim, se os direitos subjetivos são aqueles sobre os quais o seu titular tem o direito de exigir dos demais o seu zelo e cumprimento e dado que os conflitos de direitos fundamentais vislumbram-se quando dois de seus titulares requerem a satisfação de Revista da Escola da Magistratura - nº 13 183 seus respectivos direitos, é clara a conclusão de que se tratam estes, prima facie, de direitos subjetivos e de que, logo, sua satisfação encontra-se sob a disponibilidade de 117 seus titulares . 2.2.3. Conflito entre direitos fundamentais e suas respectivas propostas metodológicas de solução Para dar início à complexa análise acerca dos conflitos entre direitos fundamentais, é indispensável recordar que toda a referida gama de possíveis conflitos decorre dos preceitos plurais que caracterizam o Estado Democrático de Direito, os quais apresentam-se sempre por vias principiológicas largas, para adaptarem-se às mais diversas realidades sociais ao longo do tempo. Neste diapasão, é pacífico o entendimento na 118 doutrina de que os direitos fundamentais não são ilimitados e, tampouco, absolutos. O que se discute é a forma com que estes limites se concretizam. Segundo os ensinamentos de Gomes Canotilho, os conflitos podem ser 119 classificados em dois grupos muito característicos : o primeiro deles é marcado pela presença de uma colisão direta entre direitos fundamentais, na qual se inclui, por exemplo, o confronto entre o direito à liberdade de expressão e de comunicação face 120 o direito à honra e à imagem ; e o segundo é caracterizado pela colisão entre direitos 121 fundamentais e bens jurídicos da comunidade , como a saúde pública ou a defesa 122 nacional . O centro da preocupação doutrinária quando se fala em conflitos entre os direitos fundamentais gira em torno da forma com que se encontra a solução para o choque entre os direitos. É preciso conciliar os princípios da unidade da Constituição, da igualdade valorativa dos bens jurídico-constitucionais e da concordância prática (sempre que possível) com os reais e constantes casos em que se vislumbra uma tensão entre os direitos e isso, terminantemente, não é tarefa simples. Sendo assim, para a melhor compreensão acerca dos conflitos entre os direitos fundamentais, importante se nos faz retomar algumas questões teóricas que reconduzem à unidade do sistema constitucional, ao princípio da harmonia ou concordância prática, assim como ao tema da igualdade axiológica dos bens constitucionalmente tutelados e ao sistema misto entre regras e princípios. É assente na doutrina que as normas de Direito Constitucional, apesar das diversidades dogmáticas que lhes são peculiares, devem ser observadas pelo intérprete sob uma perspectiva de unidade, para conferir harmonia aos valores ali constantes. As regras e princípios integrantes de seu âmago não podem ser observados solitariamente, 123 senão de maneira global, como parte de um todo . Observemos, assim, a lúcida e precisa explanação apresentada na doutrina brasileira por Sérgio Cavalieri Filho: “Essa mesma Constituição, todavia, logo no inciso X do seu art. 5º, dispõe que ‘’são invioláveis a intimidade’’, a vida privada, a ‘’honra’’ e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’’. Isso evidencia que, na temática atinente 184 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 aos direitos e garantias fundamentais, esses dois princípios constitucionais se confrontam e devem ser conciliados. É tarefa do intérprete encontrar o ponto de equilíbrio entre princípios constitucionais em aparente conflito, porquanto, em face do ‘’princípio da unidade constitucional’’, a Constituição não pode estar em conflito consigo mesma, não obstante 124 a diversidade de normas e princípios que contém.” (grifos nossos) O princípio da unidade da Constituição está intimamente entrelaçado com o princípio da harmonia das normas ali constantes. Segundo a teoria da concordância prática, a visão do intérprete acerca das normas constitucionais deve ser de que elas constituem uma unidade harmônica, com o fito de coordenar as situações de conflito. Importante se faz ressalvar, todavia, que nem sempre a harmonização é vista pela doutrina como critério razoável para a resolução de todos os casos de conflitos. Não obstante, quando esta se demonstra factível, caberá ao intérprete a imposição de “limites e condicionamentos recíprocos de forma a conseguir uma harmonização ou concordância 125 prática entre estes bens” . Ademais, se o que se busca é uma “concordância prática” entre os direitos, está implícita a conclusão de que a harmonização somente se evidencia possível com a análise do caso concreto, ao passo que requer a consideração detalhada 126 dos bens que se encontram em jogo . Também associado aos princípios apresentados está o princípio da igualdade valorativa dos bens jurídicos consagrados pelo texto constitucional. As normas de Direito Constitucional, na qualidade de sistema de regras e princípios, em consonância com o já repisado, não caracterizam um sistema fechado, ao contrário, se manifestam por linhas largas que possibilitam que a atividade interpretativa as adequem ao tempo 127 em que se concretizam na realidade . Além disso, vislumbram-se como espaço de conglomeração de ideias e ideais dos mais diversos segmentos sociais, políticos e econômicos. As Constituições, desta maneira, distinguem-se pela pluralidade dogmática – decorrente especialmente dos pilares do Estado Democrático de Direito – o que 128 acarreta a possibilidade de conflitos dos direitos ali previstos . É assim que observamos que, apesar de compartilhar vários interesses e justamente pelo fato de configurar-se como um sistema aberto, é que o texto constitucional deve ser interpretado sem qualquer prevalência pré-determinada entre os direitos ali resguardados. Isto porque “todas as normas contidas numa constituição formal têm igual dignidade (não há normas só formais, nem hierarquia de supra-infra129 ordenação dentro da lei constitucional)” . Desse modo, não é possível alegar que algumas regras ou princípios possuem maior importância que outros, posto que inexiste qualquer relação de hierarquia entre eles. Observemos as precisas palavras de Gomes Canotilho quanto ao tema: “embora a Constituição possa ser uma <<unidade dividida>> (P. Badura) dada a diferente configuração e significado material das suas normas, isso em nada altera a igualdade hierárquica de todas as suas regras e princípios quanto à sua validade, prevalência normativa e 130 rigidez.” (grifos nossos) Revista da Escola da Magistratura - nº 13 185 No Direito Civil, ao contrário do que verificaremos na ordem constitucional, quando dois direitos pertencem à mesma espécie e entram em conflito seus titulares podem ceder reciprocamente, ao ponto de chegarem a um denominador comum que satisfaça ambas as partes. Quando os direitos pertencem a categorias distintas, a solução é ainda mais fácil, ao passo que prevalece sempre o de maior grau hierárquico. Entretanto, no âmbito constitucional, como vimos, não há que se falar em hierarquia abstrata entre as normas tuteladas, de modo que a solução para o conflito entre elas somente se vislumbra factível quando da análise das circunstâncias específicas do 131 caso concreto . A hipótese da hierarquização é absolutamente inaceitável, entretanto, tampouco se pode falar na esfera constitucional de cessões recíprocas de parcelas dos 132 direitos que sejam aceitáveis sem quaisquer reservas como solução para os conflitos . Ambos os direitos em conflito são garantidos pela Constituição e a ambos, abstratamente, é conferido o direito de exercê-lo em sua integralidade. O fato dos titulares dos direitos em jogo manifestarem a vontade de cedê-los não significa que chegarão a uma harmonização legítima. A consecução de um denominador comum no caso concreto de conflito, decorrente de limitações recíprocas provenientes da manifestação da vontade de seus titulares, não quer dizer que o mesmo não lesione, por 133 exemplo, o núcleo essencial dos direitos envolvidos, o que se evidencia inadmissível . A transação entre os direitos nos recorda o já mencionado princípio da concordância prática ou da harmonização entre os direitos fundamentais. Observemos, portanto, seus contornos e os critérios necessários para a sua utilização na resolução de casos práticos de conflitos de direitos fundamentais. A concordância prática, nos termos vistos, é um critério de solução de conflitos que pretende a harmonização dos direitos envolvidos. Não obstante, esta não pode, a priori, ser tomada com um “regulador automático” na solução entre todo e qualquer conflito de 134 direitos fundamentais . Faz-se indispensável, quando da utilização do referido critério, a consideração da Constituição como uma unidade de valores não hierárquicos para que, de acordo com as peculiaridades fáticas, se possa avaliar os direitos conflitantes e então chegar a uma solução, sobretudo, equilibrada que salvaguarde os núcleos essenciais dos direitos. Nem sempre, todavia, será possível encontrar esse desejado caminho harmônico entre os direitos colidentes, o que demandará a prevalência de um deles. Está claro dentro do que vimos até agora que não há qualquer predisposição a uma ordem hierárquica abstrata dos direitos fundamentais, o que importa dizer que os conflitos inevitavelmente presentes nas relações sociais serão resolvidos a partir da análise do caso concreto. Parece evidente também que, para garantir o exercício de um direito fundamental, por vezes, é necessário limitar outro ou outros bens de igual valor. Não obstante, para que o resultado da análise do conflito atenda aos critérios de justiça, será necessária a consideração das especificidades do caso concreto. É neste contexto que a ponderação dos bens surge como a principal e mais aceita proposta de resolução das tensões entre direitos consagrados pela Lei Maior. A ponderação é considerada como “um modelo de verificação e tipicização da ordenação de 135 bens em concreto” ou mesmo um critério que leva o operador do direito ou o legislador a “sopesar a fim de se decidir qual dos princípios, num caso concreto, tem maior peso ou valor” 136 . Observemos, nestes termos, as precisas lições de Robert Alexy: 186 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 “(..) esto significa que cada uno de ellos (princípios em conflito) limita la posibilidad jurídica de cumplimiento del otro. Esta situación no es solucionada declarando que uno de ambos principios no es válido y eliminándolo del sistema jurídico. Tampoco se la soluciona introduciendo uma excepción en uno de los principio de forma tal que en todos los casos futuros este principio tenga que ser considerado como una regla satisfecha o no. La solución de la colisión consiste más bien en que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, se establece entre los principios una relación de precedencia condicionada. La determinación de la relación de precedencia condicionada consiste en que, tomando en cuenta el caso, se indican las condiciones bajo las cuales un principio precede el outro. Bajo otras condiciones, la cuestión de la precedencia puede ser 137 solucionada inversamente.” (grifos nossos) Esta noção recobra-nos a ideia de “hierarquia axiológica móvel”, posto que estabelece, face cada caso, a prevalência de um direito sobre o outro e, portanto, uma 138 hierarquia específica à realidade fática apresentada . Observemos, neste diapasão, o que expressam os ensinamentos de Vieira de Andrade: “A questão do conflito de direitos ou de valores depende, pois, de um procedimento e de um juízo de ponderação, não dos valores em si, mas das formas ou modos de exercício específicos (especiais) dos direitos, nas circunstâncias do caso concreto, tentando encontrar e justificar a solução mais conforme ao conjunto dos valores constitucionais (à ordem consti139 tucional).” Ademais, o processo de ponderação dos bens envolvidos nos conflitos, em decorrência do caráter principiológico peculiar aos direitos fundamentais, não pode 140 afastar-se do princípio da proporcionalidade . Esclarecedoras, neste tocante, são as colocações do Ministro Gilmar Mendes em excerto de voto proferido no Habeas Corpus 82424-2/RS, senão vejamos: “a aplicação do princípio da proporcionalidade se dá quando verificada restrição a determinado direito fundamental ou um conflito entre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. (...) há de perquirir-se, na aplicação do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre Revista da Escola da Magistratura - nº 13 187 o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do princípio 141 contraposto).” A teoria da fixação de pesos aos direitos fundamentais em conflito nas situações concretas, ademais, obedece a rigorosos passos a serem observados pelo intérprete. Nessa esteira, fundada nos ensinamentos de Alexy, pontua a doutrina brasileira: “Alexy fala, aqui, na primeira lei da ponderação, segundo a qual quanto maior o grau de não satisfação de um direito ou princípio, maior deve ser a importância de satisfazer o princípio conflitante. Essa avaliação desenvolve-se em três estádios. No primeiro, busca-se estabelecer o grau de não satisfação ou de detrimento ao princípio que tende a ser relegado no caso concreto. No momento seguinte, afere-se a importância de satisfazer o princípio que tende a prevalecer. No terceiro instante, apura-se se a importância de satisfazer um dos princípios justifica o prejuízo a ser carreado 142 ao outro princípio colidente.” A realização da ponderação de bens jurídico-fundamentais deve reconduzir-se, 143 além disso, aos princípios da igualdade, da justiça e da segurança jurídica . Isto porque, conforme ensina José Joaquim Gomes Canotilho: “a ponderação visa elaborar critérios de ordenação para em face dos dados normativos e factuais, obter a solução mais justa para 144 o conflito de bens” . Diante dessas explicações fica claro que, para além da ideal harmonia dos preceitos constitucionais, muitas vezes a realidade jurídico-social pode trazer consigo 145 uma gama sem fim de conflitos que implicam a prevalência de um direito sobre o outro . No entanto, é de se ressaltar que essa prevalência, não pode atingir o núcleo essencial do direito preterido, de forma que no exercício de ponderação “devem-se comprimir no 146 menor grau possível os direitos em causa, preservando-se sua essência” . A limitação do direito fundamental, decorrente do exercício inevitável da ponderação entre os valores colidentes, trata-se, em verdade, de medida excepcional, a ser utilizada tão somente quando da verificação de intransponível incompatibilidade, o que não exclui a necessária atenção à proporcionalidade e à salvaguarda do núcleo 147 essencial . Sob este prisma, fica evidente que somente as circunstâncias específicas do caso concreto é que possibilitarão os dados fáticos necessários para a ponderação adequada 148 entre os preceitos fundamentais em conflito . Com efeito, o resultado decorrente do exercício de ponderação entre dois direitos fundamentais conflitantes em situação concreta não implica similares consequências em circunstância diversa, ainda que os direitos em conflito sejam os mesmos. Portanto, o fato do direito à honra, por exemplo, ver-se preterido face o direito à liberdade de opinião não resulta que sempre o será 149 quando em contraponto com este último . Poder-se-á argumentar, sem embargo, que a ponderação contradiz-se com o princípio da igualdade valorativa dos bens constitucionais, assim como com os a ele atrelados princípios da concordância prática e até mesmo o princípio da unidade 188 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 valorativa da Constituição. Entretanto, é imperioso recordar que as circunstâncias fáticas demonstram que a coexistência dos direitos fundamentais, por vezes, em 150 muito se distancia da harmonia . Os casos de conflitos de direitos fundamentais são absolutamente recorrentes no ambiente social. O Direito não pode ficar alheio a este 151 fato, prendendo-se a ideologias teóricas imóveis e afastando-se das demandas sociais . Além disso, é preciso ressaltar, para que não restem dúvidas, que ponderar não é o mesmo que harmonizar. Seguindo as linhas do magistério de Gomes Canotilho, na ponderação estabelecem-se “pesos” ou “valores” aos direitos em conflito, para determinar então a prevalência de um deles. Já na harmonização, o que se impõe é a coexistência dos direitos que se encontram em situação de colisão, o que, portanto, pressupõe uma 152 transação entre os mesmos . Apesar da ressalva relativa aos cuidados quando da operacionalização daquilo que se entende por harmonização dos direitos em conflito, assim como da impossibilidade de constituição de uma ordem hierárquica abstrata entre os valores constitucionais e o respeito à salvaguarda do núcleo essencial dos bens jurídicos protegidos, ela - a harmonização - poderá ser utilizada como método de solução de conflitos. Nestes termos, a despeito de não ser possível impor critérios de solução de conflitos fixos, é preciso estabelecer um método jurídico que possibilite a concessão de respostas a estes. O caminho apresentado pela harmonização e pela ponderação de direitos parece conduzir-nos a uma saída justa e equilibrada. Ambos são critérios móveis, que têm como pressuposto principal a análise do caso concreto e a busca da melhor solução possível para o conflito. Como vimos, a harmonização, observada por uma ótica flexível que se enquadre às características do caso concreto e, portanto, sem transpor-nos à ideia de hierarquização axiológica fixa e/ou abstrata, induz-nos a um processo de acordo entre os direitos conflitantes, de maneira a possibilitar a coexistência entre eles e garantir a unidade da Constituição. Por outro lado, como a ponderação impõe a prevalência de um direito sobre o outro, e, portanto, o estabelecimento de pesos que acarretam a aludida hierarquia axiológica móvel, deve também ser entendida como método apropriado quando imprescindível para a solução justa do problema. Contudo, somente as circunstâncias fáticas é que nos permitirão detectar qual dos critérios se adequa melhor para a 153 consecução de uma resposta possível e justa . Nesta esteira é que se vislumbra a ideia de utilização da ponderação de maneira 154 subsidiária à harmonização, como critério de solução de conflitos . Existem casos em que a coexistência dos direitos demonstra-se impossível e a prevalência de um deles face 155 ao outro configura-se como saída inevitável . Logo, o que buscamos é uma alternativa que, sobretudo, seja maleável frente às necessidades fáticas, as quais, invariavelmente, dadas suas particularidades, demandam respostas diferenciadas. Verifiquemos, outrossim, os ensinamentos de Gomes Canotilho acerca do tema: “Como se deduz das considerações do texto, as normas dos direitos fundamentais são entendidas como exigências ou imperativos de optimização que devem ser realizadas, na melhor medida possível de acordo com o contexto Revista da Escola da Magistratura - nº 13 189 jurídico e respectiva situação fáctica. Não existe, porém, um padrão ou critério de soluções de conflitos de direitos válido em termos gerais e abstractos. A <<ponderação>> e/ou harmonização no caso concreto é, apesar da perigosa vizinhança de posições decisionistas (F. Muller), uma necessidade ineliminável. Isto não invalida a utilidade de critérios metódicos abstractos que orientem, precisamente, a tarefa de ponderação e/ou harmonização concretas: <<princípio da concordância prática>> (Hesse); <<ideia do melhor equilíbrio possível entre os direitos coliden156 tes>> (Lerche)” (grifos nossos) Deste modo, podemos afirmar que a análise de um caso de conflito entre direitos fundamentais deve levar em conta as peculiaridades referentes ao caso concreto, em que se incluem especialmente as condições e os termos que cada um dos titulares deseja 157 exercer seus respectivos direitos . Diante desses dados fáticos, caberá ao juiz, ou mesmo ao legislador - prevendo 158 a ocorrência de casos típicos de conflito - verificar se é possível harmonizar os bens jurídicos conflitantes com a imposição de cessões recíprocas, mesmo que não matemáticas, ou, não sendo plausível este caminho, estabelecer pesos aos direitos e, portanto, conferir prevalência a um deles. Sendo assim, sempre que estivermos frente a uma colisão de bens jurídicos constitucionalmente tutelados será necessário um trabalho fático cuidadoso por parte daquele a quem compete solucioná-la. Ademais, recorde-se, a solução para o conflito de direitos fundamentais pode ser resolvida, concretamente, pelo Poder Judiciário ou mesmo pelo Poder Legislativo, ao prever abstratamente casos comuns de conflito de 159 direitos fundamentais e suas respectivas soluções . Não obstante a resolução dos conflitos na grande maioria dos casos, dado suas especificidades e o elevado leque de possibilidades que pode atingir, ser submetida à análise e decisão do Poder Judiciário, a mesma também pode ocorrer abstratamente, através de intervenção legislativa. Deste modo, situações conflituosas similares e reiteradamente vislumbradas no convívio social podem ensejar uma intervenção legislativa abstrata e geral que põe fim à controvérsia entre determinados direitos 160 fundamentais . Destarte, as leis que trazem em seu bojo a resolução de um conflito devem oferecer certa abertura, para que possam adequar-se às circunstâncias apresentadas no caso concreto, de maneira a balizar “critérios de ponderação relevantes por intermédio 161 de cláusulas gerais ou conceitos indeterminados, a preencher pelo juiz” . Portanto, a existência de lei que tenha como objeto a resolução de um conflito não impede que o caso seja também submetido ao crivo do Poder Judiciário, ao qual caberá sopesar as circunstâncias fáticas para aplicar a solução abstratamente prevista às especificidades do caso concreto. Desta feita, retomando as ideias de que os direitos fundamentais não são absolutos e tampouco ilimitados, assim como que a resolução dos conflitos entre eles requer a análise das características de cada caso concreto, ressaltamos, mais uma vez, que não há como estabelecer um critério rígido e fixo para a solução de 190 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 conflitos. Apesar disso, a harmonização e a ponderação parecem levar-nos a um caminho sustentável, ao passo que possuem como pressuposto a flexibilização diante das características fáticas do caso. Considerações finais O Direito só existe pelo homem e para o homem - hominum causa omne ius constitutum est. A expressão em latim, apesar dos rasgos históricos remotos que carrega, deve ser, a cada dia, considerada como contemporânea. Isto porque traz consigo o postulado basilar da proteção da dignidade da pessoa humana, em que o homem se caracteriza fim e não meio ou instrumento para a consecução de algo. Não obstante a concessão de liberdades ilimitadas não se demonstre factível em uma sociedade complexa e plural, tal qual a que vivenciamos na atualidade, o Direito deve servir como instrumento, pautado notadamente na igualdade e na proporcionalidade, que possibilite a construção de alicerces jurídico-sociais equilibrados e justos. Nesta esteira, o texto constitucional e, nomeadamente, os direitos fundamentais, exercem papel protagonista no quadro jurídico-social, ao passo que não só asseguram ao indivíduo a certeza de que possui um rol de liberdades e garantias mínimas a serem respeitadas por todos - aí incluindo tanto seus pares como a figura do próprio Estado - como determinam limitações ao exercício desses direitos tornando, assim, crível a coexistência social. O texto constitucional pátrio, a refletir a pluralidade inerente ao ideal democrático, consagra diversidade de valores e interesses que, por inúmeras vezes no mundo fático, apresentam-se em polos contrapostos. Nesse sentido é que se faz possível e necessário asseverar que nosso sistema constitucional não acolhe consagrações absolutas a serem salvaguardadas em qualquer hipótese, razão pela qual defende-se a conhecida ordem axiológica móvel da constituição, de maneira a compatibilizar os interesses tutelados às situações apresentadas nos casos concretos. Tal quadro impõe, portanto, necessária adequação das atividades legiferante e jurisdicional, quando da apreciação das circunstâncias fáticas de conflito, aos ditames da razão e da justiça, que, arrazoados pela proporcionalidade e pela tutela do núcleo essencial, deverão garantir a concretização de direitos amparados pelo constituinte, a transpor, assim, o por vezes questionado viés simbólico de nossa carta política. Os conflitos entre direitos fundamentais ou entre estes e bens jurídicos comunitários são inevitáveis e cotidianos, logo, as consequentes limitações a eles atreladas tornam-se presentes e necessárias. No entanto, esse dado não pode ser tomado apenas e tão somente sob a égide negativa, através da qual constatamos a limitação do âmbito de proteção de um direito fundamental. Desta feita, para que sejam consideradas legítimas, as limitações devem forçosamente pautar-se na proteção de outro valor constitucional, atender às imprescindíveis balizas da tutela do núcleo essencial e da proporcionalidade, de modo que, distanciando-nos de uma mirada de cunho meramente negativista, poderemos vislumbrá-las sempre por uma incontestável perspectiva positiva de tutela do valor prevalente, decorrente da ponderação. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 191 Pautados pelos nortes acima pontilhados será possível falar-se em efetiva tutela jurisdicional e em verdadeira concretização dos direitos fundamentais, a compor e materializar os ideais democráticos consagrados em nossa carta constitucional. Bibliografia ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997. ALEXY, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el estado constitucional democrático. In Derechos y Libertades, Año V, Enero-Junio, número 8. Madrid: Universidade Carlos III de Madrid, 2000. ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direito fundamentais no estado democrático de direito. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: vol. 217, junho/julho de 1999. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3ªed. Coimbra: Almedina, 2004. ANDRADE, José Carlos Vieira de. O Judiciário e os Direitos Fundamentais Sociais. In: Palestras no centro de estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, n° 2. Porto Alegre: Centro de estudos, 2002. ANDRADE, José Carlos Vieira. Os Direitos dos Consumidores como Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vol. LXXVIII. Coimbra, 2002. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. BAQUER, Lorenzo Martín-Retortillo. OTTO Y PARDO, Ignácio. Derechos fundamentales y Constitución. Madrid: Civitas, 1988. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade de leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996. BARROSO, Luís Roberto. Conflitos entre direitos fundamentais. In: Lições de Direito Constitucional em Homenagem ao Jurista Celso Bastos. Coordenadores: MARTINS, Ives Gandra da Silva, MENDES, Gilmar Ferreira e TAVARES, André Ramos. São Paulo: Saraiva, 2005. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 3ª ed. Coimbra: Coimbra, 1993. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de Direitos Fundamentais e Direito Privado. In: Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004. 192 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Métodos de protecção de direitos, liberdades e garantias. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Volume Comemorativo do 75° Tomo. Coimbra, 2003. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional de Conflitos e Protecção de Direitos Fundamentais. In: Revista de Legislação e de Jurisprudência. Ano 1992-1993, n° 3814-3825. Coimbra: Coimbra, 1993. CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas. In: Estudos em Homenagem a Manuel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999. CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. A hierarquia das normas constitucionais e a sua função na protecção dos direitos fundamentais. In: Separata do Boletim do Ministério da Justiça, n° 396. Lisboa, 1990. CASTANHEIRA NEVES, A. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Coimbra, 1971-1972. CATOIRA, Ana Aba. La Limitación de los Derechos en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Valencia: Tirant lo blanch, 1999. CORREIA, Fernando Alves. Os Direitos Fundamentais e a sua protecção jurisdicional efectiva. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vol. LXXIX. Coimbra: 2003. DÍEZ-PICAZO, Luis María. Sistema de Derechos Fundamentales. Madrid: Civitas Thomson, 2003. FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. FREEMAN, Michael. Human Rights: An interdisciplinary approach. Cambrige: Polity Press, 2003. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Sobre los derechos públicos subjetivos. In: Revista Española de Derecho Administrativo. Número 6, 1975. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 180-183. GUERRERO, Manuel Medina. La Vinculacíon Negativa del Legislador a los Derechos Fundamentales. Madrid: McGraw-Hill, 1996. HESSE, Konrad. La fuerza normativa de la constitución. In: Escritos de Derecho Constitucional. 2ª ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992. HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. URBANO, Maria Benedita Malaquias Pires. Direito Constitucional: casos práticos resolvidos. Coimbra: Coimbra, 1995. LUÑO, Antonio Enrique Perez. Los Derechos Fundamentales. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2005. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 193 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9ª ed. Madrid: Tecnos, 2005. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV: Direitos Fundamentais. 3ª ed. Coimbra: Coimbra, 2000. MOREIRA, Vital. A “Fiscalização Concreta” no quadro do sistema misto de justiça constitucional. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Volume Comemorativo. Coimbra, 2003. NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições de direito não expressamente autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: Perspectivas Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. V. 1. Organizador: MIRANDA, Jorge. Coimbra: Coimbra, 1996. PEREIRA, Marcos Keel. O lugar do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Jurisprudência dos Tribunais Portugueses: uma perspectiva metodológica. Working Paper n° 4/2002. Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa: Lisboa, 2002. ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005. RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vol. LXXIV. Coimbra, 1998. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares e a Boa-fé Objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002. SARMENTO, Daniel. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos de uma teoria. In: Jurisdição constitucional e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 194 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 SEGADO, Francisco Fernández. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento juridico. In: Estado & Direito: Revista semestral luso-espanhola de direito público. N° 17-18: 1996. SHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos Fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2002. STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de Direitos Fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. Notas * Monografia apresentada como requisito para conclusão da Pós-graduação em Direito e Jurisdição da Escola da Magistratura do Distrito Federal - Aluna: Alessandra Lopes da Silva 1 Deste modo menciona Alexy: “Restringibles son bienes iusfundamentalmente protegidos (libertades/situaciones/ posiciones de derecho ordinario) y posiciones prima facie concedidas por principios iusfundamentales”. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 272. 2 Assim expressa Dworkin: “Claro que casi todos aceptan que el derecho a la libertad no es el único derecho político, y que por conseguiente las exigencias de libertad deben verse limitadas, por ejemplo, por las restricciones que protegen la seguridad o la propriedad de otros.” (grifos nossos). DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. 2ª ed. Editorial Ariel: Barcelona, 1989, p. 380. 3 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 426-428. 4 CATOIRA, Ana Aba. La Limitación de los Derechos en la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español. Valencia: Tirant lo blanch, 1999, pp. 71-75. 5 Assim expressam as lições do Professor Castanheira Neves: “Ao estabelecer uma ordem e ao impor um ordenamento à vida comunitária, estabelece o direito as condições objectivas mediante as quais se assegura a cada um de nós a possibilidade de realizar a sua vida sem correr o risco de ser sacrificado ao arbítrio ou à prepotência de outrem. É certo que se consegue este resultado limitando a acção dos outros nos mesmos termos em que limita a ação de cada um de nós – que, portanto, o direito, ao estabelecer uma ordem eficaz, se traduz numa limitação universal da liberdade de todos.” (grifos nossos). CASTANHEIRA NEVES, A. Curso de Introdução ao Estudo do Direito. Coimbra, 1971-1972, p. 253. 6 LUÑO, Antonio Enrique Perez. Los Derechos Fundamentales. 8ª ed. Madrid: Tecnos, 2005, pp. 29-43. 7 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 42. 8 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 43. 9 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, pp. 380-381. 10 Designadamente o direito de ir e vir, o habeas corpus, o devido processo legal e a propriedade. Para mais detalhes, conferir ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. 3ªed. Coimbra: Almedina, 2004, pp. 20-25. 11 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 380-381. 12 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 49. 13 Vejamos os comentários de Ingo Wolfgang Sarlet quanto ao assunto: “Cumpre salientar, neste contexto, que Locke, assim como já o havia feito Hobbes, desenvolveu ainda mais a concepção contratualista de que os homens têm o poder de organizar o Estado e a sociedade de acordo com sua razão e vontade, demonstrando que a relação autoridade-liberdade se funda na autovinculação dos governados, lançando, assim, as bases do pensamento individualista e do jusnaturalismo iluminista do século XVIII, que, por sua vez, desaguou no constitucionalismo e no reconhecimento de direitos de liberdade dos indivíduos considerados como limites ao poder estatal.” SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 47. LUÑO, Antonio E. Perez. Los Derechos Fundamentales. Ob. cit., p. 31. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 195 14 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 384. LUÑO, Antonio E. Perez. Los Derechos Fundamentales. Ob. cit., pp. 31-32. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 50. 17 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 51. 18 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 3ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 216. 19 No entender de Canotilho, os direitos fundamentais só são tidos como tais se reconhecidos na Constituição. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 377. 20 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 377. 21 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo IV: Direitos Fundamentais. 3ª ed. Coimbra: Coimbra, 2000, p. 7. 22 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 74. 23 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 8. 24 É assim que ao escrever sobre a unidade do sistema de direitos fundamentais baseada na dignidade da pessoa humana, afirma o professor Jorge Miranda “O <<homem situado>> do mundo plural, conflitual e em acelerada mutação do nosso tempo encontra-se muitas vezes dividido por interesses, solidariedades e desafios discrepantes; só na consciência da sua dignidade pessoal retoma unidade de vida e de destino” MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 182. 25 Neste sentido expressam os ensinamentos do Professor Vieira de Andrade que a dignidade da pessoa humana é “princípio de valor que está na base do estatuto jurídico dos indivíduos e confere unidade de sentido ao conjunto de preceitos relativos aos direitos fundamentais. Estes preceitos não se justificam isoladamente pela protecção de bens jurídicos avulsos, só ganham sentido enquanto ordem que manifesta o respeito pela unidade existencial de sentido que cada homem é para além dos seus actos e atributos.” ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 101. No mesmo sentido conferir: CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas. In: Estudos em Homenagem a Manuel Gonçalves Ferreira Filho. São Paulo: Dialética, 1999, pp. 192-193. 26 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 180-195. 27 Segundo o Professor Gomes Canotilho “a dignidade da pessoa humana como base da República significa, sem transcendências ou metafísicas, o reconhecimento do homo noumenon, ou seja, do indivíduo como limite e fundamento do domínio político da República. Neste sentido, a República é uma organização política que serve o homem, não é o homem que serve os aparelhos político-organizatórios.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 225. 28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 377. 29 ALEXY, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el estado constitucional democrático. In Derechos y Libertades, Año V, Enero-Junio, número 8. Madrid: Universidade Carlos III de Madrid, 2000, pp. 39-41. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 377-378. CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. A hierarquia das normas constitucionais e a sua função na protecção dos direitos fundamentais. In: Separata do Boletim do Ministério da Justiça, n° 396. Lisboa, 1990, pp. 10-16. CORREIA, Fernando Alves. Os Direitos Fundamentais e a sua protecção jurisdicional efectiva. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vol. LXXIX. Coimbra: 2003, pp. 65-75. MOREIRA, Vital. A “Fiscalização Concreta” no quadro do sistema misto de justiça constitucional. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Volume Comemorativo. Coimbra, 2003, pp. 815 e ss. ANDRADE, José Carlos Vieira de. O Judiciário e os Direitos Fundamentais Sociais. In: Palestras no centro de estudos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, n° 2. Porto Alegre: Centro de estudos, 2002, pp. 9-34. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição Constitucional. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 30 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 75-79. 31 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 379. 32 Ao se referir ao Direito Fundamental em sentido material pontua o Professor Jorge Miranda que se a Constituição o prevê é “porque adere a uma ordem de valores (ou ela própria encarna certos valores) que ultrapassam as disposições dependentes da capacidade ou da vontade do legislador constituinte; é porque a enumeração constitucional, em vez de restringir, abre para outros direitos – já existentes ou não – que não ficam à mercê do poder político, é porque, a par dos direitos fundamentais em sentido formal, se encontram, em relação constante, direitos fundamentais apenas em sentido material.” MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 12. 33 É importante mencionar, quanto à vinculação territorial que, em regra, os direitos fundamentais, por estarem positivados nas Constituições e, portanto, por possuírem força coercitiva dentro do 15 16 196 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 território nacional, instrumentos e vias que os concretizem (como o Poder Judiciário), possuem mais efetividade que os direitos humanos. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 39. 34 Em que pese esta importante nota diferenciadora, Robert Alexy, admitindo a recepção dos direitos humanos a nível internacional e nacional, portanto, não anotando diferenças substanciais entre direitos humanos de fundamentais, atribui cinco características aos primeiros: universalidade, validez moral, fundamentalidade, prioridade e abstração. Para maior aprofundamento conferir: ALEXY, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el estado constitucional democrático. Ob. cit., pp. 24-31. 35 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., pp. 35-36. 36 É importante mencionar, todavia, a ponderação de Robert Alexy, ao afirmar que o ordenamento que não segue as diretrizes de “prioridade” dos direitos humanos, está cometendo uma incorreção, seja ela de caráter moral ou jurídico. ALEXY, Robert. La institucionalización de los derechos humanos en el estado constitucional democrático. Ob. cit., pp. 29-30. Em relação aos direitos humanos e seus reflexos nos ordenamentos pátrios: FREEMAN, Michael. Human Rights: An interdisciplinary approach. Cambrige: Polity Press, 2003, pp.131-147. 37 Esse também é o entendimento do Professor Jorge Miranda, vejamos: “precisamente por os direitos fundamentais poderem ser entendidos prima facie como direitos inerentes à própria noção de pessoa, como direitos básicos da pessoa, como os direitos que constituem a base jurídica da vida humana no seu nível actual de dignidade, como as bases principais da situação jurídica de cada pessoa, eles dependem das filosofias políticas, sociais e econômicas e das circunstâncias de cada época e lugar”. MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 10. 38 Para maiores explicações acerca das perspectivas sobre as quais podem ser vistos os Direitos fundamentais, conferir: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 15-50. 39 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., pp. 36-37. 40 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 53. 41 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 408. 42 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., pp. 54-55. 43 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 408. 44 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 179. 45 Os direitos sociais, econômicos e culturais estão previstos nos artigos 58° e 79° da Constituição da República Portuguesa. 46 Neste aspecto menciona lucidamente José Joaquim Gomes Canotilho: “Nesta perspectiva, o ‘rendimento mínimo garantido’, as ‘prestações de assistência social básica’, o ‘subsídio de desemprego’ são verdadeiros direitos sociais originariamente derivados da constituição sempre que eles constituam o standard mínimo de existência indispensável à fruição de qualquer direito” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 518. 47 Tal preceito é representado expressamente pelo texto da Constituição Portuguesa, dentre outros, pelos artigos 1°, 2° e 3°. O mesmo princípio reflete-se no parágrafo único do artigo 1° da Constituição brasileira. 48 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 179. 49 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 570-572. 50 Ingo Wolfgang Sarlet salienta, todavia, que estes direitos fundamentais, em grande parte, não se encontram positivados nas Constituições, constando mais incisivamente na esfera internacional. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. Ob. cit., pp. 57-58. 51 Esses direitos fundamentais, que tem como pilar principal a fraternidade ou a solidariedade, são identificados por Paulo Bonavides como relativos à terceira geração. Vislumbra-se, portanto, apenas uma mera divergência quanto às nomenclaturas utilizadas pelos referidos autores para classificar determinados direitos fundamentais, mostrando ambas as teorias resultados pragmáticos idênticos. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 569-570. 52 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 64-65. 53 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 386-387. Conferir também: SARLET, Ingo Wolgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Ob. cit., pp. 41 e ss. 54 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 145-149. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 197 55 Aqui está incluído, especificamente, o dever de proteção perante terceiros, o qual, segundo ensina o Professor Vieira de Andrade, “implicaria o dever de promoção e de protecção dos direitos perante quaisquer ameaças, afim de assegurar a sua efectividade” ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 147. E ainda neste aspecto define o ilustre Professor Robert Alexy: “Los derechos a protección son, pues, derechos constitucionales a que el Estado organice y maneje el orden jurídico de una determinada manera por lo que respecta a la relación recíproca de sujetos jurídicos iguales” ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 436. 56 Registre-se que, na esteira das explicações de José Afonso da Silva, as normas constitucionais que produzem eficácia “plena” podem ser conceituadas como “aquelas que, desde a entrada em vigor da constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos essenciais, relativamente aos interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta e normativamente, quis regular”. SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 101. Quanto à questão específica da vinculação das entidades públicas aos direitos fundamentais, conferir: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 219-244. 57 Na doutrina brasileira, conferir importantes contribuições sobre o tema em: SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares e a Boa-fé Objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, pp. 97-137. 58 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1286-1289. 59 Frise-se que tal vinculação refere-se aos particulares de um modo geral, abrangendo, assim, tanto pessoas físicas como jurídicas (individuais ou coletivas). 60 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 146. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 3ª ed. Coimbra: Coimbra, 1993, pp. 147-148. 61 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 511-515. Conferir síntese das teorias expostas em: LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9ª ed. Madrid: Tecnos, 2005, pp. 318-320. 62 Importante é mencionar a ressalva que realiza o Professor Gomes Canotilho quanto à utilização dessa expressão: “a aplicabilidade directa não significa que as normas garantidoras de direitos, liberdades e garantias configuram direitos subjectivos, no sentido clássico de direitos absolutos, mas, de qualquer modo, eles conferem ao particular o direito de invocarem estas normas consagradoras de direitos e, neste sentido, se afirma que os direitos fundamentais transportam em regra direitos subjectivos”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Métodos de protecção de direitos, liberdades e garantias. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Volume Comemorativo do 75° Tomo. Coimbra, 2003, p. 802. 63 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 263. 64 Veja-se, neste aspecto, a alusão realizada pelo Professor Vieira de Andrade em sua obra sobre direitos fundamentais: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 266. 65 É assim que se manifesta expressamente ao afirmar que “as normas garantidoras de direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis desde que possuam suficiente determinabilidade” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Métodos de protecção de direitos, liberdades e garantias. Ob. cit., p. 803. Veja-se, também em defesa da aplicação direta dos preceitos fundamentais às relações privadas: LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. Ob. cit., pp. 318-320. 66 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1289 e 1290. Na doutrina brasileira, seguindo a mesma orientação: SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares e a Boa-fé Objetiva. Ob. cit., pp. 135-137. 67 Segundo explica o Professor Canotilho, a vinculação dos direitos fundamentais na esfera privada, apesar de embrionariamente presente na Declaração dos Direitos do Homem de 1979, foi efetivamente concretizada e alicerçada no mundo jurídico com o advento da teoria liberal individualista, especialmente nas décadas de 50 e 60 do século XX. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1289 e 1290. 68 Reza o § 1° do artigo 5° da Constituição brasileira: “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 198 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 69 Assim expressa a doutrina: “O significado essencial dessa cláusula é ressaltar que as normas que definem direitos fundamentais são normas de caráter preceptivo, e não meramente programático. Explicita-se, além disso, que os dreitos fundamentais se fundam na Constituição, e não na lei – com o que se deixa claro que é a lei que deve mover-se no âmbito dos direitos fundamentais, não o contrário. Os direitos fundamentais não são meramente normas matrizes de outras normas, mas são também, e sobretudo, normas diretamente reguladoras de relações jurídicas. (...) Há normas constitucionais, relativas a direitos fundamentais, que, evidentemente, não são auto-aplicáveis. Carecem da interposição do legislador para que produzam todos os seus efeitos. As normas que dispõem sobre direitos fundamentais de índole social, usualmente, têm a sua plena eficácia condicionada a uma complementação pelo legislador. É o que acontece, por exemplo, com o direito à educação, como disposto no art. 205 da Lei Maior, ou com o direito ao lazer, de que cuida o art. 6º do Diploma. (...) Essas circunstâncias levam a doutrina a entrever no art. 5º, §1°, da Constituição Federal uma norma-princípio, estabelecendo uma ordem de otimização, uma determinação para que se confira a maior eficácia possível aos direitos fundamentais. O princípio em tela valeria como indicador de aplicabilidade imediata da norma constitucional, devendo-se presumir a sua perfeição, quando possível.” MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, pp. 251-253. 70 Observe-se o excerto da decisão no Recurso Especial 811608/RS, julgado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 15 de maio de 2007 e publicado no Diário de Justiça de 04 de junho de 2007. Fonte: www.stj.gov.br: “Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz da interpretação constitucional, são dotados de eficácia imediata. A Lei Maior, no que diz com os direitos fundamentais, deixa de ser mero repositório de promessas, carta de intenções ou recomendações; houve a conferência de direitos subjetivos ao cidadão e à coletividade, que se vêem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, a realização em concreto da prescrição constitucional. O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia dos direitos fundamentais está encartado no § 1º, do art. 5º, da CF/88: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.” (grifos nossos). Neste sentido, ver também: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, pp. 111-112. SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Ob. cit., pp. 289-297. Esta parece ser também a tendência da doutrina espanhola, ao passo que afirma Segado que “es evidente que los derechos fundamentales vinculam también a los particulares, y no sólo a los poderes públicos” SEGADO, Francisco Fernández. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento juridico. In: Estado & Direito: Revista semestral luso-espanhola de direito público. N° 17-18: 1996, p. 129. 71 Trecho da ementa do acórdão do Recurso Extraordinário n° 201819/RJ, de Relatoria da Ministra Ellen Gracie, julgado pela 2° turma do Supremo Tribunal Federal, no dia 11 de outubro de 2005 e publicado no Diário de Justiça de 27 de outubro de 2006. Fonte: www.stf.gov.br. 72 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vol. LXXIV. Coimbra, 1998, pp. 729-730. Conferir, na doutrina brasileira, as precisas colocações de Marília Sampaio sobre o tema: SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares e a Boa-fé Objetiva. Ob. cit., pp. 83-96. 73 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. Ob. cit., pp. 733-741. 74 A Constituição Portuguesa de 1976 ensejou, por exemplo, ampla reforma do Código Civil em 1977. Neste sentido, vejamos as asseverações de José Carlos Vieira de Andrade, ao dispor acerca dos direitos fundamentais dos consumidores: “A inclusão dos direitos dos consumidores no catálogo dos direitos fundamentais insere-se num fenómemo de constitucionalização do direito privado e visa assegurar – através do direito constitucional, em geral, e do prestígio ou da força jurídica dos direitos75fundamentais, em particular -, um grau mais elevado de realização legislativa na protecção dos consumidores” (grifos do original) ANDRADE, José Carlos Vieira. Os Direitos dos Consumidores como Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. In: Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Vol. LXXVIII. Coimbra, 2002, p. 62. 76 Nas palavras do Professor Cardoso da Costa, “afirmar a “dignidade da pessoa humana” é reconhecer a autonomia ética do homem, de cada homem singular e concreto, portador de uma vocação e de um destino, únicos e irrepetíveis, de realização livre e responsável, a qual há de cumprir-se numa relação social (e de solidariedade comunitária) assente na igualdade radical entre todos os homens – tal que nenhum deles há de ser reduzido a mero instrumento ou servo do “outro” (seja outro homem, seja Estado)” CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas. Ob. cit., p. 191-192. 77 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., p. 59. 78 Nas palavras do Professor Jorge Miranda, “Pelo menos, de modo directo e evidente, os direitos, liberdades e garantias pessoais e os direitos econômicos sociais e culturais têm a sua fonte ética na dignidade da pessoa, de todas as pessoas” MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 181. No mesmo sentido: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 199 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., p. 77 e SEGADO, Francisco Fernández. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento juridico. Ob. cit., pp. 117-118. ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 49-52. 79 Segundo Segado “Los derechos fundamentales son inherentes a la dignidade del ser humano y, por lo mismo, se fundan en ella y, a la par, operan como el fundamento último de toda comunidad humana, pues sin su reconocimiento querdaría conculcado esse valor supremo de la dignidad de la persona en el que ha de encontrar su sustento toda comunidad humana civilizada” SEGADO, Francisco Fernández. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento juridico. Ob. cit., p. 101. 80 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 102. Tanto assim o é que o Supremo Tribunal Federal brasileiro reconhece, dentre muitos outros, o direito ao nome e à ampla defesa como expressão materializada do princípio da dignidade da pessoa humana. Vejam-se, respectivamente, as seguintes decisões: Recurso Extraordinário n° 248869/SP, julgado pela Segunda Turma em 07 de agosto de 2003 e publicado no Diário de Justiça de 12 de março de 2003 e Habeas Corpus 89176/PR, julgado pela Segunda Turma em 22 de agosto de 2006 e publicado no Diário de Justiça de 22 de setembro de 2006. Fonte: www.stf.gov.br. Na jurisdição portuguesa também é corrente a presença de casos em que se utiliza o princípio valor da dignidade da pessoa humana relacionado com um direito específico para a tomada de uma decisão. Neste sentido encontram-se os Acórdãos n° 6/84, 16/84, 474/95, 426/91, 83/85, 40/84, 394/89, 748/93, 442/94, 443/95 e 349/91, citados pelo Professor Cardoso da Costa. CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. O princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição e na Jurisprudência Constitucional Portuguesas. Ob. cit., pp. 198-199. Para uma análise mais profunda acerca da influência do princípio da Dignidade da Pessoa Humana sobre a Jurisprudência dos Tribunais Portugueses, conferir: PEREIRA, Marcos Keel. O lugar do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Jurisprudência dos Tribunais Portugueses: uma perspectiva metodológica. Working Paper n° 4/2002. Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa: Lisboa, 2002. 81 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., p. 84. 82 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 106. 83 O fato de estarem limitados à reserva do possível não exime o Estado de realizar prestações mínimas, das quais depende o indivíduo para ter uma vida digna. Observemos posicionamento que expressa o Supremo Tribunal Federal a respeito: “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”. Ver neste sentido, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 45/DF, Ministro Relator Celso de Mello, julgada em 29 de abril de 2004 e publicada no Diário de Justiça de 04 de maio de 2004. Fonte: www.stf.gov.br. No mesmo sentido conferir também o Recurso Especial 811608/RS, julgado pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 15 de maio de 2007 e publicado no Diário de Justiça de 04 de junho de 2007. Fonte: www.stj.gov.br . 84 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 102-103. 85 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., p. 61. Observe-se, ademais, que a dignidade da pessoa humana, na qualidade de princípio fundamental da República Federativa do Brasil, aparece no texto constitucional não só como alicerce dos direitos fundamentais, posto que prevista expressamente também nos artigos 170 (A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:); 226, § 7° (A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.); 227 (É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.) e 230 (A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.). Conferir, nesse sentido, as ponderações de Nelson Rosenvald: ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. Ob. cit., pp. 34-42. 86 Para maiores detalhes sobre o tema, conferir: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 292-321. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. MOREIRA, Vital. Constituição da República 200 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Portuguesa Anotada. Ob. cit., pp. 149-150. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Dogmática de Direitos Fundamentais e Direito Privado. In: Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 2004, pp. 201-214. 87 Conferir: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 330-336. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 464. NOVAIS, Jorge Reis. Renúncia a direitos fundamentais. In: Perspectivas Constitucionais nos 20 anos da Constituição de 1976. V. 1. Organizador: MIRANDA, Jorge. Coimbra: Coimbra, 1996. 88 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 450-451, 1276-1278. 89 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 321. 90 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1270. No mesmo sentido, conferir: LOUREIRO, João Carlos Simões Gonçalves. MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. URBANO, Maria Benedita Malaquias Pires. Direito Constitucional: casos práticos resolvidos. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 110. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 77-78. 91 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1270. 92 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional de Conflitos e Protecção de Direitos Fundamentais. In: Revista de Legislação e de Jurisprudência. Ano 1992-1993, n° 3814-3825. Coimbra: Coimbra, 1993, p. 293. 93 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1162. 94 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1160. 95 Assim que o Professor Gomes Canotilho define princípios como “normas que exigem a realização de algo, da melhor forma possível, de acordo com as possibilidades fácticas e jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em termos de <<tudo ou nada>>; impõem a optimização de um direito ou de um bem jurídico, tendo em conta a <<reserva do possível>>, fáctica ou jurídica”. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1255. Conferir também, em consonância com os ensinamentos expressos por Alexy: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 277-281. GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, pp. 180-183. 96 Nas palavras de Alexy “El hecho de que un principio se refiera a este tipo de bienes colectivos significa que ordena la creación o mantenimiento de situaciones que satisfacen, en una medida lo más alta posible, de acuerdo con las posibilidades jurídicas y fácticas, critérios que van más allá de la validez o satisfación de derechos individuales” (grifos nossos). ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., p. 110. Este também é o posicionamento de Canotilho, conferir: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1161. 97 Vejamos, assim, os traços distintivos entre princípios e regras, apontados por Alexy: “El punto decisivo para la distinción entre reglas y princípios es que los princípios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los princípios son mandatos de optimización, que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades reales sino también de las jurídicas. El ámbito de las posibilidades jurídicas es determinado por los principios y reglas opuestos. En cambio, las reglas son normas que sólo pueden ser cumplidas o no. Si una regla es válida, entonces de hacerse exactamente lo que ella exige, ni más ni menos. Por lo tanto, las reglas contienen determinaciones en el ámbito de lo fáctica y jurídicamente posible. Esto significa que la diferencia entre reglas y princípios es cualitativa y no de grado. Toda norma es o bien una regla o un principio.” ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 86-87. No mesmo sentido conferir: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a interpretação/ aplicação do direito. Ob. cit., p. 183. 98 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1161. 99 Isto significa que o fato da dignidade da pessoa humana figurar como princípio não exclui a possibilidade de que se reflita em regras jurídicas. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., p. 129-135. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1162-1164. 100 Assim afirma Alexy: “La diferencia entre princípios y valores se reduce así a un punto. Lo que en el modelo de los valores es prima facie lo mejor es, en el modelo de los princípios, prima facie debido; y lo que en el modelo de los valores es definitivamente lo mejor es, en el modelo de los princípios, definitivamente debido. Así pues, los princípios y los valores se diferencian sólo en virtud de su carácter deontológico y axiológico respectivamente” ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., p. 147. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 201 101 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 138-139. É assim que ao analisar a consagração da dignidade da pessoa humana como princípio da ordem jurídico constitucional brasileira, afirma Ingo Wofgang Sarlet: “o reconhecimento da condição normativa da dignidade, assumindo feição de princípio (e até mesmo como regra) constitucional fundamental, não afasta o seu papel como valor fundamental geral para toda a ordem jurídica (e não apenas para esta), mas pelo contrário, outorga a este valor uma maior pretensão de eficácia e efetividade”. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., p. 71. 103 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 97. 104 De acordo com Ingo Wolfgang Sarlet, ao dispor sobre a ordem constitucional brasileira, “a qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a certeza de que o artigo 1°, inciso III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas (embora também e acima de tudo) uma declaração de conteúdo ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status constitucional formal e material e, como tal, inequivocamente carregado de eficácia, alcançando, portanto – tal como sinalou Benda – condição de valor jurídico fundamental da comunidade. Importa considerar, neste contexto, que, na sua qualidade de princípio e valor fundamental, a dignidade da pessoa humana constitui – de acordo com a preciosa lição de Judith Martins-Costa, autêntico “valor fonte que anima e justifica a própria existência de um ordenamento jurídico”, razão pela qual, para muito, se justifica plenamente sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa.” SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., p. 70. 105 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 180-181. 106 Neste sentido afirma Segado: “es del todo oportuno afirmar que el derecho fundamental para el hombre, base y condición de todos los demás, es el derecho a ser reconocido siempre como persona humana” SEGADO, Francisco Fernández. La dignidad de la persona como valor supremo del ordenamiento juridico. Ob. cit., pp. 104-105. 107 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 102-103. 108 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 86-87. Ver no mesmo sentido: GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. Ob. cit., pp. 180183. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade de leis restritivas de direitos fundamentais. Brasília: Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1996, p. 155. SHÄFER, Jairo Gilberto. Direitos Fundamentais: proteção e restrições. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 78. 109 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional de Conflitos e Protecção de Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 38. 110 Estes são os termos dos ensinamentos de Alexy, vejamos: “Si se constata la aplicabilidad de dos reglas con consecuencias recíprocamente contradictorias en el caso concreto y esta contradicción no puede ser eliminada mediante la introducción de uma cláusula de excepción, hay entonces que declarar inválida, por lo menos, a una de las reglas”. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., 1997, p. 88. 111 Vejam-se, neste arcabouço, os ensinamentos do Professor Gomes Canotilho: “em caso de conflito entre princípios, estes podem ser objecto de ponderação e harmonização, pois eles contêm apenas <<exigências>> ou <<standards>> que, em <<primeira linha>> (prima facie), devem ser realizados; as regras contêm <<fixações normativas>> definitivas, sendo insustentável a validade simultânea de regras contraditórias. Realça-se também que os princípios suscitam problemas de validade e peso (importância, ponderação, valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas não são correctas dever ser alteradas)” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1161-1162. 112 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 89-90. 113 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 135-138. Nas palavras do Professor Gomes Canotilho “os princípios têm uma função nomogenética e uma função sistémica: são o fundamento de regras jurídicas e têm uma idoneidade irradiante que lhes permite <<ligar>> ou cimentar objectivamente todo o sistema constitucional” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1162-1164. Em contraponto a esta teoria anotamos a posição do Professor Vieira de Andrade, o qual entende que a teoria principialista dos direitos fundamentais acarreta uma abertura demasiado larga ao método da ponderação e da harmonização, tendendo a englobar nos casos de conflitos também os de limites imanentes e de restrições legislativas, assim que afirma: “há boas razões para proceder a uma delimitação substancial do âmbito normativo dos direitos ao nível constitucional, por interpretação; é obrigatória a distinção entre as situações de restrição legislativa e as de solução abstracta ou concreta, de colisões ou conflitos que envolvam direitos fundamentais, tal como se justifica a distinção categorial das leis conformadoras” ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 287. 102 202 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 114 Os princípios tidos como prima facie são aqueles que “exigem que algo seja realizado ou cumprido tão optimamente quanto possível, tendo em conta as possibilidades fácticas ou jurídicas”. Por outro lado estão os direitos definitivos, os quais possuem exigências, determinações imperativas. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional de Conflitos e Protecção de Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 38. 115 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1254. Em consonância com tal definição também se encontram as lições de García de Enterría: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Sobre los derechos públicos subjetivos. In: Revista Española de Derecho Administrativo. Número 6, 1975, p. 428. Ver, sobre a perspectiva subjetiva dos direitos fundamentais: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., p. 173 e ss. 116 Conferir, sobre o tema, as ponderações de SARMENTO, Daniel. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais: fragmentos de uma teoria. In: Jurisdição constitucional e Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, pp. 251-309. 117 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1257. 118 Em defesa da teoria da subjetividade aponta Gomes Canotilho: “ao exigir que os direitos fundamentais sejam, prima facie, garantidos como direitos subjectivos, tem a vantagem de apontar para o dever objectivo de o Estado conformar a organização, procedimento e processo de efectivação dos direitos fundamentais, de modo a que o indivíduo possa exigir algo de outrem e este tenha o dever jurídico de satisfazer esse algo.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1257. 119 Veja-se, neste sentido, paradigmática decisão do Supremo Tribunal Federal Brasileiro no Habeas Corpus 82424/RS, julgado pelo Tribunal Pleno em 17 de setembro de 2003 e publicado no Diário de Justiça de 19 de março de 2004. Fonte: www.stf.gov.br. 120 Tal segmentação também é adotada pela doutrina brasileira. Conferir, nesse sentido: MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 342-343. 121 Vejamos, assim, interessante colocação do Superior Tribunal de Justiça do Brasil em recente decisão: “A responsabilidade civil decorrente de abusos perpetrados por meio da imprensa abrange a colisão de dois direitos fundamentais: a liberdade de informação e a tutela dos direitos da personalidade (honra, imagem e vida privada). A atividade jornalística deve ser livre para informar a sociedade acerca de fatos cotidianos de interesse público, em observância ao princípio constitucional do Estado Democrático de Direito; contudo, o direito de informação não é absoluto, vedando-se a divulgação de notícias falaciosas, que exponham indevidamente a intimidade ou acarretem danos à honra e à imagem dos indivíduos, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. No que pertine à honra, a responsabilidade pelo dano cometido através da imprensa tem lugar tão-somente ante a ocorrência deliberada de injúria, difamação e calúnia, perfazendo-se imperioso demonstrar que o ofensor agiu com o intuito específico de agredir moralmente a vítima. Se a matéria jornalística se ateve a tecer críticas prudentes (animus criticandi) ou a narrar fatos de interesse coletivo (animus narrandi), está sob o pálio das “excludentes de ilicitude” (art. 27 da Lei nº 5.250/67), não se falando em responsabilização civil por ofensa à honra, mas em exercício regular do direito de informação.” Recurso Especial n° 719592 / AL, julgado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2005 e publicado no Diário de Justiça de 01 de fevereiro de 2006. No mesmo sentido conferir também o Recurso Especial n° 818764/ES, julgado pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 15 de fevereiro de 2007 e publicado no Diário de Justiça de 12 de março de 2007. Fonte: www.stj.gov.br. 122 Assim, apontam precisamente Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gonet Branco: “Assim, é comum a colisão entre o direito de propriedade e interesses coletivos associados, v. g., à utilização da água ou à defesa de um meio ambiente equilibrado. Da mesma forma, não raro surgem conflitos entre as liberdades individuais e a segurança interna como valor constitucional.” MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 343. Para maior aprofundamento sobre os conflitos entre direitos fundamentais e bens comunitários, conferir: NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições de direito não expressamente autorizadas pela Constituição. Coimbra: Coimbra, 2003. Ver também: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional de Conflitos e Protecção de Direitos Fundamentais. Ob. cit., pp. 294-295. 123 Apesar deste não ser espaço adequado para a discussão aprofundada acerca do tema, fica aqui registrado que de acordo com Gomes Canotilho há uma evidente necessidade de que os bens jurídicos da comunidade aludidos acima sejam expressos como tais no texto constitucional. Entretanto, ressalva-se a doutrina de Jorge Reis Novais, a qual, em sentido contrário ao defendido por Gomes Canotilho, aponta que o fator determinante para a detecção dos bens da comunidade é o seu conteúdo material e não sua inscrição formal no texto constitucional. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1272. NOVAIS, Jorge Reis. As Restrições de direito não expressamente autorizadas pela Constituição. Ob. cit., pp. 607-620. 124 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1223-1224. Em relação à unidade de sentido dos direitos fundamentais, a qual lhe confere status de sistema, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 203 alude Vieira de Andrade “podemos dizer que a ordem dos direitos fundamentais é pluralista e aberta. A unidade é conseguida e construída dialecticamente, em referência ao princípio da dignidade da pessoa humana, que aqui actua como <<princípio regulativo>> e não como princípio unicitário de uma ordem hierárquica e fechada”: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 108. 125 FILHO, Sérgio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 129. 126 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1225. 127 Vejamos in verbis as explicações do Professor Vieira de Andrade acerca do assunto “Esta pluralidade de valores reclama uma harmonização que não se consegue através da mera aplicação de uma escala de prioridades. (...) A harmonização entre os valores não é, portanto, alcançável em abstrato, <<a priori>>, é um problema que tem de ser resolvido em concreto e de modo a respeitar, no máximo possível, todos os valores em jogo” ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 108. 128 Quanto à adequação da Constituição ao seu tempo, conferir: HESSE, Konrad. La fuerza normativa de la constitución. In: Escritos de Derecho Constitucional. 2ª ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1992, p. 71. No que tange à consideração da Constituição como ordem pluralista, aberta e, portanto, não hierárquica, ver: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 106-108. 129 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 105-106. 130 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1183. Ver também: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional de Conflitos e Protecção de Direitos Fundamentais. Ob. cit., p. 294. 131 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1184. 132 Assim expressam as palavras do Professor Vieira de Andrade: “a ordem dos valores constitucionais não é hierárquica e não permite, por isso, soluções abstractas conforme as eventuais patentes a que se promovam os diversos direitos fundamentais” ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 324. Ver também, na doutrina brasileira, as colocações de Luis Roberto Barroso: BARROSO, Luís Roberto. Conflitos entre direitos fundamentais. In: Lições de Direito Constitucional em Homenagem ao Jurista Celso Bastos. Coordenadores: MARTINS, Ives Gandra da Silva, MENDES, Gilmar Ferreira e TAVARES, André Ramos. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 329-333. 133 As “limitações voluntárias” de determinados direitos fundamentais, de acordo com as lições de Gomes Canotilho, são aceitáveis apenas sob certas condições, conferir neste sentido: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 464. 134 Conferir, quanto à proteção da dignidade da pessoa humana, na qualidade de limite à imposição de restrições aos direitos fundamentais: SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 1988. Ob. cit., pp. 110-141. 135 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 323-327. 136 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1239. 137 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1241. 138 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 91-92. 139 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1241. 140 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 326. 141 Conferir sobre a utilização do princípio da proporcionalidade na análise dos conflitos: ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 111-115. ALEXY, Robert. Colisão de direitos fundamentais e realização de direito fundamentais no estado democrático de direito. In: Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: vol. 217, junho/julho de 1999, pp. 77-78. BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade de leis restritivas de direitos fundamentais. Ob. cit., p. 155. CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. A hierarquia das normas constitucionais e a sua função na protecção dos direitos fundamentais. Ob. cit., p. 17-18. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1258. MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 285-286 e 346. SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 96. ROSENVALD, Nelson. Dignidade humana e boa-fé no código civil. Ob. cit., pp. 52-54. 142 Trecho de voto vista do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, proferido no julgamento do HC 82424-2/RS pelo Supremo Tribunal Federal. Relator originário: Min. Moreira Alves. Relator do acórdão: Min. Maurício Corrêa. Fonte: www.stf.gov.br. 204 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 143 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 285-286. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1240. 145 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1237. 146 Observe-se, neste aspecto, as lapidadas palavras de Wilson Antônio Steinmetz: “Abstratamente, esses direitos mantêm entre si e com outros bens constitucionalmente protegidos uma relação de harmonia. Porque são atribuídos por normas constitucionais, não há entre eles ordenação hierárquica e nem exclusão a priori. Contudo, na vida social, seja nas relações individuais, seja nas relações entre indivíduo e poderes públicos da comunidade, nem sempre se verifica a realização plena, harmônica e simultânea dos direitos fundamentais de diferentes titulares”. STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de Direitos Fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p.20. 147 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 285. 148 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 345-346. 149 Neste sentido alude o Professor Vieira de Andrade: “Ora, a realização óptima das prescrições constitucionais depende da intensidade ou modo como os direitos são afectados no caso concreto, atentos o seu conteúdo e a sua função específica. Isto é, a medida em que se vai comprimir cada um dos direitos (ou valores) é diferente, consoante o modo como se apresentam e as alternativas possíveis de solução do conflito” ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 324 e 322-323. 150 Vejamos, desta feita, as pontuações específicas quanto à hipótese de Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gonet Branco: “Uma matéria jornalística, por exemplo, sobre a vida de alguém pode pôr em linha de atrito o direito de liberdade de expressão e a pretensão à privacidade do retratado. Considerados em abstrato, ambos os direitos são acolhidos pelo constituinte como direitos fundamentais. A incidência de ambos no caso cogitado, porém, leva a conclusões contraditórias entre si. Para solucionar o conflito, hão de se considerar as circunstâncias do caso concreto, pesando-se os interesses em conflito, no intuito de estabelecer que princípio há de prevalecer, naquelas condições específicas, segundo um critério de justiça prática. Assim, se um indivíduo tem uma vida pública ativa, será mais provável que uma reportagem envolvendo aspectos da sua vida particular venha a ser prestigiada, conferindo preponderância à liberdade de imprensa sobre o direito à privacidade. Isso não se deverá a uma recusa do direito à privacidade à personalidade pública, mas atenderá à ponderação de que, se o retratado vive do crédito público, da imagem que ostenta, a sociedade tem o direito de saber se a sua vida pessoal corresponde ao que pretende fazer crer. Já a revelação de dados íntimos de pessoa que não depende profissionalmente da imagem pública e que não está no centro de um acontecimento socialmente relevante, tende a não justificar a interferência da imprensa sobre a sua privacidade.” MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., pp. 284-285. 151 Observe-se, assim, o que expressam as lições de Gomes Canotilho ao analisar os conflitos entre princípios: “Considerar a constituição como uma ordem ou sistema de ordenação totalmente fechado e harmonizante significa esquecer, desde logo, que ela é, muitas vezes, o resultado de um compromisso entre vários actores sociais, transportadores de ideias, aspirações e interesses substancialmente diferenciados e até antagónicos ou contraditórios” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1282. 152 Anotamos, nestes termos, as observações do Professor Vieira de Andrade em relação à necessidade da adoção do critério de ponderação para a resolução dos conflitos entre direitos fundamentais: “Uma das limitações substanciais à protecção estadual de direitos fundamentais é justamente imposta pelos direitos dos outros, em particular pelos seus direitos e liberdade fundamentais: assim, quando a protecção dos direitos de uma pessoa possa pôr em causa a esfera jurídica de terceiros, exige-se que essa protecção seja medida por uma ponderação dos bens ou valores em presença e que respeite o princípio da proporcionalidade, nos termos gerais válidos para as situações de colisão ou de conflito. E limitações e imposições semelhantes hão-de valer quando estejam em causa valores comunitários relevantes (incluindo também a liberdade geral) que ao Estado cumpre assegurar” (grifos nossos) ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 149. 153 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1241. 154 Quanto a este aspecto, vejamos interessante ponderação de José Joaquim Gomes Canotilho, na análise de um caso concreto alemão de conflito de direitos fundamentais: “Não é possível metodologicamente estabelecer, de forma abstracta, esquemas de supra/infra-ordenação entre os direitos conflitantes dizendo que o direito à informação ‘pesa’ mais de que o direito à ressocialização, ou, vice-versa, afirmar que este último se sobrepõe ao primeiro. É necessário um esquema de prevalência parcial estabelecido segundo a ponderação dos bens em conflito e tendo em conta as circunstâncias do caso.”. Mais adiante continua o autor: “Excluem-se, por conseguinte, relações de preferências prima facie, pois nenhum bem é, prima facie, quer excluído porque se afigura excessivamente 144 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 205 débil, quer privilegiado porque, prima facie, se afigura com valor ‘reforçado’ ou até absoluto.” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1238 e 1240. Este também parece ser o entendimento do Professor Gomes Canotilho, o qual demonstra-se no seguinte excerto: “Os exemplos anteriores apontam para a necessidade de as regras do direito constitucional de conflitos deverem construir-se com base na harmonização de direitos, e, no caso de isso ser necessário, na prevalência (ou relação de prevalência) de um direito ou bem em relação a outro” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1274. 156 Veja-se como exemplo o caso citado pelo Professor Gomes Canotilho em que em se vislumbrou a afronta do direito/dever do Estado de prossecução da ação penal, com o respectivo julgamento em audiência pública de um indivíduo, e o direito à vida deste último. Neste caso específico ficou comprovado por relatórios médicos que o problema cardíaco do acusado poderia levá-lo à morte caso fosse submetido à sessão de julgamento público o que impulsionou o adiamento da mesma. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., p. 1238. O referido caso também é mencionado por Robert Alexy (BVerGE 51, 324): ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Ob. cit., pp. 90-95. 157 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Ob. cit., pp. 1274-1275. 158 Conferir: ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 329-330. MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. Ob. cit., p. 346. 159 Sobre o controle judicial das leis que solucionam conflitos, conferir: CARDOSO DA COSTA, José Manuel M. A hierarquia das normas constitucionais e a sua função na protecção dos direitos fundamentais. Ob. cit., p. 16-18. 160 Wilson Antônio Steinmetz, pautado na doutrina espanhola, argumenta que não se encontra dentro das competências do Poder Executivo estabelecer, através de seus atos normativos, regras de resolução de conflitos de direitos fundamentais. STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de Direitos Fundamentais e princípio da proporcionalidade. Ob. cit., pp. 71-74. 161 O Professor Vieira de Andrade denomina as referidas leis como “leis harmonizadoras”, apontando que as mesmas não se confundem com as leis restritivas, pois enquanto às primeiras cabe o papel de conferir abstrata e genericamente respostas a conflitos de direitos fundamentais, as segundas têm o fito específico de, através de autorização expressa concedida pela Lei Maior, estabelecer restrições aos direitos fundamentais. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., pp. 231-232 e 321. 162 ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976. Ob. cit., p. 329. 155 —— • —— 206 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 O Contrato e o Tempo: um Suposto Embate Principiológico Rui Eduardo Silva de Oliveira Pamplona Advogado e ex-aluno da ESMA-DF RESUMO O presente artigo busca apontar que a composição principiológica da relação contratual privada contemporânea se dá fundada em um bloco único de princípios, a retratar uma integração entre os postulados decorrentes do paradigma da liberdade privada de contratar – os denominados princípios contratuais liberais clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da relatividade dos seus efeitos – e os princípios estruturantes da justiça contratual material – os postulados da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico. Pretende-se, assim, demonstrar que se há um conflito de princípios este é apenas aparente, cujo melhor desate deve refletir a tese difundida por Ronald Dworkin da integridade do sistema do Direito, segundo a qual a solução do caso concreto dar-se-á no plano de eficácia das normas, mediante a aplicação do princípio jurídico adequado às peculiaridades do caso, sem que os demais percam validade. 1. INTRODUÇÃO Em vista das suas categorias abstratas, generalizantes e dogmáticas, muitas vezes somos levados a crer, equivocadamente, numa suposta neutralidade do Direito diante das conjunturas históricas, fazendo-nos desprezar as consequências naturais da passagem do tempo. Ora, como diria Orlando Carvalho: “‘Mudam-se os tempos, mudam-se as 1 vontades’ como supor que também o Direito não mudasse?” . Trazendo tal constatação para o direito civil, especificamente para o instituto do Contrato, observa-se que as relações contratuais privadas assumiram fundamentos Revista da Escola da Magistratura - nº 13 207 2 diversos daqueles que se conciliavam com as perspectivas iluministas do século XVIII, em relação às quais o direito civil teria como escopo a disciplina do indivíduo como ser abstrato, participante de relações jurídicas fundadas em uma igualdade puramente formal. Com o passar do tempo, aquela lógica liberal individualista forjada na liberdade privada de contratar (primazia da vontade) teve que se defrontar com uma nova realidade social, cuja complexidade, assomada às profundas desigualdades sociais verificadas em seu bojo, trouxe ao conteúdo das relações contratuais uma nova perspectiva: a noção de justiça contratual material (primazia da justiça social). Movido pelo propósito de se imiscuir no debate que tal constatação provoca, especialmente quanto à principiologia que norteia essas duas perspectivas, o presente escrito propõe abordar o contrato privado delimitando sua análise ao delicado problema da coexistência ou não dos princípios embasadores da relação contratual decorrente do paradigma da liberdade privada de contratar, os denominados postulados contratuais clássicos – da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e da relatividade dos seus efeitos (efeitos interpartes) – com os princípios contemporâneos, nominados de novos princípios ou princípios de vanguarda, estru3 turantes da justiça contratual material – da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social do contrato. Aqueles, pilares da tutela patrimonial e voluntarista das relações negociais, originários do Estado liberal; estes, vocacionados à tutela privilegiada da pessoa humana, traço do Estado Democrático de Direito. Nesta linha, conduziremos esta reflexão a partir da seguinte problemática: considerando um hipotético antagonismo de princípios, poderíamos, então, afirmar que os princípios contemporâneos jogaram por terra aqueles postulados clássicos, fazendo-os desaparecer? Ou ainda, que tais princípios coexistem, ora indicando o reinado da 4 autonomia da vontade, ora sinalizando para a prevalência da liberdade situada , numa operação regulada pela complementaridade, quando não houvesse conflito entre eles, 5 ou pelo mecanismo da ponderação de valores , no caso de choque? Ao invés de tomarmos partido por uma ou outra concepção, acolhendo as reflexões filosóficas de Ronald Dworkin, optamos por considerar que os princípios clássicos da autonomia da vontade, da relatividade dos efeitos e da obrigatoriedade dos pactos, não só coexistem, mas, principalmente, devem interagir com os novos postulados da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico, formando um só grupo de princípios, a denotar a integridade do sistema do Direito, do qual será extraído um único e adequado postulado para o desfecho e solução do caso concreto. Decorre daí que a solução deste suposto embate se dá por meio da técnica do princípio adequado e não pelo mecanismo da ponderação de valores, o que habilita a sociedade a compreender e aplicar o direito em conformidade com os conflitos e desafios vivenciados na experiência concreta dos seus sujeitos. Com tal escolha, partimos da premissa de que há nesta questão a ocorrência de um processo dialético de superação, e não anulação, daquele bloco de princípios tradicionais pelo o de vanguarda, se assim podemos dizer, sugerindo que as relações contratuais de agora sejam fundamentadas por um bloco único de princípios, a se constituir em uma 208 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 solução que agasalha todos aqueles paradigmas anteriores, reconhecendo seus valores, preservando seus méritos e evitando suas limitações. Nada obstante isso, ainda que falemos em tal coexistência, esta não preserva incólume o bloco dos princípios tradicionais, especialmente o dogma da autonomia da vontade como um princípio absoluto, causando-lhe importantes fissuras, fruto de um processo hermenêutico empírico-dialético, cujo “[...] andar para adiante traz consigo compreensões preservadas, que transformadas, foram por isso mesmo superadas, posto 6 que enriquecidas” . Defendemos, portanto, que a autonomia da vontade, bem assim os dogmas clássicos dos efeitos interpartes e da força obrigatória dos contratos, doravante, devem ser integrados por valores, por princípios constitucionais, à luz do caso concreto, a evidenciar que as relações privadas também estão submetidas ao influxo da Constituição. É 7 o que se denominou de processo de constitucionalização do direito infraconstitucional . Em síntese: buscaremos demonstrar ao longo deste artigo que as relações contratuais hodiernas devem observar concomitantemente, e sempre, a vontade das partes livre de vícios e defeitos, a boa-fé objetiva, a sua função social atrelada aos valores existenciais dos sujeitos da relação contratual e a solidariedade social, não prejudicando terceiros. O contrato firmado nestes termos e conduzido até o seu final a observar o equilíbrio econômico é contrato coadunado com os valores constitucionais democráticos e de direito do nosso tempo e sociedade, instrumento hábil a concretizar os interesses legítimos pactuados pelos contraentes. 2. O CONTRATO E O TEMPO 2.1. Relação contratual privada no liberalismo clássico Apesar de não fazer parte da delimitação traçada no subtítulo dessa seção, dada a importância de contextualizar historicamente a relação jurídica sobre a qual se pretende refletir, expomos preambularmente algumas considerações sobre a origem remota do contrato. No Direito Romano os contratos tinham caráter rigoroso e sacramental. As formas deveriam ser obedecidas, independentemente da vontade das partes. O simples acordo não bastava para criar uma obrigação juridicamente exigível. Necessário, pois, uma solenidade formal para se dar vida aos contratos. Para cada contrato em particular uma fórmula diferente. Assim, não se conhecia no Direito Romano a categoria geral do contrato. O elemento subjetivo da vontade só vai conseguir sobrepujar o formalismo na época de Justiniano com a stipulatio, mas, ainda assim, à parte prejudicada não bastava provar a existência do contrato, devia provar que cumprira uma prestação, assim a vontade era colocada em segundo plano, a proteção dependia mais do interesse do que da vontade. Com a queda do Império Romano, o Direito Germânico retorna o contrato à concepção de rito, um comportamento simbólico. Já na prática medieval há uma retomada da stipulatio romana, em face da influência da Igreja e do renascimento dos Revista da Escola da Magistratura - nº 13 209 estudos romanistas, enfatizando o sentido obrigatório do contrato e evoluindo para a forma escrita (traditio cartae). Com o direito canônico surge a ideia do juramento do cumprimento do contrato, nascendo aí os contratos consensuais. No entanto, a preponderância da vontade no negócio jurídico só veio a se concretizar com a Revolução Francesa de 1789, com suas conquistas políticas, ideológicas e econômicas, marco do liberalismo clássico. Com o Código Napoleônico de 1804 o contrato é colocado em sua roupagem moderna como meio de circulação de riquezas mediante acordo de vontades. Dito isto, voltando ao objetivo deste capítulo, é de se ressaltar, de acordo Luiz Edson Fachin, que “o sistema de direito civil quando se ergue o faz criando categorias jurídicas coerentes com o respectivo momento histórico, embora com o intento de 8 se colocar ad eterno” . Com esse breve introito passemos a discorrer sobre a relação contratual privada dos primórdios do liberalismo clássico e seus postulados; para, na seção seguinte, visualizarmos tal vínculo sob a ótica da contemporaneidade e seus princípios correlatos. O contrato que neste tópico nos referimos é aquele formulado com base no individualismo filosófico e no liberalismo econômico do século XVIII, que se positivam 9 na codificação francesa napoleônica e se espalha pelo ocidente , inspirando o nosso Código Civil de 1916. Neste modelo liberal, o formalismo advindo do direito romano cede lugar ao 10 consensualismo , e a força obrigatória dos contratos passa a ser justificada pela ideia 11 do respeito à palavra dada , desde que voluntariamente e desprovida de qualquer vício de vontade. Assim, o contrato passou a pressupor apenas o consentimento mútuo, sem que uma forma específica fosse, a princípio, essencial à sua validade. No dizer de Teresa Negreiros: “A vontade passa a ser o cerne do contrato, e este, o cerne do direito objetivo 12 como um todo e do próprio Estado” . O contrato do paradigma liberal pós-revolução francesa, portanto, fundamenta-se na vontade soberana do indivíduo – contrato é um acordo de vontade, um consenso, duas declarações convergentes de vontade a respeito de um ponto em comum, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos. A vontade prevalece nas relações privadas. É a 13 primazia da autonomia da vontade segundo regras jurídicas. Aliás, a autonomia da vontade dos particulares, no Estado liberal, de acordo Clóvis de Couto e Silva, assume um extraordinário relevo, “sendo-lhes deferida quase 14 totalmente a formação da ordem privada” . A partir do consentimento cada um dos contratantes se dispõe a ceder parte de sua posição de interesse para o outro, na busca da satisfação dos interesses respectivos legitimamente antagônicos. O consensualismo, pois, pressupõe paridade de força entre os contratantes. O contrato, ao mesmo tempo em que é fundamento da vida em sociedade é limite de controle pelo Estado, no sentido de que a convenção, enquanto delineada pelo direito objetivo, constitui um instrumento de autolimitação da liberdade individual. Como aversão aos privilégios da classe dominante no antigo regime, no pós-absolutismo, o indivíduo podia ter plena autonomia para contratar e plena possibilidade 210 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 de ser proprietário. Desse modo, o contrato é colocado como meio principal de circulação de riquezas – o que antes se concentrava na mão de uma classe privilegiada, agora (no século XVIII), pelo menos em tese, está ao alcance de todo indivíduo, conforme garante a “Lei Maior das relações privadas”, como era considerado o Código Civil. Aponta-nos Caio Mário da Silva Pereira que sempre houve uma relação de proximidade entre a autonomia da vontade e as noções de sujeito de direito (indivíduo) e propriedade (patrimônio), o que permitiu a passagem do regime feudal e mercantilista 15 para o capitalismo. No tocante à relação entre a autonomia da vontade (liberdade) e a propriedade, pode-se dizer, repetindo Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, que, por conta dela, “concede-se ao sujeito de direito a possibilidade de manifestar livremente sua vontade, em um contexto econômico propício à circulação do capital. Nesta vertente, o contrato e a propriedade triunfam como os dois grandes pilares 16 do direito privado” . É o que podemos denominar de “reinado” do voluntarismo e do patrimonialismo. Em sendo assim, dissemina-se a ideia da existência de direitos inatos ao homem, os quais devem ser garantidos pelo Estado. Dentre estes direitos, como o mais significativo, tem-se o direito à propriedade. Ainda no dizer de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, “no modelo econômico liberal do laissez faire, a função estatal primordial era a de defender a segurança do cidadão e da sua propriedade. Os demais problemas sociais seriam solucionados 17 pela mão invisível do mercado” . 18 Essa nova ordem liberal tem na liberdade de contratar , portanto, tanto o meio para alcançar a justiça como a igualdade econômica, mediante o acesso de todos à propriedade, anteriormente concentrada nas mãos da nobreza. Assim, o bem comum 19 seria alcançado pela satisfação dos interesses individuais. No Brasil, como reflexo das experiências liberais do Código Francês de 1804, o Código Civil de 1916 voltou-se também para a tutela patrimonial, tendo como protagonistas o proprietário, o contratante e o marido. Ou seja, com a adoção do absolutismo 20 da propriedade e da liberdade de contratar, permite, o Código de 1916 , o acúmulo de riquezas e a estabilidade econômica, no contexto de uma família essencialmente 21 patrimonializada. Conforme aduzem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, na mesma trilha do Codex anterior, o nosso atual Código Civil, em seu artigo 1.228, reproduz a mesma ideia de propriedade, sem, contudo, conceituá-la, se limitando a descrever os 22 seus poderes – poder de uso, fruição e gozo. A par dessa concepção clássica do contrato, o princípio da autonomia da vontade conseguia explicar a amplitude da liberdade contratual (as partes podiam contratar o que quisessem e como quisessem, dentro dos limites da lei), a obrigatoriedade dos efeitos do contrato (o pacta sunt servanda) e o fato de que o pacto somente vincula as partes, 23 não beneficiando nem prejudicando terceiros. Isto posto, o instituto do contrato na sua definição estrita, inspirada nos fundamentos clássicos, de acordo Caio Mário da Silva Pereira, “é um negócio jurídico bilateral, e de conseguinte exige o consentimento; pressupõe de outro lado, a conformidade com Revista da Escola da Magistratura - nº 13 211 a ordem legal sem o que não teria o condão de criar direitos para o agente; e, sendo ato 24 negocial, tem por escopo aqueles objetivos específicos” . Em outros termos, numa conceituação mais ampla, ainda com Caio Mário: 25 “contrato é acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos jurídicos” – efeitos estes de adquirir, resguardar, transferir, conservar, modificar ou extinguir direitos –, bem assim qualquer outra espécie de ato jurídico em que ocorrer a participação de vontade das partes, na conformidade da lei. Desse acordo de vontades nasce a relação contratual, a qual, se inicialmente (no Direito Romano), possuía natureza personalíssima, cujo vínculo se estabelecia entre as próprias pessoas (corpos) dos contratantes, posteriormente, ainda que permanecesse com seu caráter personalista, sua execução passou a se dar sobre os bens do devedor 26 contraente , evoluindo e se adequando às vicissitudes de cada época, até achegar-se aos tempos de hoje. Nesse diapasão, como mencionamos na Introdução, as relações contratuais privadas forjadas sob a perspectiva iluminista do século XVIII se conciliavam com a disciplina do indivíduo como ser abstrato, participante de relações jurídicas fundadas em uma igualdade puramente formal. Sob este prisma, o direito civil liberal clássico, sobretudo o direito do contrato, caracteriza-se pela absolutização do indivíduo. Uma superação do antigo regime do Estado absoluto pela libertação do homem. Na perspectiva do liberalismo clássico, segundo Teresa Negreiros:“o indivíduo – em oposição ao trabalhador, ao comerciante, ao criminoso, ao contribuinte, ao administrado, ao consumidor – define-se por sua irredutibilidade essencial. O ‘ser’ é a 27 única e suficiente qualidade” . No contexto clássico do direito civil, o indivíduo é tratado como sujeito de direito in abstrato. O sujeito concreto – o homem comum do dia a dia – o qual a doutrina 28 civil-constitucional denomina de pessoa, não integra aquela concepção. Em sendo assim, podemos finalizar este comento dizendo que a relação contratual privada forjada do individualismo filosófico e do liberalismo econômico dos séculos XVIII/XIX tinha como fundamento as ideias do voluntarismo e patrimonialismo, refletidas nos denominados princípios clássicos do contrato – a autonomia da vontade, a força obrigatória dos contratos e a relatividade dos seus efeitos, cujas bases ainda permeiam aqui e ali as relações contratuais de agora, mesmo que sob uma nova perspectiva. Esmiuçamos a seguir, ainda que brevemente, cada um desses princípios. 2.1.1 A autonomia da vontade No ponto de vista jurídico, o Direito concede aos indivíduos a faculdade de criar e estabelecer vínculos negociais efetivos garantindo-lhes a liberdade de contratar. Por sua vez, essa liberdade de contratar se concretiza de quatro maneiras, conforme 29 elenca Caio Mário da Silva Pereira : a) exercendo a faculdade de contatar ou não 30 contratar ; b) escolhendo a pessoa com quem quer pactuar e o tipo de negócio que 31 se quer concretizar ; c) estabelecendo o poder de fixação do conteúdo do contrato, 212 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 redigindo suas cláusulas “ao sabor do livre jogo das conveniências dos contratantes”; e, d) autorizando, uma vez concluído o contrato, que qualquer das partes mobilize o 32 Estado para fazer ser respeitado e executado o convencionado. Nada obstante estar aí consignado, em termos amplos, o princípio da autonomia da vontade, definimos para esta reflexão que o princípio da autonomia volitiva aqui exposto será retratado e realçado como a possibilidade de as partes disporem livremente 33 sobre o conteúdo do contrato . E é com este enfoque que analisaremos este postulado. Predomina o entendimento de que o princípio da autonomia da vontade, ou qualquer outro, não é um princípio absoluto. Aliás, ainda nos tempos idos do liberalismo clássico, quando teve seu mais amplo alcance, estava submetido aos ditames da lei (ordem pública) e aos bons costumes. Quando dentro desses dois campos se prescreve a cessação ou redução da liberdade de contratar, a inobservância desses preceitos alcança o ilícito e o ato negocial assim contratado é impregnado de ineficácia ou até mesmo declarado nulo de pleno direito ou anulável. A par disso, quer nos parecer que a distinção que se pode fazer da limitação da autonomia da vontade de antes e de agora reside, nos restringindo à esfera legislativa, ao que o legislador entende e considera como matérias e princípios de ordem pública. Estreita-se ou alarga-se o campo de abrangência desta ordem de acordo com o contexto histórico, político, cultural, social e econômico em que se encontra situado o legislador. No contexto do Estado minimalista do liberalismo clássico, em vista do reduzido papel estatal de interferência na vida privada, a magnitude dessa ordem pública extremamente diminuta fazia com que a autonomia da vontade fosse um dogma quase que absoluto. Ao ponto de se proclamar, na dicção de Caio Mário da Silva Pereira: [...] que cada um tem o direito de proceder livremente, contratando ou deixando de contratar; ajustando toda espécie de avenças; pactuando qualquer cláusula; e que o juiz não pode interferir, ainda quando do contrato resulte para uma das partes a ruína completa. O contrato, como expressão da liberdade individual, seria incompatível 34 com as restrições que se oponham a esta liberdade. Dentro desta filosofia, atos como os emanados pela Administração Pública, limitando a liberdade da outra parte de dar cláusulas aos negócios jurídicos ao fixar preços para certas utilidades, seriam completamente inadmissíveis, dada a separação 35 existente entre Estado e sociedade, entre o direito público e o privado. Já no que concerne ao Estado como hoje conhecemos, possuidor de funções de formador subsidiário do meio econômico e social, é normal vislumbramos atos praticados por ele incidentes direta ou indiretamente nos negócios privados em curso, ajustando-os ou até mesmo alterando-os. A partir desse novo paradigma de Estado, a autonomia da vontade se sujeita a um processo de mitigação bastante contundente. Além da atuação estatal direta sobre a liberdade de fixação do conteúdo dos contratos, é de se registrar, pela sua importância nas relações negociais de hoje, sobretudo nas de consumo, a restrição que Clóvis de 36 Couto e Silva denomina de “desnível de poder econômico” . Decorre desse desnivelaRevista da Escola da Magistratura - nº 13 213 mento econômico a fixação unilateral das regras gerais do contrato, como é o caso dos 37 contratos de adesão , pelos quais o particular se vê impossibilitado de acordar sobre o seu conteúdo, restando-lhe aderir ou não às condições “oferecidas”. Também nos apresenta Couto e Silva outra forma de negócio jurídico em que a vontade de pelo menos um dos agentes se vê mitigada: é o que ocorre nos contratos de massa, nos quais a oferta é dirigida aos integrantes de uma coletividade e não a pessoas determinadas; bem assim quando se trata de utilização de serviços que denomina de “existenciais ou de interesse geral”, em que, explicita, “a vontade não entra em maior 38 consideração, eis que o ato ou seus resultados são necessariamente desejados”. Ademais, ainda no que se refere a esta nova realidade econômica do século XX para cá, é de se registrar que o contrato contém muitas vezes uma desproporcionalidade de prestações ou de efeitos que fere a pretensa igualdade entre os contratantes em vista do desnivelamento econômico e social verificado, sem muita raridade, entre 39 as partes . Ocorre também que, por ocasião da execução do contrato, as condições pactuadas quando da sua celebração podem não mais se apresentarem, por conta de acontecimentos 40 estranhos à vontade das partes e totalmente imprevistos. Importante chamar atenção do leitor que já aqui, nestes dois últimos parágrafos, começamos a perceber a inserção, ou interação, ao lado do postulado da autonomia da vontade, de um dos princípios contemporâneos que abordaremos mais a frente – o equilíbrio econômico do contrato. Apesar dessas sérias mitigações sobre a autonomia da vontade, por certo que a vontade não restou desprezada ou colocada em um plano secundário. É de se considerar que ela continua ocupando lugar de destaque na ordem jurídica privada dos tempos de hoje, embora tenha que se compreender que ao seu lado encontra-se uma dogmática moderna que admite a “jurisdicização” de interesses tais, em cujo centro se manifesta uma vontade (pelo menos) mitigada por razões de interesse público ou 41 social. Estamos a falar aqui do fenômeno da “publicizaçao do contrato”, conforme 42 batizado por Josserand . Vale dizer: não se proíbe o direito de contratar e não se retira a liberdade do seu exercício. O que se tem é a proclamação de uma interpenetração dos interesses coletivos e privados, da ordem pública e da ordem particular, proporcionada pelo denominado processo de constitucionalização do direito civil, cuja acentuação de um ou de outro interesse ou de uma ou de outra ordem deverá ser auferida no exame do caso concreto. E tal efeito, embora não o nulifique, produz transformações interpretativas importantes no postulado da autonomia da vontade, e, por conseguinte, nos princípios dele decorrentes, haja vista o novo contexto político e social em que estão inseridos e os 43 parâmetros constitucionais a que estão submetidos, conforme sugere Teresa Negreiros , como veremos mais adiante. Aliás, a par disso, não há nenhum inconveniente em afirmar que hoje em dia, de acordo Judith Martins-Costa, a clássica concepção de autonomia da vontade traduzida na liberdade humana para criar vínculos jurídicos, ao se conectar com o reconhecimento da dignidade humana e com o livre desenvolvimento da personalidade, exercida 214 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 principalmente na vida comunitária, se transformou em uma autonomia solidária, representada na expressão autonomia privada, resultado de um direito civil adequado 44 à ordem constitucional. 2.1.2 A força obrigatória dos contratos Reportando-nos às origens de grande parte dos institutos jurídicos do nosso sistema legal do Direito, encontramos que no mundo romano já se achava enunciada a regra da obrigatoriedade dos pactos. É dizer: “O contrato obriga os contratantes. Lícito não lhes é arrependerem-se; lícito não é revogá-lo senão por consentimento mútuo; lícito não é ao juiz alterá-lo ainda que a pretexto de tornar as condições mais humanas 45 para os contratantes” . Assim, o contrato é lei entre as partes – o pacta sunt servanda. Celebrado observando todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, os participantes da relação contratual não têm mais a liberdade de se eximirem, em regra, das suas consequências. 46 Em sua acepção clássica, assevera Orlando Gomes que o contrato obriga os contratantes não importando em que circunstâncias tenha que ser cumprido. Uma vez estipulado seu conteúdo, as cláusulas que o compõe têm que ser observadas, possuindo para os contratantes força obrigatória. Daí dizer que o contrato é intangível e irretratável, ao menos que novo acordo de vontades venha a ocorrer. É que o contrato, de acordo mencionado para trás, importa em uma limitação voluntária da própria liberdade que motivou e gerou o próprio contrato. Vale o cumprimento da palavra dada, custe o que custar. Essa intangibilidade do conteúdo do contrato impossibilita, em tese, a revisão pelo juiz do que foi livremente pactuado entre as partes. O magistrado poderia até anulá-lo, jamais modificar seu conteúdo. Pois, tal intervenção fere o próprio princípio da autonomia da vontade – do qual decorre o dogma do pacta sunt servanda – e, por conseguinte, a liberdade de contratar, fundamentos caros às perspectivas individualista e patrimonialista da relação contratual liberal clássica. Coerentemente com o que vimos defendendo neste artigo, por certo, o postulado da força obrigatória dos contratos no Direito atual também continua vigorando como 47 princípio da relação contratual, embora com atenuações importantes. Hodiernamente, os acontecimentos do mundo real revelam que a aplicação absoluta do princípio da força obrigatória dos contratos antes de fazer justiça gera o seu oposto. Não há como negar que existem situações contratuais em que, por conta das circunstâncias, se torna impossível manter as condições pactuadas em virtude de gerarem onerosidade excessiva para uma das partes contratantes, por exemplo – é o ressurgimento, segundo Orlando Gomes, da proposição do Direito Canônico da cláusula 48 49 rebus sic stantibus , da qual derivou a teoria da imprevisão . Ora, derivando diretamente do postulado da autonomia da vontade, e, por via de consequência, do paradigma da liberdade de contratar, a força obrigatória dos pactos, por uma questão de lógica hermenêutica, qual aquele outro, encontra-se também conRevista da Escola da Magistratura - nº 13 215 dicionada a um novo contexto social e político e igualmente submetida à observância de regras e princípios constitucionais, decorrência de um novo pensamento jurídico, de uma nova concepção de contrato. E esse novo pensamento jurídico considera que na tábua axiológica apresentada pela Constituição, a exemplo da brasileira, se concebe o contrato como um instrumento a serviço da pessoa, da sua dignidade e de seu desenvolvimento, não se atendo à questão patrimonial, pura e simples, assentada no conteúdo do negócio firmado. E, por assim ser, a sua força obrigatória passa a estar também condicionada à observância de valores existenciais. 2.1.3 A relatividade dos efeitos dos pactos O terceiro princípio remanescente da concepção do contrato sob a ótica liberal clássica, diz respeito à eficácia da relação contratual. Na sua versão original, significa dizer que os efeitos (internos) do contrato se produzem exclusivamente entre as partes, 50 não aproveitando nem prejudicando terceiros. Vale dizer: ninguém pode tornar-se parte credora ou devedora contra sua von51 tade, se dela depende o próprio nascimento de uma obrigação válida. Todavia, como não poderia ser diferente, o postulado da relatividade dos efeitos 52 do contrato assim formulado também não é absoluto . Sua mitigação, no entanto, depende do que se entende por terceiro. Orlando Gomes distingue três categorias de terceiros: a) os que são estranhos à relação contratual original, mas participante do interesse, cuja posição jurídica é subordinada à da parte (a exemplo do sublocatário e os mandatários); b) os que são interessados, mas têm posição independente e incompatível com os efeitos do contrato; c) os que são normalmente indiferentes ao contrato, mas podem ser legitimados a reagir quando sofram particular prejuízo dos efeitos do mesmo contrato, 53 como os credores. Inclui esse autor, nesta última alínea, como terceiro sujeito à proteção, aquele estranho à relação contratual e obrigacional que está exposto aos riscos de danos pessoal e patrimonial oriundos da execução da obrigação contratual. Por assim ser, caberia a esse terceiro a percepção de uma indenização, não por ter sido violado algum direito seu não previsto no contrato, cujo conteúdo deve estar restrito aos contratantes, mas por ter sido ofendido físico-psíquica e economicamente em decorrência de relação 54 contratual que não é parte – teoria do terceiro ofendido. Por oportuno, não se poderia deixar de mencionar, ainda que de maneira breve, a teoria do terceiro ofensor ou terceiro cúmplice. Com esteio na concepção social do contrato e na quebra do dogma da relatividade, o contrato se torna uma situação jurídica merecedora de tutela oponível erga omnes. Em outros termos: “todos têm o dever de se abster da prática de atos que saibam prejudiciais ou comprometedores da satisfação de 55 créditos alheios” (uma obrigação de não fazer àquele que conhece o conteúdo de um 56 contrato, embora dele não seja parte). 216 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Nesse caminho, conforme assinalam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, o princípio em referência “deverá ser interpretado de forma a que, no conceito de parte, incluam-se pessoas que não consentiram na formação do contrato, mas que estão 57 sujeitas a serem por ele afetadas, precisamente no que se refere à sua função social” . Não só terceiros afetados pelo contrato, mas também aqueles que perturbam a relação contratual da qual não fazem parte, como vimos. De um jeito ou de outro, aqui, mais uma vez, percebemos a interpenetração entre valores não individuais (a função social do contrato) e a relação privada, o que igualmente enuncia um novo parâmetro interpretativo da relação contratual. 2.2 A ideia contratual contemporânea Ao contrário do que sucedia à época do liberalismo clássico, a realidade social e econômica ulterior passou a demandar uma ação transformadora do Poder Público tendo em vista o atingimento de finalidades havidas como cobiçadas. Nesta direção, afirma Celso Antonio Bandeira de Mello citando Forsthoff que “os mecanismos concebidos pelo Estado burguês para a defesa e garantia das liberdades individuais iriam se tornar insuficientes e inadaptados para enfrentar a problemática gerada pela dilatação e aprofundamento das intervenções na vida social 58 e econômica” . A par disso, detecta Celso Antonio que “O Poder Público assumiu a função de promotor das mais variadas iniciativas no campo social e econômico, exigindo dos particulares, demais disso, ajustamento de suas condutas aos desideratos absorvidos 59 como finalidades coletivas” – tornando-se, assim, o interesse social, um conceito de enorme importância também para o direito privado. Neste caminho, sentiu-se a necessidade de conciliar os interesses individuais com os interesses sociais, de maneira a assegurar o equilíbrio das relações jurídicas e justificar o reexame ou a releitura de certas situações. Ou como pontua Arnoldo Wald: “No fundo, criou-se a necessidade de ponderação entre os diversos valores assegurados constitucionalmente, como a justiça social e o desenvolvimento econômico do país de um lado, e, de outro, os direitos individuais 60 legalmente assegurados” . Como é sabido, mas não renegando por completo as regras do Código Civil de 1916, o novo Código Civil brasileiro, projetado por Miguel Reale, no tocante às relações negociais privadas, abstraindo-se dos dogmas clássicos – individualismo, patrimonialismo 61 e formalismo jurídico (sistema fechado, não axiológico) –, estruturou-se embasado em três novos pilares, a saber: socialidade, eticidade e operabilidade. A socialidade, ao revés do individualismo característico do Estado liberal clássico reproduzido no Código Civil pátrio de 1916, consiste em assentar que cada partícipe da relação obrigacional deve manter a cooperação entre si e para com a sociedade com 62 vistas à consecução do fim (bem) comum da relação jurídica: o adimplemento . Por esse postulado cada participante da relação obrigacional é “subordinado” à prestação a que tem direito o outro pela cooperação e pelo dever de lealdade, visando Revista da Escola da Magistratura - nº 13 217 o adimplemento da obrigação e a realização dos valores fundamentais constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade, dentre outros. Uma comunhão entre a plenitude da pessoa e a coletividade: o interesse geral e o bem comum como limites à realização dos interesses individuais subjetivos das partes obrigadas diretamente no negócio jurídico. Afinal, ubi ius ibi societas, ubi societas ibi jus (onde houver direito haverá sociedade e onde houver sociedade haverá direito). o Também neste rumo prescreve o artigo 5 . da Lei de Introdução ao Código Civil: “A lei atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum”. Aliás, em relação aos valores fundamentais, faz bem destacar que o paradigma da socialidade, ao se espraiar por todo o sistema jurídico, impele, inclusive, o fortalecimento 63 da ideia de horizontalização dos direitos fundamentais (drittwirkung) , no sentido de que tais direitos passam a ser extensivos à esfera das relações entre particulares, e não mais apenas como parâmetros limitadores da interferência estatal nas relações privadas (proteção do indivíduo face ao Estado), noção esta última consolidada a partir das revoluções liberais, sobretudo da Revolução Francesa (1789). Assim, os indivíduos, enquanto pessoas, são idênticos titulares de direitos fundamentais, e, portanto, devem avistar reciprocamente no outro deveres de proteção, cooperação e informação, a fim de preservar o princípio da solidariedade o – progenitor da boa-fé objetiva e da função social, esculpido no artigo 3 ., inciso I, da Constituição Federal –, e, em última instância, assegurar o núcleo da dignidade 64 da pessoa humana . A eticidade, em específico, revela a tendência que embasa todas as codificações modernas, imprimindo o uso generalizado dos chamados conceitos jurídicos vagos e indeterminados, outorgando ao juiz a possibilidade de adequação da norma ao caso concreto buscando efetivar os valores constitucionais da boa-fé objetiva e da função social (valores éticos de ordem pública que operam no sistema de direito privado a 65 partir das cláusulas gerais ou abertas ). Mais precisamente, a eticidade significa “vencer a submissão ao formalismo jurídico, provocando no legislador uma postura diversa, que o fez optar pelo emprego de ‘normas genéricas’ ou ‘cláusulas gerais’, permitindo a exata adequação do Direito 66 ao caso concreto” . O Direito deve ser imperativo não por razões formais, mas pela justiça de seu conteúdo, antes ofuscada pela ênfase pura e simples à formação e à manifestação da vontade de contratar. Não sendo o direito sinônimo de justiça, esta, necessariamente, deve ser seu escopo. Nesse passo, no esforço de ir ao encontro do valor justiça, pode-se dizer, portanto, 67 que o nosso Livro Civil de 2002 é um código aberto , ao contrário do Código Civil Francês de 1804 (o Código Napoleônico) e do Codex Brasileiro de 1916, exemplos de ordenamentos herméticos que, por assim ser, não admitiam a renovação do sistema normativo, isolando os magistrados à utilização do método exegético da simples subsunção do fato à norma. É de se anotar que os ordenamentos abertos – portais de entrada no Direito Civil do princípio fonte da dignidade da pessoa humana – não afastam o intérprete da norma. Ao contrário, ao se propiciar a entrada no sistema do Direito legislado de 218 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 valores sociais elevados ao patamar constitucional, estar-se-á a “arejar” o ordenamento jurídico, permitindo penetrar nele os ventos das transformações sociais. Quanto à operabilidade ou paradigma da concretude, cuidou o atual Código Civil de privilegiar a pessoa humana em detrimento do indivíduo abstrato do Código de 1916, elevando-a, e não mais o patrimônio, à condição de centro do sistema. Almeja-se, com isso, substituir a aplicação da norma genericamente a quem quer que seja o titular de determinada posição patrimonial – o abstrato sujeito de direitos patrimoniais (o proprietário, por exemplo) – pela afirmação da especificidade e con68 cretude de cada pessoa . Além disso, por meio do fundamento da operabilidade, buscou-se no novo Codex a adoção de formas capazes de conferir efetividade ao direito civil, conferindo solução rápida às pretensões, bem assim propugnando meios que evitem a eternização dos conflitos e das incertezas, além de uma melhor sistematização de seus dispositivos e normas a facilitar a tarefa dos operadores do direito. Dessa maneira, em decorrência da alteração dos fundamentos ou diretrizes da ordem jurídica privada liberal clássica, provocada pela inserção dos paradigmas da socialidade, eticidade e operabilidade, decorrência da modificação do papel do Estado, sobretudo, a partir da Primeira Guerra Mundial (1919), pela via da constitucionalização, cruzam a fazer parte do cotidiano contratual os denominados princípios contratuais contemporâneos – da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do equilíbrio econômico dos pactos – condutores da concretização das almejadas e necessárias igualdade material e justiça social dos contratos. E é sobre esses princípios que passamos agora abordar. 2.2.1 A boa-fé objetiva Detecta Clóvis de Couto e Silva que os magistrados romanos já valorizavam enormemente o comportamento ético das partes, “com base na equidade, ampliando o arbítrio do juiz para que pudesse considerar na sentença a retidão e a lisura do pro69 cedimento dos litigantes na celebração do contrato” . Diante da percepção de que esse comportamento se apresentava de duas formas distintas, doutrina moderna classificou-o de boa-fé subjetiva e objetiva. A boa-fé subjetiva está relacionada com a “intenção manifestada na declaração de vontade ou 70 dela inferível”, de acordo aponta Orlando Gomes . Ou ainda, conforme Gustavo Tepedino e Anderson Shreiber, “[...] como sinônimo de um estado psicológico do sujeito caracterizado pela ausência de malícia, pela sua crença ou suposição pessoal de estar 71 agindo em conformidade com o direito” . Já a boa-fé objetiva, que aqui mais nos interessa, diz respeito ao interesse social de segurança das relações jurídicas, de acordo ainda Orlando Gomes. O que se traduz 72 na mensagem de que “as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas” , de modo a pelo menos não dificultar a ação legítima de uma e de outra – observância dos 73 deveres anexos . Revista da Escola da Magistratura - nº 13 219 Ainda com Clóvis de Couto e Silva, para quem a obrigação é um processo, no sentido de que a obligatio é uma complexidade de atos rumo a um fim certo – o seu adimplemento: A boa-fé objetiva determina um aumento de deveres, além daqueles que a convenção explicitamente constitui. Endereça-se a todos os partícipes do vínculo e pode, inclusive, criar deveres para o credor, o qual, tradicionalmente, era apenas considerado titular de 74 direitos. 75 O Código Civil de 1916 não consagrou este princípio expressamente , mas o Codex de 2002 o traz nos artigos 113, 422 e 187. No Código de Defesa do Consumidor também encontra-se expresso nos artigos 4º. inciso III e 51 inciso IV. Conforme indicam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, há três áreas de operação do princípio da boa-fé objetiva no Livro Civil atual: a) como paradigma interpretativo – artigo 113; b) como parâmetro de controle, impedindo o abuso do direito subjetivo – artigo 187; e, c) desempenhando função integrativa, impondo 76 diversos deveres anexos e éticos, tais quais os de honestidade, probidade, respeito, 77 informação, cooperação, etc. – artigo 422. Aduz Teresa Negreiros que a fundamentação constitucional do princípio da boa-fé objetiva está na cláusula geral de tutela da pessoa humana, na busca da construção de uma sociedade solidária, na qual o respeito pelo outro se constitui em elemento essencial de qualquer relação jurídica, traço determinante de uma valorização da pessoa 78 em substituição à autonomia do indivíduo . 2.2.2 A função social do contrato O princípio da função social foi introduzido em nosso ordenamento jurídico pela Constituição da República de 1946, por meio da função social da propriedade, sendo agasalhado também pela Constituição Federal de 1988, e, infraconstitucionalmente pelo Código Civil de 2002 em seu artigo 421. Antes disso, tanto aqui como nas codificações oitocentistas do mundo ocidental, esse postulado não se configurava como princípio de Direito, correspondendo a um “fundamento extrajurídico relacionado com a função 79 econômico-social do contrato”. Como entendida hoje em dia, a função social do contrato é a superação da idéia de que a relação obrigacional somente produz efeitos entre as partes. É a preocupação com a valorização do interesse coletivo sobre os interesses particulares nas relações obrigacionais. Atender ao interesse privado não pode implicar o sacrifício do interesse coletivo. Essa é a idéia da função social. Assim, a função social traz uma dupla eficácia à relação contratual: a um só tempo possui eficácia interna e externa em relação ao contrato. A eficácia externa significa que a relação obrigacional não pode prejudicar terceiro e tampouco o terceiro pode prejudicar obrigação alheia. Vale dizer: o contrato não deve prejudicar 220 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 terceiros alheios à relação contratual; o contrato não deve prejudicar a coletividade; o terceiro não deve prejudicar o contrato alheio. Surgem aí dois conceitos: o do terceiro ofensor (lesante) e terceiro ofendido (lesado), sobre os quais já nos referimos anteriormente e voltaremos a fazê-lo na próxima seção, ainda que de forma breve e superficial. A eficácia interna da função social do contrato, por sua vez, diz respeito ao fato de que a relação obrigacional não pode implicar ou gerar a violação de interesses das partes de ordem coletiva, isto porque determinados interesses coletivos são também 80 reconhecidos aos devedores. De um jeito ou de outro, o que nos importa aqui, de acordo o enfoque teórico que estamos a conferir ao instituto do contrato neste artigo, é como se dá a aplicação desse princípio na relação contratual. Gustavo Tepedino relata três posições divergentes acerca do conteúdo e alcance 81 da função social do contrato. No primeiro entendimento, sustenta-se que a função social do contrato não é dotada de eficácia jurídica autônoma, sendo uma espécie de orientação político-legislativa constitucional. Ou seja, a função social deve ser encontrada no próprio âmbito do Código Civil, por meio de institutos institucionalizados para permitir a invalidação ou a 82 revisão do contrato e assim amenizar sua dureza conforme idealizado pelo liberalismo . A segunda posição afirma que a função social do contrato expressa o valor social das relações contratuais, elevando a importância dessas relações na ordem jurídica, o que reforçaria a posição contratual dos contratantes e não à noção de proteção da coletividade face ao contrato. Já a terceira corrente entende que a função social importa em deveres extracontratuais impostos aos contratantes, deveres esses socialmente relevantes e protegidos constitucionalmente pelos princípios da dignidade da pessoa humana, do valor social 83 da livre iniciativa, da igualdade substancial e da solidariedade social. Desse modo, da combinação das eficácias interna e externa da função social do contrato com a terceira posição, extraímos que a função social do contrato tem como destinatário não só a coletividade como também as partes contratantes, impondo a estas o dever de perseguir, juntamente com seus interesses individuais, os interesses extracontratuais coletivamente relevantes que estão relacionados com o contrato ou que podem ser por ele atingidos. A par disso, é de se compreender que a função social do contrato resulta de uma outra interpretação da força obrigatória do contrato que se deslocou da vontade para a lei. E assim, porque fundamentada na lei, a força imperativa do contrato passa a estar atrelada funcionalmente à realização de finalidades traçadas pela ordem jurídica, não sendo mais interpretada como mero instrumento de satisfação dos interesses das partes 84 da relação contratual individualmente consideradas. Sendo, agora, a própria lei que dita os parâmetros da força obrigatória dos pactos, tal força encontra sua razão de existir nos fins visados pelo próprio Direito, emanados de uma nova tábua axiológica de patamar constitucional: justiça social, segurança jurídica, bem comum, solidariedade, dignidade da pessoa humana, dentre outros valores 85 de igual quilate. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 221 2.2.3 O equilíbrio econômico Assim como os dois novos princípios examinados, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o postulado do equilíbrio econômico dos pactos encontra fundamento na Constituição no princípio da igualdade substancial (artigo 3º. inciso III), pressuposto do paradigma da justiça social que orienta as relações contratuais contemporâneas. Nessa linha, este princípio vem coibir que as prestações contratuais reflitam um desequilíbrio injustificável entre as vantagens obtidas por um contratante em detrimento do outro. Veda-se que um equilíbrio tão somente formal do contrato gere o enriquecimento de um dos integrantes da relação contratual. 86 De acordo Teresa Negreiros citando Antonio Junqueira Azevedo , o princípio do equilíbrio econômico do contrato atua em duas vertentes: na formação e no curso 87 da relação contratual. A primeira atua no terreno da lesão , a segunda vertente 88 na seara da onerosidade excessiva . Diferentemente do que ocorria no direito do contrato liberal clássico, onde predominava a fase de formação e manifestação da vontade de contratar, hoje, o princípio do equilíbrio econômico do contrato vem servir como parâmetro de avaliação do próprio conteúdo do pacto e de seu resultado, por meio de uma comparação das vantagens e encargos distribuídos para cada um dos contratantes. Em sendo assim, a justiça do contrato mediante o seu equilíbrio econômico dita que o contrato deve resguardar um patamar mínimo de equilíbrio entre as posições 89 econômicas de ambos os contraentes. Nesse passo, ainda que o contrato seja firmado sem qualquer vício de vontade, pode configurar-se um contrato injusto, e, por assim ser, pode ser revisto, modificado judicialmente ou mesmo integralmente rescindido. Conforme arremata Teresa Negreiros: 90 “de uma ênfase na liberdade se passa à ênfase na paridade” . Vale dizer, a concepção de justiça fundada na autonomia e na liberdade de contratar altera-se para ressaltar o valor social da paridade e do equilíbrio do contrato. 3. OS PRINCÍPIOS CONTRATUAIS LIBERAIS CLÁSSICOS E OS PRINCÍPIOS CONTEMPORÂNEOS: ANULAÇÃO, CONFLITO OU COEXISTÊNCIA? 3.1 Um suposto embate principiológico Delineados e definidos na seção anterior os valores e princípios característicos de cada contexto social e político da vida moderna – contextos liberal e social – já é tempo de debruçarmos sobre o delicado problema da composição da relação contratual privada de agora levando em conta aqueles postulados clássicos decorrentes do paradigma da liberdade privada de contratar (demonstrativo dos valores individuais e conquista inalienável da sociedade) e os nominados novos princípios, elementos estruturantes da justiça contratual material (padrão axiológico representativo do influxo constitucional no direito privado, garantidor de uma vida social mais equilibrada e solidária, pelo menos no ponto de vista do Direito). 222 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Impõe-se, preliminarmente à reflexão que dá nome ao título e subtítulo deste tópico, a necessidade de discorrermos sobre o que vem a ser um princípio. O que o distingue de uma regra e de outras categorias utilizadas pelo intérprete para aplicação do Direito. Faremos isso nos atendo às definições pretendidas por Ronald Dworkin e Robert Alexy, de modo a não estender ainda mais esse já longo artigo. Ronald Dworkin, ao definir o que seja um princípio, dedica-se, notadamente, à sua aplicação, distinguindo-o, desse modo, de uma regra – ambos, espécies do gênero norma jurídica. Afirma esse autor que princípio, de maneira genérica: [...] é todo o conjunto de padrões de comportamento que não são regras; um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou 91 alguma outra dimensão da moralidade. Ainda no desenvolvimento da conceituação de Dworkin, temos que, se de um lado as regras são aplicadas ao modo do “tudo ou nada”, no sentido de que ou uma regra é considerada válida, e a consequência normativa deve ser aceita, ou não é considerada válida, e o seu efeito normativo não deve ser aceito; de outra banda, os princípios somente contêm fundamentos, os quais devem ser conjugados com outros fundamentos advindos de outros princípios aplicáveis ao caso concreto, sem distinção de grau. Para Ronald Dworkin, no tocante aos princípios, o que se deve levar em conta, na verdade, é uma diferenciação baseada em critérios classificatórios, ao invés de comparativos, fazendo com que, em caso de conflito (que só pode existir de forma aparente, segundo esse autor), um único princípio se sobreponha aos demais, sem que 92 estes venham perder validade. Já Robert Alexy, partindo da distinção que faz Ronald Dworkin, difunde que as regras consistem em normas cujas premissas são ou não são diretamente preenchidas pelo caso concreto; enquanto que os princípios constituem uma categoria normativa mediante a qual são estabelecidos deveres (mandatos) de “otimização” aplicáveis em 93 vários graus, de acordo com as possibilidades normativas e factuais . Alexy, ao contrário de Dworkin, procura demonstrar que a relação de tensão existente no caso de colisão entre os princípios não se resolve com a determinação imediata da prevalência de um princípio sobre o outro, mas sim por meio de um mecanismo de ponderação entre estes valores colidentes, sendo que em determinadas circunstâncias concretas um deles terá predominância. Assim, aponta Robert Alexy que os princípios possuem tão somente uma dimensão de peso e não determinam as conseqüências normativas de forma direta, a oposto das regras. Por isso, a aplicação de um princípio diante do caso concreto deve ser realizada com reservas, ou seja, um princípio só pode ser aplicado em um caso concreto se outro 94 não apresentar peso maior. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 223 Numa ou noutra concepção, se consolidou o entendimento de que normas ou são princípios ou são regras. Que as regras não podem ser objeto de ponderação – por serem preceitos “do tudo ou nada”. Todavia, divergem entre si esses autores quanto a considerar que os princípios precisam e devem ser ponderados, como quer Alexy, ou que precisam e devem ser classificados em adequados ou não adequados à solução do caso concreto, como defende Dworkin. Diferentemente das regras, que impõem deveres definitivos, independentes das possibilidades fáticas e normativas, os princípios instituem deveres preliminares, dependentes das possibilidades fáticas e normativas. Quando duas regras colidem, uma das duas é inválida, ou deve se abrir uma exceção para superar o conflito. Quando dois princípios colidem, os dois ultrapassam o conflito mantendo sua validade, devendo o intérprete decidir qual deles possui maior peso em dada circunstância fática ou é o mais adequado à solução da lide. No tocante ao contrato e os princípios pertinentes, observa-se que é forte a doutrina em afirmar que a Lei Maior brasileira de 1988 desejou que os denominados “novos” e “velhos” postulados que embasam a relação contratual convivessem lado a lado na ordem jurídica hodierna – liberdade individual como valor fundamental de um lado e justiça social e solidariedade do outro –, nada obstante reconhecer que essa convivência se mantém longe de ser harmônica, ensejando uma gama de conflitos entre 95 eles . Tanto é que, para a solução dessa relação conflituosa, Teresa Negreiros ensina que “[...] é preciso decidir sob quais circunstâncias os princípios clássicos devem se sobrepor 96 aos princípios contemporâneos” e vice-versa, acrescentamos. Para essa corrente doutrinária, alcançar o equilíbrio entre as duas vertentes principiológicas que cercam a concepção do homem contemporâneo passa a ser o dilema a se solucionar nos dias de hoje no campo contratual, visto, para os que assim creem, ser esse o compromisso firmado pela ordem constitucional. Na síntese dessa questão, é de conferirmos o que diz Maria Celina Bodin de Moraes: [...] a imposição de solidariedade, se excessiva, anula a liberdade; a liberdade desmedida é incompatível com a solidariedade. Todavia, quando ponderados, seus conteúdos se tornam complementares: regulamenta-se a liberdade em prol da solidariedade social, isto é, da relação de cada um com o interesse geral, o que, reduzindo a desigualdade, possibilita o livre desenvolvimento da personalidade de 97 cada um dos membros da comunidade. Em outras palavras, e neste ponto concordando com essa corrente, a pretexto de se reagir aos excessos, resultado da primazia absoluta da força jurígena da autonomia da vontade individual, não se poderia admitir o revesso da moeda, isto é, a simples e absoluta negação dos aspectos clássicos do voluntarismo pelos chamados novos princípios que cercam atualmente o instituto contratual, como se estivéssemos diante de uma espécie de tabula rasa. 224 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Nesta linha, Teresa Negreiros defende a ponderação dos princípios à luz do caso concreto, no sentido de que os juízos de prevalência de um bloco de princípios sobre o 98 outro deveriam ser pautados em critérios objetivos e razoáveis, e, por isso, equânimes . Para tal corrente, a matriz que hoje deve nortear a hermenêutica contratual é a que considera a complementaridade e, se for o caso de conflito, a ponderação dos princípios aqui divididos em clássicos e contemporâneos. Afirmam seus representantes que é assim que deseja a “vontade de constituição”, expressão cara à acepção da força normativa da Constituição construída por Konrad Hesse. Todavia, tal percepção, pelo menos em sua totalidade, não é a que transparece do espírito do neoconstitucionalismo. É certo que a tal dicotomia direito público versus direito privado não poderia ser resolvida pela simples anulação dos princípios clássicos da liberdade individual, personificados, por exemplo, na autonomia da vontade e na relatividade dos efeitos dos contratos (embora os princípios contemporâneos, sintetizados pela questão da ordem e interesse públicos, limitem essa autonomia e mitiguem a noção de exclusividade da produção inter partes dos efeitos dos contratos, atribuindo-lhes também uma repercussão 99 social merecedora de tutela jurídica) . Entretanto, não há mais que se falar hoje em dia de dicotomia entre a ordem pública e privada. O que atualmente verificamos é uma interpenetração do direito público e privado no sistema do Direito, patrocinado pela Constituição através do influxo de suas normas no sistema jurídico infraconstitucional e da assimilação em seu corpo de valores sociais e individuais em um só instituto. A constatação enunciada nesse parágrafo fica evidente pela leitura do artigo 170 da própria Constituição Federal do Brasil, que combina no capítulo da ordem econômica o princípio liberal da livre iniciativa com o da justiça social e do valor social do trabalho: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios [...]”. A par disso, quer nos parecer, e este é o ponto de justificação do presente escrito, que não há de se falar realmente em uma anulação absoluta dos princípios clássicos pelos os que denominamos aqui de princípios de vanguarda, como que se jogasse pelos ares, sem deixar vestígios, os elementos da concepção clássica do contrato. Todavia, entendemos que, igualmente, não se há de falar em coexistência entre eles na forma de dois blocos apartados, contrapondo-se um como limite do outro. Há sim, desta feita, um só conjunto de princípios, em cujo bojo, por via de um 100 processo de síntese, amparando-nos na terminologia da teoria dialética de Hegel , ao mesmo tempo que aparentemente se “cancela”, “nega” ou se “anula” os princípios clássicos, os preserva, submetendo-os a um outro parâmetro de interpretação, até que novo processo dialético venha a superar os novos fundamentos e assim sucessivamente. Ora, o que está por detrás dessa afirmativa é o simples fato de que o Direito, e, sobretudo, o Direito Civil, não deve ficar recolhido em si mesmo, petrificado em seus dogmas de ontem, imune à passagem do tempo, às demandas sociais e às transformações econômicas e filosóficas, irritantemente neutro politicamente. Sob esta perspectiva, é de se entender que não estamos diante da condenação daqueles princípios liberais como errados e da absolvição dos postulados contemporâneos como corretos, num raciocínio maniqueísta do bem contra o mal. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 225 Definitivamente não estamos a enfrentar o anunciado conflito ou embate principiológico. O fato é que as relações contratuais de agora são fundamentadas por um bloco único de princípios, a se constituir em uma solução que, além dos novos postulados, agasalha todos aqueles paradigmas anteriores, reconhecendo seus valores, preservando seus méritos e evitando suas limitações, o que faz do suposto embate entre eles mero “conflito aparente” de princípios. O que efetivamente se põe a nossa frente é um processo de mutação normativa ou uma releitura de mesmos enunciados principiológicos, patrocinada por uma complexa e efetiva mudança no que tange a visão de mundo, do homem, de sociedade, e, até mesmo de concepção do Estado. E tal releitura desemboca, no caso da relação contratual, como assim profere Louis Josserand, “[...] no reconhecimento do contrato não como fenômeno individual, em que as próprias partes regulam soberanamente seus interesses patrimoniais disponíveis, 101 mas como um fenômeno social” . Decorre daí, e por tudo, defendermos que a relação contratual contemporânea se alicerça sobre os princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da relatividade de seus efeitos – ainda que não mais atuem de forma absoluta – da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico. Assim considerada a composição principiológica do contrato hodierno, é de se investigar a maneira de aplicação desses princípios na solução do caso concreto, haja vista sugerirem uma oposição entre si. É o que faremos logo a seguir. 3.2. Uma solução pela integridade do Direito. Conforme exposto até aqui, não divergirmos daqueles que acertadamente entendem que a relação contratual contemporânea se sustenta nos princípios clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos e da relatividade de seus efeitos – embora sob um viés interpretativo que os tornam mitigados, como já mencionado – bem como nos princípios contemporâneos da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do equilíbrio econômico. A divergência não está em admitir a coexistência dos denominados princípios clássicos com os contemporâneos. A discórdia está em considerá-la não conflituosa mas integrativa, como pensamos, e, bem assim, quanto à forma de aplicá-los no caso concreto – optando pela técnica do princípio adequado e não pelo mecanismo da ponderação de valores. O mecanismo de ponderação de valores mencionado ligeiramente no item 3.1 antecedente diz respeito à teoria elaborada por Robert Alexy quanto à adoção do princípio da proporcionalidade para a solução dos casos de conflito entre postulados jurídicos divergentes, abrindo caminho para a aplicação simultânea e proporcional de diferentes princípios jurídicos em um mesmo caso concreto através do método da ponderação de valores. Para esse autor a aplicação dos princípios deve contemplar simultaneamente todos os possíveis princípios aplicáveis à hipótese concreta, graduando-os, propor226 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 cionalmente, conforme uma escala de importância. Nesse sentido, a decisão judicial ideal seria aquela que conseguisse alcançar um grau máximo de satisfação de todos os princípios aplicáveis ao caso. Assim, o princípio jurídico não seria uma norma definitiva mas apenas otimizável, não possuindo, pois, conteúdo normativo cogente, não trazendo consigo um dever mas apenas um valor moral que pode ser atendido de diversas formas em proporções variáveis, a depender das condições fáticas e jurídicas ora existentes. Para Robert Alexy, interessa descobrir quais são os valores preferíveis, importa o que é melhor e não o que é devido (direitos). O direito, na verdade, só surge depois dessa escolha, pois antes da ponderação não há direito, mas apenas comandos de otimização de cunho moral. Em sua teoria dos princípios, na qual procura elencar elementos sobre os quais possa chegar o intérprete a uma escala concreta de valores com grau de indeterminação mínima possível, aquele autor acaba por favorecer em seu sistema de prioridades os direitos individuais face aos direitos coletivos, de modo que só é possível assegurar os direitos coletivos garantindo-se primeiramente os direitos individuais. A expressão ponderação de valores ou de princípios diz respeito à dimensão de peso ou importância que um postulado tem quando se cruza com outro em determinado caso concreto; aquele princípio que dará solução ao caso em apreço será definido por meio de um processo de ponderação no que tange a força relativa de cada um naquele caso concreto, sem que o princípio considerado in casu como de menor peso perca sua validade enquanto norma. Já no que diz respeito ao critério utilizado para as regras, diferentemente, se num mesmo sistema jurídico duas regras estão em conflito, uma suplanta ou simplesmente revoga a outra, e, assim, só uma delas pode ser considerada válida. Em síntese, a teoria da ponderação de valores exige que alguns deles sejam assumidos como prioritários pelo juiz e pelo direito, realçando um determinado valor moral em detrimento dos demais, o que ameaça diretamente o pluralismo político-jurídico, o qual exige respeito à pluralidade das formas de vida. Neste trabalho nos aproximamos da concepção elaborada por Ronald Dworkin de um sistema de direitos baseado na integridade do Direito, na idéia de que o suposto conflito entre princípios não passa de um aparente embate e que a solução desse conflito aparente dar-se-á por meio da técnica do princípio adequado e não através de um mecanismo de ponderação. Nesse passo, assinala Dworkin que: A integridade expande e aprofunda o papel que os cidadãos podem desempenhar individualmente para desenvolver as normas públicas de sua comunidade, pois exige que tratem as relações entre si mesmos como se estas fossem regidas de modo característicos, e não espasmódico, por essas normas. [...] A integridade infunde às circunstâncias públicas e privadas o espírito de uma e de outra, interpenetrando-as 102 para o benefício de ambas. Desse modo, o direito deve ser interpretado sob a égide de princípios ordenadores e não como fruto da tradição nem como norma moral. Colocar os direitos individuais Revista da Escola da Magistratura - nº 13 227 ou os sociais como norma moral prioritária a todas as pessoas acaba por negar os direitos sociais e individuais, respectivamente, das que não compartilham dessa ou daquela visão 103 de mundo, pois não se identificariam com o direito produzido . Direito como integridade, portanto, quer significar que o Direito é uno, e, por assim ser, todas as normas existentes no ordenamento devem ser interpretadas de maneira a manter a coerência interna que lhe garanta unidade. No teor desta teoria “os princípios jurídicos não podem ser vistos como opostos entre si, mas coordenados por uma concepção pública de justiça. Cada princípio, sendo ligado a todo o ordenamento de forma integral, traz em si uma dimensão pública e uma 104 dimensão individual. É o que Clóvis de Couto e Silva denomina de “interpenetração do direito público 105 e do direito privado” . Essa é a tônica a ser considerada de agora em diante. Nem o dirigismo estatal puro nem, muito menos, o voluntarismo. Agora os campos de atuação do direito público e do direito privado não mais devem ser determinados pela intervenção ou não intervenção estatal nas atividades privadas ou pela exclusão do cidadão das esferas da administração pública, conforme já frisamos para trás. Doravante, o que deve determinar a área de abrangência de um e de outro será a prevalência ora do interesse público ora do interesse privado, e isso será aferido no 106 caso concreto e não abstratamente. O que quer significar uma enorme transformação hermenêutica, pois terá repercussão em vários institutos tanto do direito público quanto do privado. Consequentemente, é um erro compreender a liberdade como um direito unicamente individual, por exemplo, pois a liberdade individual é a finalidade de qualquer ordem pública soberana. Tampouco a assistência social seria um direito exclusivamente coletivo, pois ele só se realiza na esfera do indivíduo, capacitando-o para exercer sua autonomia e liberdade privada. Nesse sentido as esferas pública e privada “são cooriginárias e igualmente primordiais”. A dimensão pública está presente em todo direito individual e este só se realiza porque essa dimensão pública permite a cada pessoa torná-lo legitimamente exigível frente ao Estado e frente aos demais cidadãos. No mesmo diapasão, “todo direito coletivo só se realiza mediante a dimensão privada de cada cidadão que, individualmente, 107 acessa e exerce tais direitos”. Assim, dois princípios jurídicos que revelam demandas sociais distintas podem perfeitamente conviver harmonicamente no direito sem que isso signifique contradição: A propriedade, por exemplo, é expressão simultânea de princípios opostos. Nela há um princípio egoísta que priva a coletividade do uso e gozo de um determinado bem, mas também há um princípio social que restringe o uso abusivo do direito de propriedade e impõe que mesmo a propriedade individual contribua para a riqueza de toda a 108 coletividade. A validade abstrata e universal de um princípio não ameaça nem afeta a validade abstrata e universal de outro princípio que lhe seja integralmente contrário. “A 228 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 integridade contesta a ideia já exposta de que ‘diferentes ideologias produziram partes diferentes do direito’, pois o que ocorre não é acréscimo de novos direitos, mas a rein109 terpretação de todo o ordenamento” . A par do exposto, na busca da solução de um caso concreto face a princípios aparentemente divergentes, deve-se entender o Direito como interpretação jurídica e não como mera subjunção do caso a uma norma. Por assim ser, não vemos incompatibilidade em interpretar o caso concreto sob o comando de um único princípio dentre todos aqueles abstratamente válidos no direito, aquele que significará a manutenção da coerência e da integridade de todo o sistema – é 110 o que Ronald Dworkin chama de “dimensão da adequação” . Nesse sentido, a decisão judicial exige uma escolha entre princípios aplicáveis no caso, e esta escolha de um dentre outros princípios não retira a validade abstrata dos demais, apenas indica qual é o mais adequado às particularidades únicas de uma certa e determinada situação concreta. Para melhor esclarecer o que aqui defendemos, analisaremos o case da jurisprudência norte-americana extraído da obra “O império do direito” de Ronald Dworkin: 111 o caso Elmer. Elmer assassinou seu avô por envenenamento em Nova York, em 1882. Sabia ele que seu avô o tinha deixado, por testamento, com a maior parte dos bens. Desconfiado que o testador pudesse modificar a disposição de vontade e deixá-lo sem nada em virtude de novo casamento, simplesmente resolveu matar o ascendente, e assim o fez. O crime de Elmer foi descoberto e ele foi condenado penalmente a alguns anos de prisão. Assim, uma vez que a legislação testamentária e sucessória não dispunha absolutamente nada sobre se uma pessoa citada em um testamento poderia ou não herdar se houvesse assassinado o testador, a pergunta que se coloca é: estaria Elmer legalmente habilitado a receber a herança que seu avô lhe deixara no último testamento? Ou os legatários residuais (as filhas do avô) herdariam em seu lugar? Como se vê, detecta-se no caso o envolvimento de quatro princípios aparentemente divergentes: a autonomia da vontade do testador livre de vícios no momento da elaboração do testamento, o da segurança jurídica e legalidade (já que não havia previsão legal que excluísse o direito de Elmer de herdar os bens do avô morto por ele) e o relativo a princípios gerais do Direito que conferem unidade ao sistema. O juiz Gray votou favoravelmente a Elmer, conferindo-lhe o exercício do direito de herdar, optando por uma interpretação literal do ordenamento jurídico, dando à lei testamentária um “significado acontextual”, insistindo que a verdadeira lei, interpretada de maneira adequada não continha exceções para os assassinos; e, dessa forma, atendeu a alegação da defesa no sentido de que se assim não fosse o tribunal estaria alterando o testamento e substituindo o direito e a vontade do testador por suas próprias convicções morais. Do conteúdo da decisão do juiz Gray, indo mais a fundo que a expressão interpretação literal pode sugerir, acrescentamos que não havia nenhuma condição no testamento que atrelasse Elmer a se comportar dessa ou daquela forma em relação ao próprio testador, ou a qualquer outra pessoa a ele relacionado, para ser merecedor do legado deixado. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 229 Bem assim, se Elmer perdesse a herança por ser um assassino estaria ocorrendo aí um bis in idem, uma vez que sua penalidade na esfera penal estaria sendo aumentada pelos juízes, sem prévia previsão legal, depois que o crime foi cometido, ofendendo diretamente o princípio da segurança jurídica e o da legalidade quanto ao postulado nulla poena sine praevia lege (não há crime sem lei anterior que o defina nem pena sem prévia cominação legal). Todavia, essa decisão foi rebatida pela maioria, liderada pelo voto do juiz Earl, não reconhecendo o suposto direito de Elmer de receber a herança, por conta de ter assassinado o próprio testador, seu avô. Basicamente a decisão vitoriosa se fundou em duas razões: primeiro, se realçou a razoabilidade de admitir, lançando mão de uma interpretação histórica, que uma lei não pode ter nenhuma consequência que os legisladores teriam rejeitado se nela tivessem pensado, bem assim que os feitores da lei têm uma intenção genérica e difusa de respeitar princípios tradicionais de justiça; segundo, considerando que a lei faz parte de um sistema de Direito mais compreensivo e vasto, ela deve ser interpretada de modo a conferir, em tese, maior coerência a esse sistema. A par disso, sustentou o juiz Earl que o Direito, em outros contextos, respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu próprio erro, de tal modo que a lei sucessória deveria ser interpretada no sentido de negar uma herança a alguém que tivesse cometido um homicídio para obtê-la. Compreendendo o Direito como interpretação e não exclusivamente subjunção, na visão de Ronald Dworkin, nada obstante não haver norma escrita dispondo sobre situação semelhante à propiciada por Elmer que trouxesse alguma exceção ao direito de herdar no caso de homicídio do autor da herança, o tribunal reconheceu a ofensa ao princípio geral pelo qual ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza, para impedir que Elmer herdasse os bens a ele testados, mantendo assim a integridade do sistema jurídico. Em se entendendo o Direito apenas como subjunção do fato a uma regra estaria a imperar uma injustiça, uma vez que o elemento fático puro e simples da subjunção possuía características que não estavam previstas no elemento normativo. Daí se recorrer a um único princípio para se dá a resposta adequada à Constituição. Inclinamos em compactuar com o acerto da decisão da maioria do tribunal norte-americano no sentido de que guarda relação com a interpretação que opta pela aplicação de um único princípio, coadunada que está com a manutenção da coerência e da integridade de todo o sistema de Direito, e, por conseguinte, com o valor justiça extraído do próprio Direito e não de uma norma moral calcada na subjetividade de cada julgador ou juiz, e muito menos no raciocínio simplista da subjunção do fato à regra. No caso que acabamos de examinar estávamos diante da aplicação (ou não) de uma lei na espécie. Porém, em muitas situações de processos judiciais, o demandante nem sempre discute a aplicação direta da lei, se esta se subsume ou não ao caso concreto. Discute-se como matéria principal o acatamento ou não de ou outro princípio para a solução da lide posta. Tais situações se encontram facilmente no bojo de relações contratuais levadas a juízo. Em sendo assim, trazemos como leading case atinente à relação contratual e princípios correlatos o contido na decisão do Recurso Especial nr. 691.738/SC do Su230 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 a perior Tribunal de Justiça, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi – 3 . Turma do STJ, julgado em 12.05.2005, para darmos fecho ao defendido neste tópico. Pessoa jurídica incorporadora de imóveis ajuizou ação ordinária contra o BESC S/A (Banco do Estado de Santa Catarina) na qual obteve antecipação de tutela para autorizar o fracionamento da hipoteca de imóvel dado em garantia àquela instituição financeira, com a consequente liberação de gravame hipotecário sobre a totalidade do 112 imóvel, com fundamento no artigo 1.488 do Código Civil de 2002. O BESC S/A agravou da decisão de primeiro grau alegando, dentre outros argumentos, que a decisão contrariava o princípio do pacta sunt servanda e que a aplicação do artigo 1.488 do novo Código Civil ofendia o ato jurídico perfeito consolidado na vigência do Código Civil de 1916. O agravo foi provido pelo TJSC para cassar a antecipação de tutela. A pessoa jurídica incorporadora que tinha interesse em comercializar os imóveis que dera em garantia hipotecária ao BESC, atacou a decisão do Tribunal de Justiça por meio do REsp aqui em comento, o qual foi provido para reconhecer o direito da o Incorporadora à antecipação da tutela que obtivera em 1 . grau, com fundamento unicamente no princípio da função social do contrato. Confira a ementa: RECURSO ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPUGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AOS DISPOSITIVOS DE DIREITO MATERIAL. POSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO DE HIPOTECA. ART. 1.488 DO CC/02. APLICABILIDADE AOS CONTRATOS EM CURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.035 DO CC/02. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. (grifo nosso) -[...]. -O artigo 1.488 do CC/02, que regula a possibilidade de fracionamento de hipoteca, consubstancia uma das hipóteses de materialização do princípio da função social dos contratos, aplicando-se, portanto, imediatamente às relações jurídicas em curso, nos termos do artigo 2.035 do CC/02. (grifo nosso) -[...]. -Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (Resp. nr. 691.738/SC do Superior Tribunal de Justiça, de relatoa ria da Ministra Nancy Andrighi – 3 . Turma do STJ, julgado em 12.05.2005). Percebe-se na decisão em apreço, e isso é de fundamental importância para o que estamos a defender neste artigo, a coexistência não conflituosa dos princípios clássicos do contrato (no caso a força obrigatória dos pactos) com os denominados princípios contemporâneos (tal qual o da função social do contrato) e o uso da técnica de aplicação de um único princípio adequado para a solução da controvérsia. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 231 Na hipótese, a hipoteca pactuada entre a Incorporadora e o BESC S/A foi considerada válida, mas seus efeitos estariam subordinados ao que dispõe o artigo 1.488 do atual Codex (sem precedente no Código de 1916), que traz em seu bojo o postulado da função social. Disse o Superior Tribunal de Justiça neste recurso especial que o artigo 1.488 do atual Código Civil não busca a desconstituição completa do negócio jurídico legitimamente pactuado entre o recorrente e recorrido. Ainda conforme aquela Corte Superior, o dispositivo em referência não interfere no contrato, o qual continua válido entre as partes signatárias, apenas cria uma “válvula de escape” para os adquirentes (terceiros) das unidades do loteamento ou do condomínio edilício, em face de quem os efeitos da hipoteca não se produzem. Ademais, assim procedendo, o STJ determinou, no caso, a não prevalência de uma convenção na hipótese de ela se conflitar com princípios de ordem pública sacramentados pela Constituição da República. A par do relatado e explicado vale transcrever a conclusão de Eroulths Cortiano Júnior sobre a decisão em comento: O entendimento – que induz a eficácia do negócio jurídico em prol do adquirente de boa-fé – coaduna-se com o tratamento vanguardista que a jurisprudência já vinha dando ao direito real de hipoteca, como demonstra a Súmula nr. 308 do Superior Tribunal de Justiça (‘A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel’). Este posicionamento enfrentou os inúmeros litígios decorrentes da constituição de hipoteca do imóvel onde se constrói, e cujo financiamento não é quitado, colocando em risco a aquisição do imóvel pelos particulares, e levou em conta a boa-fé destes compradores. Nestes casos, como no julgado do Superior Tribunal de Justiça, resolveram-se as coisas no plano 113 da eficácia. Em sendo assim, é de se extrair do até aqui apresentado e explicitado que, atualmente, nos sistemas de Direito ocidental lastreados pelo dogma do Estado Democrático de Direito, dentre eles o brasileiro, sem sombra de dúvida, há uma proximidade bastante evidente do Código Civil com a Constituição pela consideração da pessoa humana como valor fundamental da ordem jurídica, gerando valores fundamentadores do conjunto normativo. tais quais a justiça social, segurança jurídica, liberdade, igualdade material e dignidade da pessoa humana. É de se perceber que desse elenco de valores fundamentais há uma amálgama de concepções ditas clássicas e outras consideradas de vanguarda, a denotar a interpenetração de valores de ordem pública e de ordem privada. Interpenetração esta que, à luz da Constituição, exige, a partir dela, uma nova leitura dos princípios já conhecidos integrados aos postulados que se achegam. E tal coexistência e integração nada mais significam que, a seu ritmo, o Direito não fica (e não deve ficar) imune à passagem do tempo, inerte e isolado como numa “torre de marfim”, como aduz Maria Helena Diniz: 232 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Poder-se-á dizer que não há norma jurídica que não deva sua origem a um fim, a um motivo prático. O propósito, a finalidade, consiste em produzir na realidade social determinados efeitos que são desejados por serem valiosos, justos, convenientes, adequados à subsistência de uma sociedade. A busca desse fim social será a meta de todo o aplicador do direito. Com isso a teleologia social terá um papel dinâmico e de impulsão normativa. Se assim não fosse, a norma jurídica seria, na bela e exata expressão de Rudolf von Ihering, ‘um fantasma de direito’, uma reunião de palavras vazias. Sem conteúdo substancial esse ‘direito fantasma’, como todas as assombrações, viveria uma vida de mentira, não se realizaria, e a norma jurídica – é ainda o mestre do Gottingen quem diz – foi feita para se realizar. A norma não corresponderia a sua finalidade; seria, no seio da sociedade, elemento de desordem e instrumento de arbítrio. Viveria numa ‘torre de marfim, isolada, à margem das realidades, autossuficiente, procurando em si mesma o seu próprio princípio e o seu próprio fim’. Abstraindo-se do homem e da sociedade, alhear-se-ia de sua própria finalidade e de suas funções, passaria a ser uma pura idéia, criação cerebrina e 114 arbitrária. CONCLUSÃO Sendo da essência do Estado Democrático de Direito o pluralismo político, aquele deve estar amoldado, quanto aos princípios que norteiam seu tecido social e seu sistema jurídico, na própria Constituição, o “fiel” da balança do equilíbrio social – um equilíbrio de forças em tensão –, em prol da concretização do bem comum e do bem existir. Ideais na Lei Fundamental propugnados por meio de postulados e normas sintetizados no valor fonte da dignidade da pessoa humana. E nesse rumo, a fim de trazer essa construção teórica para o instituto do contrato, lançamos mão da perspectiva civil-constitucional para propugnar o influxo da Constituição no direito civil, e, especialmente no direito do contrato. Viés interpretativo que trouxe ao ordenamento civil a superação da perspectiva patrimonialista da relação contratual pelos valores da dignidade da pessoa, da solidariedade social, da igualdade material e do valor social da livre iniciativa – valores existenciais que concretizarão a tão almejada justiça social ou substancial dos contratos. E como não poderia deixar de ser, esses paradigmas existenciais, fundados na dimensão do homem como pessoa (e não mais indivíduo e muito menos súdito) e em sua existência digna, se por um lado trouxeram em seu âmago novos princípios que lhe deram sentido prático quando aplicados à relação contratual – a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o equilíbrio econômico – por outro, não reservou ao limbo da história os consagrados princípios liberais clássicos da autonomia da vontade, da força obrigatória do contrato e da relatividade de seus efeitos. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 233 Embora estes últimos postulados não mais estejam dotados da força absoluta que lhes fora impingida pelo contexto político-social em que foram forjados (século XVIII/ XIX pós-absolutismo), não há como negar sua presença na relação contratual contemporânea, ainda que em tonalidade mitigada, porquanto submetidos a valores existenciais (não voluntaristas e patrimonialistas) edificadores da nova ordem constitucional. A par disso, pugnamos neste artigo pela integração dos princípios clássicos da relação contratual com os denominados novos princípios, a refletir o fenômeno da interpenetração do direito público e do direito privado, aliado à hermenêutica “kelseniana” que exige a aplicação das demais normas à luz da Constituição e não o contrário. É que, conforme nos alerta Gustavo Tepedino: “[...] o Código Civil é o que a ordem pública constitucional permite que possa sê-lo. E a solução interpretativa do 115 caso concreto só se afigura legítima se compatível com a legalidade constitucional” . Em sendo assim, é de se extrair do apresentado para trás que nos sistemas de direito ocidental fundados no dogma do Estado Democrático de Direito, dentre eles o brasileiro, há uma proximidade bastante evidente do Código Civil com a Constituição, vínculo este que se dá pela consideração da pessoa humana como valor fundamental da ordem jurídica, gerando valores fundamentadores do conjunto normativo atual, tais quais a justiça social, segurança jurídica, liberdade, igualdade material e dignidade da pessoa humana. E nessa linha, é desejo dessa nova ordem que a lógica do cada um por si do liberalismo clássico ou o nexo do um por todos e todos por um do dirigismo estatal ceda lugar à ideia do cada um por si e por todos. Nota-se que nesse elenco de valores fundamentais há um combinado de concepções ditas individualistas, de cunho privado, com outras consideradas existenciais, de natureza social, a denotar uma interpenetração de valores de ordem pública e de ordem privada que anunciam a integridade do sistema do Direito, conforme nos apresenta Ronald Dworkin. Essa integridade do direito vai de encontro ao pensamento de que diferentes ideologias produziram partes diferentes do direito, pois o que ocorre não é acréscimo de novos direitos, mas a reinterpretação de todo o ordenamento à luz da Constituição. E por assim ser, não há que se falar em princípios divergentes, em conflito de princípios, mas sim, quando muito, em uma aparente discórdia, em um suposto embate principiológico. Direito como integridade, portanto, quer significar que o direito é uno, e, por isso, todas as normas existentes no ordenamento devem ser interpretadas de maneira a manter a coerência interna que lhe garanta unidade. A validade abstrata e universal de um princípio não ameaça nem afeta a validade abstrata e universal de outro princípio que lhe seja supostamente contrário. Digo “supostamente contrário” porque a integridade do direito, como vimos, contesta a idéia do conflito de princípios a ser resolvido pela técnica da ponderação dos valores, difundida por Robert Alexy. Em sendo assim, não vemos incompatibilidade em interpretar o caso concreto sob o comando de um único princípio dentre todos aqueles abstratamente válidos no direito, aquele que significará a manutenção da coerência e da integridade de todo o sistema – é o que Ronald Dworkin chama de “dimensão da adequação” Por isso destacamos que a decisão judicial exige uma escolha entre princípios aplicáveis no caso; e esta escolha de um dentre outros princípios não retira a validade 234 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 abstrata dos demais, apenas indica qual é o mais adequado às particularidades únicas de uma certa e determinada situação concreta. Trazendo tal constatação para o direito civil, especificamente para o instituto do contrato, quisemos aqui demonstrar que as relações contratuais privadas assumiram fundamentos diversos daqueles que se conciliavam com as perspectivas iluministas do século XVIII, em relação às quais o direito civil teria como escopo a disciplina do indivíduo como ser abstrato, participante de relações jurídicas fundadas em uma igualdade puramente formal. Com o passar do tempo, aquela lógica liberal individualista forjada na liberdade privada de contratar (primazia da vontade) teve que se defrontar com uma nova realidade social, cuja complexidade, assomada às profundas desigualdades sociais verificadas em seu bojo, trouxe ao conteúdo das relações contratuais uma nova perspectiva: a noção de justiça contratual material (primazia da justiça social). E nesse passo, com o escopo de realizar a justiça social, o instituto do contrato (vale dizer, o direito civil) se renova e se adapta à passagem do tempo. Não renega o passado mas o supera. Não se fecha à nova realidade social, mas a reflete. Daí defendermos aqui que a composição principiológica da relação contratual privada de hoje se condensa em um bloco único de princípios numa integração, à luz da Constituição, entre os princípios clássicos e os denominados novos princípios. Dessa maneira, é nosso anseio que tal pensamento jurídico se espraie e repercuta também na consciência jurídica dos aplicadores do direito ao se depararem com casos concretos cuja solução depende do manuseio desse novo arcabouço principiológico. Agindo assim, cremos estarmos a realizar e efetivar finalmente o valor constitucional da justiça social dos contratos. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. AZEVEDO, Damião Alves de. Ao encontro dos princípios: crítica à proporcionalidade como solução dos casos de conflito aparente de normas jurídicas. Texto disponibilizado em março de 2010 nas aulas da disciplina Metodologia Jurídica do curso de pós-graduação Ordem Jurídica e o Ministério Público, ministrado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriosFESMPDFT. BITTAR, Eduardo C. B. Metodologia da pesquisa jurídica: teoria e prática da monografia para os cursos de Direito. São Paulo: Saraiva, 2001. BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. BRASIL, Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 27. ed. Brasília: Centro de Documentação e Informação e Coordenação de Publicações, 2007. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 235 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007. DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. DUVERGER, Maurice. Ciência Política: teoria e método. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1981. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ________________. O império do direito. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. ________________. Uma questão de princípio. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. __________________ (Coordenador). Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. ______________________________________________________. Direitos reais. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2009. FRAGA, Tânia Regina Trombini (Organizadora). Julgamentos e súmulas do STF e STJ. São Paulo: Método, 2009. GALVÃO DE SOUSA, José Pedro; LEMA, Clóvis Garcia; CARVALHO, José Fraga de. Dirigismo in Dicionário de política. São Paulo: T. A. Queiroz, 1998. GOMES, Orlando. Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984. HESSE, Konrad. A Força normativa da constituição. Porto Alegre: S. Antônio Fabris, 1991. HOBBES, Thomas. O Leviatã. Coleção Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1974. HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. 21. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1986. KELSEN, Hans. Teoria pura do Direito. 6. ed. São Paulo: M. Fontes, 2003. KHOURI, Paulo R. Roque A. Direito do Consumidor – contratos, responsabilidade civil e defesa do consumidor em juízo. 3º. ed. São Paulo: Atlas. 2006. LASALLE, Ferdinand. A Essência da Constituição. x ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. MALUF, Sahid. Teoria geral do Estado. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. MÁRIO, Caio. Instituições de Direito Civil. v. III. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V.; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: RT, 2007. 236 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 MARTINS-COSTA, Judith. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. Revista Direito GV. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2005. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26º. Ed. Malheiros: São Paulo, 2008. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO; Inocêncio Martires e GONET BRANCO; Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade. 6. ed. Campinas: Bookseller, 2002. MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. Do espírito das leis. 2. ed. São Paulo: Abril S.A. Cultural e Industrial, 1979, Livro XI, Cap. I a VI. NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. NETTO, Domingos Franciulli; MENDES, Gilmar Ferreira; MARTINS FILHO, Ives Grandra da (Coordenadores). O novo Código Civil: estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale. São Paulo: LTr, 2003. PEREIRA, Caio Mário da. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. Vol. III. _____________________. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 21ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007. Vol. II. POLETTI, Ronaldo Rebello de Brito. A constitucionalização do direito civil. Revista Jurídica Consulex, ano XIII, Brasília: Consulex, 15 de junho 2009, nr. 300. POPPER, Karl. Conjecturas e refutações. Coimbra: Almedina, 2003. RAMOS, Carmem Lúcia Silveira. A constitucionalização do direito privado e a sociedade sem fronteiras in Repensando fundamentos do Direito Civil brasileiro contemporâneo. Coordenador Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. ROCHA, Sílvio Luiz Ferreira da. Função social da propriedade pública. São Paulo: Malheiros, 2005. ROSENVALD Nelson e FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito das Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. ROSSEAU, Jean-Jacques. O Contrato social. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1978. SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. O Tribunal Constitucional como poder: uma nova teoria da divisão dos poderes. São Paulo: Memória Jurídica, 2002. STRECK, Lênio Luiz. A concepção cênica da sala de audiência e o problema dos paradoxos. Disponível em: <www.leniostreck.com.br>. Acesso em:01.08.2009. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. Disponível em: <www.stj.jus.br/SCON/ jurisprudencia/doc>. Acesso em 04.05.2010. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br>. Acesso em: 10.03.2010. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 237 TEPEDINO, Gustavo; FACHIN, Luis Edson (coordenadores). O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Renovar: RJ, 2008. TEPEDINO, Gustavo. Problemas do direito civil-constitucional. 1. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. __________________. Temas de direito civil. Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. __________________. Temas de direito civil. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. __________________(Coordenador).Obrigações: estudos na perspectiva civilconstitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. THEODORO JR., Humberto Theodoro. O Contrato e seus Princípios. Rio de Janeiro: Aide, 1993. VENOSA, Sílvio de Salvo. Teoria geral das obrigações e teoria geral dos contratos. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004. WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. In: COHN, Gabriel (org.). Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1989. Notas 1 Apud NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 8. O Iluminismo consiste em uma corrente filosófica da Escola Jusnaturalista cuja idéia central tem o homem como ser dotado de direitos inatos que precedem o Estado e a comunidade política, e que têm de ser respeitados e garantidos pelo Poder Público. Como pensamento político tem o Iluminismo preocupação com a racionalização e fundamentação da legitimidade do poder estatal, o que se buscou por meio das teorias do contrato social e do constitucionalismo. É o marco filosófico do liberalismo político (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 2006, p. 6 a 9). 3 Para elencar os princípios contratuais contemporâneos lançamos mão da classificação de Antonio Junqueira de Azevedo citado por Teresa Negreiros (in Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 29 e 105-114). 4 Entenda-se por liberdade situada “a liberdade que se exerce na vida comunitária” (MARTINS-COSTA, Judith. Revista Direito GV. Reflexões sobre o princípio da função social dos contratos. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2005, p. 43), ou seja, o indivíduo situado no conjunto de suas circunstâncias, fato que implica na visão concreta das relações jurídicas forjadas do convívio em sociedade. 5 O mecanismo de ponderação de valores aqui mencionado, diz respeito à teoria elaborada por Robert Alexy quanto à adoção do princípio da proporcionalidade para a solução dos casos de conflito entre normas jurídicas dadas como divergentes, abrindo caminho para a aplicação simultânea e proporcional de diferentes princípios jurídicos em um mesmo caso concreto através do método da ponderação de valores. 6 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Martires e GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 48. 7 Importante conhecer do alerta que faz Gustavo Tepedino sobre a compreensão que se deve dar à terminologia “Constitucionalização do Direito Civil” (in Temas de Direito Civil. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 22 e 23), “A adjetivação atribuída ao direito civil, que se diz constitucionalizado, socializado, despatrimonializado, se por um lado quer demonstrar, apenas e tão-somente, a necessidade de sua inserção no tecido normativo constitucional e na ordem pública sistematicamente considerada, preservando, evidentemente, a sua autonomia dogmática e conceitual, por outro lado poderia parecer desnecessária e até errônea. Se é o próprio direito civil que se altera, para que adjetiva-lo? Por que não apenas ter a coragem de alterar a dogmática, pura e simplesmente? Afinal, um direito civil adjetivado poderia suscitar a impressão de que ele próprio continua como antes, servindo os adjetivos para colorir, como elementos externos, categorias que, ao contrário do que se pretende, permaneceriam imutáveis. [...] Há de se advertir, no entanto, desde logo, que os adjetivos não poderão significar a superposição de elementos exógenos do 2 238 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 direito público sobre conceitos estratificados, mas uma interpenetração do direito público e privado, de tal maneira a se reelaborar a dogmática do direito civil. Trata-se, em uma palavra, de estabelecer novos parâmetros para a definição de ordem pública, relendo o direito civil à luz da Constituição, de maneira a privilegiar, insista-se ainda uma vez, os valores não-patrimoniais e, em particular, a dignidade da pessoa humana, o desenvolvimento da sua personalidade, os direitos sociais e a justiça distributiva, para cujo atendimento deve se voltar a iniciativa econômica privada e as situações jurídicas patrimoniais”. 8 FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 59 9 Registra-se que o Código Alemão de 1896 imprime um traço distinto no contrato, considerando pertencer a uma categoria mais geral, sendo, pois, uma subespécie da espécie maior que é o negócio jurídico. Decorre daí o fato de que o contrato por si só não transfere a propriedade – “é veículo de transferência, mas não a opera” (in VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 377). Como se vê, este sistema foi adotado em nosso ordenamento, tanto no Código Civil de 1916 quanto no atual (artigos 620 e 1.267 respectivamente). Sobre o nascimento e evolução histórica do Código Civil brasileiro e a forte influência do direito romano, veja MOREIRA ALVES, José Carlos. O direito romano e o direito civil brasileiro in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 143 a 154. 10 O consensualismo é um aspecto do contrato originário relacionado com a concordância de vontades em direção à produção de determinado efeito jurídico. Em seu âmbito se encontra a declaração de vontade, que é o instrumento da manifestação de vontade. Sem ela (a declaração de vontade) o ato ou negócio jurídico, e, por conseguinte, o contrato, simplesmente não existe (comentários elaborados a partir de BARBOZA, Heloisa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 412). 11 Caio Mário da Silva Pereira anota que o Direito medieval, apegado ao poder da Igreja, equiparou a falta de execução da obrigação contida no contrato à “mentira” (in Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 21ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 12, Vol. II). Decorre daí o princípio do pacta sunt servanda, como respeito à palavra dada e aos compromissos advindos dela. 12 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 25. 13 “Autonomia: autos, ‘por si mesmo’ + nomos, lei, norma, convenção” (definição extraída do comento de Heloisa Helena Barboza in Reflexões sobre a autonomia negocial in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 408). Segundo esta autora, o significado da expressão remonta à Grécia antiga, referindo-se “à coletividade, ao seu poder autárquico, capacidade de a polis grega instituir os meios de seus poderes legítimos e de fazê-los respeitados pelos cidadãos”. Apenas a partir do humanismo individualista do século XVIII é que a terminologia autonomia passou a ser utilizada em relação aos indivíduos. 14 COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 25. 15 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: teoria geral das obrigações. 21ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 15, Vol. II . 16 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2009, p. 165. 17 Ibidem, p. 165 e 166. 18 Para Pietro Perlingieri (Apud BARBOZA, Heloisa Helena. Reflexões sobre a autonomia negocial in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 409), “a definição de liberdade é influenciada de modo decisivo pelo contexto cultural, antropológico e ideológico e pela concepção previamente acolhida pelo direito”. Na cena política do Estado liberal clássico liberdade quer significar, em síntese, conforme, ainda, aquele autor, “a limitação da soberania do Estado nos confrontos com o indivíduo, ao qual são conferidos direitos, tais quais: liberdade de pensar, de circular, de associar-se” e a liberdade de contratar, acrescentamos. 19 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Op. Cit., p. 166. 20 Artigo 524: “A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que, injustamente, os possua”. 21 PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 167. Vol. III. 22 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 6ª. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2009, p. 167. 23 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 108. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 239 24 PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Op. Cit. p. 7. Vol. III. Ibidem, p. 7. Foi com a Lex Poetelia Papiria, de 428 a.C. que se aboliu a execução da obrigação sobre a pessoa do devedor, projetando-se a responsabilidade sobre seu patrimônio. 27 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2.ed.Rio de Janeiro:Renovar, 2006, p. 4 e 5. 28 MARTINS-COSTA, Judith. O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista in O novo Código Civil: estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale. Coordenadores: Domingos Franciulli Netto; Gilmar Ferreira Mendes; Ives Grandra da Silva Martins Filho. São Paulo: LTr, 2003, p. 332-335). 29 PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 21-25. Vol. III. 30 É certo, porém, que hodiernamente, esta prerrogativa não vigora mais em sua plenitude, como em tempos passados. O Código do Consumidor, em seu artigo 39 II e IX-A, é exemplo típico da mitigação desse corolário do princípio da liberdade de contratar, quando dispõe que o fornecedor de produtos e serviços não pode recusar o atendimento de demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque, ressalvados os casos regulados em leis especiais (Ibidem, p. 22.). 31 Outrossim, percebe Caio Mário da Silva Pereira (Ibidem, p. 22 e 24), que esse postulado também não é absoluto, haja vista que podem existir situações em que não há essa opção de escolha, a exemplo de serviços públicos concedidos sob regime de monopólio. 32 Segundo destaca Clóvis de Couto e Silva (COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 26-32), essa declaração “livre” de vontade, sofre duas restrições determinantes para o negócio jurídico que se pretende: a) a restrição à autonomia da vontade no momento da conclusão do negócio; b) restrição à autonomia da vontade para o regramento das cláusulas contratuais. A primeira restrição está relacionada com a faculdade de cada um decidir se quer e com quem quer realizar o negócio. A segunda, é a própria liberdade de dar conteúdo ao negócio jurídico. 33 Nesta linha, admite o Código Civil de 2002 em seu artigo 425 que é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais ali fixadas. Aqui o Codex faz uma separação entre contratos chamados típicos, aqueles cujas regras são expostas e desenvolvidas no próprio código e em leis extravagantes, e os atípicos, aquele que dizem respeito a novas relações jurídicas não especificadas na legislação do país. 34 PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 27. Vol. III. 35 COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 28. 36 Ibidem, p. 30 e 31. 37 Previstos nos artigos 423 e 424 do Código Civil de 2002. 38 COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 31. 39 PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 27. Vol. III. Como exemplo do exposto: artigo 6º. inciso V do CDC que se refere ao instituto da lesão. 40 Ibidem, p. 27. Nessa questão se situa o que se denominou de a teoria da imprevisão, regulada pelos artigos 478 a 480 do Código Civil de 2002 que trata da onerosidade excessiva. 41 COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 31. 42 Apud PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 29, Vol. III. 43 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2.ed.Rio de Janeiro:Renovar, 2006, p. 106-114. 44 MARTINS-COSTA, Judith. O adimplemento e o inadimplemento das obrigações no novo Código Civil e o seu sentido ético e solidarista in O novo Código Civil: estudos em homenagem ao Prof. Miguel Reale. Coordenadores: Domingos Franciulli Netto; Gilmar Ferreira Mendes; Ives Grandra da Silva Martins Filho. São Paulo: LTr, 2003, p. 345-347. 45 PEREIRA, Cáio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 14. Vol. III. 46 GOMES, Orlando. Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 38. 47 Aduz Orlando Gomes que o princípio da força obrigatória dos contratos continua vigorando com sua essência preservada, ainda que sofra atenuações, visto que decorrentes de sensíveis modificações no pensamento jurídico e não de suposta alteração radical nas bases do Direito dos contratos (Op. Cit., p. 39). Silvio de Salvo Venosa, por sua vez, embora comungue com o entendimento de que este princípio vigora ainda hoje, expressa que as atenuações legais a ele incidentes alteram em parte sua substância (in 25 26 240 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações e Teoria Geral dos Contratos. 4ª. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 390). GOMES, Orlando. Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 39 e 40. De acordo este autor, “A cláusula rebus sic standibus enuncia que para se conservar a eficiência da força obrigatória do contrato, havia de se subentender que não deveria ser alterado o estado de fato existente no momento da formação do contrato”. Cita, ainda, este jurista, como marco decisivo para a evolução do pensamento jurídico relacionado a este princípio a Lei francesa Failliot, de 21 de maio de 1918, a qual dispunha que “os contratos mercantis estipulados antes de 1º. de agosto de 1914, cuja execução se prolongasse no tempo, poderiam ser resolvidos se, em virtude do estado de guerra, o cumprimento das obrigações por parte de qualquer contratante lhe causasse prejuízos cujo montante excedesse de muito a previsão que pudesse ser feita, razoavelmente, ao tempo de sua celebração”. Em referência à cláusula rebus sic standibus, a jurisprudência do STJ vem considerando ser possível a resilição unilateral do compromisso de compra e venda por iniciativa do promitente comprador se ele não reúne mais as condições econômicas de suportar o pagamento das prestações (no caso dos autos, o adquirente do imóvel apresentava problemas de saúde e financeiro), ensejando retenções pelo promitente vendedor de parte das parcelas pagas para compensá-lo pelos custos operacionais da contratação (FRAGA, Tânia Regina Trombini (organizadora). Julgamentos e súmulas do STF e STJ. São Paulo: Método, 2009, p. 726) (grifo nosso). 49 Segundo Orlando Gomes, por não bastar a alteração do estado de fato no momento da formação do vínculo, sendo preciso algo mais que justifique a quebra da fé jurada, a impossibilidade de se prever tal mudança de estado veio a ser considerada condição indispensável à modificação do conteúdo do contrato pela autoridade judicial, estruturando-se em torno dessa condição a denominada teoria da imprevisão (Op. Cit., p. 40). Nesse sentido a jurisprudência assente em ambas as Turmas da Segunda Seção do STJ nos precedentes REsp 803.481/GO, de 01.08.2007; REsp 722.130/GO, de 20.02.2006; REsp 800.286/GO, de 18.06.2007 e REsp 679.086/GO, de 10.06.2008 (FRANGA, Tânia Regina Trombini (organizadora). Op. Cit., p. 727). 50 Reportando-se aos efeitos internos do contrato, Orlando Gomes (in Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 43) alerta para a necessária distinção entre a existência do contrato, a qual, na qualidade de fato, não pode ser indiferente a terceiros, dos seus efeitos internos, que dizem respeito a direitos e obrigações decorrentes do ora pactuado, que devem se limitar às esferas jurídicas dos contratantes. 51 Ibidem, p. 44. Aspecto importante que nos traz Orlando Gomes é o que se refere à não restrição da relatividade dos efeitos do contrato aos sujeitos da relação contratual, também alcançando seu objeto: “o contrato tem efeito apenas a respeito das coisas que caracterizam a prestação”. Para este autor os vícios redibitórios e da evicção e suas conseqüências estão relacionadas com o alcance deste princípio (mais detalhes, confira o capítulo 6º. nrs. 68 a 72 da obra aqui referida). 52 Importante já aqui ressaltar que o contrato em favor de terceiro (artigos 436 e 438 do Código Civil de 2002), o contrato de prestação de fato de terceiro (artigos 439 e 440 do Código Civil atual) e o contrato com pessoa a declarar (artigos 467 a 471 do novo Código) não são exceções ao princípio da relatividade dos pactos, no sentido que estamos a dar às mitigações desse princípio neste trabalho, relacionadas com uma releitura do postulado à luz da Constituição; consistem, isto sim, em verdadeiros contratos. Como referência sobre o assunto: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 105 a 120. Vol. III 53 GOMES, Orlando. Op. Cit.,p. 44. 54 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 52. 55 Ibidem, p. 54. 56 Nesse sentido a disposição do artigo 608 do Código Civil de 2002. Na jurisprudência temos o caso emblemático do cantor Zeca Pagodinho que foi convidado por uma cervejaria para romper contrato que mantinha com outra. O TJSP asseverou que “ainda que a AMBEV não tenha sido signatária do contrato entre o cantor e a Schincariol, sua conduta, ao deixar de observar o pacto de exclusividade nele contido, é potencialmente apta a gerar dano indenizável” (Ibidem, p. 55). Outro exemplo é a Súmula 308 STJ. 57 Ibidem, p. 52. Nesse sentido o artigo 456 do Código Civil de 2002 que permite a denunciação da lide pelo evicto para alcançar o alienante imediato ou qualquer dos anteriores – agora o adquirente lesado pode obter ressarcimento contra qualquer um dos componentes da cadeia dominial, mesmo que não seja parte naquelas relações jurídicas, na qualidade de terceiro ofendido. 58 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26º. Ed. Malheiros: São Paulo, p. 488. 59 Ibidem, p. 487. 48 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 241 60 WALD, Arnoldo. O interesse social no direito privado in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 78 e 79. FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p.28-38. 62 A idéia da noção dinâmica da relação obrigacional foi introduzida no Brasil por Clóvis de Couto e Silva, para quem o adimplemento desempenha um papel fundamental na relação negocial, distinto da função de mero modo de extinção das obrigações (in A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 5.). 63 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 2006, p. 197220. 64 FARIAS, Cristiano Chaves de e ROSENVALD, Nelson. . Direito das Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 20 e 21. 65 São cláusulas gerais as formulações legislativas genéricas positivadas sem prescrever a repercussão pelo seu descumprimento. Formulações legislativas cujo sentido e alcance são vagos e abstratos a ponto de deixar para o juiz a densificação do conteúdo normativo destas formulações. Entrada de valores éticos na legislação (meio caminho entre a regra e um princípio). O juiz tem liberdade para apresentar a repercussão pelo descumprimento do preceito geral. Exemplos: propriedade imobiliária (artigo 1.228 parágrafos 4º. e 5º. do Código Civil de 2002); previsão da boa-fé sem determinar a repercussão se descumprido este preceito (artigo 113 do novo Código Civil). São conceitos legais indeterminados: formulações legislativas positivadas vagas e abstratas com previsão de repercussão pelo seu descumprimento – Exemplo: abuso de direito (artigo 187 do atual Código Civil). 66 ANDRIGHI, Fátima Nancy. Do contrato de depósito in O novo Código Civil: estudos em homenagem ao professor Miguel Reale. Coordenadores: Domingos Franciulli Netto; Gilmar Ferreira Mendes; Ives Grandra da Silva Martins Filho. São Paulo: LTr, 2003, p. 567. 67 A caracterização de um ordenamento jurídico como um sistema aberto diz respeito à assimilação em seu âmbito da previsão de cláusulas gerais e de conceitos indeterminados – exemplos: artigos 11, 113, 187, 421, 422,o 884, 927, 1.228 e 1.511 do Código Civil de 2002. 68 Artigo 1 . do novo Código Civil: “Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil” (grifo nosso). 69 COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 32. 70 GOMES, Orlando. Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 43. 71 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A boa-fé objetiva no Código de Defesa do Consumidor e no novo Código Civil in Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Gustavo Tepedino (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 29. Na legislação aparece tanto no Código Civil de 1916 (artigos 112, 221, 255, 490, 491, etc. ) quanto no Código atual (artigos 1.201, 1.242, 1.219 e 1.255). 72 GOMES, Orlando. Op. Cit., p. 43. Nessa direção caminha a jurisprudência da 3ª. Turma do STJ, REsp 981.750/MG, julgado em 13.04.2010, Relatora Min. Nancy Andrighi: “[...] A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal. Não tendo o comprador agido de forma contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de violador da boa-fé objetiva” (Disponível em: <www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/ doc>. Acesso em 04.02.2011) (grifo nosso). 73 COUTO E SILVA, Clóvis. Op. Cit., p. 32 e 33. 74 COUTO E SILVA, Clóvis de. A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 33. 75 O que não impediu que a boa-fé fosse aplicada em nosso direito das obrigações, “[...] já que de regra de conduta se trata”, de acordo Couto e Silva ( Op. Cit. p. 33). 76 Ilustra a incorporação pelos nossos tribunais superiores da expressão “deveres anexos” o julgado da 3ª. Turma no Resp 595.631/SC, de 08.06.2004, Relatora Min. Nancy Andrighi: “[...] O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio. O dever anexo de cooperação pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual. A violação a qualquer dos deveres anexos implica em inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado causa [...]” (Disponível em <www.stj.jus.br/SCON/ jurisprudencia/doc> . Acesso em: 04.02.2011 (grifo nosso). 77 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Obrigações. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 63. 78 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 117. 79 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 395 e 396. Sobre esta questão específica da função econômico-social do contrato ver Orlando Gomes (in Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 22 a 24). 61 242 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 80 Nesse sentido o artigo 413 do Código Civil de 2002 (função social da cláusula penal – redução da cláusula penal de ofício pelo juiz se a obrigação for cumprida em parte ou abusivamente, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, porque, se assim for, a cláusula estará extrapolando sua função) e Súmula 302 STJ (“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”). Parece comungar com essa dupla eficácia da função social do contrato decisão da 4ª. Turma do STJ no REsp 1127247/DF, julgado em 04.03.2010, Relator Min. Luis Felipe Salomão: “[...] 2. A cláusula contratual que estipula o pagamento de multa caso o contratante empregue um dos ex-funcionários ou representantes da contratada durante a vigência do acordo ou após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua extinção, não implica em violação ao princípio da função social do contrato, pois não estabelece desequilíbrio social e, tampouco, impede o acesso dos indivíduos a ele vinculados, seja diretamente, seja indiretamente, ao trabalho ou ao desenvolvimento pessoal” (Disponível em: <www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/ doc>. Acesso em 04.02.2011. (grifo nosso). 81 TEPEDINO, Gustavo. Notas sobre a função social dos contratos in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 396- 399. 82 Posição assumida por Humberto Theodoro Júnior, conforme Gustavo Tepedino (Op. Cit., p. 396 e 397). 83 Posição defendida por Gustavo Tepedino (Op. Cit., p. 398 e 399). Os princípios citados constam, respectivamente, dos artigos 1º. Inciso III e IV; 3º. Inciso III e I da Constituição Federal de 1988. 84 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 231. 85 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 231. 86 Apud NEGREIROS, Teresa. Op. Cit., p. 157. 87 A lesão (cláusulas abusivas) é apurada na desproporção clara e anormal das prestações, quando um dos contratantes aufere ou tem possibilidade de auferir do contrato um lucro demasiadamente maior que a contraprestação a ele incumbida, aproveitando-se das condições de inexperiência ou do estado de necessidade do outro contratante no momento de contratar (SALLES, Raquel Bellini de Oliveira. O desequilíbrio da relação obrigacional e a revisão dos contratos no Código de Defesa do Consumidor: para um Cotejo com o Código Civil in Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Gustavo Tepedino (coordenador). Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 317). Não sendo possível a restauração do equilíbrio da relação contratual, é possível a resolução do contrato (anulabilidade) (artigo 157 parágrafo 1º. primeira parte do Código Civil de 2002), ou até mesmo a revisão do contrato (artigo 157 parágrafo 1º. segunda parte do atual Código Civil) e sua nulidade de pleno direito (artigos 6º. inciso V primeira parte; 39 inciso V; 51 inciso IV todos do CDC) 88 Há onerosidade excessiva quando uma obrigação contratual torna-se no momento da execução bem mais gravosa do que era no momento em que surgiu – alteração superveniente nas circunstâncias que rodeia o contrato (GOMES, Orlando. Contratos. 10ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 139). Não sendo possível a recuperação do equilíbrio da relação contratual o ordenamento admite a possibilidade de resolução do contrato (artigo 478 do Código Civil de 2002 e artigo 51 parágrafo 2º. do CDC), da revisão contratual (artigos 479 e 480 do atual Código Civil e artigo 6º. inciso V segunda parte do CDC) e da revisão judicial (artigo 317 do novo Código Civil e artigo 6º. inciso V do CDC). 89 NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 159. 90 NEGREIROS, Teresa. Op. Cit., p. 160. 91 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 36. 92 DWORKIN, Ronald . Levando os direitos a sério. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 35 a 46. 93 Apud ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 3ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 28-31. 94 Ibidem, 2004, p. 29. 95 Representam esse entendimento: a própria Teresa Negreiros (Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p, 111); Caio Mário (Instituições de direito civil: contratos. 12º. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 14. Vol. III); Ronaldo Rebello de Brito Poletti (A constitucionalização do direito civil in Revista Jurídica Consulex, ano XIII, Brasília: Consulex, 15 de junho 2009, p. 9, nr. 300); Antonio Junqueira de Azevedo (citado por Teresa Negreiros, Op. Cit., p. 111), dentre outros. Segundo assinala Caio Mário “a função social do contrato é um princípio moderno que vem a se agregar aos princípios clássicos do contrato [...]. Como princípio novo ele não se limita a se justapor aos demais, antes pelo contrário vem desafiá-los e em certas situações impedir que prevaleçam, diante do interesse social maior” (Op. Cit., p. 14) Revista da Escola da Magistratura - nº 13 243 96 NEGREIROS, Teresa. Op. Cit., p. 30 e 31. Apud NEGREIROS, Teresa. Teoria do contrato: novos paradigmas. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 40 e 41. 98 Inovando e considerando a existência hoje em dia de dois blocos distintos de princípios – os tradicionais e os contemporâneos –, Teresa Negreiros propõe, na solução de eventual conflito entre eles, o que denomina de o “paradigma da essencialidade” como critério de distinção dos contratos à luz das diferentes funções que desempenham em relação às necessidades existenciais do contratante (Ibidem, p. 68; 31-41). 99 A ilustrar o exposto neste parágrafo, notadamente quanto à mitigação do princípio da autonomia da vontade e da relatividade dos efeitos dos contratos e à relevância da aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, o julgado do STJ REsp 468.062/CE, 2ª. Turma, Rel. Mini. Humberto Martins, julgado em 11.11.2008 – Informativo 376 (in Julgamentos e súmulas do STF e STJ. Organizadora Tânia Regina Trombini Fraga. São Paulo: Método, 2009, p. 756): por unanimidade a 2ª. Turma conheceu em parte do recurso da CEF e, nessa parte, negou-lhe provimento, para admitir que negócios entre as partes, eventualmente, podem interferir (positiva ou negativamente) na esfera jurídica de terceiros, isso com base na doutrina do terceiro cúmplice, na proteção do terceiro diante dos contratos que lhe são prejudiciais ou mesmo pela tutela externa do crédito (grifei). No caso, um agente financeiro vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) firmou contrato de cessão de direitos de crédito com a CEF após o adimplemento da obrigação pelos cessionários junto ao agente financeiro do SFH. Assim, o posterior negócio entre a CEF e este agente não tem força para dilatar sua eficácia e atingir os devedores adimplentes. Aplicou-se no caso, por analogia, a Súmula 308 do STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 100 Apud POPPER, Karl. Conjecturas e refutações. Coimbra: Almedina, 2003, p. 419. 101 Apud KHOURI, Paulo R. Roque A. Direito do Consumidor: Contratos, Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em Juízo. 3ª. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 31. 102 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 230. 103 Comentários e trechos extraídos a partir do texto Ao encontro dos princípios: crítica à proporcionalidade como solução dos casos de conflito aparente de normas jurídicas, de autoria do professor Damião Alves de Azevedo, disponibilizado em março de 2010 nas aulas da disciplina Metodologia Jurídica do curso de pós-graduação Ordem Jurídica da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios-FESMPDFT, p. 14. 104 Ibidem, p. 14. 105 Nos informa Clóvis de Couto e Silva (in A obrigação como processo. Rio de Janeiro: FVG, 2007, p. 25) que “Não há separação tão rigorosa, no Estado moderno, entre Estado e sociedade, pois ambas as esferas, a pública e a privada, se conjugam, se coordenam, se interpenetram e se completam”. 106 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 4ª. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 20. 107 Comentários e trechos extraídos a partir do texto Ao encontro dos princípios: crítica à proporcionalidade como solução dos casos de conflito aparente de normas jurídicas, de autoria do professor Damião Alves de Azevedo, disponibilizado em março de 2010 nas aulas da disciplina Metodologia Jurídica do curso de pós-graduação Ordem Jurídica da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios-FESMPDFT, p. 14. 108 Ibidem, p. 16. 109 Ibidem, p. 16. 110 DWORKIN, Ronald. O império do direito. 2ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 277. 111 Ibidem, p. 20 a 25. Importante esclarecer que o caso trazido por Dworkin não trata diretamente de aplicação de princípios, mas sim da forma que os tribunais americanos tratavam de interpretar e resolver divergências de Direito. Aqui, apenas utilizamos o caso Elmer em sua descrição fática e jurídica. A questão principiológica envolvida e os comentários à solução implementada sob à luz de princípios eventualmente presentes no caso é de nossa inteira responsabilidade. 112 Artigo 1.488. “Se o imóvel, dado em garantia hipotecária, vier a ser loteado, ou se nele se constituir condomínio edilício, poderá o ônus ser dividido, gravando cada lote ou unidade autônoma, se o requererem ao juiz o credor, o devedor ou os donos, obedecida a proporção entre o valor de cada um deles e o crédito”. 113 CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. A função social dos contratos e dos direitos reais e o art. 2035 do Código Civil brasileiro: um acórdão do Superior Tribunal de Justiça in O direito e o tempo: embates jurídicos e utopias contemporâneas. Coord. Gustavo Tepedino e Luis Edson Fachin. Renovar: RJ, 2008, p. 365. 114 DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao Código Civil brasileiro interpretada. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 166. 115 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Tomo III. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 4. 97 —— • —— 244 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 O Alcance da Autonomia Universitária à Luz do Artigo 207 da Constituição Federal de 1988 Jaquelline Santos Silva Ex-aluna da Escola de Magistratura do Distrito Federal Resumo H aja vista as divergências em torno do alcance da autonomia universitária, há que se analisar com mais vagar seu conteúdo à luz do artigo 207 da Constituição Federal, notadamente quando se observa que a solução desse problema é essencial para o exame de questões que hoje inquietam a sociedade nacional, como é o caso da política de cotas nas universidades para estudantes afrodescendentes ou provenientes de escolas públicas ou o caso da transferência ex officio de servidores públicos ou militares entre instituições de ensino não congêneres. A presente pesquisa jurídica classifica-se como operatória, segundo a distribuição de Paul Amselek. O método de procedimento utilizado consiste em monografia dogmática e as técnicas de pesquisa usadas foram a bibliográfica e a documental. Palavras-chave: autonomia universitária; alcance; Constituição Federal. Introdução Ante a celeuma entre doutrina e jurisprudência acerca da dimensão da autonomia universitária, notadamente quando se observa que a solução dessa questão é essencial para o exame de questões que hoje inquietam a sociedade nacional (como é o caso da política de cotas nas universidades para estudantes afrodescendentes ou provenientes de escolas públicas ou o caso da transferência ex officio de servidores públicos ou militares entre instituições de ensino não congêneres) uma pergunta continua a ressoar e a assombrar a todos os interessados direta ou indiretamente no tema: Revista da Escola da Magistratura - nº 13 245 A inserção constitucional desse valor no artigo 207 da Constituição Federal promoveu sua intangibilidade ante a legislação hierarquicamente inferior? De fato, a resposta não é tão simples. A formação dos parâmetros para a correta aplicação do aludido dispositivo partirá da análise da legislação constitucional e infraconstitucional, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, bem como da doutrina nacional imediatamente conexa com o problema ora formulado. Não é outro, portanto, o objetivo do presente trabalho. 1. Breve levantamento da legislação referente ao problema Antes mesmo da atual Constituição Federal, a autonomia universitária já se encontrava prevista na Lei n. 5.540, de 28 de novembro de 1968, a qual preconizava em seu artigo 3º que “as universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, 1 administrativa e financeira, que será exercida na forma da lei e dos seus estatutos”. Veio mais tarde o Texto Constitucional de 1988, que em seu artigo 207 cuidou da referida autonomia: “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. o § 1 É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei. o § 2 O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.” Por sua vez, a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou Lei Darcy Ribeiro, ou simplesmente LDB) – também cuidou 2 do tema, nos artigos 53, 54, 55 e 56, in verbis: “Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; 246 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; II - ampliação e diminuição de vagas; III - elaboração da programação dos cursos; IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; V - contratação e dispensa de professores; VI - planos de carreira docente. Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. § 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes; III - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo Poder mantenedor; IV - elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais; V - adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e funcionamento; VI - realizar operações de crédito ou de financiamento, com aprovação do Poder competente, para aquisição de bens imóveis, instalações e equipamentos; VII - efetuar transferências, quitações e tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira e patrimonial necessárias ao seu bom desempenho. § 2º Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a Revista da Escola da Magistratura - nº 13 247 pesquisa, com base em avaliação realizada pelo Poder Público. Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Art. 56. As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimen3 tais, bem como da escolha de dirigentes.” Com efeito, ante os sucessivos diplomas normativos sobre a matéria, é de se questionar se a autonomia universitária conquistou um conteúdo diverso daquele disciplinado pela Lei n. 5.540/68, vale dispor, se houve tão somente a concessão de um novo status ao preceito infraconstitucional ou a fixação de uma independência, distinta de um mero exercício limitado de competências e poderes no marco do ordenamento. E não é porque o Pretório Excelso tenha fixado, por meio da ADI n. 51, que as universidades não possuem a autonomia política que lhes confere poder normativo derivado 4 diretamente da Constituição, que o debate cessou. Ora, a conclusão na referida ação encerra apenas o debate formal. É imprescindível um exame com mais vagar sobre o presente tema e suas nuances, sobretudo quando se constata divergência acerca da questão entre doutrina e jurisprudência. 2. A posição do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a respeito da questão 2.1. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Na Corte Superior de Justiça, não obstante a atribuição de um status constitucional à autonomia da universidade, o entendimento sobre o alcance de tal prerrogativa pacificou-se no sentido de que essa não confere poder normativo primário à aludida entidade. 2.1.1. Terceira Seção Na Terceira Seção do tribunal, firmou-se que universidade pública federal, em razão de sua natureza autárquica, possui autonomia jurídica, administrativa e financeira para proceder às nomeações, aos comandos de pagamento de salários, benefícios previdenciários e descontos de seus servidores. Contudo, no exercício dessa prerrogativa 248 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 deve observar, não somente a Constituição, mas as leis e a disponibilidade orçamentária. Nesse sentido, bem ilustra a seguinte ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR. ATO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. APLICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 9394/96 REGULAMENTADA PELO DECRETO 2798/98. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA O PROVIMENTO. 1. Consoante jurisprudência que vem se firmando no STJ, as Universidades Públicas possuem autonomia suficiente para gerir seu pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro, sendo que o exercício dessa autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao quanto dispõem a Constituição e as Leis. 5 2. Agravo regimental a que se nega o provimento. E ainda: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXTENSÃO ADMINISTRATIVA POR REITOR DE UNIVERSIDADE DO PAGAMENTO DO IPC DE MARÇO DE 1990 (84,32% - PLANO COLLOR), TENDO EM VISTA DECISÃO JUDICIAL QUE BENEFICIOU PARTE DOS SERVIDORES - RETENÇÃO DE VERBAS PELO MEC - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - ART. 207, CF/88. 1. O princípio da autonomia universitária, anteriormente consagrado em lei ordinária, foi erigido a (sic) “estatus” constitucional, consoante se infere da dicção do art. 207, da Carta Magna. Não obstante, a noção de autonomia universitária não deve ser confundida com a de total independência, na medida em que supõe o exercício de competência limitada às prescrições do ordenamento jurídico, impondo-se concluir que a universidade não se tornou, só por efeito do primado da autonomia, um ente absoluto, dotado da mais completa soberania, cabendo relembrar que a própria Lei nº 5.540/68, ao estabelecer em seu art. 3º, que as universidades gozarão de autonomia didático-científica, disciplinar, administrativa e financeira, reafirma que tais prerrogativas serão exercidas “na forma da lei”. 2. Sendo a universidade um ente integrante da Administração Pública, está obrigatoriamente vinculada à observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, assim como ao disposto no art. 167, II, da Constituição Federal, que afirma Revista da Escola da Magistratura - nº 13 249 a vedação da “realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais.” 3. Assim, não pode o seu Reitor, estender administrativamente a integração de expurgo inflacionário aos vencimentos de servidores não contemplados por decisão judicial, sem que haja previsão orçamentária para tanto, principalmente, como no caso concreto, em que a orientação jurisprudencial se firmou no sentido de não ser cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%; de conseguinte, o Sr. Ministro de Estado, ao reter o repasse de verbas destinadas ao aludido pagamento, não violou o disposto no art. 207 do Texto Constitucional, alusivo à autonomia universitária, vez que o ato apontado coator, dadas as peculiaridades do caso vertente, deu-se, em verdade, na defesa do interesse público. 4. De outro lado, em casos que tais, não há se falar em aplicação do princípio da isonomia, na medida em que o descompasso salarial decorre do cumprimento de decisão judicial. 6 5. Segurança denegada. Não é demais trazer à baila este julgado em que a Quinta Turma declarou a legalidade da anulação de certame realizado para o preenchimento de cargos em hospital universitário estadual em face da inobservância de reserva de vagas aos afrodescendentes e aos portadores de necessidades especiais exigida por lei local: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME. DESCUMPRIMENTO DE LEI ESTADUAL. RESERVA DE VAGAS PARA AFRODESCENDENTES. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA SOBREPOR-SE À LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A reparação ou compensação dos fatores de desigualdade factual com medidas de superioridade jurídica constitui política de ação afirmativa que se inscreve nos quadros da sociedade fraterna que se lê desde o preâmbulo da Constituição de 1988. 2. A Lei Estadual que prevê a reserva de vagas para afrodescendentes em concurso público está de acordo com a ordem constitucional vigente. 3. As Universidades Públicas possuem autonomia suficiente para gerir seu pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro. O exercício dessa autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao quanto dispõem a Constituição e as Leis. 4. A existência de outras ilegalidades no certame justifica, in casu, a anulação do concurso, restando prejudicada a alegação de que as vagas reservadas a afrodescendentes sequer foram ocupadas. 7 Recurso desprovido. 250 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 2.1.2. Primeira Seção Na mesma linha de raciocínio, a Primeira Seção do referido tribunal sedimentou que a universidade não tem competência para autorizar, reconhecer e credenciar curso de nível superior, porque o art. 53 deve ser lido em conjunto com o art. 9º, inciso IX, da Lei de Diretrizes e Bases, o qual estabelece a competência da União para autorizar, reconhecer e credenciar cursos superiores e, especificamente para os cursos da área de saúde, exige-se a manifestação do Conselho Nacional de Saúde (Decreto n. 2.207/97), da mesma forma que se exige a manifestação da Ordem dos Advogados para a criação de cursos na área jurídica. A esse respeito, leiam-se os precedentes abaixo: ADMINISTRATIVO – ENSINO SUPERIOR – CURSO DE MEDICINA – CRIAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES E BASE. 1. A universidade não tem competência para, ao seu talante, criar e implantar curso de nível superior. 2. É da competência da UNIÃO, de acordo com o art. 9º da Lei 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), a criação de cursos de nível superior, em consonância com dispositivos da Constituição Federal. 3. Em relação ao Curso de Medicina, há ainda decretos que exigem a prévia manifestação do Conselho Nacional de Saúde (Decretos 1.303/94 e 2.207/97). 8 4. Recurso especial improvido. PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - ENSINO SUPERIOR - UNIVERSIDADE ESTADUAL - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE MEDICINA E DE ODONTOLOGIA - ARTIGOS 207, 209 E 211, CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECRETO FEDERAL 1203/94 (ARTS. 1. E 7.) - SÚMULA 15/TFR. 1. O princípio da autonomia universitária não despreza a vigilância do poder estatal da União Federal de tornar efetivas as normas gerais da educação nacional, e da saúde pública, objetivando a prevalência da ordenação de caráter federativo, evitando a instalação de cursos órfãos de garantias do padrão de qualidade e eficiência. Evidencia-se a plena convivência entre a autonomia universitária e os poderes de determinação e controle do Estado, em harmoniosa interação. 2. Quando o ato corresponder à típica atividade administrativa, interna corporis, originariamente insculpida nos estatutos e regimento do estabelecimento de ensino superior do poder público estadual ou de organização não governamental, a competência para processar e julgar ações pode ser reconhecida em favor da justiça estadual. 3. Porém, a parla de ato, pela sua natureza e finalidade, criando e implantando cursos na área de saúde, (sic) aprisionado as normas gerais Revista da Escola da Magistratura - nº 13 251 da educação e saúde nacionais, está sujeito às diretrizes e exigências de específica legislação de regência. No caso, dependente de prévia avaliação e do consentimento do Conselho Nacional de Saúde, sucedendo-se a necessária autorização do presidente da república, (sic) atraindo o interesse jurídico da União e de autarquias federais (art. 109, i, C.F.). 4. Conflito conhecido e declarada a competência do juiz federal sus9 citante. UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS. CURSO DE ODONTOLOGIA. FECHAMENTO POR INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PORTARIA N. 196, DE 3-2-94, DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO. I - O ato ministerial atacado, apoiado no art. n. 209, II, da Constituição Federal, no art. 2º do Decreto n. 359, de 9-12-91, no art. 2º do Decreto n. 98.377, de 8-11-89, e no art. 3º do Decreto n. 77.797, de 9-6-76, está ao amparo da legislação de regência e os decretos que lhe servem de fundamento não infringem o princípio da legalidade, não violam o princípio da autonomia universitária, nem exorbitam o poder regulamentar. II - A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não pode ser interpretada como independência e, muito menos, como soberania. A sua constitucionalização não teve o condão de alterar o seu conceito ou ampliar o seu alcance, nem de afastar as universidades do poder normativo e de controle dos órgãos federais competentes. III - Ademais, o ensino universitário, administrado pela iniciativa privada, há de atender aos requisitos, previstos no art. 209 da Constituição Federal: cumprimento das normas de educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 10 IV - Mandado de segurança denegado. Vale destacar a posição da Segunda Turma da mencionada Corte, segundo a qual a autonomia universitária permite à instituição de ensino optar por avaliação seriada para seleção de seus futuros discentes – uma vez observados os ditames da LDB, a lisura, seriedade e publicidade dos processos seletivos, todas as normas inclusive infralegais baixadas pelo Ministério da Educação – e não afasta o controle pelos órgãos públicos federais competentes sobre os administradores da referida entidade nem a responsabilização penal, civil e por improbidade administrativa de tais agentes, nos termos da Lei 8.429/92. Confira-se: PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO – PROGRAMA EXPERIMENTAL DE INGRESSO NO ENSINO SUPERIOR – PEIES – 252 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 AVALIAÇÃO SERIADA – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LEI 9.394/96). 1. Não cabe ao STJ, em sede de recurso especial, examinar possível violação a dispositivos constitucionais. 2. Incide a Súmula 284/STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 do CPC, limita-se a fazer alegações genéricas, sem, contudo, indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. 3. Matéria que não foi discutida no Tribunal a quo não pode ser analisada em sede de especial, por ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF). 4. Descabe, em sede de recurso especial, o exame de violação a decreto, a portaria interministerial ou a regimento interno, por não se enquadrarem no conceito de lei federal, na forma do art. 105, III, “a”, da CF/88. 5. A Lei 9.394/96, ao regulamentar o art. 207 da Constituição Federal de 1988, abandonou por completo a sistemática de acesso ao ensino superior unicamente através de “vestibular”, antes definido pela Lei 5.540/68, traçando novas diretrizes quanto aos critérios de seleção e admissão de estudantes, que passaram a ser fixados de acordo com o princípio da autonomia didático-científica das universidades, mediante articulações destas com os órgãos normativos dos sistemas de ensino. 6. Nesse contexto, uma vez que observadas as normas da Lei 9.394/96 e principalmente o princípio da publicidade dos critérios de seleção, dentro do contexto de autonomia didático-científica atribuída às instituições de ensino, como bem salientado pelo Tribunal de origem, legítimo é o processo seletivo de avaliação seriada criado pela Universidade recorrida, sem que se possa falar em ofensa do princípio da igualdade no acesso à escola, previsto no art. 3º, inciso I desta lei. 11 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, no mérito, improvido. Frise-se também um julgado proferido pela mesma turma, no qual se apontou que a autonomia das universidades engloba a instituição pela entidade de sistema de cotas em processo seletivo vestibular para indivíduos pertencentes a grupos étnicos, sociais e raciais afastados compulsoriamente do progresso e do desenvolvimento. Contudo, na mesma oportunidade, o referido colegiado observou que a autonomia não implicava soberania nem independência, mas deveria ser exercida com base nos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade: ADMINISTRATIVO – AÇÕES AFIRMATIVAS – POLÍTICA DE COTAS – AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA – ART. 53 DA Revista da Escola da Magistratura - nº 13 253 LEI N. 9.394/96 – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO INC. II DO ART. 535 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL EM FACE DE DESCRIÇÃO GENÉRICA DO ART. 207 DA CF/88 – DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE REPARAÇÃO – CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE A ELIMINAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL – DECRETO N. 65.810/69 – PROCESSO SELETIVO DE INGRESSO – FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS LEGAIS, PROPORCIONAIS E RAZOÁVEIS PARA CONCORRER A VAGAS RESERVADAS – IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CRIAR EXCEÇÕES SUBJETIVAS – OBSERVÂNCIA COMPULSÓRIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 1. A oposição de embargos declaratórios deve acolhida quando o pronunciamento judicial padecer de ambiguidade, de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material, os quais inexistem neste caso. Não há, portanto, violação do art. 535 do CPC. 2. Admite-se o prequestionamento implícito, configurado quando a tese jurídica defendida pela parte é debatida no acórdão recorrido. 3. A Constituição Federal veicula genericamente os contornos jurídicos de diversos institutos e conceitos, deixando, na maioria das vezes, o seu trato específico para as normas infraconstitucionais. O assento constitucional de um instituto ou conceito, sem detalhamentos e desdobramentos, não afasta a competência desta Corte quando a Lei Federal disciplina imperativos específicos. 4. Ações afirmativas são medidas especiais tomadas com o objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais, sociais ou étnicos ou indivíduos que necessitem de proteção, e que possam ser necessárias e úteis para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que, tais medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais, e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos. 5. A possibilidade de adoção de ações afirmativas tem amparo nos arts. 3º e 5º, ambos da Constituição Federal/88 e nas normas da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, integrada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto n. 65.810/69. 6. A forma de implementação de ações afirmativas no seio de universidade e, no presente caso, as normas objetivas de acesso às vagas destinadas a tal política pública fazem parte da autonomia específica trazida pelo artigo 53 da Lei n. 9.394/96, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 254 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Portanto, somente em casos extremos a sua autonomia poderá ser mitigada pelo Poder Judiciário, o que não se verifica nos presentes autos. 7. O ingresso na instituição de ensino como discente é regulamentado basicamente pelas normas jurídicas internas das universidades, logo a fixação de cotas para indivíduos pertencentes a grupos étnicos, sociais e raciais afastados compulsoriamente do progresso e do desenvolvimento, na forma do artigo 3º da Constituição Federal/88 e da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, faz parte, ao menos considerando o nosso ordenamento jurídico atual - da autonomia universitária para dispor do processo seletivo vestibular. 8. A expressão “tenham realizado o ensino fundamental e médio exclusivamente em escola pública no Brasil”, critério objetivo escolhido pela UFPR no seu edital de processo seletivo vestibular, não comporta exceção sob pena de inviabilização do sistema de cotas proposto. 12 Recurso especial provido em parte. [g.n.] Em ocasião diversa, a Primeira Seção concluiu caber ao Ministro da Educação, no exercício do poder de supervisão ministerial, decidir sobre pedido de anistia de um de seus ex-servidores, não a reitor de universidade, a pretexto de autonomia administrativa dessa. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO MINISTERIAL INDEFERITÓRIO DE PEDIDO DE ANISTIA FORMULADO POR EX-PROFESSOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – DISCUSSÃO SOBRE A ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO, EM FACE DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA FUNDAÇÃO UNB – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ESPÉCIE – RECEPÇÃO PELA NOVA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA PRÁTICA DO ATO DA AUTORIDADE MINISTERIAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER AMPARADO POR MANDAMUS – DENEGAÇÃO DA ORDEM. O deferimento ou indeferimento do pedido de concessão de anistia de ex-servidor de fundação universitária supervisionada pelo Ministério da Educação, consoante previsto na legislação excepcional que regula a matéria, cabe ao respectivo Ministro de Estado.Conforme orientação jurisprudencial assentada pela Egrégia Primeira Seção deste STJ, “A autonomia universitária, prevista no art. 207 da Constituição Federal, não pode ser interpretada como independência e, muito menos, como soberania. A sua constitucionalização não teve o condão de alterar o seu conceito ou ampliar o seu alcance, nem de Revista da Escola da Magistratura - nº 13 255 afastar as universidades do poder normativo e de controle dos órgãos federais competentes.” (MS 3.318 – DF) O princípio da autonomia universitária, antes previsto em lei ordinária (Lei 5.540, de 1968) e posteriormente elevado ao plano do ordenamento constitucional (artigo 207 da Constituição Federal), não tem o condão de alterar a competência conferida ao Ministro de Estado para decidir sobre a situação individual de ex-servidor de fundação, supervisionada pelo Titular da Pasta, que postula o reconhecimento de concessão de anistia. É possível a plena convivência entre o instituto da autonomia universitária e as regras excepcionais que concedem poderes à autoridade ministerial para analisar e julgar os pedidos de anistia, porquanto não se conflitam, nem se repelem, mas se complementam de forma harmônica dentro do ordenamento jurídico. Não há como vislumbrar, in casu, violação a direito líquido e certo, nem tampouco abuso de poder na prática do ato atribuído à autoridade ministerial impetrada. 13 Segurança denegada. Diante dos precedentes, é fácil notar que o STJ solidificou, não obstante o princípio da autonomia universitária ter erigido-se ao patamar constitucional, a noção desse valor como instituto inconfundível com total independência, sujeito ao que preceitua todo o ordenamento jurídico. 2.2 Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 2.2.1 Segunda Turma O Supremo Tribunal Federal (STF) segue a mesma linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 553.065, a Segunda Turma do Excelso Pretório manteve a possibilidade de um estudante habilitado por meio de vestibular matricular-se simultaneamente em dois cursos da mesma universidade, salvo se houvesse incompatibilidade de horários, muito embora existisse norma infralegal editada pela instituição proibindo a aludida matrícula. Entendeu o tribunal que a citada vedação extrapolou os limites da autonomia didático-científica, inovou no campo restrito à lei. Segue-se o julgado: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. POSSIBILIDADE DE MATRÍCULA EM DOIS CURSOS SIMULTÂNEOS COM COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. RESOLUÇÃO EDITADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO NO SENTIDO DA PROIBIÇÃO. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Nos termos da jurisprudência 256 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 deste Tribunal, o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeter às leis e demais atos normativos. Controvérsia decidida à luz da legislação infraconstitucional. A alegada ofensa à Constituição, se existente, seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso ex14 traordinário. Agravo regimental a que se nega provimento. Em outro momento, a Segunda Turma da Suprema Corte entendeu ser ausente a violação ao princípio autonômico por normas estaduais que exigiam a prestação específica de concurso público de provas e títulos para o acesso ao cargo de professor titular e, consequentemente, rechaçou a promoção automática de professor adjunto, livre docente e ex-titular interino ao referido cargo, como se constata na seguinte ementa: EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO SUPERIOR. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO PARA ACESSO AO CARGO DE PROFESSOR TITULAR. ALEGADO DIREITO À PROMOÇÃO BASEADO NA UNICIDADE DA CARREIRA DE DOCÊNCIA. Reclamação ajuizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ contra acórdão prolatado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu ao interessado o direito de promover-se, por promoção automática, ao cargo de professor titular. Alegada violação da autoridade de precedente específico da Corte, que decidira que a exigência de concurso específico não violava a autonomia universitária (art. 206 da Constituição). Reclamação conhecida e julgada procedente para cassar o acórdão 15 reclamado. 2.2.2 Primeira Turma Do mesmo modo, a Primeira Turma do citado tribunal sujeitou a autonomia à Constituição e às leis. Assentou o colegiado a falta de ilegalidade e de violação da aludida prerrogativa no ato do Ministro da Educação que, em observância a preceitos legais, ordenou o reexame de determinação de reitor extensora dos efeitos de decisão judicial em que se concedeu aumento de vencimentos a parte dos servidores aposentados da instituição de ensino. É o que se destaca a partir do resumo do acórdão transcrito a seguir: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ART. 207, DA CB/88. LIMITAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE A AURevista da Escola da Magistratura - nº 13 257 TONOMIA SOBREPOR-SE À CONSTITUIÇÃO E ÀS LEIS. VINCULAÇÃO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO QUE ENSEJA O CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERAIS [ARTS. 19 E 25, I, DO DECRETO-LEI N. 200/67]. SUSPENSÃO DE VANTAGEM INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR POR FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DE VENCIMENTOS OU DEFERIMENTO DE VANTAGEM A SERVIDORES PÚBLICOS SEM LEI ESPECÍFICA NEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA [ART. 37, X E 169, § 1º, I E II, DA CB/88]. IMPOSSIBILIDADE. EXTENSÃO ADMINISTRATIVA DE DECISÃO JUDICIAL. ATO QUE DETERMINA REEXAME DA DECISÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS VIGENTES. LEGALIDADE [ARTS. 1º E 2º DO DECRETO N. 73.529/74, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS]. 1. As Universidades Públicas são dotadas de autonomia suficiente para gerir seu pessoal, bem como o próprio patrimônio financeiro. O exercício desta autonomia não pode, contudo, sobrepor-se ao quanto dispõem a Constituição e as leis [art. 207, da CB/88]. Precedentes [RE n. 83.962, Relator o Ministro SOARES MUÑOZ, DJ 17.04.1979 e MC-ADI n. 1.599, Relator o Ministro MAURÍCIO CORRÊA, DJ 18.05.2001]. 2. As Universidades Públicas federais, entidades da Administração Indireta, são constituídas sob a forma de autarquias ou fundações públicas. Seus atos, além de sofrerem a fiscalização do TCU, submetem-se ao controle interno exercido pelo Ministério da Educação. 3. Embora as Universidades Públicas federais não se encontrem subordinadas ao MEC, determinada relação jurídica as vincula ao Ministério, o que enseja o controle interno de alguns de seus atos [arts. 19 e 25, I, do decreto-lei n. 200/67]. 4. Os órgãos da Administração Pública não podem determinar a suspensão do pagamento de vantagem incorporada aos vencimentos de servidores quando protegido pelos efeitos da coisa julgada, ainda que contrária à jurisprudência. Precedentes [MS 23.758, Relator MOREIRA ALVES, DJ 13.06.2003 e MS 23.665, Relator MAURÍCIO CORREA, DJ 20.09.2002]. 5. Não é possível deferir vantagem ou aumento de vencimentos a servidores públicos sem lei específica, nem previsão orçamentária [art. 37, X e 169, § 1º, I e II, da CB/88]. 6. Não há ilegalidade nem violação da autonomia financeira e administrativa garantida pelo art. 207 da Constituição no ato do Ministro da Educação que, em observância aos preceitos legais, determina o reexame de decisão, de determinada Universidade, que concedeu extensão administrativa de decisão judicial [arts. 1º e 2º do decreto n. 258 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 73.529/74, vigente à época]. 7. Agravo regimental a que se nega 16 provimento. O mesmo colegiado, seguindo a posição já adotada por meio do seu órgão plenário, ainda solidificou a ausência de violação ao princípio autonômico ante a transferência ex officio de estudante militar ou servidor público, ou de seus dependentes, entre instituições de ensino superior congêneres (vale dispor, a mudança de pública para pública e de privada para privada), em virtude de comprovada remoção ou transferência desse agente público por interesse da Administração, com a respectiva mudança de domicílio: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. VULNERAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. A transferência de alunos entre universidades congêneres é instituto que integra o sistema geral de ensino, não transgredindo a autonomia universitária, e é disciplina a ser realizada de modo abrangente, não em vista de cada uma das universidades existentes no País, como decorreria da conclusão sobre tratar-se de questão própria ao estatuto de cada qual. Precedente: RE n. 134.795, Relator o Ministro Marco 17 Aurélio, RTJ 144/644. Agravo regimental não provido. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada 18 para pública. 2.2.3. Plenário O Plenário do STF, por sua vez, em caráter cautelar, assinalou que não malfere a autonomia administrativa e financeira das universidades lei federal instituidora do Sistema de Pessoal Civil da Administração Direta (Sipec), com abrangência sobre a administração direta, as autarquias – incluídas as de regime especial – e as fundações Revista da Escola da Magistratura - nº 13 259 públicas, mas que não exclui do seu contexto as universidades públicas federais, bem assim confere aos órgãos integrantes do mesmo sistema competência privativa para os assuntos relativos ao pessoal civil dos órgãos e entidades do Poder Executivo e subordina a administração pessoal dos entes públicos federais a um órgão central do Ministério da Administração e Reforma do Estado, sem excetuar as universidades. No entanto, por meio do mesmo julgado, o Plenário fixou que a Constituição não criou uma nova autonomia universitária ao dar-lhe status constitucional. Para o tribunal, esse valor deveria realizar-se dentro do regime da lei. A propósito, transcreve-se abaixo a ementa: EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ART. 17 DA LEI Nº 7.923, DE 12.12.89, CAPUT DO ART. 36 DA LEI Nº 9.082, DE 25.07.95, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º E ART. 6º DO DECRETO Nº 2.028, DE 11.10.96. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES. PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DE FEDERAÇÃO SINDICAL E DE SINDICATO NACIONAL PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. Preliminar: legitimidade ativa ad causam. O Supremo Tribunal Federal, em inúmeros julgamentos, tem entendido que apenas as confederações sindicais têm legitimidade ativa para requerer ação direta de inconstitucionalidade (CF, art. 103, IX), excluídas as federações sindicais e os sindicatos nacionais. Precedentes. Exclusão dos dois primeiros requerentes da relação processual, mantido o Partido dos Trabalhadores. 2. Preliminar: conhecimento (art. 36 da Lei nº 9.082/95). Não cabe ação direta para provocar o controle concentrado de constitucionalidade de lei cuja eficácia temporária nela prevista já se exauriu, bem como da que foi revogada, segundo o atual entendimento deste Tribunal. 3. O princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição, como as que regem o orçamento (art. 165, § 5º, I), a despesa com pessoal (art. 169), a submissão dos seus servidores ao regime jurídico único (art. 39), bem como às que tratam do controle e da fiscalização. Pedido cautelar indeferido quanto aos arts. 1º e 6º do Decreto nº 2.028/96. 5. Ação direta conhecida, em parte, e deferido o pedido cautelar também em parte para suspender a eficácia da expressão “judiciais ou” contida no pár. único do art. 3º do Decreto 19 nº 2.028/96. Em outra decisão e em votação apertadíssima, o citado órgão, ao indeferir medida cautelar para suspender os efeitos de ato normativo que estabeleceu o exame nacional 260 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 a ser obrigatoriamente prestado por estudante após a conclusão do curso acadêmico, sob pena de o mesmo discente não receber o diploma a que faria jus, asseverou que a autonomia universitária não poderia impedir a fiscalização pelo poder público do ensino ministrado pela entidade. EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDADE. PROVÃO. Lei 9.131, de 24.XI.95, artigo 3º e parágrafos. C.F., art. 5º, LIV; art. 84, IV; art. 207. I. - Avaliação periódica das instituições e dos cursos de nível superior, mediante exames nacionais: Lei 9.131/95, art. 3º e parágrafos. Arguição de inconstitucionalidade de tais dispositivos: alegação de que tais normas são ofensivas ao princípio da razoabilidade, assim ofensivas ao “substantive due process” inscrito no art. 5º, LIV, da C.F., à autonomia universitária — CF, art. 207 — e que teria sido ela regulamentada pelo Ministro de Estado, assim com ofensa ao art. 84, IV, C.F. II. - Irrelevância da argüição de inconstitucionalida20 de. III. - Cautelar indeferida. Nesse contexto e não obstante o firme entendimento nos tribunais superiores no sentido de que as instituições de ensino superior gozam meramente de poder normativo infralegal, há uma respeitada doutrina que sustenta exatamente o oposto dessa idéia. Desse modo, subsiste a pergunta se a inserção constitucional da autonomia universitária no artigo 207 da Constituição Federal promoveu sua intangibilidade ante a legislação hierarquicamente inferior. De fato, a resposta não é tão simples. Ela deve ser resolvida à luz do artigo 207 da Constituição Federal, notadamente quando se observa que a solução desse problema é essencial para o exame de questões que hoje inquietam a sociedade nacional, como é o caso da política de cotas nas universidades para estudantes afrodescendentes ou provenientes de escolas públicas ou o caso da transferência ex officio de servidores públicos ou militares entre instituições de ensino não congêneres. 3. Análise do problema à luz da doutrina Consoante se mencionou no capítulo anterior, os Tribunais Superiores pacificaram que o artigo 207 da Constituição Federal não confere poder normativo primário para as instituições de ensino superior. Contudo, essa não é a posição de parte da doutrina. Nesse contexto e tendo em vista ser também essa uma fonte do Direito, faz-se necessário observar como ela define o conteúdo da autonomia das universidades diante da legislação e da posição pretoriana sobre o tema. É, portanto, o que se passa a examinar, todavia dentro dos limites da proposta deste trabalho. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 261 3.1. A autonomia universitária e o seu alcance A noção de autonomia universitária é anterior à do próprio Estado. Anna Cândida da Cunha Ferraz destaca que, quando o termo Estado se fixou, no século XVI, a Universidade de Paris já possuía quatro séculos, a de Bolonha vinha de 1158, a da 21 22 Alemanha de 1348 e a de Coimbra de 1290. Pinto Ferreira, ao dispor acerca da ideia de autonomia universitária, entende que ela “está intimamente ligada à luta pela liberdade de pensamento, de crítica, de pesquisa, de ensino, de orientação de suas atividades, sem o que é impossível a realização 23 da plena autenticidade do ideal universitário”. Anita Lapa Borges de Sampaio, por sua vez, destaca que a autonomia “é uma prerrogativa de cada universidade, e não das instituições universitárias consideradas em conjunto”, tal como na Espanha. De fato, não é outra a ideia que se depreende da 24 dicção contida no artigo 207 da Constituição: “as universidades gozam” de autonomia, não há nesse dispositivo uma referência a uma totalidade qualquer como a universidade 25 ou a instituição universitária. Há, porém, uma divergência na doutrina quanto ao alcance da competência normativa do legislador no que tange aos limites da autonomia universitária. Para parte da doutrina, da qual participam Pinto Ferreira, Adilson Abreu Dallari e Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a constitucionalização do preceito da autonomia não teria modificado seu conteúdo, mas meramente declarado sua existência no campo infraconstitucional. Com efeito, a aludida prerrogativa teria seus limites fixados pelo ordenamento infraconstitucional, não conferia às universidades poder normativo de primeiro grau ou em 26 nível legislativo. Eventual poder normativo seria derivado e infralegal. Para segunda corrente (Anna Candida Cunha Ferraz, Nina Ranieri, Willis Santiago Guerra, Anita Lapa Borges Sampaio, Marcelo Arno Nerling e Lauro Morhy) a inserção constitucional da autonomia das universidades no artigo 207 da Constituição Federal promoveu a intangibilidade do princípio autonômico ante a legislação hierarquicamente inferior. A autonomia universitária passou a ter, portanto, seus limites fixados pela Constituição, na medida em que esse diploma não subordinou tal garantia à reserva legal. Nessa linha, às normas infraconstitucionais cabe meramente pormeno27 rizar o referido preceito para a maior efetividade desse, sem, contudo, desvirtuá-lo. Em outros termos, “onde não há proibição, vedação ou limitação constitucional, há de imperar o princípio autonômico”, “as leis não podem, em nenhum passo, restringir, reduzir, diminuir ou afetar, ainda que de modo indireto, a autonomia universitária, cujos limites [...] estão na Constituição e só dela podem ser extraídos”. Em verdade, 28 há um “núcleo essencial insuprimível” da autonomia, insuscetível de revogação e regulação ilimitada pelo legislador ordinário, que além de assegurar, “não a existência da universidade, mas antes a exigência de que a intervenção no âmbito da universidade (inclusive por lei) seja mínima”, viabiliza o exercício da competência autonormativa dessas entidades, competência essa da qual decorre a força normativa dos estatutos e 29 regimentos universitários. Nesse diapasão, consideram ainda os citados doutrinadores que, por meio da Carta Magna, a autonomia ganhou a mesma força dos demais princípios constitucio262 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 nais e, portanto, uma dimensão interpretativa, integrativa, diretiva e limitativa para sua própria aplicação. Em outras palavras, segundo essa parcela da doutrina, ante a previsão constitucional do princípio da autonomia, esse passou a merecer interpretação harmônica com os demais princípios, a fim de ter aplicação mais eficiente e conforme 30 a finalidade para a qual foi instituído. A esse respeito, Anna Candida da Cunha Ferraz registra: “Inscrito na Constituição Federal, o princípio da autonomia universitária tem uma dimensão fundamentadora, integrativa, diretiva e limitativa própria, o que significa dizer que é na própria Constituição Federal: a) que se radica o fundamento do instituto; b) que é dela que se extrai sua força integrativa em todo o sistema federativo do País; c) que a Constituição Federal preordena a interpretação que se possa dar ao instituto; d) que os limites que se podem opor à autonomia universitária têm como sede única a própria Constituição Federal; e) que o princípio da autonomia universitária, como princípio constitucional, deve ser interpretado em harmonia – mas no mesmo 31 nível – com os demais princípios constitucionais.” Não é por menos que Anna Candida da Cunha Ferraz, Nina Ranieri, Anita Lapa Borges de Sampaio, Celso da Costa Frauches e Gustavo M. Fagundes observam que o 32 artigo 207 da Lei Maior é: “[...] norma autoaplicável, bastante em si, na lição da doutrina clássica, ou de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, na linguagem de José Afonso da Silva ou completa, imediatamente exeqüível, na 33 dicção de Manoel Gonçalves Ferreira Filho.” Tal aplicabilidade foi reforçada em vista da vinculação da autonomia com os 34 35 36 direitos previstos nos artigos 5º, IV e IX, e 206, II, da Constituição Federal e da aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Aliás, Anita Lapa Borges de Sampaio reconhece a autonomia universitária como direito 37 individual protegido pelo artigo 60, §4º, IV, do Texto Constitucional, dada a sua derivação do direito fundamental de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (artigo 5º, IX, CRFB) e da liberdade de transmissão e recepção do conhecimento (artigo 206, II, CRFB). E é em razão dessa natureza de direito fundamental que a mesma autora afasta a qualificação do artigo 207 da Carta Magna como “mero conteúdo organizativo ou institucional das liberdades fundamentais da comunidade universitária”, como uma simples garantia institucional, que admite toda e qualquer restrição desde que mantido um núcleo essencial da instituição e distingue-se dos direitos fundamentais, que só admitem em seu âmbito uma intervenção legislativa 38 mínima, isto é, excepcional e limitada. Ainda no que diz respeito à errônea qualificação da autonomia universitária como uma mera garantia institucional, Anita Lapa Borges de Sampaio destaca que Revista da Escola da Magistratura - nº 13 263 ela é desnecessária ou porque a universidade tem uma proteção fundada pelo próprio direito fundamental com que se vincula, ou porque a noção de garantia institucional traz consigo a inconveniência de discussões conceituais acerca de sua teoria, ou porque não apresenta uma categoria normativa similar com as decorrentes do ordenamento jurídico constitucional, ou porque não se submete à reserva legal (sob a expressão “na forma da lei”), pelo que seria descartada em um controle de constitucionalidade ante 39 as normas constitucionais. A autoaplicabilidade do artigo 207 da Constituição Federal, no entanto, não exclui, consoante já explicitado, os desdobramentos legislativos que se fizerem necessários para a maior efetividade da autonomia, desde que proporcionais e fundados na Constituição Federal. De fato, incube à União “fixar as diretrizes e bases da educação 40 nacional”. Os outros entes federativos poderão, contudo, em suas Constituições e leis, criar universidades públicas e – desde que se mantenham nos estritos limites para os quais foram autorizados – definir a forma de administração descentralizada que 41 essas assumem, bem como o modo de controle e tutela específicos dessas entidades. Ademais, vale lembrar que é atribuição comum dos entes federativos, por meio de ati42 vidade legislativa, “proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência” e compete concorrentemente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre 43 educação, cultura, ensino e desporto. Se, portanto, a autonomia deve ser desempenhada consoante os limites da Constituição, necessário observar quais são eles. 3.1.1. Limitações ao exercício da autonomia 44 Conforme classifica Cunha Ferraz, existem limitações gerais e específicas. As primeiras consistem na observância pelas universidades aos direitos fundamentais e aos princípios norteadores da Administração Pública, bem como na compatibilização da autonomia universitária com os princípios constitucionais interpretadores, como o da 45 razoabilidade, por exemplo. As limitações específicas, ressalta Cunha Ferraz, podem ser extraídas do Capítulo II Da Educação, da Cultura e do Desporto, inserido no Título VIII do Texto 46 Constitucional, como de outras normas dispostas ao longo desse diploma. E continua a doutrinadora: “[...] no que concerne à autonomia-fim (autonomia didática e científica), devem as universidades observar, dentre outros, os princípios do próprio artigo 207 (indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão) e os contidos no artigo 206, particularmente os referentes: - ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; - a gratuidade do ensino público nos estabelecimentos oficiais; - a gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 47 - a garantia do padrão de qualidade.” 264 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Anita Lapa de Borges Sampaio, por sua vez, classifica as limitações em imanentes (ou não expressas), em imediatas (ou diretas) e em competências atribuídas ao legislador ordinário para matérias afetas à universidade. Das primeiras tem-se como exemplo a garantia do padrão de qualidade. No que toca aos limites constitucionais imediatos ou diretos, a referida autora cita a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. Acerca da última espécie de limitação, servem como exemplo a compe48 tência prevista no artigo 206, VI e V, da Constituição Federal e as competências 49 para normas gerais para a Administração Pública. Os limites em referência devem, porém, obedecer a requisitos formais (exigências formais de competência e de processo legislativo constitucionalmente previstas) e requisitos materiais (se o resultado da intervenção legislativa realmente assegurou em grau ótimo o maior alcance ou 50 efetividade da autonomia). No tocante à obediência aos requisitos materiais pelo legislador, a constatação dessa exige a consideração das condições fáticas e jurídicas de cada caso, depende da “ponderação entre o grau de restrição da autonomia universitária pela legislação e a relevância da limitação da autonomia para a realização dos fins constitucionais que justificam a norma”, isso porque seria impossível, em abstrato, determinar o grau de limitação da autonomia universitária nas mais variadas circunstâncias. Nessa medida, a restrição legal da autonomia, destaca Anita Lapa Borges de Sampaio, deve ter por fim a maior eficácia de um princípio oposto à autonomia (adequação) e ser o menos lesiva ou limitadora para o princípio objeto de restrição (necessidade), sob pena de ser desproporcional e ilegítima. Além da adequação e da necessidade, a restrição deve obedecer à proporcionalidade em sentido estrito, isto é, não pode ser excessiva em face 51 do ganho em realização do outro princípio. Nesse contexto, para observar se as restrições impostas à autonomia são compatíveis com o princípio da proporcionalidade, Anita Lapa Borges de Sampaio propõe algumas questões, a saber: “a) Trata-se de uma norma veiculada em um diploma formalmente constitucional, isto é, observou-se a competência legislativa constitucionalmente prevista, a restrição foi veiculada por lei em sentido formal? b) Trata-se de efetiva restrição do âmbito de proteção da autonomia universitária ou de mera conformação, isto é, a normação retira ou limita alguma prerrogativa ou posição jurídica em princípio contida na autonomia universitária? c) A Constituição autoriza a restrição? c.1) Trata-se de uma restrição da autonomia universitária diretamente imposta pela Constituição? c.2) Trata-se de uma competência de regulação deferida ao legislador? c.2.1) Trata-se de uma competência legislativa expressamente referida à universidade pela Constituição? c.2.2) Não se tratando de uma competência expressamente referida à universidade, há um fundamento constitucional para que essa comRevista da Escola da Magistratura - nº 13 265 petência legislativa geral se aplique à universidade? Esse fundamento constitucional, segundo um primeiro juízo de proporcionalidade em que fosse ponderado com a preservação da autonomia universitária, justificaria a intervenção legislativa? c.2.3) Se houver um fundamento constitucional que justifique a aplicação da competência legislativa à universidade, a norma restritiva concretamente oferecida pelo legislador orienta-se estritamente à realização daquele fundamento constitucional? c.3) Trata-se da regulação de um limite constitucional imanente à 52 autonomia universitária?” Com efeito, não é outra a conclusão a que se chega, senão que a Lei n. 9.394/96 não encerra o alcance e o âmbito da autonomia das universidades. Nessa perspectiva, Anita Lapa Borges de Sampaio destaca que o legislador, ao dispor sobre as atribuições relativas ao exercício da autonomia universitária no artigo 53 e 54, §1º, da LDB, ao utilizar-se das reservas traduzidas nas expressões “obedecendo às normas gerais”, “diretrizes gerais pertinentes”, “normas gerais atinentes”, etc., a pretexto de fixar diretrizes e bases da educação nacional, extrapolou a competência prevista para a União no artigo 53 22, XXIV, da Constituição, malferindo a autonomia das universidades. Nessa linha de raciocínio, expõe: “A legislação de diretrizes e bases da educação deveria fixar parâmetros gerais em que houvesse a necessidade de uma uniformidade normativa em nível nacional e estritamente vinculada a questões afetas ao ensino, preservando às universidades a flexibilidade organizacional e normativa que lhes permitisse, no uso da autonomia o aprimoramento da realização de suas finalidades constitucionais. [...] Mesmo com relação a questões relativas ao ensino (objeto também da Lei de Diretrizes e Bases da Educação), a disciplina externa à universidade deveria limitar-se a aspectos não essenciais à realização da autonomia universitária, reservando toda a matéria remanescente à 54 sua autonormação.” 3.1.2. Conteúdo do princípio autonômico Sobre o conteúdo do princípio autonômico, esse se revela na autonomia didática e científica, na autonomia de gestão financeira e patrimonial e na autonomia 55 administrativa. No que se refere à autonomia didática, essa é atividade fim da universidade e define-se como a competência dessa entidade para determinar qual e como o conhecimento será transmitido. Dessa competência deflui a responsabilidade da universidade pela qualidade de ensino e essa garantia de qualidade é o que justifica a intervenção do Estado na esfera autonômica, no sentido de reconhecer e fiscalizar as universidades, 266 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 bem como de autorizar o funcionamento dessas. De fato, “a autonomia universitária coloca a universidade ao abrigo de política partidária, mas não colide com a elevada política pedagógica do Estado em, sem prejuízo da liberdade acadêmica, manter sempre 56 atuante o espírito da autonomia”. Aliás, o artigo 53 da Lei Darcy Ribeiro, ao traçar a disciplina material dessa garantia não destoa da construída previamente pela doutrina: “Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino [...]; II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes; III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão; IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio; V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; VII - firmar contratos, acordos e convênios; VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais; IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. 57 .........................................................” Relativamente à autonomia científica, essa consiste na liberdade de pensamento (assegurada pelo artigo 5º da Carta Magna) e de ensino (firmada pelo artigo 206, incisos 58 II e III, da mesma Carta), bem como na responsabilidade de as universidades cumprirem com o dever de promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e 59 a capacitação tecnológica (obrigação firmada pelo artigo 218, caput, da Lei Maior). Corresponde, assim, à liberdade que a entidade educacional possui para organizar seus 60 campos de conhecimento. No que toca à autonomia de gestão financeira e patrimonial, essa se constitui no poder dado às universidades para gerir, administrar e dispor de seus recursos financeiros, assim como no dever de o ente político que instituiu a entidade de ensino de financiá-la 61 suficientemente para que ela exerça seus objetivos didáticos, científicos e culturais. A respeito desses objetivos, bem os delineou Caio Tácito: “a) transmitir o conhecimento adquirido, formando profissionais e especialistas ou lhes atualizando a formação (difusão do conheciRevista da Escola da Magistratura - nº 13 267 mento); b) criar conhecimento novo ou nova tecnologia, mediante pesquisa pura ou aplicada (conquista do desconhecido); c) prestação de serviços à comunidade, tanto no plano técnico como no social 62 (extensão universitária).” Na autonomia de gestão financeira e patrimonial, qualquer intervenção do Estado somente se dará, segundo apontou a jurisprudência no Supremo Tribunal Federal, a posteriori, por meio de tomada de contas e de inspeções contábeis. Nesse sentido, uma disposição de direito estadual não pode, por exemplo, determinar como competência de governador de Estado a aprovação dos orçamentos de custeio e de capital de uma universidade e as alterações desses, nem autorizar o governador a regulamentar sobre a elaboração de orçamento de custeio e investimento bem como de programação fi63 nanceira daquela entidade. É oportuno observar que os artigos 53, VIII, IX e X; 54, caput e incisos III, IV, V, VI, VII; 68; 69 e 72 da LDB estipulam alguns aspectos da autonomia de gestão financeira e patrimonial. Importante também é dispor que o artigo 55 da referida lei atribui à União o dever de, anualmente, assegurar recursos suficientes às instituições 64 de ensino superior. Outra nuance da autonomia universitária é a administrativa que, a seu turno, além de ser pressuposto da autonomia financeira e patrimonial; possui caráter acessório, na medida em que decorre e é instrumento da autonomia didática e científica. Consiste na competência conferida às universidades para autodeterminação e autonormação relativas à organização e funcionamento dos serviços e do patrimônio dessas entidades educacionais, bem como a todos os atos inerentes a essa competência. Constitui, pois, no poder atribuído às universidades para “disciplinar as suas relações com os corpos 65 docente, discente e administrativo que a integram”. No que concerne com a disciplina do pessoal docente, essa “abrange o estabelecimento do respectivo quadro, a definição da carreira, os requisitos para o ingresso, a admissão e a nomeação dos docentes e servidores administrativos, a definição do 66 estatuto do pessoal docente, etc”. A esse respeito, a Lei de Diretrizes e Bases consigna: “Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: ......................................................... IV - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes; ......................................................... Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: ......................................................... V - contratação e dispensa de professores; 67 VI - planos de carreira docente.” 268 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 E o artigo 54 do supracitado diploma dispõe: “Art. 54. As universidades mantidas pelo Poder Público gozarão, na forma da lei, de estatuto jurídico especial para atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo Poder Público, assim como dos seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. § 1º No exercício da sua autonomia, além das atribuições asseguradas pelo artigo anterior, as universidades públicas poderão: I - propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis; II - elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes; 68 .........................................................” Sobre o modelo institucional universitário, da supracitada regra, mais especificamente das expressões “regime especial” e “estatuto especial” nela contidas, infere-se que as universidades gozam de um regime jurídico especial. Esse regime espelha a natureza especial conferida às universidades, em virtude de sua autonomia ser constitucionalmente prevista, natureza essa que as distingue de quaisquer outros entes da Administração indireta. Nessa medida, Anita Lapa Borges de Sampaio acrescenta que, de fato, as formas fundacional e autárquica não seriam compatíveis com a universidade autônoma, tendo em vista que “induzem, na prática rotineira do controle e da fiscalização externa da 69 universidade federal, a um tratamento semelhante àquele aplicado às demais entidades 70 integrantes da Administração Pública”. Nessa linha, a citada autora expõe: “Se a Constituição consagra a autonomia da universidade diante do Estado, não seria razoável afirmar que o Estado, por meio de um instrumento infraconstitucional (a lei), possa amplamente delimitar essa prerrogativa. Nesse sentido, a autodeterminação assegurada à universidade deve significar a existência de uma esfera de decisão universitária que nem a lei poderia suprir ou delimitar. Essa esfera de autodeterminação insuprimível pela lei (isto é, o núcleo essencial da autonomia) diferencia a autonomia universitária da proteção de outras instituições constitucionais, em que o que se assegura não é um âmbito de autodeterminação, mas tão-somente a 71 existência da própria instituição.” Cunha Ferraz, dissertando sobre esse ponto, conclui: “É, pois, especial o regime das autarquias educacionais porque estão estas autarquias submetidas a normas de organização, administração, controle ou tutela administrativa, regime de pessoal, matéria recurRevista da Escola da Magistratura - nº 13 269 sal, etc., próprios, comuns entre as autarquias do gênero, diferentes 72 das autarquias de outros tipos.” Em razão desse regime especial, as universidades terão sua organização disciplinada em estatutos e regimentos aprovados pelo Conselho de Educação. Tais diplomas, haja vista a inserção do princípio da autonomia da universidade na Constituição Republicana, têm fundamento decorrente do próprio Texto Constitucional, possuem força normativa. Isso mesmo ressalta Cunha Ferraz: “Ora, a inclusão, na Constituição Federal, do princípio da autonomia universitária em seu artigo 207, conferindo proteção reforçada ao instituto, reafirma a força normativa dos estatutos e dos regimentos universitários, cujo fundamento, agora, já não deriva apenas da 73 lei, mas decorre do próprio ordenamento jurídico-constitucional.” Em regra, os estatutos e regimentos são formalizados mediante resolução aprovada pelo conselho universitário e expedida pelo reitor da universidade. Embora não sejam as resoluções, estatutos e regimentos lei em sentido formal, satisfazem o princípio da legalidade, pois, como se viu, seu conteúdo material é predeterminado constitucionalmente. Em outros termos, as resoluções das universidades, dentro de sua órbita de incidência, equiparam-se às leis formais. “Assim, [sustenta Cunha Ferraz] a universidade, quando estabelece o seu estatuto e nele desdobra sua autonomia universitária, usa estritamente 74 o poder que lhe advém da Constituição.” Nesse prisma, vale ressaltar a preciosa observação de Nina Ranieri: “Esse [a prevalência das decisões legais da universidade sobre normas exógenas de igual valor, no que respeita a seu peculiar interesse] talvez seja o desdobramento mais significativo da autonomia universitária. A Universidade é uma entidade normativa. Produz direito; suas normas integram a ordem jurídica porque assim determinou a norma 75 fundamental do sistema.” Após a promulgação da Constituição de 1988, não obstante a Corte Suprema ter fixado, por meio da ADI n. 51, que as universidades só detinham autonomia administrativa, não possuindo autonomia política que lhes conferisse poder normativo derivado diretamente da Constituição, essa corte vem reconhecendo que há, na autonomia, desde a sua inserção no Texto Constitucional, um núcleo inarredável por normas 76 infraconstitucionais. Anita Lapa Borges de Sampaio dispõe, no entanto, que embora haja o Excelso Pretório vinculado a autonomia universitária à proteção constitucional da liberdade de cátedra, tal vinculação não foi acompanhada da devida análise sobre 77 o alcance daquele direito individual. Nesse sentido, observa a citada doutrinadora, que a atribuição às universidades de um poder meramente infralegal não tem apoio no próprio Texto Constitucional, na medida em que esse diploma emprega a autonomia administrativa apenas como uma das matérias sobre as quais recai a autonormação 270 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 universitária. Nesse aspecto, destaca que o argumento fundado exclusivamente na incompatibilidade da autonormação política com o modelo infraconstitucionalmente atribuído às universidades (autárquico ou fundacional) no intuito de reduzir a autonomia dessas, revela-se inconciliável com a supremacia constitucional e superado pela nova 78 concretização legal do artigo 207. Dessarte, é inaceitável o entendimento de que a autonomia envolve simplesmente um poder de autodeterminação meramente infralegal, uma vez que a hermenêutica constitucional guia-se pelo princípio da máxima efetividade. É, pois, dever ressaltar que a competência de autonormação abrange tanto os aspectos didáticos, quanto os científicos, os administrativos e de gestão financeira e patrimonial, haja vista que a Constituição dispôs de maneira explícita esse alcance e que as liberdades fundamentais previstas nos artigos 5º, IX e 206, II, da Lei Maior não impõem a limitação da autonomia, 79 ao contrário, ampliam-na. Uma última consideração a respeito do alcance do artigo 207 que merece destaque é que já se discutiu se a autonomia se estende às instituições de ensino não-universitárias, como é o caso dos centros universitários, faculdades integradas, faculdades e escolas superiores. Ives Granda da Silva Martins, analisando a questão, entende que a autonomia constitucionalmente prevista foi outorgada apenas às universidades e institutos de pesquisa, isso porque tais instituições, para ostentar seus respectivos perfis, submetem-se a linhas severas de controle e fiscalização por parte do Poder Público consideravelmente superiores às demais entidades educacionais, ex vi do artigo 52 da 80 Lei Darcy Ribeiro. Conclusão A inserção constitucional da autonomia das universidades no artigo 207 da Constituição Federal promoveu a intangibilidade do princípio autonômico ante a legislação hierarquicamente inferior. A autonomia universitária passou a ter, portanto, seus limites fixados pela Constituição, na medida em que esse diploma não subordinou tal garantia à reserva legal, passou a merecer interpretação harmônica com os demais princípios, a fim de que tenha aplicação mais eficiente e conforme a finalidade para a qual foi instituída. Nessa linha, às normas infraconstitucionais cabe meramente pormenorizar o referido preceito para a maior efetividade desse, sem, contudo, desvirtuá-lo. Ademais, dada a sua derivação do direito fundamental de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (artigo 5º, IX, CRFB) e da liberdade de transmissão e recepção do conhecimento (artigo 206, II, CRFB), a autonomia universitária constitui não uma simples garantia institucional – que admite toda e qualquer restrição desde que mantido um núcleo essencial da instituição e distingue-se dos direitos fundamentais – mas um direito individual radicado em norma auto-aplicável e protegido pelo artigo 60, §4º, IV, do Texto Constitucional. A autoaplicabilidade do artigo 207 da Constituição Federal, no entanto, não exclui, consoante já explicitado, os desdobramentos legislativos que se façam necesRevista da Escola da Magistratura - nº 13 271 sários para a maior efetividade da autonomia, desde que proporcionais e fundados na Constituição Federal. Com efeito, não é outra a conclusão a que se chega, senão que a Lei n. 9.394/96 não encerra o alcance e o âmbito da autonomia das universidades. Também em virtude de sua autonomia ser constitucionalmente prevista, as universidades possuem uma natureza que as disferencia de quaisquer outros entes da Administração indireta, natureza essa espelhada por um regime jurídico especial expresso por estatutos e regimentos aprovados pelo Conselho de Educação, diplomas esses que possuem força normativa e satisfazem o princípio da legalidade exatamente por terem fundamento decorrente do próprio Texto Constitucional. Dessarte, é inaceitável o entendimento de que a autonomia envolve simplesmente um poder de autodeterminação meramente infralegal, uma vez que a hermenêutica constitucional guia-se pelo princípio da máxima efetividade. É, pois, dever ressaltar que a competência de autonormação abrange tanto os aspectos didáticos, quanto os científicos, os administrativos e de gestão financeira e patrimonial, haja vista que a Constituição dispôs de maneira explícita esse alcance e que as liberdades fundamentais previstas nos artigos 5º, IX e 206, II, da Lei Maior não impõem a limitação da autonomia, ao contrário, ampliam-na. Referências Bibliográficas: BOAVENTURA, Edivaldo Machado. A educação brasileira e o Direito. Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1997. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3 ed. reimp. Coimbra: Livraria Almedina, 1999. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002. CONSULTORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Parecer SR-78. Brasília, 1988. DALLARI, Adilson Abreu. Autonomia das universidades públicas. In: Revista trimestral de Direito Público, n.1, p. 287-290, 1993. Encyclopædia Britannica do Brasil Publicações Ltda. Barsa CD. São Paulo: Donaldson M. Garschagen, 1999. 1 CD-ROM. FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 119-142, jan./mar. 1999. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2 ed. atual e reform. São Paulo: Saraiva, 1999, v. 2. FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. 7 v., v. 7. FRAUCHES, Celso da Costa; FAGUNDES, Gustavo M. LDB anotada e comentada. Brasília: Ilape, 2003. 272 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 GUERRA FILHO, Willis Santiago. A questão da autonomia universitária. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, v.31/32, n.1/2, p.113115, jan./dez. 1990/1991. LEI N. 5.540, de 28.11.68. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. DOU de 23.11.1968 e retificado no DOU de 3.12.1968. LEI N. 9.394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU de 23.12.96, v. 248, p. 27.839. LEI N. 9.494, de 11.12.97. Regulamenta o parágrafo único do artigo 49 da Lei n. 9.394, de 20.12.96. DOU de 12.12.97, p. 29.510. MARTINS, Ives Granda da Silva. Inteligência do artigo 207 da Constituição Federal sobre a autonomia das universidades e dos institutos de pesquisas. In: Revista forense, v. 100, n. 374, p. 225-236, jul./ago. 2004. MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004. MORHY, Lauro. Autonomia universitária. Correio Braziliense, Brasília, 10 out. 1999, caderno Opinião, p. 32. NERLING, Marcelo Arno. Autonomia universitária e reforma administrativa: um texto para discussão. In: PINTO, Cristiano Paixão Araújo (Org.). Redefinindo a relação entre o professor e a universidade: emprego público nas instituições federais de ensino? Brasília: Faculdade de Direito/CESP, 2002, p. 71. RANIERI, Nina. Autonomia universitária. São Paulo: Edusp, 1994. SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998. SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. Ponto Final. Correio Braziliense, Brasília, 6 abr. 1998, caderno Direito e Justiça, p. 5. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no REsp 519.366/RN, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 01/12/2008. ______. CC 13.758/PR, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, Primeira Seção, julgado em 06/06/1995, DJ 07/08/1995 p. 23003. ______. MS 3.129/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, Terceira Seção, julgado em 25/11/1998, DJ 01/02/1999 p. 100. ______. MS 3.318/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Primeira Seção, julgado em 31/05/1994, DJ 15/08/1994 p. 20271. ______. MS 6.599/DF, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Seção, julgado em 29/05/2001, DJ 13/08/2001 p. 37. ______. REsp 1.132.476/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 13/10/2009, DJe 21/10/2009. ______. REsp 513.890/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 08/11/2005, DJ 13/02/2006 p. 730. ______. REsp 546.232/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 345. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 273 ______. RMS 26.089/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 22/04/2008, DJe 12/05/2008. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1ª Turma. RE n. 83.962. Relator: Suarez Munhoz, Brasília, DF, 17 abr. 1979. DJ de 4.5.1979, p. 3.519. ______. ADI 1.511 MC, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/1996, DJ 06-06-2003 PP-00029 EMENT VOL-02113-01 PP-00071. ______. ADI 1.599 MC, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1998, DJ 18-05-2001 PP-00430 EMENT VOL-02031-03 PP-00448. ______. ADI 3.324, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2004, DJ 05-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-02199-01 PP-00140 RIP v. 6, n. 32, 2005, p. 279-299 RDDP n. 32, 2005, p. 122-137 RDDP n. 31, 2005, p. 212-213. ______. ADI 51, Rel. Mininstro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1989, DJ 17-09-1993 PP-18926 EMENT VOL-01717-01 PP-00001. ______. MS 10.213, Rel. Ministro VICTOR NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/1962, DJ 27-03-1963 PP-00654 ADJ DATA 02-05-1963 PP-00226 EMENT VOL-00530-01 PP-00195 RTJ VOL-00027-01 PP-00014. ______. Rcl 2.280, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL02315-02 PP-00412 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 244-252. ______. RE 362.074 AgR, Rel.Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 29/03/2005, DJ 22-04-2005 PP-00013 EMENT VOL-02188-02 PP-00410 RNDJ v. 6, n. 67, 2005, p. 75-76. ______. RE 553.065 AgR, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/06/2009, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-02367-07 PP-01281 RT v. 98, n. 888, 2009, p. 159-161 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 236-240. ______. RMS 22.047 AgR, Rel. Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 31-03-2006 PP-00014 EMENT VOL-02227-01 PP-00174. TÁCITO, Caio. Ensino superior oficial: autarquia ou fundação? Rio de Janeiro: UERJ, 1981. Notas 1 LEI N. 5.540, de 28.11.68. Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. DOU de 23.11.1968 e retificado no DOU de 3.12.1968. 2 LEI N. 9.394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU de 23.12.96. 3 LEI N. 9.494, de 11.12.97. Regulamenta o parágrafo único do artigo 49 da Lei n. 9.394, de 20.12.96. DOU de 12.12.97, p. 29.510. 4 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 51, Rel. Ministro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1989, DJ 17-09-1993 PP-18926 EMENT VOL-01717-01 PP-00001. 5 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AgRg no REsp 519.366/RN, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 11/11/2008, DJe 01/12/2008. 6 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MS 3.129/DF, Rel. Ministro ANSELMO SANTIAGO, Terceira Seção, julgado em 25/11/1998, DJ 01/02/1999 p. 100. 7 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RMS 26.089/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 22/04/2008, DJe 12/05/2008. 274 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 8 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 513.890/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 08/11/2005, DJ 13/02/2006 p. 730. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CC 13758/PR, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, Primeira Seção, julgado em 06/06/1995, DJ 07/08/1995 p. 23003. 10 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MS 3318/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Primeira Seção, julgado em 31/05/1994, DJ 15/08/1994 p. 20271. 11 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 546.232/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 345. 12 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp 1132476/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 13/10/2009, DJe 21/10/2009. 13 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MS 6.599/DF, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, Primeira Seção, julgado em 29/05/2001, DJ 13/08/2001 p. 37. 14 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 553065 AgR, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/06/2009, DJe-121 DIVULG 30-06-2009 PUBLIC 01-07-2009 EMENT VOL-0236707 PP-01281 RT v. 98, n. 888, 2009, p. 159-161 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 236-240. 15 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Rcl 2280, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/04/2008, DJe-070 DIVULG 17-04-2008 PUBLIC 18-04-2008 EMENT VOL-02315-02 PP-00412 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 244-252. 16 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RMS 22047 AgR, Rel. Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 21/02/2006, DJ 31-03-2006 PP-00014 EMENT VOL-02227-01 PP-00174. 17 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 362074 AgR, Rel.Ministro EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 29/03/2005, DJ 22-04-2005 PP-00013 EMENT VOL-02188-02 PP-00410 RNDJ v. 6, n. 67, 2005, p. 75-76. 18 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 3324, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2004, DJ 05-08-2005 PP-00005 EMENT VOL-02199-01 PP-00140 RIP v. 6, n. 32, 2005, p. 279-299 RDDP n. 32, 2005, p. 122-137 RDDP n. 31, 2005, p. 212-213. 19 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 1599 MC, Rel. Ministro MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/1998, DJ 18-05-2001 PP-00430 EMENT VOL-02031-03 PP-00448. 20 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 1511 MC, Rel. Ministro CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/1996, DJ 06-06-2003 PP-00029 EMENT VOL-02113-01 PP-00071. 21 A Universidade de Coimbra, em verdade, foi “fundada em Lisboa em 1290, esteve sediada em Coimbra entre 1308 e 1377 e aí se fixou de vez em 1537, com a ampla reforma de D. João III, que criou novas cadeiras e bolsas de estudo para a formação de mestres no estrangeiro” (Encyclopædia Britannica do Brasil Publicações Ltda. Barsa CD. São Paulo: Donaldson. M. Garschagen, 1999. 1 CD-ROM). 22 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 121-122, jan./mar. 1999. 23 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. 7 v., v. 7, p. 112. 24 “Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 123). 25 SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 186, 221-222. 26 FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. 7 v., v. 7, p. 112,124; DALLARI, Adilson Abreu. Autonomia das universidades públicas. In: Revista trimestral de Direito Público, n.1, p. 287-290, 1993; FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. 2 ed. atual e reform. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 2, v. 2, p. 246; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 51, Rel. Mininstro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1989, DJ 17-09-1993 PP-18926 EMENT VOL-01717-01 PP-00001. 27 Segundo José Joaquim Gomes Canotilho, o princípio da máxima efectividade, também designado por princípio da eficiência ou princípio da interpretação efetiva, “pode ser formulado da seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da actualidade das normas programáticas [...], é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 3 ed. reimp. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 1.149).[grifos do autor] 9 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 275 28 A respeito do princípio da proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais, Gilmar Ferreira Mendes averbou: “Da análise dos direitos individuais pode-se extrair a conclusão errônea de que direitos, liberdades, poderes e garantias são passíveis de limitação ou restrição. É preciso não perder de vista, porém, que tais restrições são limitadas. Cogita-se aqui dos chamados limites imanentes ou “limites dos limites” (Schranken-Schranken), que balizam a ação do legislador quando restringe direitos individuais. Esse limites, que decorrem da própria Constituição, referem-se tanto à necessidade de proteção de um núcleo essencial do direito fundamental quanto à clareza, determinação, generalidade e proporcionalidade das restrições impostas” (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 3 ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 41). [grifos do autor] 29 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 122-142, jan./mar. 1999; RANIERI, Nina. Autonomia universitária. São Paulo: Edusp, 1994, p. 106-107, 139; GUERRA FILHO, Willis Santiago. A questão da autonomia universitária. In: Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, v.31/32, n.1/2, p.113-115, jan./dez. 1990/1991; SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 100, 157-158, 218-219, 232; NERLING, Marcelo Arno. Autonomia universitária e reforma administrativa: um texto para discussão. In: PINTO, Cristiano Paixão Araújo (Org.). Redefinindo a relação entre o professor e a universidade: emprego público nas instituições federais de ensino? Brasília: Faculdade de Direito/CESP, 2002, p. 71; MORHY, Lauro. Autonomia universitária. Correio Braziliense, Brasília, 10 out. 1999, caderno Opinião, p. 32. 30 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 123, jan./mar. 1999. 31 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit. 32 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 122, jan./mar. 1999; RANIERI, Nina. Autonomia universitária. São Paulo: Edusp, 1994, p. 109; SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 224-225; FRAUCHES, Celso da Costa; FAGUNDES, Gustavo M. LDB anotada e comentada. Brasília: Ilape, 2003, p. 71. 33 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit. 34 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 15). 35 “Art. 5º. [...]: IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (Ibidem, p. 15). 36 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (Ibidem, p. 123). 37 “Art. 60. [...]: § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e garantias individuais” (Ibidem, p. 55). 38 SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 203-208, 220. 39 Ibidem, p. 212-213, 217-220. 40 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: XXIV - diretrizes e bases da educação nacional” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 30). 41 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 126, jan./mar. 1999. 42 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 31). 43 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: IX - educação, cultura, ensino e desporto” (Ibidem, p. 32). 276 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 44 Edivaldo Machado Boaventura, por sua vez, explicita algumas disposições que vinculam a universidade à Constituição, a saber: a garantia da liberdade de expressão (artigo 5, IX), o apoio financeiro às atividades de pesquisa e extensão (artigo 213, 2º), a promoção humanística, científica e tecnológica do País (artigo 214) e a organização multicampi (artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) (BOAVENTURA, Edivaldo Machado. A educação brasileira e o Direito. Belo Horizonte: Nova Alvorada, 1997, p. 185-187). 45 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 124-125, jan./mar. 1999. 46 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 124-125, jan./mar. 1999. 47 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit. 48 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 123). 49 Muito embora sejam as universidades diferenciadas pela nota da autonomia, elas integram a Administração Pública e por esta razão as previsões constitucionais de competência legislativa sobre a última também se aplicam às primeiras. No entanto, consoante exemplifica Anita Lapa Borges de Sampaio, “mesmo naquelas matérias em que a competência do legislador para a Administração Pública em geral alcance também a universidade (como na hipótese de lei de licitações), será preciso reconhecer um poder normativo residual mínimo para a universidade, isto é, a lei geral de licitações deve prever um regime especial que assegure a parcela indispensável de autonormação universitária (SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 236). 50 Ibidem, p. 231-241. 51 Ibidem, p. 242-244, 251-253. 52 SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 254-255. 53 Ibidem, p. 166, 176-181; SOUZA, Carlos Fernando Mathias de. Ponto Final. Correio Braziliense, Brasília, 6 abr. 1998, caderno Direito e Justiça, p. 5. 54 SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 178. 55 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 119, jan./mar. 1999. 56 Ibidem, p. 128-129; SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 102-103; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 51, Rel. Mininstro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1989, DJ 17-09-1993 PP-18926 EMENT VOL-01717-01 PP-00001; FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição Brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. 7 v., v. 7, p. 113. 57 LEI N. 9.394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU de 23.12.96, v. 248, p. 27.838. 58 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 123). 59 “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas” (Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: texto promulgado em 5 de outubro de 1988, com alterações adotadas pelas Emendas Constitucionais n. 1/92 a 38/2002 e pelas Emendas Constitucionais de Revisão n. 1 a 6/94. Senado, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2002, p. 127). 60 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 129, jan./mar. 1999; SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 101. 61 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 130-131, jan./mar. 1999; SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 277 Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 133-135. TÁCITO, Caio. Ensino superior oficial: autarquia ou fundação? Rio de Janeiro: UERJ, 1981, p. 4-5. 63 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1ª Turma. RE n. 83.962. Relator: Suarez Munhoz, Brasília, DF, 17 abr. 1979. DJ de 4.5.1979, p. 3.519. 64 “Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas” (LEI N. 9.394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU de 23.12.96, v. 248, p. 27.839). 65 SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 106-107; FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 132, jan./mar. 1999; CONSULTORIA-GERAL DA REPÚBLICA. Parecer SR-78. Brasília, 1988. 66 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 132, jan./mar. 1999. 67 LEI N. 9.394, de 20.12.96. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. DOU de 23.12.96, p. 27.838. 68 Op. cit. 69 A esse respeito, Lauro Morhy traça um breve histórico da autonomia universitária, apresentando os variados graus de restrição desta garantia pelo Estado (MORHY, Lauro. Autonomia universitária. Correio Braziliense, Brasília, 10 out. 1999, caderno Opinião, p. 32). 70 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 134-137, jan./mar. 1999; SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 120-121, 175. 71 Ibidem, p. 219. 72 Apud FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit. 73 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. A autonomia universitária na Constituição de 05.10.1988. In: Revista de Direito Administrativo, v. 215, p. 137, jan./mar. 1999. 74 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op.cit. 75 RANIERI, Nina. Autonomia universitária. São Paulo: Edusp, 1994, p. 125. 76 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 51, Rel. Ministro PAULO BROSSARD, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/1989, DJ 17-09-1993 PP-18926 EMENT VOL-01717-01 PP-00001. 77 Antes mesmo da inserção da autonomia na Carta Magna de 1988, a jurisprudência já definia a autonomia universitária como uma derivação da liberdade de cátedra (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MS 10.213, Rel. Ministro VICTOR NUNES, Tribunal Pleno, julgado em 14/12/1962, DJ 27-03-1963 PP-00654 ADJ DATA 02-05-1963 PP-00226 EMENT VOL-00530-01 PP-00195 RTJ VOL-00027-01 PP-00014). Consoante preciosa observação de Anita Lapa Borges de Sampaio, o Supremo Tribunal Federal já reconhecia tal origem, a qual, inclusive, permitiu à referida corte afastar a aplicação, sobre o ente universitário, de leis gerais referentes aos servidores públicos, às autarquias e ao direito orçamentário e financeiro (SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 126-146). Aliás, elementos valiosos relacionados pela nossa Corte Constitucional para uma interpretação do artigo 207 da Carta Magna sintetiza Anita Lapa Borges de Sampaio: “[...] O reconhecimento de capacidade normativa aos estatutos universitários (no regime disciplinar, no aspecto residual da eleição de reitores, na definição de menções para aprovação), a afirmação do caráter corporativo da administração universitária e de uma relação de competência (e não de subordinação) com a administração em geral, a afirmação de que o controle financeiro da universidade se faz a posteriori, a identificação de limites à legislação federal sobre diretrizes e bases da educação nacional e a exigência de observância dos requisitos procedimentais legalmente previstos para a suspensão da autonomia e a conseqüente intervenção na direção universitária (quando a suspensão era possível) traduzem uma rica e complexa compreensão e proteção da autonomia universitária” (Ibidem, p. 146). 78 SAMPAIO, Anita Lapa Borges de. Autonomia universitária: um modelo de interpretação e aplicação do artigo 207 da Constituição Federal. Brasília: Edunb, 1998, p. 223-226. 79 Ibidem, p. 227-229. 80 MARTINS, Ives Granda da Silva. Inteligência do artigo 207 da Constituição Federal sobre a autonomia das universidades e dos institutos de pesquisas. In: Revista forense, v. 100, n. 374, p. 225-236, jul./ago. 2004. 62 —— • —— 278 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 A Comunicação Social sob o Enfoque da Constituição Federal de 1988 Mariana Caetano da Silva Souza Schwindt Ex-aluna da ESMA/DF I) INTRODUÇÃO N ão obstante o capítulo V do título VIII estar distante do rol de direitos e garantias fundamentais, é unânime na doutrina e na jurisprudência a característica de fundamentalidade do direito à comunicação social. Os artigos 220 a 224 consagram a instituição de princípios intimamente ligados ao exercício da liberdade de expressão em todas as suas formas: de informação – ser e estar informado -, do pluralismo – expressivo da difusão de pensamento e da criação -, e da proibição de qualquer censura prévia. II) DA PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE COMUNICAÇÃO Na comunicação social impera o princípio do pluralismo como valor inerente à pessoa humana, assim como estipulado nos fundamentos da República Federativa do Brasil. Ou seja, a comunicação age e se relaciona com diversos agentes difusores do pensamento. Segundo José Afonso da Silva, o direito à comunicação social não pode sofrer nenhum tipo de restrição. A classificação sugerida pelo constitucionalista parte dessa premissa absoluta de não censura à comunicação social. Assim, nenhum ato legislativo pode conter obstáculo à plena liberdade de informação e os veículos impressos não precisam de autorização da autoridade competente para exercer esse direito. Em oposição a esta classificação elaborada por José Afonso da Silva, o constitucionalista Roberto Barroso afirma que existe um único princípio na comunicação social - princípio da liberdade de expressão - e duas regras – proibição de censura e proibição da subordinação das exibições a qualquer licença prévia. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 279 Com efeito, os princípios constitucionais da comunicação social indicam que as limitações impostas ao exercício desse direito estão, necessariamente, relacionadas às três esferas de poder, ou seja, referem-se às limitações judicial, administrativa e legislativa. A limitação judicial impede que a honra e a imagem da pessoa seja violada. A garantia de indenização por dano moral, material e de imagem estipulada no artigo 5º, inciso V, indica que é um valor desvinculado de qualquer pretensão de censura. O Poder Judiciário é legitimado para atuar quando a ofensa à liberdade de expressão desnatura e esvazia qualquer dos incisos do artigo 221, quais sejam: preferência para finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promoção cultural nacional e regional com estímulo da produção independente; regionalização da produção cultural e artística e respeito aos valores éticos sociais da pessoa e da família. A limitação legislativa encontra-se tipificada no artigo 220, parágrafo 10, que impede à atuação do legislador de constituir qualquer obstáculo a plena informação. Todavia, a própria Constituição relativiza essa regra, em que se permite a intervenção legislativa para regular as diversões e espetáculos públicos – função atualmente cabível ao Ministério da Justiça -, estabelecimento de meios de defesa contra propaganda e produtos nocivos ao consumo ou que ofendam os incisos do artigo 221 e a restrição da propaganda de tabacos e bebidas, malefícios cientificamente comprovados. No passado não muito distante era comum os meios de comunicação transmitir propagandas de cigarros e bebidas com personagens fortes e saudáveis, induzindo o consumo desenfreado desses produtos que causam sérios riscos à saúde. Por fim, a limitação administrativa decorre de um viés contra a censura imposta pela ditadura militar e, assim, regra geral o Poder Público fica impedido de realizar qualquer ato que resulte na diminuição da liberdade de expressão. À exceção fica disciplinada no artigo 22, inciso XVI, o qual restringe a competência legislativa privativa da União para classificar as diversões públicas e programas de rádio e televisão. Com efeito, resta salientar que as limitações acima descritas também estão disciplinadas no artigo 5º, incisos IV – é livre a manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato, IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de censura ou licença, X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer e XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Cumpre estabelecer neste trabalho que o texto constitucional prima pela proteção de três liberdades expressamente consignadas. Primeiramente, a liberdade de manifestação de pensamento envolve a análise da liberdade de opinião. Essa se dirige a pessoas determinadas e indeterminadas. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1969/DF, assentou o entendimento de que a liberdade de manifestação de pensamento está associada ao direito ao segredo e ao direito de o manifestante se identificar. 280 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Em seguida, a liberdade de expressão e de comunicação está intimamente ligada à comunicação de pensamentos, ideias, informações e expressão verbal. Ou seja, o objeto principal dessa proteção se estende a chamada comunicação indireta, em que se insere a noção de gestos, expressões e murmúrios. A proteção conferida ao assédio moral no âmbito do trabalho se fundamenta nessa comunicação indireta, pois por ser uma situação difícil de ser materializada, o Tribunal Superior do Trabalho possui o entendimento de que gestos e expressões impróprias por parte do empregador indicam a concretização do assédio moral ao empregado. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento no Recurso Extraordinário nº 197.911/PE que o direito a liberdade de expressão e de comunicação atinge, inclusive, a esfera privada da pessoa física e jurídica. No caso analisado pela Corte Constitucional o sindicato dos trabalhadores conseguiu resguardar sua liberdade de expressão e de comunicação com os empregados por meio do quadro de avisos que a empresa disponibilizava para assuntos correlatos ao trabalho no âmbito interno das dependências do estabelecimento. Percebe-se, desse modo, que a liberdade de expressão e de comunicação possui índole defensiva, porquanto possui como fundamento os argumentos humanistas e democráticos da comunicação social. O argumento humanista defende a concretização da proteção a liberdade de expressão e de comunicação sob a ótica da dignidade da pessoa humana, ou seja, ao titular do direito cumpre buscar todas as formas de efetivação para que a comunicação seja a mais direta e clara possível, sem distorções no processo de transmissão da mensagem. O argumento democrático, o qual em alguns aspectos deriva do princípio do pluralismo, impõe a necessidade de garantia do exercício da liberdade de expressão e de comunicação para todos, ou seja, é um valor universal. Além disso, garante, no mínimo, a igualdade formal de acesso aos meios de comunicação. Interessante observar que o poder público, principalmente na área da educação, se preocupa em efetivar esse direito, pois o acesso a comunicação social é fundamental para o ensino e segue as diretrizes estabelecidas no artigo 205 da Constituição Federal. Por fim, a liberdade de informação garante o acesso à informação, o direito ao sigilo profissional e a proibição de censura. O direito de informação é uma via de mão dupla, pois a liberdade de informar e de ser informado garante ao titular do direito o exercício da liberdade de expressão e de comunicação e da própria liberdade de informação. III) ANÁLISE DOS ARTIGOS 222 AO 224 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O capítulo da ordem social é introduzido pelo artigo 220 que prevê que a “manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 281 Assim, a doutrina infere que a proteção absoluta da liberdade de expressão só pode ser excepcionada por meio de própria Carta Magna, ou seja, apenas por um processo de emenda à constituição pode-se relativizar esse direito fundamental. Importante ressaltar que a Constituição de 1988 foi a primeira constituição brasileira a prever expressamente um capítulo destinado a comunicação social, tamanha sua importância no atual cenário social, político e econômico do país. O Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento ocorrido em treze de novembro de 2009, consolidou o entendimento de que a restrição ao direito à liberdade de expressão e de comunicação pode ser realizada via lei. Todavia, essa interpretação foi contrária ao estabelecido pela doutrina pátria que rechaça a ideia de excepcionalidade por meio de lei ordinária. Com efeito, ficou assim ementado o acórdão: “”as liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral. (RE 511.961 Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 17-6-2009, Plenário, DJE de 13-11-2009). De fato, não foi a primeira vez que a Corte Constitucional utilizou do substantivo lei em sentido genérico. Cumpre, de todo modo, enfatizar que no julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental número 130, a chamada lei de imprensa foi objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal e sua inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo fato de ser formalmente lei ordinária, mas por seu conteúdo eminentemente proibitivo da atividade jornalística. O relator Ministro Ayres Britto afirmou que “a Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado nome ‘Da Comunicação Social (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de ‘atividades’ ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização. (...) “O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela CF como 282 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos”. (ADPF 130 Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 30-4-2009, Plenário, DJE de 6-11-2009.) Passando para a análise do artigo 220, parágrafo 5, o qual prevê a proibição de monopólio e oligopólios nos meios de comunicação social, o legislador buscou estabelecer a difusão do pensamento por meio dos estabelecimentos comunicacionais de forma mais ampla possível. Assim, a título de exemplo, no direito constitucional alemão a Corte Constitucional decidiu que o incentivo fiscal que o Estado estava concedendo para subsidiar as pequenas empresas de comunicação encontrava-se conforme os ditames constitucionais de proteção à liberdade de expressão e de comunicação da pessoa humana. O artigo 221 disciplina os princípios inerentes a comunicação social, também previstos no artigo 5. São princípios dirigidos aos programadores e produtores das emissoras de rádio e das empresas de televisão. Importante mudança ocorreu no artigo 221 com a promulgação da Emenda Constitucional 36 de 2002, que permitiu o ingresso do capital estrangeiro nos meios de comunicação social. A Proposta de Emenda à Constituição 5 de 2002, de autoria do Deputado LaProvita Vieira, deu origem a referida emenda com o fundamento em três fatores principais: globalização dos mercados; parcerias entre o empresariado nacional e estrangeiro e a reciprocidade em empreendimentos do gênero. Ademais, a necessidade de capitalizar as empresas e de fazer frente à atual crise financeira que as afeta, bem como a competição da televisão por assinatura, televisão digital e internet, levaram a necessidade de instrumentalizar os meios de comunicação social para cooptar as notícias de todo o mundo. A título de exemplo a BBC, empresa inglesa, possui no Brasil uma filial a qual é destinado o maior montante de recursos da matriz. O artigo 222 estende, além do artigo 12, parágrafo 3, a necessidade de brasileiro nato para ser proprietário de empresa jornalística e dos meios de comunicação. Ao brasileiro naturalizado com mais de dez anos será possível ser proprietário, porém sua participação estará restrita a trinta por cento do capital da empresa. O mínimo de setenta por cento do capital total e votante pertencerá ao brasileiro nato, exclusivamente, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 222. O parágrafo segundo do referido artigo estabelece a responsabilidade da edição dos meios de comunicação ao brasileiro nato e naturalizado com mais de dez anos. Assim, a Súmula 221 do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em completa harmonia com o texto constitucional ao dispor que “são civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano, decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação”. Em diversas ocasiões os tribunais reconhecem à pessoa que teve sua honra maculada por meio de publicações inverídicas a indenização e a responsabilização do autor do escrito solidariamente com o dono da empresa de comunicação. Seguindo a sequência dos artigos do capítulo da comunicação social, o artigo 223 estipula as regras gerais para concessão, permissão e autorização do serviço público Revista da Escola da Magistratura - nº 13 283 de comunicação social. A Lei 8.987/90 prevê as regras específicas para a delegação do serviço que também se aplicam aos meios de comunicação. O princípio basilar da delegação do serviço de comunicação social é a complementaridade dos sistemas privado, público e estatal. O sistema privado é guiado pelas regras do modelo capitalista, adotado pelo país, e pelas regras inerentes ao mercado financeiro. No sistema público impera o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, de modo que a intervenção do Estado se opera de maneira indireta. Neste sistema, a presunção de legalidade, legitimidade e a Lei 9.784/99 são utilizadas para fundamentar os atos inerentes à atividade. Por fim, no sistema estatal, o ente federado possui o controle majoritário de setenta por cento do capital total e votante da empresa. A Empresa Brasileira de Comunicação segue esse sistema, pois a União é proprietária majoritária. O capital privado pode ingressar na empresa sem nenhuma restrição, bem como o capital estrangeiro, com todas as ressalvas expressamente previstas no texto constitucional. O parágrafo primeiro do artigo 223 disciplina as regras do processo de apreciação pelo Congresso Nacional para a aprovação da delegação, permissão e concessão, do serviço público dos meios de comunicação. Assim, em quarenta e cinco dias o Congresso Nacional deve se manifestar sobre a aprovação ou reprovação do ato concessivo. Caso o Congresso opte pela negação da concessão ou permissão do serviço público deverá fazê-lo por maioria qualificada de dois quintos dos membros e em votação nominal. Ressalte-se que a votação nominal é muito rara no texto constitucional, sendo, portanto, interessante essa exigência no capítulo da comunicação social. O cancelamento do ato de concessão ou permissão só poderá ser feito via o Poder Judiciário. O ato de autorização, por sua natureza precária, pode ser revisto por meio de expediente da própria administração. O parágrafo quarto é expresso ao prever a reserva de jurisdição para a rescisão do contrato de concessão ou permissão antes do prazo previsto no instrumento. O parágrafo quinto estabelece os prazos máximos de concessão e permissão do serviço público de comunicação social: dez anos para emissoras de rádio e quinze anos para os meios televisivos, não renováveis. Esse controle permite que o Estado reveja a cada década suas prioridades na comunicação social e, mais relevante, aprimore os meios de comunicação. O último artigo, o 224, institui o Conselho de Comunicação Social, para funcionar como órgão auxiliar do Congresso Nacional na fiscalização, acompanhamento e direcionamento do setor dos meios de comunicação no país. A Lei 8.389/91 criou o referido Conselho, nos termos do artigo 224 que destinava a lei sua instituição. IV) NOVAS PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS Tramita no Congresso Nacional a Proposta de Emenda à Constituição número 15 de 2003, que acrescentar o parágrafo 7 ao artigo 220 a fim de permitir que a lei possa impor restrições à divulgação de pesquisa eleitoral. Essa introdução visa combater as pesquisas de opinião no dia da eleição a qual induz o eleitor a possível mudança de voto. Além disso, põe fim a especulação no resultado final da eleição. 284 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Outra proposição que se encontra no Congresso Nacional é a Proposta de Emenda à Constituição número 73 de 2007 que nova redação ao parágrafo 4 do artigo 220 para incluir os alimentos e bebidas no rol de produtos, práticas e serviços cuja propaganda comercial estará sujeita a restrições legais. Infere-se desse projeto a consciência de proteção ao consumidor e os direitos básicos de informação e responsabilidade do produtor e fornecedor de produtos potencialmente nocivos à pessoa humana. CONCLUSÃO A comunicação social na Assembléia Nacional Constituinte foi tema de grande destaque e relevância. Sua importância fala por si mesmo, pois a ampliação dos meios de comunicação é essencial ao desenvolvimento do país e ao crescimento intelectual da população. A Constituição acertou ao disponibilizar as regras gerais e os princípios no texto constitucional e possibilitar a regulação infraconstitucional por meio de lei ordinária. Outrossim, a conexão do capítulo destinado a comunicação social com os direitos e garantias individuais, estabelecidos no artigo 5, demonstra a importância de proteger as liberdades individuais de expressão e de comunicação, liberdades de informação, liberdades de exercício dos meios de comunicação. Essas são liberdades que despendem muito esforço do Estado, porquanto sua efetivação encontra-se presente em atos omissivos e comissivos dos agentes de comunicação. A proteção dos direitos relacionados a comunicação social possuem respaldo na teoria da dimensão horizontal e vertical dos direitos fundamentais, porquanto ao particular é cabível alegar essa proteção tanto para o ente federado quanto para o agente – particular. Desse modo, o Judiciário possui uma relevante função na proteção e efetivação da comunicação social no atual cenário político, social e econômico do Brasil. —— • —— Revista da Escola da Magistratura - nº 13 285 Fertilização In Vitro e suas Implicações no Ordenamento Jurídico Brasileiro Eduardo Navarro Pereira 1 Advogado formado pelo Centro Universitário de Brasília-CEUB, 2008. Pós-Graduado pela Escola de Magistratura do Distrito Federal RESUMO C om o advento das novas técnicas de Reprodução Humana Assistida houve uma profunda alteração do contexto social e jurídico que norteia a humanidade, pois lhe foi conferida a possibilidade de manipulação do surgimento da vida. Ocorre que, com os avanços advindos desses procedimentos, surgiu uma gama de implicações e questionamentos que ainda não possuem guarida no ordenamento jurídico brasileiro. A técnica da Fertilização in vitro, tratada na presente monografia, resulta na produção de diversos embriões excedentários que, por carência de legislação específica, acabam por favorecer inúmeras problemáticas no âmbito sucessório, fecundação post mortem, da determinação do início da vida e da personalidade civil, na presunção de paternidade disposta no art. 1.597 do Código Civil, bem como, a elevação da socioafetividade em relação à consanguinidade. Frente a essa lacuna jurídica existente, devem ser invocados os princípios basilares e norteadores do ordenamento jurídico brasileiro, para que seja possível o enfrentamento de tais questões. Não obstante, tendo em vista a lacuna existente, analisou-se no direito comparado as diversas soluções encontradas pelos diversos ordenamentos. Palavras-chave: Reprodução Humana Assistida, Direitos Fundamentais, Fecundação in vitro, Bioética, Embriões Excedentários, Ordenamento Jurídico Brasileiro,Direito Comparado. INTRODUÇÃO Os primeiros relatos que se tem notícia sobre o estudo da fertilização in vitro são datados de 1878, quando Schenk incubou oócitos fertilizados em cobaias, não obtendo Revista da Escola da Magistratura - nº 13 287 2 êxito, no entanto . No entanto, em 1889, Dickinson realizou nos Estados Unidos a primeira inseminação artificial heteróloga, mas somente em 1953, a inseminação arti3 ficial com sêmen congelado se tornou pública. Cumpre salientar que no decorrer do trabalho será explicado como é realizado o procedimento da fertilização in vitro, bem como, os termos técnicos aqui abordados. No Brasil, essa prática se tornou conhecida com o nascimento de Ana Paula Caldeira em sete de outubro de 1984, criança nascida no Hospital Santa Catarina, parto 4 por cesariana , o que deu início a utilização da fertilização in vitro no país. Desde então, o rápido avanço trazido com as técnicas de reprodução humana assistida acarretou uma nova realidade na sociedade, de modo que as novas situações trazidas pela reprodução assistida não puderam ser acompanhadas pelo ordenamento jurídico brasileiro, o que acabou por gerar uma diversidade de lacunas. A falta de legislação específica que coordene as técnicas de reprodução humana assistida gera uma imensa dificuldade em regular tais procedimentos, cabendo à doutrina e à jurisprudência dizerem essa “regulação” a partir do caso concreto. Sendo assim, é imprescindível invocar os princípios constitucionais basilares do ordenamento jurídico brasileiro para dizer sobre questões tão importantes, além, é claro, das diretrizes trazidas pela Bioética. A sociedade brasileira viu recentemente o julgamento da ADIN n° 3510-0, em que se pleiteava a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n° 11.105, a Lei de Biossegurança. Em que pese o presente trabalho não tratar sobre as pesquisas científicas, o julgamento desta representou para a sociedade brasileira um grande avanço para a futura regulamentação das técnicas de Reprodução Humana Assistida, pois foram suscitados, nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, infindáveis questões que careciam de uma pacificação, tal como determinar qual o momento em que se dá o início da proteção jurídica da vida humana. Apesar do presente trabalho não tratar sobre as pesquisas científicas, tal julgamento representou para a sociedade brasileira um grande avanço para a futura regulamentação das técnicas de Reprodução Humana Assistida, de modo que, foram suscitados nos votos dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, infindáveis questões que carecem de uma pacificação, tal como determinar qual o momento em que se dá o início da proteção jurídica da vida. Na técnica da Fertilização in vitro, a fim de se obter uma maior possibilidade de êxito de gravidez, são fecundados inúmeros embriões, sendo implantado na mulher o número máximo de quatro, o que acaba por gerar uma diversidade de embriões excedentários. As problemáticas trazidas por esses embriões excedentes são inúmeras, tais como a determinação do início da vida, da personalidade civil, bem como, a fecundação post mortem, recepcionada pelo art. 1.597 do Código Civil. Os questionamentos acerca dos direitos sucessórios desses embriões excedentes são infindáveis, por exemplo, o aparente conflito entres os arts. 1.597 e 1.798 do Código Civil. No primeiro, há a presunção de paternidade no caso de se tratar o embrião excedente, e no segundo há a disposição de que apenas estão legitimados a suceder pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. 288 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Ocorre que, pela previsão constitucional da igualdade entre os filhos, não legitimar os filhos havidos seria uma violação desse preceito da Constituição Federal. Lado outro, se houver testamento que os contemplem e esses estiverem concebidos até dois anos após a abertura da sucessão, estarão legitimados a suceder. Foi isso que se procurou demonstrar neste trabalho. Além da problemática trazida pelos embriões excedentes, a possibilidade da fecundação na modalidade heteróloga traz consigo outra gama de problemáticas. A filiação socioafetiva ganha um novo patamar no ordenamento jurídico brasileiro, passando a prevalecer muitas vezes sobre a consanguinidade. A limitação do direito à origem genética passa a ter fundamental importância nessa modalidade, conforme veremos adiante. O presente trabalho está subdividido em quatro capítulos. Inicialmente, explicita-se o Procedimento da Fertilização in vitro, explicando como funciona o processo da fertilização e os procedimentos em relação dos Embriões Excedentários, com a possibilidade da criopreservação. Adiante, na segunda parte, intitulada a “Bioética na Reprodução Humana Assistida e os Direitos Humanos”, traz os princípios da bioética que são de fundamental importância no futuro regulamentação das técnicas de reprodução humana assistida. Assim também, faz-se menção à Declaração Universal dos Direitos Humanos, inseridos na Constituição Federal, que deverão ser observados, bem como aos direitos fundamenteis e suas dimensões. Já a terceira parte trata das garantias que devem servir de parâmetros para preencher a lacuna existente no ordenamento jurídico brasileiro, tais como o princípio da dignidade da pessoa humana, do planejamento familiar, dentre outros, bem como, as situações jurídicas advindas com a utilização da Reprodução Humana Assistida, mais precisamente da fertilização in vitro, trazendo em seu conteúdo questões como o início da proteção jurídica da vida, personalidade civil, presunção de paternidade no Código Civil, filiação socioafetiva, bem como as implicações advindas da fecundação post mortem. O objetivo deste trabalho é, portanto, avaliar os conflitos trazidos pela Reprodução Humana Assistida, buscando suscitar as lacunas existentes e a necessidade de legislações específicas para a regulamentação dessas técnicas. Para tanto, buscou-se no Direito Comparado as soluções encontradas para tão periclitante questão, a fim de orientar o legislador brasileiro. A metodologia utilizada no presente artigo foi a dogmática e sociojurídica. Foi observado o vazio normativo do ordenamento jurídico brasileiro nessa matéria, utilizando-se ainda de uma abordagem interdisciplinar fornecida pela bioética. Em relação ao método de pesquisa, utilizou-se da pesquisa bibliográfica como grande instrumento. 1. DA FECUNDAÇÃO IN VITRO Desde os primórdios os homens seguem o mais básico dos instintos naturais, a procriação, buscando sempre a propagação e perpetuação da espécie. A humanidade mesmo atingida pelo diapasão do tempo, e com uma população alastrada por todo o Revista da Escola da Magistratura - nº 13 289 globo e disseminada em diferentes culturas e linhas de pensamento, é guiada por um inconsciente coletivo comum, que envolve a transmissão de genes aos filhos e a manutenção da família durante os tempos. Observa-se que essa obsessão pela fecundidade se perpetua desde os tempos antigos, nas mais antigas civilizações, nas quais em suas manifestações artísticas já demonstravam a importância da procriação para a humanidade, sendo esta o bem maior dos homens. Em Roma, com a figura do pater familias, a perpetuação da família, dos bens, e de todas as outras concessões dadas a esta, dependia exclusivamente da existência de herdeiros, de modo que, na falta destes, a figura do pater famílias e da própria família deixava de existir. No entanto, não é apenas em Roma que essa preocupação pode ser verificada. Na mitologia Grega, na religião Chinesa, Japonesa, nos contos brasileiros, e até em passagens da Bíblia, a preocupação com a fecundidade também 5 pode ser observada. O gênio humano buscou, através do tempo e por meio da evolução da ciência, da tecnologia e até do pensamento, o descobrimento de técnicas que pudessem garantir a reprodução de forma artificial, permitindo a homens e mulheres estéreis, a propagação de seus genes. No entanto, desde logo, faz-se mister salientar a diferenciação realizada por Juliana Frozel de Camargo, em sua obra Reprodução Humana – Ética e Direito, sobre infertilidade e esterilidade: Para melhor compreensão do assunto, faz-se oportuno esclarecer que, em ciências biológicas, há diferenciação entre esterelidade e infertilidade, uma vez que esta advém de causas orgânicas ou funcionais, que, atuando no fenômeno da fecundação, impossibilitam a produção de descendência; enquanto aquela consiste na incapacidade do homem ou da mulher, ou de ambos, por causas funcionais ou orgânicas, de fecundarem por um período de relação sexual normal, de, 6 no mínimo, dois anos, sem o uso de meios contraceptivos eficazes. A vida moderna traz consigo uma série de desdobramentos que implicam na tardia gestação, o que significa dizer que a fertilidade e a possibilidade de procriação diminuem, pelo simples decurso do tempo. O surgimento do capitalismo, o sufrágio feminino, a globalização, a própria evolução do pensamento inerente ao ser humano, a inserção da mulher no mercado de trabalho, o dinamismo e o desenfreado ritmo de vida, contribuíram e contribuem para essa nova realidade. Desse modo, as técnicas de Reprodução Humana Assistida se tornam, cada vez mais, fundamentais para o futuro da humanidade, devendo, todavia, encontrar no Direito seus limites. Nesse diapasão, podemos dizer: A procriação artificial inscreve-se num texto médico, científico e sociocultural próprio de sociedades industrializadas. Mas é no terreno jurídico que a nova realidade cria maiores desafios aos estudiosos: ela 7 desestabiliza o equilíbrio, sempre mais ou menos precário, do Direito. 290 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Ante todos esses aspectos históricos, não restam dúvidas de que o surgimento das técnicas de reprodução humana assistida representa para humanidade um grande avanço científico, demográfico e social, proporcionando a todos aqueles desprovidos de meios naturais o grande dom da descendência, permitindo-se ainda o pleno exercício daqueles direitos constitucionalmente previstos ao sujeito de direito, tal como o livre planejamento familiar, dando-lhes ainda condições de criar uma família banhada por toda a alegria e afeto que um filho pode proporcionar. Todavia, o advento desses procedimentos promove um verdadeiro pandemônio jurídico e social, rompendo diversas barreiras éticas e morais que fazem mudar a maneira de se ver o mundo. Senão vejamos: As técnicas de reprodução humana assistida suscitam questões muito controversas, que mexem com preconceitos e afetam diretamente as mulheres. Além de pôr em xeque algumas certezas com relação a gênero e a família, como necessidade de um casal para gerar um filho, ou mesmo de um relacionamento prévio entre um homem e uma mulher, a tecnologia da reprodução humana assistida mexe diretamente com a saúde das mulheres, despertando preocupações éticas e políticas. Atualmente essa é uma área de grande expansão na pesquisa científica, e a maior parte das experiências vem sendo feita em mulheres, a título de “tratamento”. Além de ser uma área de pesquisa, os tratamentos contra infertilidade mobilizam grandes interesses da indústria de medicamentos e jogam para último plano 8 as preocupações com os aspectos éticos da questão. Todavia, em que pese essa quebra de paradigmas e preceitos éticos, as técnicas de reprodução humana assistida se tornaram indispensáveis para o exercício de todos aqueles direitos constitucionais e ainda para a simples manutenção da vida. Vejamos: [...] Hoje em dia, a fecundação in vitro também se constitui numa fonte muito importante de embriões humanos, utilizados posteriormente para experiências de tipos diversos. Tudo ocorre num mundo em que a relativização moral – relativismo axiológico – [...] a célula base da sociedade, a família, experimentou um grande enfraquecimento, produto desta crise moral em que vivemos. [...] Por meio do uso da reprodução assistida, o homem passa a ter poder de decisão sobre o destino de vidas humanas, algo que, em outros tempos, só 9 competia a Deus... Atualmente, em que pese os inúmeros Projetos de Leis em trâmite no Senado Federal em busca de aprovação, apenas a Resolução n° 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, que não tem força de lei, estabelece algumas diretrizes de ética médica para a utilização das técnicas de reprodução humana assistida. Vejamos algumas de suas diretrizes. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 291 De acordo com o texto da Resolução supra, as técnicas de reprodução humana assistida têm papel de auxiliar na resolução dos problemas de infertilidade humana, facilitando o processo de procriação. Dispõe que toda mulher, capaz nos termos da lei, pode ser receptora das técnicas de Reprodução Assistida, desde que tenha concordado de maneira livre e consciente em documento de consentimento informado, salientando inclusive que estando casada ou em união estável, será necessária a aprovação do cônjuge ou do companheiro. Nos termos da Resolução, fica claro que, no intuito de minimizar o risco já existente de gravidez múltipla, o número ideal de oócitos e pré-embriões a serem transferidos para a receptora não deve ser superior a quatro. Não obstante, de fundamental importância para o que trataremos mais adiante, dispõe que no momento da criopreservação os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que deverá ser dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los. Igualmente importante para o presente estudo, a Resolução dispõe que os doadores não devem conhecer a identidade dos receptores e vice-versa, devendo ser obrigatoriamente mantido em sigilo a identidade de ambos. Ressalva, entretanto, que em situações especiais, as informações sobre doadores, por motivação médica, podem ser fornecidas exclusivamente para médicos, resguardando-se a identidade civil do doador. Sendo assim, as clínicas, centros ou serviços que empregam a doação devem manter, de forma permanente, registro de dados clínicos dos doadores. Pode-se dizer, portanto, que a presente resolução do Conselho Federal de Medicina, pode-se mostrar como grande alicerce para a futura regulamentação das técnicas de Reprodução Humana Assistida. Atualmente existem inúmeros projetos de lei que tramitam nas instâncias legislativas brasileiras na busca para a regulamentação das técnicas de reprodução humana assistida. Exemplo disso é o Projeto de Lei do Senado n° 90, de 1999 que tramitou no Congresso Nacional, sem sucesso, mas que representou um marco nessa busca de uma regulamentação. No entanto, em que pese representar apenas um início, o projeto pode se apresentar como marco na busca dessa tão esperada regulamentação. Cumpre ressaltar desde já, que veremos em capítulo oportuno o avanço legislativo brasilero. Vejamos o que diz Silvio de Salvo Venosa: Essa norma deve ser urgentemente carreada para nossa legislação, de acordo com Projeto que está em tramitação que dispõe sobre a reprodução assistida (Projeto de Lei do Senado, n° 90, de 1999). Há, no entanto, em discussão inúmeros outros projetos. De acordo com o referido Projeto n° 90, que se encontra em estado mais avançado de tramitação, os estabelecimentos que praticarem a reprodução humana assistida estarão obrigados a zelar pelo sigilo da doação, impedindo que doadores e usuários venham a conhecer reciprocamente suas identidades, zelando, da mesma forma, pelo sigilo absoluto das informações sobre a criança nascida a partir de material doado. Nesse projeto, abre-se, porém, a possibilidade de a pessoa gerada ter aces292 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 so às informações sobre sua geração em casos especificados em lei e quando houver razões médicas que tornem necessário o conhecimento genético. Estas últimas disposições são polêmicas. A nova lei deve examinar as várias técnicas possíveis de reprodução assistida, questão envolvendo a forma de consentimento do casal dentre tantos outros assuntos. Como se vê, o assunto ainda tateia na doutrina, visto que não há terreno seguro a ser trilhado nesse horizonte novo e vasto da ciência. Há necessidade de que invoquemos princípios éticos, sociológicos, fisiológicos e religiosos para uma normatização 10 da reprodução assistida. 1.1. Do procedimento da Fertilização in vitro Os estudos com a fertilização in vitro advêm do final do Século XIX evoluindo paulatinamente até o real surgimento do procedimento em 1978, quando os cientistas ingleses Robert Edwards e Patrick Stepoe conseguiram o nascimento do primeiro bebê advindo deste tipo de procedimento. Esse momento apresentou-se como ponto nodal para o grande “boom” das técnicas de reprodução humana assistida nos anos subsequentes, chegando-se a técnica que hoje é aplicada e tornando-se cada vez mais arraigada 11 na cultura humana . Vejamos: Assim, na década de 1980, com o êxito de mais de cem anos, a técnica em si da fertilização in vitro deixou de ser um assombro para a sociedade, que começou a se preocupar com os conflitos, as consequências éticas e legais inerente a ela, verificando-se a necessidade 12 mundial de regulamentação das práticas. No Brasil essa prática se tornou conhecida com o nascimento de Ana Paula Caldeira em sete de outubro de 1984, criança nascida no Hospital Santa Catarina, de 13 cesariana , constituindo este no grande marco histórico das técnicas de reprodução humana assistida no Brasil. A Fertilização in vitro (FIVET) “consiste basicamente em reproduzir, com técnicas de laboratório, o processo de fecundação do óvulo, que normalmente ocorre na parte superior das Trompas de Falópio, quando obstáculos insuperáveis impedem que este 14 fenômeno se realize intra corpore” . A técnica se dará da seguinte forma: A paciente receberá medicamentos para aumentar a capacidade dos ovários em produzir folículos, e com isto, obter uma quantidade maior de oócitos. Os efeitos dessa medicação serão avaliados, periodicamente, por intermédio de controle clínico, ultrassonográfico e laboratorial, que orientam a equipe médica a prever, com maior precisão, o aumento da ovulação e antecipar-se a ela entre aproximadamente uma a duas horas para iniciar a colheita dos oócitos. A Revista da Escola da Magistratura - nº 13 293 segunda etapa do citado tratamento consistirá na recuperação dos oócitos, que se dará de acordo com os casos individuais, por meio de ultrassonografia. A recuperação ultrassonográfica dos oócitos é, geralmente, realizada por via transvaginal [...] A terceira etapa será realizada no laboratório. Aqui se completará com a maturação dos oócitos, após que serão inseminados ou injetados com espermatozoide do marido, ou companheiro, previamente encubados em um meio de cultura adequado para preservar e aumentar sua capacidade de fertilização. Se houve opção pela FIV, excepcionalmente, pode suceder que ao ser realizada a contagem dos espermatozóides, o número resultante não seja suficientemente para fertilizar os oócitos, ou que, embora consiga número suficiente, não ocorra a fertilização; nestes casos, mudar-se-á o procedimento para ICSI, injetando os espermatozoides obtidos [...] Ocorrendo fertilização dos gametas-embriões, relizar-se-á a quarta etapa, consistente na transferência dos pré-embriões sob a mais restritas normas de assepsia. Nos casos de FIV ou ICSI, colocar-se-á o pré-embrião no interior do útero por meio de uma cânula especial sem anestesia, por se tratar de procedimento indolor [...] A transferência embrionária será efetuada entre 48 e 144 horas a partir da inseminação dos oócitos; ou no caso de congelamento para a preservação pré-embriões, a transferência só poderá ocorrer com a nova autorização de ambas as partes interessadas. O ovo humano, em desenvolvimento, será introduzido no útero materno, aproximadamente entre o estado de pró-núcleo e o de pré-embrião em fase blastocisto, o que ocorre entre o segundo e sexto 15 dia, a partir do momento da captação do oócito. Nesse contexto podemos afirmar então que a Fertilização in vitro se divide em três fundamentais passos, quais sejam a extração dos ovócitos da mulher, realizando-se uma posterior fecundação, ou seja, o encontro do espermatozoide com o óvulo, transferindo-se ao final o embrião para o interior do útero. Desse modo, uma vez que são retirados e fecundados diversos óvulos, a técnica pode repetida outras vezes, sem que seja necessária nova manobra invasiva para a retirada dos ovócitos. São os chamados Embriões Excedentários, que serão tratados posteriormente. Assim explicita Cristiane Bauren Vasconcelos: As técnicas de fertilização in vitro procuram reproduzir artificialmente o ambiente da trompa de Falópio (onde a fecundaçãodo oócito normalmente ocorreria), promovendo a fecundação dos gametas humanos em um tubo de ensaio e transferindo, posteriormente, os embriões obtidos para o útero da mulher. Compreende, para tanto, várias etapas, dentre elas: (a) estimulação da ovulação; (b) punção folicular e cultura de óvulos; (c) coleta e preparação do esperma; (d) armazenagem dos gametas; (e) inseminação e cultura dos embriões 294 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 em clivagem; (f) preservação de embriões; e, finalmente, (g) introdução dos gametas no útero. Os embriões que excederem o número 16 suficiente serão congelados. Para a obtenção da capacitação dos gametas primeiramente, a mulher irá utilizar-se de uma medicação diária que interromperá o funcionamento dos ovários, estimulando o crescimento folicular, seguida por uma estimulação da produção de óvulos. Realizado o procedimento, os ovócitos são coletados momentos antes da ovulação. Uma vez obtido o sêmen, este passa por um processo no qual apenas serão utilizados os espermatozoides no sobrenadante. Depois de realizado todo esse procedimento, o esperma será misturado a inúmeras substâncias químicas, no qual irá penetrar no óvulo in vitro. Por fim, tanto os espermatozoides quanto os óvulos, separadamente, são cultivados in vitro de 5 a 6 horas, aproximadamente, a 37-37, 2º, que é a temperatura do corpo feminino após a ovulação, para que, uma vez coletados e processados, completem seu amadurecimento (óvulos) ou sua capacitação (espermatozoides). Isto se realiza em tubos ou 17 placas de vidro (in vitro). A Fertilização in vitro assim se dará: Para a inseminação in vitro, colocam-se 50.000-100.000 espermatozoides para cada óvulo num tubo de vidro contendo um meio de cultivo apropriado. Isto se realiza no escuro, com o intuito de se simular o interior do ventre materno. Aproximadamente 3 mais tarde, os gametas se unem, e 12 horas após o início da fertilização, aparecem bem diferenciados os pró-núcleos masculino e feminino, os quais se unem, aproximadamente, 20 horas depois do início do processo. Uma vez formado o ovo, o zigoto, este é conservado num meio com todas as substâncias nutritivas necessárias a fim de que possa dividir-se até o estágio de 4 células [...] Após várias horas, o zigoto é passado a outro tubo ou placa de vidro para a eliminação dos espermatozoides excedentes e dos restos da parte externa do óvulo que possam ter ficado no meio do cultivo. De 25 a 35 horas após a inseminação, ocorre a primeira divisão do zigoto e o embrião resultante possui, então, 2 células; 48 horas depois, o embrião já é constituído por 4 células; e, 18 após 72 horas, por 8. Pode-se afirmar, portanto, que se trata de procedimento extremamente invasivo para a mulher, envolvendo a manipulação de medicamentos com hormônios que irão promover uma estimulação para a liberação de óvulos que serão retirados por laparoscopia do corpo da mulher, sendo os óvulos colocados em solução especial e guardados. Após o processo acima descrito, com a inserção do espermatozoide no óvulo, no máximo 4 (quatro) serão novamente inseridos no corpo da mulher em busca da ocorrência da Revista da Escola da Magistratura - nº 13 295 gravidez. Em que pese a baixa incidência de riscos, o sucesso da técnica é relativamente baixo, o que implica na repetição do procedimento, sendo, portanto, imprescindível a armazenagem dos embriões já fecundados. Além disso, outros fatores devem ser levados em conta a fim de maior probabilidade de sucesso da técnica: O sucesso do tratamento sofre influência de diversos fatores, sendo que o elemento isolado mais importante é a idade da mulher. Os melhores resultados são obtidos quando ela está abaixo de 30 anos. Pacientes entre 32 e 34 apresentam bons prognósticos, sendo que a partir dos 35 anos, a chance de sucesso passa a sofrer uma redução significativa. A literatura especializada traz relato de sucesso entre 25% e 40% por transferência de embriões, numa relação íntima com a idade da mulher, sendo que 25% parece representar uma boa média ponderada. A presença de endometriose comprometendo o bom funcionamento dos ovários é outro elemento que interfere nos resul19 tados. A fecundação pode se dar de diferentes formas, sendo o material genético de ambos os pais, a dita fecundação homóloga, ou sendo apenas um dos materiais genéticos dos pais, ou ainda com material genético de diversos doadores. Senão vejamos: Homóloga: consiste na reprodução assistida realizada mediante a doação ou recepção de material genético de casais que buscam uma solução para seus problemas de fertilidade ou de sexualidade, ou seja, os gametas (espermatozoide e óvulo) pertencem ao próprio casal solicitante. Heteróloga: é a reprodução realizada com a participação de gametas de um terceiro doador, alheio ao casal que deseja ter filhos. Mista: é entendida como uma vertente da fecundação heteróloga e consiste na realização da fecundação de uma mulher com sêmen proveniente de vários homens, entre os quais se encontra incluído o de seu parceiro; bem como a fecundação realizada com óvulos de distintas mulheres, misturados aos óvulos da parceria do casal que deseja ter filhos. É uma técnica criticada, tendo em vista a possibilidade de alterações genéticas, já que o material genético de várias pessoas são 20 misturados. É indubitável o fato de que a Fertilização in vitro ainda carece de aprimoramentos a fim de que haja um aumento na incidência de sucesso, e ainda na busca de um procedimento menos invasivo a saúde e integridade da mulher. Salienta-se ainda que cada vez mais se torna imprescindível e latente a necessidade da criação de uma Legislação Específica que regulamente as técnicas de reprodução humana assistida, dando maior segurança jurídica a esse ato que se torna cada vez mais disseminado na cultura brasileira. 296 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 1.2. Dos Embriões Excedentários O procedimento da Fertilização in vitro envolve a formação de inúmeros embriões fecundados, haja vista que não garante a certeza da gravidez. Todavia, a Resolução n° 1.358/92, único instrumento que atualmente estabelece diretrizes médicas acerca do procedimento, apenas permite a nidação de no máximo 4 (quatro) embriões fecundados, a fim de que se minimize a possibilidade de uma gravidez múltipla. Assim ensina Cristiane Beuren: Como a maioria das técnicas de fertilização in vitro utiliza os tratamentos de estimulação ovariana, dá-se vazão à obtenção de vários embriões, os quais não poderão ser transferidos na sua totalidade (o máximo permitido pela Resolução do CFM é o número de três ou quatro) para evitar gravidezes múltiplas e, consequentemente, risco para as gestantes e até mesmo para os bebês, além de prevenir os riscos já existentes de multiparidade. Como não existem normas internacionalmente uniformes acerca do número ideal de embriões a serem transferidos, cada país adota uma posição diferente: em Cingapura, o número de transferências é de quatro embriões para mulheres acima dos 35 anos com dois insucessos em tentativas anteriores; na Itália, a regra é de três, extensível a quatro para mulheres acima de 36 anos; na Coéria do Sul, o números varia de quatro a seis; na Grécia, de cinco a sete; na França, os CECOS limitaram o número a três ou quatro; no Brasil, o limite de transferência – segundo o disposto no Código de Ética Médica (Resolução nº 1.358/92) do Conselho 21 Federal de Medicina – também é de quatro. Acerca do destino destes embriões excedentários, além do disposto no art. 5º da Lei de Biossegurança, em que poderão ser utilizados para pesquisa se congelados há mais de 3 (três) anos, os embriões excedentes poderão ser destinados à fecundação de outras mulheres, pela doação ou ainda descartados com o consentimento dos pais. A criopreservação destes embriões excedentários é fundamental para que possam ser implantados posteriormente em outras fecundações. Esta assim se dará: A criopreservação dos pré-embriões dar-se-á da seguinte forma maneira: nos dias posteriores à inseminação de nossos oócitos, todo pré-embrião excedente será congelado. A equipe de laboratório o transferirá a uma solução especial, que contém o composto crioprotetor. Os pré-embriões serão resfriados até 150ºC negativos em um aparelho desenhado para controlar cuidadosamente o grau e o tempo de congelamento. Após isso, serão mantidos a uma temperatura de 22 196º C negativos, até que se decida descongela-los. A conservação dos embriões em câmaras de criogenia trouxe uma nova possibilidade para a geração de filhos, qual seja a questão da Fecundação Post Mortem, da qual trataremos melhor no capítulo seguinte. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 297 No entanto, pode-se dizer por enquanto que acerca desta podemos ter a fecundação post mortem de pai falecido, de mãe falecida, ou até no caso de ambos terem falecidos. Tal possibilidade levanta para o ordenamento jurídico, para o mundo da ética e da moral, uma série de questionamentos, quais sejam os direitos sucessórios que este nascituro poderia ter, ou como fazer nascer um filho sem que este jamais tenha a possibilidade de conhecer o próprio pai ou a própria mãe. Tais limites ou diretrizes ainda não possuem ainda um entendimento pacífico na doutrina. Nesse sentido, dispõe o art. 1.597 do novel Código Civil: Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Manifesta-se Venosa sobre a questão dos embriões excedentários: Outra questão que a técnica genética cria diz respeito à fecundação extracorporal, que o Código se refere como embriões excedentários, no inciso IV. Quando se busca a fecundação de embrião in vitro, a questão coloca-se no número plural de embriões que são obtidos por essa técnica. Apesar de tratar-se de uma técnica muito difundida e aplicada, traz o incoveniente de produzir embriões excedentes. Como existe um limite embriões que podem ser transferidos para o útero, sempre restarão embriões excedentes que serão mantidos congelados. Não se deve atribuir direitos aos embriões obtidos dessa forma, antes de sua introdução no aparelho reprodutor da mulher receptora, quanto então sim teremos um nascituro, com direitos definidos na lei [...] Essa fecundação é possível por vários métodos, mediante a manipulação dos gametas, espermatozoides e óvulos. A técnica atual permite conservar por tempo considerável sêmen e óvulos para utilização posterior no processo de fertilização. Nessa situação, sêmen e óvulos podem ser doados ou vendidos. Assim, o embrião de um casal pode ser transferido para o útero da mulher, para possibilitar a gestação, 23 impossível ou difícil na mãe biológica. Além da criopreservação, os embriões excedentes poderão ser doados, sem qualquer fim lucrativo, claro, para a utilização na nidação de terceiros, sempre que houver consentimento dos pais, conforme dispõe a Resolução n° 1.358/92, devendo ser obedecidos os ditames da Constituição Federal de 1988 que veda toda e qualquer comercialização de matéria humana com fins lucrativos. Não obstante, os embriões excedentes, estes poderão com o consentimento dos pais serem descartados, contrário sensu à proibição da Resolução do Conselho Federal de Medicina, sempre que transcorrido o prazo de três anos estipulado no art. 5º da Lei 298 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 de Biossegurança, haja vista que não há qualquer fundamento legal que estabeleça tal proibição. Vejamos: Descarte é a denominação atribuída à destruição dos embriões excedentes. As opiniões acerca de sua admissibilidade ou não variam de acordo com a corrente que se estuda. Para aqueles que acreditam ser o embrião humano, desde a concepção, pessoa, não há que se falar em descarte. Em opinião completamente oposta, os que entendem ser o embrião apenas um amontoado de células afirmam que ele se encontra em uma situação de total disponibilidade. Agora, para os adeptos da corrente intermediária, para a qual o embrião é uma pessoa em potencial, não há como se falar de uma disponibilidade sem 24 limites, porque não aceita a destruição de embriões. Igualmente neste contexto, Cristiane Beuren assevera: Enquanto a maioria dos países ainda não prevê critérios ou soluções jurídicas específicas acerca do prazo de armazenamento dessas vidas, o mundo depara com outro resultado mais sombrio: uma enorme quantidade de embriões excedentes crioconservados em laboratório à espera de um destino, seja ele o de um futuro projeto parental (que muitas vezes não ocorre por razões de várias ordens: desistência ou separação posteior do casal, morte de quaisquer dos cônjuges etc.), seja o da pesquisa e manipulação científicas, utilização em indústrias de cométicos ou , ainda, o descarte […] Atualmente, não há como contabilizá-los em face da multiplicação anual dos centros especializados em criogenia espalhados pelo mundo, especialmente em solos europeu e americano. Sua existência é notória e facilmente identificável por pesquisas na rede virtual. Na Inglaterra, existe até norma estatuindo tempo máximo de criopreservação. Decorrido este prazo, a prorrogação desse lapso temporal passa a depender da reafirmação expressa do consentimento do casal doador envolvido no procedimento. A falta de interesse implica no descarte ou doação para fins de presquisa. A necessidade de estabelecimento de um status para estes embriões é premente, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas institucionais capazes de previnir o problema. Mas, para 25 isso, é mister que se determine o marco inicial da vida humana. Em que pese o fato de que essa discussão doutrinária que se perpetuará, sem qualquer consenso entre os doutrinadores, durante enorme período, tal questão, a meu sentir, se encerra com a Declaração de Constitucionalidade do Art. 5º da Lei n° 11.105/2005, proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN n° 3.510-0. Com essa decisão ficou permitida a utilização dos embriões excedentários advindos da fecundação in vitro nas pesquisas de células-tronco que são, no termo Revista da Escola da Magistratura - nº 13 299 da lei, aquelas células de embrião que apresentam a capacidade de se transformar em células de qualquer tecido humano. Portanto, uma vez que se permite tal prática, passa-se desconsiderar o embrião in vitro como detentor de personalidade jurídica e, via de consequência, não lhe sendo garantindo os direitos inerentes ao nascituro, de modo que se torna plausível os descartes desses embriões excedentes, desde que haja o consentimento daqueles que se submeteram ao tratamento, quer pela fecundação homóloga ou heteróloga. Por fim, resta referendar a mais nova e crescente modalidade de utilização dos embriões excedentários, qual seja a utilização para o desenvolvimento de Pesquisas Científicas. Conforme disposto no art. 5º da Lei de Biossegurança, é permitida a utilização para fins de pesquisa e terapia, deste que os embriões decorram de fecundação in vitro, que estejam congelados há pelo menos três anos, ou que sejam inviáveis, lembrando que sempre se faz necessário o consentimento dos genitores. Nesse sentido, com a improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3.510-0 e a consequente constitucionalidade do art. 5º da lei supra, a realização de pesquisas nesses termos é claramente permitida. Assim, com essa nova faceta na realidade brasileira na busca pelo desenvolvimento da biogenética, a técnica da fertilização in vitro ganha um papel fundamental na busca pela cura de inúmeras enfermidades, representando a esperança de milhares de pessoas na procura de uma vida melhor alheia a qualquer problema de saúde que lhes limite no direito de viver. 2. ASPECTOS BIOÉTICOS E OS DIREITOS HUMANOS A ciência, principalmente no ramo da biotecnologia, caminha a passos largos nesse estrondoso avanço que vem proporcionando o surgimento de novas modalidades de manipulação da vida. Ocorre que essa evolução “natural” traz consigo inúmeros aspectos morais e éticos, que servirão sem dúvida como limitadores nesse rápido desenvolvimento. Nesse sentido, o surgimento da Bioética se mostra como principal ponto de partida para que, futuramente, esses novos procedimentos de reprodução humana assistida sejam passiveis de serem regulados pelo ordenamento jurídico brasileiro. Não obstante, a Bioética será de fundamental importância nessa nova realidade, vez que através dela será possível controlar todas essas novas relações que surgem, haja vista que traz, além de inúmeros princípios, aspectos éticos que serão imprescindíveis para o futuro da Biotecnologia e da própria humanidade. Façamos então uma breve digressão acerca dos aspectos éticos dessa nova modalidade de reprodução humana. Pode-se afirmar acerca das influências trazidas pelo avanço da biomedicina que: O homem passou a interferir em processos até então monopolizados pela natureza, inaugurando uma nova era que poderá se caracterizar pelo controle de determinados fenômenos que escapavam ao seu domínio. As técnicas de reprodução humana assistida, o mape300 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 amento do genoma, o prolongamento da vida mediante transplantes, as técnicas para alteração do sexo, a clonagem e a engenharia genética descortinaram de forma acelerada um cenário desconhecido e imprevisível, no qual o ser humano é simultaneamente ator 26 e espectador. Roberto Aguiar assim explicita: Quando tratamos da bioética, adentramos por um conjunto de princípios que se chocam com os pressupostos de um direito da Primeira Revolução Industrial. A bioética é um dos elementos constituidores de um direito ético, onde a vida, em todas as suas dimensões, seja respeitada. Daí a primeira interpenetração entre as duas facetas do saber. O direito fornece instrumentos formais a fim de que as normas éticas se transformem em documentos e procedimentos efetivos. Mas é a ética (que é também política) que vai questionar os valores e as práticas do direito positivo, introduzindo novos valores e procurando 27 responder aos desafios que emergem da contemporaneidade. Ademais, Geilza Fátima Cavalcanti aduz: A bioética é uma forma recente de ética aplicada à biologia e à medicina, que caracteriza o momento atual de avanço nessas áreas. É resultado de um interesse interdisciplinar sobre condutas de profissionais da área de saúde, juristas, legisladores, pesquisadores, pacientes e outras pessoas envolvidas naquelas relações […] São indagações científicas relacionadas com o direito, a biologia, a medicina, as ciências da vida e da saúde, a filosofia e a ética. Assim, descobertas recentes e fundamentais no campo da medicina e da biologia, são hoje analisadas e estudadas ao lado da teoria dos direitos humanos. Trata-se, no estudo da bioética, de estudar os limites, o certo e o errado no agir relacionado ao uso das diversas e recentes técnicas de biotecnologia. O papel da bioética ganha especial relevo com o avanço molecular e da genética […] Quanto a essa elaboração de critérios, ela se refere a uma delimitação das pesquisas científicas que envolvam o corpo humano. Busca solucionar uma notória colisão de direitos fundamentais que temos nessa área: a liberdade de pesquisa 28 científica versus a dignidade da pessoa humana. A bioética se baseia em três principais princípios, quais sejam o da beneficiência, da autonomia e da justiça. O primeiro implica na obrigatoriedade do profissional da saúde priorizar o bem-estar do paciente. Já o princípio da autonomia funda-se na simples liberdade de vontade do paciente, o qual será responsável pela própria vida. Por fim, no princípio da justiça teremos uma equidade entres as pessoas, aonde os avanços Revista da Escola da Magistratura - nº 13 301 alcançados pela ciência médica terão guarida para todos da sociedade, sem distinção 29 de cor, credo ou raça. Nesse contexto, ensina Geilza Fátima Cavalcanti: O princípio da autonomia deve ser entendido como respeito pela pessoa e, ao mesmo tempo, como a capacidade da pessoa de participar das pesquisas médicas. O princípio da beneficiência remonta às noções utilitaristas e importa em não causar dano que pode ser evitado e em maximizar os benefícios minimizando os riscos ao paciente […] O princípio da justiça significa imparcialidade na distribuição 30 dos riscos e dos benefícios. Decorrente da própria ética profissional que move os médicos no âmbito de sua profissão, o princípio da beneficência é o principal motor na utilização nos métodos de reprodução humana assistida, haja vista que os médicos devem sempre preconizar a saúde do paciente, evitando ao máximo quaisquer conseqüências advindas do uso procedimento, conforme previsão feita no Código de Ética Médica, art. 6º, o qual dispõe: O médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade 31 e integridade. Imperioso destacar o exposto por Cristiane Beuren: Para adentrar no campo da bioética, faz-se necessário o devido esclarecimeto do sentido e contornos da palavra “ética”. Longe de se pretender estabelecer um conceito fechado ou definitivo para o termo, a ambição é tornar possível sua compreensão a partir de uma leitura, não exauriente, de premissas constitutivas fundamentais importantes para a instauração de uma análise crítica da problemática tratada neste texto. Para isso, parte-se da etimologia do termo, de sua convivência com a técnica, bem como da contextualização de ambas no mercado capitalista […] O termo bioética refere-se à ética aplicada à genética e teve sua origem, basicamente, nos grandes temas – atualmente divisores de opiniões – da humanidade, entre eles: dos grandes avanços testemunhados na biologia molecular e biotecnologia aplicada à medicina; da denúncia de abusos realizados pelas experimentações genéticas em seres humanos; do pluralismo moral existente nos países de cultura ocidental; dos questionamentos levantados pela filosofia contemporânea no concernente à qualidade da vida humana, bem como seu início e seu final; do descontentamento expresso pelas instituições religiosas sobre esses temas; das intervenções estatais le302 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 gislativas envolvendo o respeito do direito à vida e à dignidade dos cidadãos; do posicionamento assumido por organismos e entidades supranacionais. Desde então, não parou mais de crescer em contin32 gentre e importância o seu debate na atualidade. Desse modo, conforme vimos anteriormente, a utilização da Fertilização In vitro é um método bastante invasivo, submetendo a mulher a um medicamento que interrompe o funcionamento dos ovários e aumenta a produção de oócitos, que nada mais é do que o óvulo feminino. Além disso, a FIVET (Fertilização In vitro) promove a produção de inúmeros óvulos fecundados in vitro, vez que é um procedimento que não garante a gravidez e que, portanto, faz-se necessário a fecundação de inúmeros zigotos, a fim de serem implantados posteriormente, caso necessário. Desse modo, o princípio da beneficência é essencial nesse aspecto, pois o médico deve informar sobre todos os aspectos, inclusive legais, e conseqüências da utilização desse procedimento àqueles que se submetem ao mesmo. Alguns autores, como Maria Garcia, elencam ainda como princípio da Bioética, o princípio da não-maleficência, que nada mais seria do que uma compulsão de não 33 praticar dano a outrem de maneira positiva ou por omissão. O princípio da autonomia, primordialmente, caracteriza-se naquela máxima em que a qualquer um será permitido a utilização desse tipo de técnica. Vejamos: O princípio da autonomia requer que o profissional da saúde respeite a vontade do paciente, ou de seu representante, levando em conta, em certa medida, seus valores morais e crenças religiosas. Reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida (corpo e mente) e o respeito à sua intimidade, restringindo, com isso, a intromissão alheia no mundo daquele que está sendo submetido a um tratamento. Considera o paciente capaz de autogovernar-se, ou seja, de fazer suas opções e agir sob a orientação dessas deliberações tomadas, devendo, por tal razão, ser tratado com autonomia. Aquele que tiver sua vontade reduzida deverá ser protegido. Autonomia seria a capacidade atuar com conhecimento de causa e sem qualquer coação ou influencia externa. Desse princípio decorrem a exigência do consentimento livre e informado e a maneira de como tomar decisões de substituição quando uma pessoa for incompetente ou incapaz, ou seja, não tiver autonomia suficiente para realizar a ação de que se trate, por estar 34 preso ou ter alguma deficiência mental. Por fim, se apresenta na bioética o princípio da justiça, o qual se calca naquele adágio constitucional preconizado no art. 5º, em que traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não obstante, funda-se no art. 226, § 7º, o qual atribui aos pais o direito do livre planejamento familiar. Sendo assim, surge para o Estado um dever de disponibilizar a todos seus cidadãos, sem qualquer distinção, a utilização das técnicas de reprodução humana assistida. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 303 Pode-se avaliar, portanto, que a Bioética traz consigo princípios de inúmeras áreas do direito e até do Código de Ética Médica, funcionando como grande norteador para o intérprete, doutrina, jurisprudência, e, claro, para o legislador, a fim de que finalmente se estabeleçam, sob a forma de lei, as diretrizes das técnicas de Reprodução Humana Assistida. Não obstante, o princípio da dignidade da pessoa humana surge como o grande limitador das atividades científicas e ainda como princípio basilar da bioética e do biodireito. Mais uma vez, é de suma relevância transpor para o presente trabalho os dizeres de Maria Helena Diniz, verbis: Com o reconhecimento do respeito à dignidade humana, a bioética e o biodireito passam a ter um sentido humanista, estabelecendo um vínculo com a justiça. Os direitos humanos, decorrentes da condição humana e das necessidades fundamentais de toda pessoa humana, referem-se à preservação da integridade e da dignidade dos seres humanos e à plena realização de sua personalidade. A bioética e o biodireito andam necessariamente juntos com os direitos humanos, não podendo, por isso, obstinar-se em não ver as tentativas da biologia molecular ou da biotecnologia de manterem injustiças contra a pessoa sob a máscara modernizante de que buscam o progresso científico em prol da humanidade. Se em algum lugar houver qualquer ato que não assegure a dignidade humana, ele deverá ser repudiado por contrariar as exigências ético-jurídicas dos direitos humanos. Assim sendo, intervenções científicas sobre a pessoa humana que possam atingir sua vida e a integridade físico-mental deverão subordinar-se a preceitos éticos e não poderão contrariar os direitos humanos. As práticas das “ciências da vida”, que podem trazer enormes benefícios à humanidade, contêm riscos potenciais muito perigosos e imprevisíveis, e, por tal razão, os profissionais da saúde devem estar atentos para que não transponham os limites éticos impostos pelo respeito à pessoa humana e à sua 35 vida, integridade e dignidade. Atualmente, apenas o Conselho Federal de Medicina, através da Resolução n° 1.358/92, orienta os especialistas em reprodução, elencando uma série de diretrizes e limitações para a realização da reprodução humana assistida, de modo que é a única norma que diz acerca desses tipos de técnicas. Por seu turno, a Lei de Biossegurança n° 11.105, de 24 de março de 2005, trata, ainda que indiretamente, da utilização desses procedimentos, assim dispondo: o Art. 5 É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: 304 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 I – sejam embriões inviáveis; ou II – sejam embriões congelados há 3 (três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de congelamento. o § 1 Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos genitores. o § 2 Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. o § 3 É vedada a comercialização do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no art. 15 da Lei 9.434 de 04.02.1997. A partir daí devem ser feitas algumas considerações acerca da redação desse artigo. Primeiramente, faz-se mister analisar se o embrião humano é ou não um ser dotado de personalidade jurídica, ou melhor, se este pode ser considerado um nascituro. Considerar o embrião in vitro como ser dotado de personalidade jurídica torna a disposição do artigo supra, ao menos despretensiosa, vez que permite, nos casos dispostos, sua utilização em pesquisa científicas. Contudo, ao passo que o § 3º trata o embrião ali presente como se material genético fosse, lhe coisifica, afastando a qualidade de sujeito 36 de direito do embrião. Faz-se mister salientar que de acordo com o ordenamento civil, à luz do art. 2º do novel Código Civil, a personalidade civil se adquire a partir do nascimento com vida, resguardando-se seus direitos desde sua concepção. Esse assunto será melhor apreciado mais adiante. Outro problema de suma relevância para a Bioética e todo o ordenamento jurídico reside na questão dos embriões excedentários. A Fecundação in vitro, a fim de obter uma maior probabilidade de êxito e, obviamente, uma maior possibilidade de gravidez, promove a geração de inúmeros embriões, dos quais apenas alguns são implantados na mulher. Ocorre que, apesar de serem transplantados determinados embriões no corpo da mulher, infindáveis outros não o são, ficando estes confinados à conservação em câmaras criogênicas, por ao menos 3 (três) anos nos moldes da Lei de Biossegurança, dando-lhes a partir daí outros destinos, tais como para nova implantação no corpo da mãe genética, ou para outros casais, pesquisas, ou até o descarte. Voltando-se novamente à questão do início da vida, já que a partir daí é possível definir o futuro que será dado a esses embriões excedentários, é sabido que o embrião apenas começa a adquirir impulsos cerebrais a partir do 14º dia, ou seja, a partir de então teríamos a vida humana, de modo que, antes desse período o que temos é um mero emaranhado de células, sem qualquer atividade cerebral lhe garante a qualidade 37 de nascituro . Nesse sentido, entendendo-se dessa forma, os embriões excedentários não poderiam ser considerados vida humana de forma alguma, constituindo-se somente como uma mera expectativa de vida, existência esta que apenas se concretizará com esse prazo transcorrido após a nidação. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 305 Ponto quase incontroverso na Bioética reside na questão do consentimento de ambos os pais para a realização do procedimento de reprodução assistida, principalmente quando se tratar de fecundação heteróloga, sempre que haja casamento ou união estável, devendo ainda os doadores renunciarem a qualquer tipo de direito sobre a criança daí advinda. Todavia, tais aspectos serão relativizados em alguns momentos, podendo ser essa aceitação inclusive tácita, sob alguns aspectos elementares da bioética, da própria Constituição Federal e do novel Código Civil. A conservação dos embriões em câmaras de criogenia trouxe outra nova possibilidade para a geração de filhos, qual seja a questão da Fecundação Post Mortem, que será melhor abordado mais adiante do presente estudo, tema este que se constitui em ponto de suma contrariedade no ordenamento jurídico e ético. Assim, pode ocorrer a fecundação post mortem de pai falecido, de mãe falecida, ou até no caso de ambos terem falecidos. Todavia, tal possibilidade levanta para o ordenamento jurídico e para o mundo da ética e da moral, uma série de questionamentos, quais sejam os direitos sucessórios que este nascituro poderia ter, ou ainda, como fazer nascer um filho sem que este jamais tenha a possibilidade de conhecer o próprio pai ou a própria mãe, ou ainda o direito de filiação deste menor, bem como, tantas outras possibilidades que poderiam ser aqui elencadas. Assim sendo, uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro não regula a Fecundação Post Mortem, esta promove sem dúvida um dos grandes pontos de dúvida na doutrina brasileira. Devem, então, ser considerados alguns princípios basilares do direito, tais como a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o livre planejamento familiar, e ainda, o princípio nodal do Direito de Família, qual seja, o princípio do melhor interesse do menor. A partir deste último, uma vez que não haveria um ambiente familiar adequado para a criação do menor, a Fecundação Post Mortem deveria ser proibida. Todavia, esse critério não pode ser absoluto, haja vista que, não obstante a Constituição Federal ter instituído novas formas de instituição familiar, como a família monoparental, ou seja, aquela formada por um dos pais e seus descentes, a Fecundação post mortem é um procedimento que, em que pese toda sua problemática, não possui a meu ver, guarida que lhe permita ser vedada. Entretanto, devem ser estabelecidas limitações a essa prática, como se poderá observar mais adiante. Como se pode ver são muitos os aspectos éticos que circundam a reprodução humana assistida, de modo que é imprescindível a realização de uma abordagem interdisciplinar para que tais procedimentos sejam passíveis de regularização. Uma vez que todas essas questões envolvem o bem maior do Estado Democrático de Direito, dignidade, e o bem maior da humanidade, a vida, há, obviamente, uma celeuma jurídica que ainda padece de reconhecimento legal. Com o surgimento das novas modalidades de manipulação da vida, cada vez se faz mais necessário a integração entre o Direito, Moral e Ética, de modo que seja possível, sempre se observando aqueles princípios e diretrizes básicos inerentes à própria essência do Estado Democrático de Direito, tais como os direitos fundamentais e os direitos humanos. Os primeiros possuem previsão constitucional, sendo direitos inerentes a cada cidadão, ao passo que, estes se caracterizam por serem direitos intrínsecos à própria natureza do homem. 306 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Nesse sentido, faz-se necessário trazer a possível definição dos direitos humanos, elencando-os nos moldes da Declaração de Direitos Humanos da ONU, de modo que serão imprescindíveis na futura regulamentação das técnicas de reprodução humana assistida. Após a Segunda Guerra Mundial, os anseios nazistas pela busca da purificação da raça ariana, pela eugenia e o consequente massacre dos judeus, fizeram surgir para a humanidade a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas de 10 de dezembro de 1948. Aqui as diretrizes que serão pertinentes no presente estudos, verbis: Artigo I - Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo II - Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. Artigo III - Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo VI - Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Artigo VII - Todos são iguais perante a lei e tem direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. Artigo XXV - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle. 2. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da mesma proteção social. Artigo XXIV - 2. No exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade demo38 crática. Como se pode avaliar, a Constituição Federal de 1988 trouxe consigo diversos dos direitos humanos abarcados na presente Declaração, buscando-se sempre a igualdade entre os homens, resguardando-lhes sempre o respeito da dignidade da pessoa humana. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 307 Todavia, o caráter universal dos direitos humanos abarcados do documento supra, não significa que os direitos ali compreendidos devem ter seus entendimentos padronizados, ou melhor, apesar de terem caráter absoluto em sua essência, devem ser amoldados as diferenças de cada Estado, haja vista as diversidades culturais, religiosas e éticas de cada cultura, levando-se em conta sempre o princípio da autodeterminação 39 dos povos. Pode-se assim dizer sobre a conceituação de aplicação dos Direitos Humanos: Os direitos humanos, assim compreendidos, devem atuar concomitantemente com os direitos fundamentais de cada ordem jurídica coconstitucional em particular. Na aplicação de determinado preceito positivado por dado ordenamento particular, deve-se colocar em mira os valores que norteiam os direitos humanos. Verifica-se a necessidade de se promover a reaproximação entre a esfera do Direi40 to, da Moral e da Ética. Sendo assim, os direitos humanos se mostram como diretrizes que buscam “defender a pessoa humana contra os excessos do poder ou daqueles que exercitam o 41 poder, visto que também são oponíveis contra atos de outros indivíduos” . A partir daí, pode-se firmar o claro entendimento de que os direitos humanos visam sempre defender a liberdade de cada indivíduo de direito, bem como, resguardar a sempre presente dignidade da pessoa humana. Vale salientar que buscar garantias aos indivíduos do Estado, a Declaração dos Direitos Humanos influi, quase que diretamente, nas diretrizes governamentais de cada Estado Democrático de Direito. Não restam dúvidas que a vida humana e a dignidade dos indivíduos devem ser vistos como elementos absolutos, salvaguardadas as peculiaridades existentes em cada Estado Democrático, mas sempre lhes garantindo a aplicação e o respeito desses princípios. Vejamos. Os direitos fundamentais, na qualidade de normas constitucionais, não dependem somente de seu conhecimento normativo para que sejam eficazes. Para sua plena efetivação, necessitam esses direitos de um real sistema de proteção; e que os indivíduos possam dispor de meios pertinentes para assegurá-los, o que requer a prescrição de garantias constitucionais e recursos jurisdicionais adequados. Os direitos fundamentais e os direitos humanos identificam-se, fundamentalmente, por suas características materiais, na medida em que se expressam como os direitos mais importantes do indivíduo. A importância desses direitos deriva de sua relação com a dignidade da pessoa 42 humana e da sua imprescindibilidade em um sistema democrático. Como já exaustivamente explicitado, o surgimento das novas técnicas de reprodução humana assistida fez surgir novas relações e situações jurídicas, que acabaram por 308 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 modificar os interesses e direitos de cada indivíduo, de modo que, se torna necessário buscar para estabelecer limites e diretrizes à esse tipo de procedimento, toda essa gama de direitos fundamentais e humanos, estabelecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e referendados na Constituição, sendo esses princípios inerentes a própria concepção do Estado Democrático de Direito. 2.1 Tipologia dos Direitos Fundamentais e suas Dimensões O direitos fundamentais surgem inicialmente como freio para o arbítrio estatal no seu âmbito de atuação, como verdadeiros direitos de defesa do indivíduo em face do Estado, sendo inicalmente ligados ao valor de liberdade, ou seja, caracterizaram-se precipuamente como direitos de caráter negativo, exigindo uma não atuação estatal em face dos indivíduos. Sobre o tema ensina Paulo Bonavides: A vinculação essencial dos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade humana, enquanto valores históricos e filosóficos, nos conduzirá sem óbices ao significado de universalidade inerente a esses direitos como ideal da pessoa humana. A universalidade se manifestou pela vez primeira, qual descoberta do racionalismo francês da Revolução, por ensejo da célebre Declaração dos Direito do Homem de 1789. A percepção teórica identificou aquele traço na Declaração francesa durante a célebre polêmica de Boutmy com Jellinek ao começo deste século. Constatou-se então com irrecusável veracidade que as declarações antecedentes de ingleses e americanos podiam talvez ganhar em concretude, mas perdiam espaço de abrangência, porquanto se dirigiam a uma camada social privilegiada (os barões feudais), quando muito a um povo ou a uma sociedade que se libertava politicamente, conforme era o caso das antigas colônias americanas, ao passo que a Declaração francesa de 1789 tinha por destinatário o gênero humano. Por isso mesmo, e pelas condições da época, foi a mais abstrata de todas as formulações solenes já feitas acerca da liberdade. Os direitos do homem ou da liberdade, se assim podemos exprimi-los, eram ali “direitos naturais, inalienáveis e sagrados”, direitos tidos também por imprescritíveis, abraçando a liberdade, a 43 propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Assim ensina Geilza Fátima Cavalcanti: Classificam-se os direitos fundamentais em gerações levando-se em conta, entre outros aspectos, o modelo de Estado adotado em cada uma delas. A Revolução Industrial, no século XVIII, e o movimento do Iluminismo relacionam-se com o modelo liberal, o qual tinha Revista da Escola da Magistratura - nº 13 309 por preceito que o Estado deveria interferir o mínimo possível nas relações sociais, assegurando a liberdade dos indivíduos. Não à, os direitos relativos a essa época são chamados de direitos negativos ou de primeira geração, cuja efetivação pressupõe uma não-intervenção do Estado, como reação da classe burguesa ao Estado totalitário e 44 absolutista que reinava até então. Consubstanciados, portanto, nos chamados direitos de primeira dimensão, encontram guarida em em documentos oriundos dos Séculos XVII, XVIII e XIX, como da 45 Carta de 1215 assinada pelo rei João Sem Terra, as Declarações Francesa e Americana. São portanto, direito fundamentais que importam em um não fazer do Estado, de modo que sua concretização depende de uma ausência estatal. Conforme bem lembra Geilza Cavalcanti, tais direitos se consubstanciam na noção jusnaturalista de direitos inerentes ao ser humano, como o direito à vida, que necessita apenas de uma não intervenção do 46 Estado. São, assim, direitos que valorizam o homem como indivíduo singular. Nas noções de Paulo Bonavides podemos referendar: Os direitos de primeira geração são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do Ocidente. Se hoje esses direitos parecem já pacíficos na codificação política, em verdade se moveram em cada País constitucional num processo dinâmico e ascendente, entrecortado não raro de eventuais recuos, conforme a natureza do respctivo modelo de sociedade, mas permitindo visualizar a cada passo de uma trajetória que parte com frequência do mero reconhecimento formal para concretizações parciais e progressivas, até ganhar a máxima amplitude nos quadros consensuais de efetivação democrática do poder […] Os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o Estado. Entram na categoria do status negativo da classificação de Jellinek e fazem também ressaltar na ordem dos valores políticos a nítida separação entre a Sociedade e o Estado. Sem o reconhecimento dessa separação, não se pode aquilatar o verdadeiro caráter anti-estatal dos direitos da liberdade, conforme tem sido professado como tanto desvelo terórico pelas correntes do pensamento liberal 47 de teor clássico. Ultrapassado este marco histórico, com o advento da Revolução Industrial Europeia no Século XIX e com as duas Grandes Guerras surge a ideia do Estado de Bem Estar Social, cujos princípios aduz que todo o indivíduo teria o direito, desde seu nascimento 310 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 até sua morte, a um conjunto de bens e serviços que deveriam ter seu fornecimento garantido seja diretamente através do Estado ou indiretamente, mediante seu poder de regulamentação sobre a sociedade civil. Esses direitos incluiriam a educação em todos os níveis, a assistência médica gratuita, o auxílio ao desempregado, a garantia de uma 48 renda mínima, recursos adicionais para a criação dos filhos. Representam, pois, um direito de prestação material aos indivíduos da sociedade. Nessa esteira de pensamento devemos trazer à baíla os ensinamentos de Paulo Bonavides: Os direitos de segunda geração merecem um exame mais amplo. Dominam o século XX do mesmo modo como os direitos da primeira geração dominaram o século passado. São os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das distintas formar de Estado social, depois que germinaram por obra da ideologia e da reflexão antiliberal deste século. Nasceram abraçados ao princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os amapara e estimula […] De juridicidade questionada nesta fase, foram eles remetidos à chamada esfera programática, em virtude de não conterem para sua concretização aquelas garantias habitualmente ministradas pelos instrumentos processuais de proteção aos direitos da liberdade. Atravessaram, a seguir, uma crise de observância e execução, cujo fim parece estar perto, desde que recentes Constituições, inclusive a do Brasil, formularam o preceito da aplicabilidade imediata dos 49 direitos fundamentais. Neste sentido, explicita Geilza Cavalcanti: Com o fim da Segunda Guerra Mundial novos direitos foram reconhecidos, em um processo histórico em que os direitos se somam, nunca se excluem. Tais direitos, que vieram, pois, a se somarem com os direitos de primeira dimensão, são os direitos econômicos e sociais, consagrados especialmente pela Constituição alemã de 1919 – A Constituição de Weimar […] Os direitos de segunda geração são frutos de um período histórico conturbado, situado entre o século XIX e os primeiros anos do século XX, em que houve uma grave deterioração do quadro social, especialmente na Europa e nos Estados Unidos […] A partir da segunda geração de direitos, buscava-se não somente a realização das liberdades individuais, mas também, uma igualdade de todos perante a lei e o Estado, pois o capitalismo e liberalismo que até então reinavam estavam criando sérias desigualdades econômicos e sociais entre os cidadãos, e a filosofia era de que o Estado não poderia, dado seu traço não intervencionista, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 311 remediar tal situação […] Lutou-se e foram conquistados os chamados direitos de crédito do indivíduo em relação à coletividade, tais como direitos do trabalho, saúde, educação, segurança social, etc. Eram direitos positivos, ou seja, que pressupunham, para a sua concretização, uma prestação do Estado, a qual poderia ser de índole material ou normativa. Essa geração de direitos, assim, modificou a relação até então existente entre um indivíduo e Estado e coincide com o Estado Social […] Os direitos sociais, assim como os direitos de primeira geração, são direitos subjetivo. O que os diferencia destes é que aqueles são meros direitos de agir que, para se concretizarem implicam apenas uma abstenção, um non facere por parte do sujeito passivo. Os direitos de segunda geração, se constituem em direitos de 50 exigir, são direitos, pois, de crédito. Nesse sentido, trago à baíla ainda os ensinamentos de Marília de Ávila e Silva Sampaio: Além das funções descritas pelas dimensões objetiva e subjetiva dos direitos fundamentais, vale registrar o esforço de sistematização que se tornou clássico, desenvolvido por Jellinek, e que se tornou ponto de partida para outros estudos doutrinários, conhecido como a teoria dos status. Tal teoria tomou por base as posições que o indivíduo pode assumir perantes os Estado […] Em apertada síntese, o status passivo diz respeito à posição do cidadão frente ao Estado, na condição de submissão aos deveres impostos pelo mesmo. O status negativo é consectário da personalidade de que são detentores os homens, pois esta enseja uma parcela de liberdade em relação à interferência dos poderes públicos. O status positivo diz respeito à possibilidade de o cidadão exisgir do Estado algumas prestações em seu favor e, por fim, o status ativo é concernente aos direitos políticos exercidos pelos cidadãos, como forma de possibilitar a interferência direta destes 51 sobre a formação da vontade estatal. De acordo com tais ensinamentos, pode-se dizer que tais direitos sociais representam não só uma conquista socíal, mas parte do núcleo intangível da Constituição Federal, mas representam direitos pertencentes a um mínimo existencial capaz de garantir respeito ao princípio bazilador da dignidade da pessoa humana. Representam, pois, um núcleo nulo de direitos que não podem ser suprimidos pelo constituinte, sob pena de violação do princípio da vedação do retrocesso. Advindos agora de uma sociedade massificada, os direitos de terceira dimensão representam um novo marco na busca pela concretização de determinados direitos, pugnando-se por uma nova perspectiva da coletividade, passando a individualidade a dar lugar à coletividade, ou seja, as preocupações passam a ser representadas por uma direito coletivo. Assim ensina Perdro Lenza: 312 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Marcado pela alteração da sociedade, por profundas mudanças na comunidade internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico e científico), as relações econômico-sociais se alteram profundamente. Novos problemas e preocupações mundais surgem, tais como a necessária noção de preservacionismo ambiental 52 e as dificuldades para proteção dos consumidores. Assim elucida Paulo Bonavides: A consistência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar em seguida a que se buscasse uma outra dimensão dos direitos fundamentais, até então desconhecida […] Com efeito, um novo polo jurídico de alforria do homem se acrescenta historicamente aos da liberdade e da igualdade. Dotado de altísimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século equanto direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. Tem primeiro destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os publicistas e juristas já os enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eleas da reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio53 ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade. O importante avanço proveniente de novas tecnologias trazidas pela ciência, faz surgir uma série de novas possibilidade para humanidade. Nesse contexto, uma vez que essas novas tecnologias possibilitam ao homem um novo horizonte de possibilidades, surge para o Direito uma série de novas situações passíveis de regulação. Assim, partindo-se das premissas de Noberto Bobbio, pode-se dizer acerca dos direitos de quarta dimensão: Como frutos da evolução humana e da sociedade, os direitos fundamentais representam m processo de conquistas do homem na luta por seus direitos ao longo do tempo. Assim, atualmente fala-se em uma quarta geração de direitos humanos fundamentais, que coincidiria com um novo modelo estatal: o Estado neoliberal globalizado. Esse novo modelo caracteriza-se por uma elasticidade no conceito de soberania, para proporcionar maior integração entre todos os Estado […] Tal universalidadedos direitos humanos, que se torna latente com a quarta geração, faz com que haja uma maior concretização dos direitos fundamentais, que deixam de ser direitos do homem desta Revista da Escola da Magistratura - nº 13 313 ou daquele Estado, para passarem a ser direitos do gênero humano universalmente considerado […] Os direitos de quarta geração coincide com as inovações tecnológicas, que criam para a humanidade problemas que forçariam o Direito a apresentar soluções. Sob pena de alteração e deterioração do genoma humano, deve haver limitações às pesquisas e uso de dados com vistas à preservação do patrimônio genético da espécie humana. O Direito não protege, nesse ínterim, o indivíduo, mas sim, o membro de uma espécie de seres vivos Costuma-se definir os direitos de quarta geração como aqueles que resultam dos novos conhecimentos e tecnologias resultantes das 54 pesquisas biológicas contemporâneas. Em outro sentido, na esteira de pensamento de Paulo Bonavides pode-se dizer: São direitos da quarta geração o direito à democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência. A democracia positivada enquanto direito de quarta geração há de ser, de necessidade, uma democracia direta. Materialmente possível graças aos avanços da tecnologia de comunicação, e legitimamente sustentável graças à informação correta e às aberturas pluralistas do sistema […] Os direitos da quarta geração não somente culminam a objetividade dos direitos das duas gerações antecedentes como absorvem – sem, todavia, removê-la – a subjetividade dos direitos individuais, a saber, os direitos da primeira geração. Tais direitos sobrevivem, e não apenas sobrevivem, senão ficam opulentados em sua dimensão principal, objetiva e axiológica, podendo, doravante, irradiar-se com a mais subida eficácia normativa a todos os direitos da sociedade e do ordenamento. Daqui se pode, assim, partir para a asserção de que os direitos da segunra, terceira e da quarta gerações não se interpretam, concretizam-se. É na esteira dessa concretização que reside o futuro incorporadora de seus valores de libertação […] Enfim, os direitos da quarta geração compendiam o futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. Tão 55 somente com ele será legítima e possível a globalização política. Pode-se observar, diante dos ensinamentos acima expostos, que paira profunda divergência na doutrina acerca de qual o real conteúdo dos ditos direitos de quarta dimensão. Assim podemos asseverar a partir dos ensinamentos de Geilza Cavalcanti: Além da controvérsia acima exposta, sobre a existência, ou não, dos direitos de quarta geração, há grande divergência doutrinária sobre o conteúdo ou conceitos desses direitos. Os direitos humanos de quar314 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 ta geração seriam os direitos difusos e globalizados, concernentes à evolução biogenética, tecnológica e do meio ambiente (direitos à vida das gerações futuras, direitos a uma vida saudável e em harmonia com a natureza, desenvolvimento sustentável, bioética, manipulação genética, biotecnologia e bioengenharia, direitos advindos da realidade virtual) […] Mas, afinal, qual será o efetivo conteúdo dessa dimensão de direitos fundamentais? Estariam eles consubstanciados no direito à democracia, à informação e ao pluralismos, como afirma Paulo Bonavides? Ou seriam direitos ligados à bioética, a novas formas de manipulação da vida humana? […] Em suma, grande parte da doutrina entende como conteúdo dos chamados direitos humanos de quarta dimensão aqueles relativos aos avanços biocientíficos e tecnológicos ocorridos hordiernamente. Com efeito, há pouco tempo atrás não se pensava na necessidade de regulamentar e garantir esses 56 direitos relacionados ao próprio corpo, embora eles já existissem. Em que pese a discordância doutrinária existente, tal divergência tem pouca valia nessa esteira de dimensões dos direitos fundamentais, haja vista que a evolução da sociedade implica, a todo momento, no surgimentos de novos direitos a serem concretizados e regulamentados pelo ordenamento jurídico. Existem autores, ainda que de forma tímida, que já têm acrescentado outras dimensões de direitos fundamentais. Para alguns autores, o direito de quinta dimensão parte-se da ideia de um entrelaçamento entre Direito, Moral e Ética, aonda não basta a existência de uma lei regulamentadora do direito, mas sim um reconhecimento de sua relação obrigatória com outras disciplinas. Paulo Bonavidades, por sua vez, consubstanciado na doutrina de Karel Vasak , coloca o direito à paz como direito de quinta dimensão. Por sua vez, o dito direito de sexta dimensão está relacionado ao direito ao amor, à beleza. Entende-se que diante dos padrões instituídos na sociedade capitalista, o Estado deve propiciar o acesso a estes, de modo do a possibilitar um Direito de Inclusão Social dos indivíduos na sociedade. Sobre o tema podemos concluir: Os direitos de primeira, da segunda e da terceira geração abriram caminho ao advento de uma nova concepção de universalidade dos direitos humanos fundamentais, totalmente distinta dos sentido abstrato e metafísico de que se impregnou a Declaração de Direitos do Homem de 1789, uma Declaração de compromisso ideológico definido, mas que nem por isso deixou de lograr expansão ilimitada, servindo de ponto de partida valioso para a inserção dos direitos da liberdade – direitos civis e políticos – no constitucionalismo rígido do nosso tempo, com uma amplitude formal de positivação a que nem sempre corresponderam os respectivos conteúdos materiais. A nova universalidade dos direitos fundamentais os coloca assim, desde o princípio, num grau mais alto de juridicidade, concretude, positividade e eficácia. É universalidade que não exclui os direitos da liberdade, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 315 mas primeiro fortalece com as expectativas e os pressupostos de melhor concretizá-los mediante a efetiva adoção dos direitos da igualdade e da fraternidade […] A nova universalidade procura, enfim, subjetivar de forma concreta e positiva os direitos da tríplice geração na titularidade de um indivíduo que antes de ser homem deste ou daquele País, de uma sociedade desenvolvida ou subdesenvolvida, é pela sua condição de pessoa a um ente qualificado por sua pertinên57 cia ao gênero humano, objeto daquela universalidade. 3. GARANTIAS E SITUAÇÕES JURÍDICAS É indubitável o fato de que o surgimento de procedimentos de reprodução humana assistida possibilita ao homem o grande dom da descendência, garantia dada pela Constituição, a qual elencou, em seu rol de direitos fundamentais, direitos de cada indivíduo, tais como o direito de descendência, do livre planejamento familiar, origem genética, dentre tantos outros. Com o aparecimento dessas novas situações jurídicas é indispensável que se faça uma majoração dos valores e princípios constitucionais fundamentais, partindo-se sempre da premissa da inafastabilidade da dignidade da pessoa humana e da inviolabilidade do direito à vida. 3.1 Do direito à vida Dispõe o art. 5º da Constituição Federal de 1988 que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Garantido está o direito à vida pela norma constitucional em cláusula pétrea (art. 5º), que é intangível, pois contra ela nem mesmo há o poder de emendar. Daí conter uma força paralisante total de toda a legislação que, explícita ou implicitamente, vier a contrariá-la, por força do art. 60, §4º, da Constituição Federal. O art. 5º da norma constitucional tem eficácia positiva e negativa. Positiva, por ter incidência imediata e ser intangível, ou não emendável, visto que não pode ser modificado por processo normal de emenda. Possui eficácia negativa por vedar qualquer lei que lhe seja contrastante, daí sua força vinculante, paralisante total e imediata, permanecendo intangível, ou não emendável pelo poder constituinte derivado, exceto por meio de revolução ou de ato de novo poder constituinte originário, criando e instaurando uma novel ordem jurídica. O direito à vida deverá ser respeitado ante a prescrição constitucional de sua invio316 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 labilidade absoluta, sob pena de se destituir ou suprimir a própria 58 Constituição Federal, acarretando a ruptura do sistema jurídico. A Constituição Federal de 1988 já prevê como “principal” direito fundamental, o direito à vida, excludente de qualquer outro que o atente. Desse modo, qualquer ato ou direito que atente contra a vida deve ser firmemente afastado. Novamente, faz-se mister invocar os dizeres de Maria Helena Diniz:. A vida tem prioridade sobre todas as coisas, uma vez que a dinâmica do mundo nela se contém e sem ela nada terá sentido. Consequentemente, o direito à vida prevalecerá sobre qualquer outro, seja ele o de liberdade religiosa, de integridade física ou mental etc. Havendo con59 flito entre dois direitos, incidirá o princípio primado mais relevante. Portanto, pode-se afirmar que a vida se constitui como um bem jurídico tutelado pelo Estado e resguardado pela Constituição Federal, de modo que se constitui por si só uma limitação à utilização desenfreada das técnicas de reprodução humana assistida. Nesse sentido, conclui o professor Daury César Fabriz: Se às ciências da vida cabe o livre exercício do especular em torno das várias possibilidades dos elementos que integram a vida, cabe ao Direito proceder ao enquadramento legal, no sentido de se preservar a integridade da vida e da pessoa humana. Nesse enquadramento, os instrumentos jurídicos a serem criados, diante dessas novas demanadas, devem buscar inspiração no campo da Ética e a partir dela; a oferta de um núcleo de preceitos que venha responsabilizar os possíveis abusos cometidos, principalmente àqueles afetos ao direito à vida. A vida é a premissa maior, donde tudo o mais deve ser derivativo. Em conclusão, ninguém deve ser privado arbitrariamente de sua vida. Mas, como vimos, dessa premissa maior decorrem várias menores, que devem ser mais bem analisadas em consonância com 60 outro princípio superior, o da dignidade da pessoa humana[...] Além da previsão constitucional sobre o direito à vida, o Código Civil se manifestou sobre o início da proteção jurídica da vida humana, dispondo assim no art. 2° do Código Civil: “personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. A redação pouco clara do artigo em tela levanta uma série de questões sobre o início da personalidade civil, o que proporcionou o surgimento de diversas teorias acerca do surgimento do sujeito de direito dotado de personalidade. A discussão acerca do momento do início da vida encontra respaldo entres as diversas teorias que buscam definir esse momento, tais como as correntes natalistas e concepcionistas. Cumpre salientar que a improcedência da ADIN n° 3.510-0, com a consequente constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança, representa sem Revista da Escola da Magistratura - nº 13 317 dúvida um grande avanço para se chegar a um entendimento comum no ordenamento jurídico brasileiro, deixando de considerar os embriões conservados in vitro como se nascituros fossem, e, portanto, deixando de conceder-lhes os direitos inerentes ao nascituro, principalmente o inafastável direito à vida. Todavia, apesar desse posicionamento do Supremo Tribunal Federal quanto ao destino dos embriões excedentários, a discussão quanto ao momento do início da vida está longe de ser pacíficada, refletindo em diversas outras áreas do ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, é imprescindível para o presente estudo trazer as principais correntes que buscam determinar o começo da vida humana, da personalidade civil. Vale salientar que a personalidade civil nada mais é que a capacidade de cada indivíduo de exercer direitos e adimplir obrigações, aptidão essa adquirida após o nascimento com vida, ou seja, quando o nascituro enche os pulmões de ar, há o marco do 61 início da vida . Primeiramente, a corrente concepcionista fixa o entendimento de que com a concepção, ou seja, com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide surge a vida, sendo o nascituro, portanto, ser vivo dotado de personalidade jurídica, de modo que, desde 62 então há a existência de um ser dotado de DNA próprio . À luz de tal entendimento, o nascituro desde a concepção é sujeito de direito, ou seja, passível de ser titular de direitos, sendo reconhecida sua personalidade jurídica desde sua concepção. Em contraposição à corrente concepcionista, segue a corrente natalista, na qual o nascituro se torna sujeito de direito quando nasce, de modo que, na gestação existe 63 apenas uma esperança de personalidade, ou seja, há uma mera expectativa de vida . É pois, a partir do nascimento com vida que o nascituro passa a fazer jus a toda a gama de direitos inerentes ao sujeito de direito, como sucessão, propriedade, etc., ou, se de outra forma o nascituro nascer morto, é como se jamais tivesse existido. Promovendo uma junção das teorias natalista e concepcionista, a teoria da personalidade condicionada explicita que o início da personalidade jurídica se dá com a concepção, condicionando-a ao nascimento com vida do nascituro, de modo que, 64 assim sendo, seus direitos retroagem à concepção. Passada a explanação acerca do início da personalidade jurídica, sobre as teorias que explicitam sobre momento do início da vida, há ainda a chamada corrente desenvolvimentista, na qual a mera fecundação não é suficientemente capaz de caracterizar o início da vida, de modo que, “os desenvolvimentistas acham que a fecundação, mesmo estabelecendo as bases genéticas, o novo ser necessita de certo grau de desenvolvimento, e, por isso, a vida começaria com a nidação, para outros da formação do córtex cerebral, 65 ou, mesmo, a partir do parto”. Sob o diapasão da corrente desenvolvimentista, inclusive amplamente referendado pelos Ministros na ADIN n° 3.510-0, o início da vida do embrião pode ser considerado a partir do 14° dia de desenvolvimento, fase em que o feto começa a ter os primeiros impulsos nervosos. Nesse sentido, a Resolução n° 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina dispõe no item VI. 3 que “o tempo máximo de desenvolvimento de pré-embriões ‘in vitro’ será de 14 dias”. Tal posicionamento evidencia a tese de que com o início da formação nervosa do embrião o início da vida pode ser verificado. Todavia, não há a menor linearidade no entendimento sobre essa questão. 318 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 A declaração de constitucionalidade do art. 5° da Lei de Biossegurança pode ser o grande marco para que se possa chegar a um entendimento uniforme sobre o início da proteção jurídica da vida e da personalidade civil, pelo menos no ordenamento jurídico. A utilização dos embriões in vitro para fins de pesquisa e terapia, a concepção, ou seja, a união dos gametas masculino e feminino, não é o real marco para o início da proteção jurídica da vida e da personalidade civil, vez que não trata o embrião ali contido como se nascituro fosse, a quem é garantido primordialmente o direito à vida, garantia essa que não lhes é concedida. Ocorre que fixar esse entendimento é um tanto quanto perigoso, haja vista que significaria afirmar que o embrião in vitro não faria jus aos direitos sucessórios e filiação no caso de uma fecundação post mortem, por exemplo, circunstância esta que, apesar de pouco referendada no Código Civil, é uma possibilidade cada vez mais crescente com a utilização da reprodução assistida. Sérgio Abdalla Semião ao tratar sobre a doutrina concepcionista no âmbito da biogenética, assim se pronuncia: [...] a chamada doutrina verdadeiramente concepcionista mostra-se mais retrógrada diante da embriologia. Não há como explicar, sob esta corrente, que só porque o embrião não está no ventre materno, não seja pessoa, mesmo que tecnicamente também não seja nascituro. A qualidade e a essência dos seres e das coisas, não se modificam, ontologicamente, apenas por sua localização no espaço ou pelos diversos nomes que têm, a menos que sejam coisas e seres diferentes. Nascituro ou não, o embrião fertilizado in vitro está concebido. Se não é nascituro, concebido é. Destarte, aquela doutrina, que ao contrário da doutrina natalista afirma que desde a concepção o fruto do ser humano é pessoa, entra em total contradição diante da biogenética [...] a adoção desta doutrina significaria um retrocesso de uma magnitude descomunal e, na verdade, inexeqüível, colocando em risco a efetividade do sistema jurídico, bem como a evolução 66 científica do país. Lado outro, à luz do entendimento do mesmo autor, a corrente natalista se apresenta como a melhor solução para essa problemática, haja vista que o nascituro se mostra apenas como mera expectativa de pessoa, como expectativa de sujeito de direitos, de modo que, o infans conceptus é parte do ventre materno e ao se separar da genitora com vida, a personalidade civil tem seu início. Vejamos. A escola natalista, que, por sua vez, defende a taxatividade dos direitos do nascituro como meras expectativas, atende não só ao aspecto prático, como também ao aspecto jurídico em conformidade com a interpretação sistemática e teleológica do nosso ordenamento jurídico como um todo... A escola natalista não se confronta com a evolução da genética e do biodireito, e, ao mesmo tempo, pode se adaptar até com as opiniões da Igreja Católica. Ou seja, a escola natalista adapta-se perfeitamente ao mundo moderno e ao futuro previsível, assim como se adaptou muito bem ao Direito Revista da Escola da Magistratura - nº 13 319 Romano. A sua aplicação prática sempre foi possível e, pelo que tudo indica, nesta era, 67 sempre o será. Pode-se evidenciar, portanto, a dificuldade do ordenamento jurídico em fixar o real entendimento sobre qual é o marco do início da proteção jurídica da vida, da personalidade jurídica. A corrente desenvolvimentista parece se apresentar como o entendimento mais coerente ao ordenamento jurídico brasileiro, adequando-se ainda a biogenética, evidenciada ainda pelo entendimento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal nos votos da ADIN n° 3.510-0, determinando-se como grande marco do início da vida o início das formações nervosas do feto. Pode-se dizer ainda, que os embriões in vitro não podem ser considerados ainda como nascituros, mas sim um sujeito de direito em potencial. 3.2 Do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana Elemento basilar do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana está elencado no art. 1º da Constituição Federal de 1988, verbis: Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a dignidade da pessoa humana; O princípio da dignidade da pessoa humana não possui uma definição clara, não estando intimamente ligado à integridade física, psíquica e moral, de modo que, constitui-se como grande orientador desse todo jurídico e ético ao qual nos submetemos, trazendo consigo a máxima de que o bem estar individual não poderá ser afastado em benefício de nenhum interesse coletivo. Desse modo, pode-se dizer que o princípio da dignidade da pessoa abrange uma gama de direitos individuais, da personalidade, fundamentais à existência de um sujeito de direito e inerentes à sua existência. Todavia, em que pese seu caráter individual, tal princípio não se pode limitar a essa mera concepção, estendendo-se a toda aquela gama moral e ética que envolve a própria sociedade dando-lhe diretrizes que regem todas as relações entre os indivíduos. Pode-se dizer ainda que o princípio da dignidade da pessoa humana é essencial na manutenção da vida em sociedade, caracterizando-se como elemento precípuo para uma vida digna. Vejamos o que nos ensina o celebre Daury César Fabriz: O princípio da dignidade da pessoa humana manifesta-se como instrumento abalizador dos demais princípios e direitos compreendidos como superiores. Se a vida é o pressuposto fundamental, premissa maior, a dignidade se absolutiza em razão de uma vida que somente é significativa, se digna. É claro que o conceito de dignidade deve se orientar de acordo com a cultura à qual vincula-se como valor. Dependerá da consciência de cada cultura em particular, ao considerar 320 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 a vida como um valor. A dignidade da pessoa é própria dela mesma, e diz respeito a qualquer indivíduo, sendo que o ser (liberdade) deve 68 prevalecer sobre o ter (propriedade). Ocorre que, ao passo que surgem as novas técnicas de reprodução humana assistida, tal como a fecundação in vitro, um arriscado caminho começa a ser trilhado, que envolve desumanizar o embrião humano dando-lhe um caráter de coisa, tornando-o um objeto passível de toda e qualquer manipulação. Nesse sentido se manifesta Maria Helena Diniz: Os biocientistas devem ter como paradigma o respeito à dignidade da pessoa humana, que é o fundamento do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III) e o cerne de todo o ordenamento jurídico. Deveras, a pessoa humana e sua dignidade constituem fundamento e fim da sociedade e do Estado, sendo o valor que prevalecerá sobre qualquer tipo de avanço tecnológico. Consequentemente, não poderão bioética e biodireito admitir conduta que venha a reduzir a pessoa humana à condição de coisa, retirando dela sua dignidade e o direito 69 a uma vida digna. Todavia, essa desumanização do embrião in vitro não acontece, haja vista que o mesmo não se apresenta como um nascituro propriamente dito, constituindo-se em um mero feto em potencial, que adquirirá sua proteção com a nidação. No entanto, não se pode fechar os olhos para uma futura regulamentação sobre os embriões excedentários e sobre todos os demais procedimentos de reprodução assistida, de modo que o ordenamento jurídico deve-se mostrar como um norteador e limitador a essas técnicas e suas consequências. Em que pese a inafastabilidade do princípio da dignidade da pessoa humana e sendo este o grande norteador do Estado Democrático de Direito, tal fundamento não pode ser visto isoladamente, pois todos os outros princípios elementares da República Federativa Brasileira irão se apresentar igualmente a fim de regular essas novas relações jurídicas existentes. Não há como afastar do indivíduo o direito à saúde consagrado no art. 196 da CF/88, ou então da liberdade, que envolve a livre escolha pela utilização da reprodução assistida, ou então do direito à maternidade (art. 203, I, CF/88), do livre planejamento familiar, da paternidade responsável. Desse modo, uma vez que a família é a base de todo Estado, cabe a ele assisti-la e protegê-la, vez que é direito de todo cidadão buscar pela reprodução assistida. Daury César Fabriz responde assim a esses questionamentos: Os direitos fundamentais emanados da Constituição e os direitos humanos prescritos pelas declarações de direito, tratados e convenções internacionais, devem implicar uma nova arquitetura que possa determinar o devido respeito à dignidade da pessoa humana, na esteira Revista da Escola da Magistratura - nº 13 321 de uma teorização política, cuja orientação busque ordenar a nova realidade que se encontra em curso, devendo os contextos minoritários ser respeitados e protegidos. O campo da Bioética não pode prescindir da esfera dos direitos superiores, na concepção, positivação e 70 aplicação do biodireito[...] É indubitável, portanto, que as técnicas de reprodução humana assistida representam uma nova realidade na sociedade, proporcionando aos casais estéreis a construção de uma família, de modo que, sob a observância dos princípios constitucionais a busca por esses métodos de reprodução é um direito de todo cidadão e cabe ao Estado, por meio de legislações específicas, regular a utilização destes. 3.3 Do Livre Planejamento Familiar Previsto como garantia constitucional, o livre planejamento familiar encontra sua previsão na Magna Carta no art. 226, § 7º, o qual segue em epígrafe, verbis: Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propriciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Nesse sentido, a Lei n° 9.263 de 12 de janeiro de 1996 regulou o supracitado indicativo constitucional estabelecendo penalidades e outras providências, conforme abaixo: Art. 1º O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta Lei. Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Art. 3º O planejamento familiar é parte integrante do conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento global e integral à saúde. Art. 4º O planejamento familiar orienta-se por ações preventivas e educativas e pela garantia de acesso igualitário a informações, meios, métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade. Art. 5º - É dever do Estado, através do Sistema Único de Saúde, em associação, no que couber, às instâncias componentes do sistema educacional, promover condições e recursos informativos, educacio322 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 nais, técnicos e científicos que assegurem o livre exercício do planejamento familiar. Portanto, à luz de tal diploma, o livre planejamento familiar é cabível a toda e qualquer pessoa humana, restando a ela ou ao casal a deliberação de escolher os meios e as formas para constituir essa entidade chamada família, fundando-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, sendo dever do Estado 71 propiciar e assegurar meios para o desenvolto exercício desse direito. Lembrando que a paternidade responsável se calca na máxima de que caberá aos pais o dever de assegurar aos filhos o direito à vida, integridade, alimentação, educação, lazer, afeto etc. “A influência dos pais na formação do filho é primordial para seu desenvolvimento psicossocial, inclusive com consequências no próprio conceito de cidadania, que começa a se desenvolver dentro do lar, com as noções preliminares 72 de direitos e obrigações”. Faz-se mister salientar que o advento da Constituição Federal de 1988 fez surgir para o direito uma nova concepção de família, desvinculando-se daquela concepção matrimonialista que ordenou tal conceito do século passado. Desse modo, a existência da entidade familiar pode ser calcada no matrimônio, na união estável, ou então aquela dita família monoparental, ou seja, aquela formada por um ascendente e um descendente, ou ainda anaparental, dentre outras formas de entidades familiares, haja vista que o dispositivo supra não é numerus clausus. Sendo assim, fundada sob um modelo eudemonista, em que se busca o desenvolvimento individual de cada indivíduo da família, e à luz do princípio do pluralismo familiar, a entidade familiar passa a se constituir por vínculos de afetividade, estabilidade e publicidade. “Predomina, assim, um modelo familiar eudemonista, afirmando-se a busca da realização plena do ser humano. Aliás, constata-se, finalmente, que a família é o lócus privilegiado para garantir a dignidade 73 humana e permitir a realização plena do ser humano”. Pode-se afirmar, portanto, que com o advento da CF/88, surge para o direito de família uma ideia de constitucionalização, que envolve, além de sua publicização, sua elevação ao nível de direitos fundamentais, de modo que o torna passível de uma proteção mais intensa por parte do ordenamento. À luz desse entendimento tem-se a ideia da importância que foi dada à família pela Magna Carta. Além da previsão constitucional do livre planejamento familiar, o Código Civil abarcou esse direito no art. 1.565, § 2º, vejamos: “O planejamento familiar é de livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas”. Em face de toda essa atenção que foi dada à entidade família, caberá a cada um, o livre planejamento familiar seja pela procriação comum, natural ou aquela dita reprodução assistida, a qual cada vez mais se localiza nos liames do Direito de Família, de modo a representar essa nova realidade parental, calcada na felicidade e no afeto, propiciando àqueles inférteis esse grande dom da descendência. Ocorre que, toda essa liberdade do planejamento familiar disposta na Constituição Federal e no Código Civil acaba por gerar uma série de problemáticas no âmbito Revista da Escola da Magistratura - nº 13 323 civil, no tocante às técnicas de reprodução humana assistida, como a fertilização in vitro post mortem. Vejamos. A criopreservação permite o congelamento dos embriões excedentes para posterior implantação no útero materno, de modo que, possibilita a fecundação do embrião congelado após a dissolução do vínculo conjugal ou ainda se houver a morte de um dos cônjuges ou companheiro. Cumpre ressaltar que a Resolução n° 1.358/92 determina que “no momento da criopreservação, os cônjuges ou companheiros devem expressar sua vontade, por escrito, quanto ao destino que será dado aos pré-embriões criopreservados, em caso de divórcio, doenças graves ou de falecimento de um deles ou de ambos, e quando desejam doá-los”. Ocorre que, como aqui amplamente referendado, a resolução não possui força de lei, ficando apenas inserida no contexto ético. Apesar de não ter ainda o devido respaldo legislativo, a fecundação post mortem, na modalidade homóloga, encontra, ainda que superficialmente, previsão no novo Código Civil, o qual elenca nas hipóteses de presunção de paternidade do art. 1.597, inciso III, o filho havido por fecundação homóloga, ainda que falecido o marido. Não restam dúvidas, portanto, que o Código Civil anuiu com esse tipo de procedimento post mortem, restando a lacuna, no entanto, se é conferido a esse filho os direitos sucessórios advindos da sucessão legítima, conforme nos art. 1.829, I e art. 1.845 do Código Civil. Na hipótese da fecundação in vitro homóloga, onde o material genético é de ambos os pais, é inegável que a filiação biológica se aproxima da filiação jurídica, ou seja, há o parentesco consanguíneo entre os pais e o filho. Desse modo, à luz do disposto nos artigos supracitados, uma vez constituído esse parentesco consanguíneo, os filhos tornam-se herdeiros necessários, quando lhes são conferidos direitos sucessórios. Entretanto, de encontro a essa vertente, dispõe o artigo 1.798 do Código Civil que se legitimam a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Surge aí a grande problemática, qual seja a de que o embrião excedente in vitro quando inserido no útero materno, faz jus ao direito de sucessão. Emana desta situação, novamente, a questão de determinar se o embrião criopreservado é ou não concebido. Guiando-se pelo julgamento da ADIN n° 3.510-0, os embriões congelados não podem ser considerados com seres concebidos, não fazendo jus, desse modo, a sucessão legítima. Todavia, não se configura o cerne do presente trabalho fixar de pronto tal entendimento, mas sim suscitar as problemáticas trazidas por esse procedimento. Desse modo, assim se manifesta Cristiane Avancini Alves: Quanto à inseminação post mortem, existem dois pontos diferentes de indagação. O primeiro refere-se ao congelamento do sêmen ou óvulo, enquanto que o segundo diz respeito à conservação do embrião. Isto porque temos qualificações distintas. O sêmen e o óvulo não são considerados seres humanos, pois isso não ocorreu, neste ponto, a fecundação, ou seja, a união entre eles. Já o embrião é um ser humano, pois, com a concepção, está configurada a sua informação genética, determinada, única. Para ambos os casos, contudo, há a necessidade 324 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 de uma definição temporal de implantação, pois não é possível deixar em suspenso bens que afetam o patrimônio de toda uma família ou, 74 até mesmo, de uma empresa, de uma rede de negócios. Conforme disposto no artigo 1.799, I, do Código Civil, o testador pode chamar a suceder os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas no testamento, nos termos artigo 1.800, § 4º do mesmo ordenamento, se decorridos dois anos da abertura da sucessão, não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados a ele, salvo disposição diversa do testador, caberão aos herdeiros legítimos, assim considerados à época. O conflito gerado pela inquieta indagação se o filho concebido por fecundação post mortem faz jus ou não à sucessão legítima faz a doutrina se digladiar em determinar a lacuna que o Código Civil não tratou de forma mais ampla, buscando sempre encontrar finalmente um consenso sobre o direito ou não à sucessão legítima. Sob a égide do disposto no artigo 1.798 do Código Civil, apenas são aptos a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, cujo prazo para início acontece com o falecimento, ou seja, sob este entendimento pode-se dizer que o filho concebido pela fecundação post mortem não faz jus aos direitos sucessórios inerentes aos herdeiros necessários. Lado outro, à luz do disposto na Constituição Federal e no Código Civil é explícito o preceito de igualdade entre os filhos, não podendo haver de modo algum discriminação entre eles, bem como, aos preceitos da dignidade da pessoa humana, herança, e da presunção disposta no art. 1.597 do Código Civil. É inegável que o ordenamento jurídico brasileiro precisa urgentemente de uma solução para essa lacuna existente, sendo imprescindível que se estabeleça um lapso temporal para que esse embrião seja concebido. Se houver disposição testamentária, esse prazo é claro, conforme disposto no artigo 1.800, § 4º, havendo dois anos para que seja concebido o infante. Não havendo testamento, é indispensável que para que haja direito sucessório do filho havido por fecundação post mortem, que este tenha sido concebido dentro dos prazos estabelecidos no art. 1.597, incisos I e II do Código Civil, ou seja, nascido cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal ou nascidos nos trezentos dias subsequentes a morte do de cujus. Ao fixar esse prazo, concede-se aos herdeiros legítimos uma maior segurança jurídica a partilha realizada após o falecimento, de modo que, ultrapassado esse período acima e havendo filho concebido por fecundação post mortem, este não pode fazer jus a herança deixar pelo de cujus, não sendo necessário, portanto, o retorno ao status quo do momento da abertura da sucessão. Assim se manifesta Cristiane Avancini Alves: Sugere-se, neste sentido, a disposição francesa de 180 dias para a implantação após a morte do marido no caso de embriões congelados, na medida em que todo o processo de indução da ovulação quanto à mulher e recolhimento de esperma pelo homem, bem com a fertilização in vitro, são procedimentos já realizados no âmbito da reprodução assistida. Quanto à inseminação posto mortem de esperma e Revista da Escola da Magistratura - nº 13 325 óvulo, poder-se-ia pensar num prazo de 210 dias, para que seja feita, assim, a fertilização. Ainda, estabelece-se o requisito da autorização por documento autêntico, de maneira a preservar e legitimar o desejo do próprio casal de ter um filho, corroborando a relação conjugal e, 75 assim, o projeto parental. Por toda essa problemática acima desenvolvida, alguns autores rechaçam veementemente a utilização da fecundação post mortem, verbis: Aceitar incondicionalmente a fecundação post mortem abriria, também, a hipótese às mulheres viúvas, que quisessem ser inseminadas com o esperma do falecido companheiro apenas por motivações de natureza econômica, de ‘fabricar’ possíveis herdeiros. Esta técnica deveria ser proibida, tendo em vista que não garante ao filho um ambiente familiar adequado, mas uma coisa é certa: se se admitir a realização da fecundação após a morte, tem-se que aceitar suas consequências, ou seja, não se devem impor limites ao Direito Sucessório 76 e de Filiação. Frente ao divisado, a lacuna existente no âmbito da fecundação post mortem no ordenamento jurídico brasileiro, se exige uma profunda e rápida reflexão a fim de se resolver a problemática existente, observando-se sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, do melhor interesse do menor, da autonomia privada, conforme veremos adiante, do próprio livre planejamento familiar, bem como, todos os princípios norteadores do ordenamento jurídico. 3.4 Direito à Origem Genética A visão matrimonialista, em que a filiação apenas existia àqueles concebidos no âmbito do casamento, constituindo-se os demais em filhos ilegítimos, deu lugar a um novo e mais amplo entendimento da entidade familiar, principalmente com o advento da Constituição Federal de 1988, entendimento que proporcionou aos filhos uma igualdade constitucional entre os mesmos, independente da origem, fazendo surgir a todos, o direito de filiação. Nesse sentido, faz-se necessário salientar o novo conceito de filiação, à luz do entendimento de Paulo Luiz Netto Lobo, verbis: Filiação é conceito relacional; é a relação de parentesco que se estabelece entre duas pessoas, uma das quais é considerada filha da outra (pai ou mãe). O estado de filiação é a qualificação jurídica dessa relação de parentesco, atribuída a alguém, compreendendo um complexo de direitos e deveres reciprocamente considerados. O filho é titular do 326 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 estado de filiação, da mesma forma que o pai e a mãe são titulares dos 77 estados de paternidade e de maternidade, em relação a ele. Essa filiação não necessariamente deve advir da consanguinidade, uma vez que a própria Constituição Federal e o novel Código Civil introduziram novas possibilidades de filiação, quais sejam da adoção, por meio de técnicas de reprodução humana assistida ou então de qualquer outro meio. Essa nova gama de possibilidades possui caráter natural no âmbito da evolução do entendimento da sociedade. Desse modo, é possível afirmar que a socioafetividade se mostra cada vez mais presente e determinante, para a posse de estado de filiação, conforme veremos mais adiante no presente trabalho. Grande exemplo de uma situação em que a socioafetividade deve predominar é na questão da inseminação artificial heteróloga, aquela em que o material genético é de terceiro doador. Nesse caso, o pai socioafetivo deve sobrepujar o pai biológico, se tornando o pai legítimo desse filho, não podendo contestar sua paternidade do mesmo. Faz-se mister salientar que para a utilização deste tipo de procedimento é imprescindível a anuência daquele que não contribui com o material genético. A posse de estado de filiação nada mais é do que aquela constituição na qual “alguém assume o papel de filho em face daquele ou daqueles que assumem os papéis 78 ou lugares de pai ou mãe ou de pais, tendo ou não entre si vínculos biológicos”. O direito da origem genética traduz-se em direito da personalidade, segundo o qual o indivíduo tem o direito de conhecer sua ascendência, de modo a poder conhecer os problemas de saúde que por ventura possam ser transmitido. Em um sentido mais amplo, pode-se dizer que envolve o tão aclamado direito à vida, uma vez que esse conhecimento poderia prevenir doenças congêneres. Vejamos: Toda pessoa tem direito fundamental, na espécie direito da personalidade, de vindicar sua origem biológica para que, identificando seus ascendentes genéticos, possa adotar medidas preventivas para preservação da saúde e, a fortiori, da vida. Esse direito é individual, personalíssimo, não dependendo de ser inserido em relação da famí79 lia para ser tutelado ou protegido. No mesmo sentido salienta-se que é direito de todos o conhecimento de sua origem genética. Senão vejamos: A identidade pessoal possui uma dimensão absoluta ou individual na medida em que cada pessoa humana é uma realidade singular, dotada de uma individualidade que a distingue de todas as demais, e uma dimensão relativa ou relacional, definida em função da memória familiar conferida pelos antepassados, sendo possível se falar, aqui, 80 num direito à historicidade pessoal. Por outro lado, prevalece nas clínicas de reprodução assistida o entendimento que é garantido aos doadores o anonimato, de modo que, não obstante o fato do doador Revista da Escola da Magistratura - nº 13 327 do material genético não ter jamais pretendido se tornar pai, afastar essa garantia aos doadores poderia causar um pandemônio na sociedade médica e jurídica, haja vista que seria um absurdo imaginar que de repente os doadores se vissem pais de infindáveis filhos, sendo alvo de prestação de deveres sob esses filhos, e ainda, tal garantia implicaria em 81 uma diminuição drástica nos bancos de sêmen . A partir surgem algumas teorias que devem ser aqui referidas, verbis: Uma das correntes defende o anonimato absoluto, alegando que se os doadores pudessem ser identificados, isso diminuiria o número de doações, tendo em vista que os doadores não gostariam de correr o risco de ter uma criança investigando a paternidade e assim virem a ser obrigados a reconhecer essa paternidade e assumir todos os encargos da filiação.[...] Outra corrente defende que o conhecimento do doador de sêmen deverá ficar a critério da criança que assim foi gerada, pois parte do pressuposto de que esse conhecimento faz parte dos direitos da personalidade da criança, dentro do direito à identificação, posto ser direito seu conhecer sua origem genética[...] Uma outra corrente defende o conhecimento do doador de sêmen apenas 82 nos casos de doenças. A meu ver, a corrente que melhor se encaixa no ordenamento jurídico brasileiro é aquela que só permite a quebra desse anonimato no caso de doenças hereditárias, que envolvam a preservação do próprio direito à vida do filho, haja vista que a quebra deste sigilo em quaisquer outras circunstâncias acarretaria violação à garantia dada ao doador no momento do ato de doação. Vale salientar que muitas vezes até nessas circunstâncias pode ser difícil detectar a quem pertence aquele DNA, material genético, haja vista que em alguns casos são feitos coquetéis com sêmen de diversos doadores. Dessa forma, ainda que seja assegurado esse direito ao menor, é fundamental que o ordenamento jurídico e a jurisprudência garantam ao doador do material genético a não-filiação da prole e muito menos o dever de prestar alimentos. Vejamos o que diz Clarissa Bottega: De todas essas complicações que envolvem a inseminação artificial, entendemos que a única maneira de assegurar o direito à origem genética ao ser gerado, bem como dar maior segurança às relações sociais, seria estabelecer em legislação o direito à origem genética como pressuposto de qualquer inseminação artificial, entretanto deveria ficar estabelecido que mesmo com o reconhecimento à origem genética, isso não implicaria qualquer vínculo de filiação entre a criança e o doador do gameta, ficando a informação restrita ao conhecimento da criança e somente podendo ser utilizada nos casos de risco à saúde da criança gerada pela inseminação, ou seja, não servindo para qualquer outro direito relacionado ao direito de família ou à filiação como 83 alimentos, nome ou poder familiar. 328 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Todavia, uma vez que se trata de direito personalíssimo e não há, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer limitação que impeça ou regule tal procedimento, caberá ao magistrado a apreciação do mérito dessa questão, levando-se sempre em conta as limitações ao exercício desse direito, limitando-se ao simples conhecimento da origem genética. Nesse sentido, arremata Clarissa Bottega: A natureza do direito à origem genética é ligada aos direitos da personalidade, não tendo nenhuma ligação com direito à filiação, dessa forma, o conhecimento da informação acerca da ascendência biológica da pessoa nada tem a ver com qualquer tipo de desconstituição de paternidade socioafetiva ou jurídica já reconhecida e declarada, sequer intervindo no seio familiar já constituído [...] Dessa forma, o simples conhecimento da origem genética não outorga – ou não deve outorgar – ao doador do material fecundante (sêmen ou óvulo) qualquer direito oriundo do direito de família, mais especificamente direitos ligados à filiação (poder familiar, alimentos, sucessão, etc.), mas apenas e tão somente conferir à pessoa gerada através da técnica de inseminação artificial heteróloga o direito de saber e conhecer sua origem genética e seus antepassados biológicos como questão de 84 observância do princípio da dignidade da pessoa humana. 3.5 Princípio do Melhor Interesse do Menor O advento da Constituição Federal de 1988 dá à família uma proteção constitucional em que se busca o desenvolvimento individual de cada membro nela presente. Todavia, uma vez que o menor não goza de capacidade e discernimento para conduzir-se no ardiloso caminho da vida, tal proteção é diferenciada no âmbito familiar, sempre na busca pelo seu desenvolvimento até a idade adulta, quando o indivíduo adquirirá o pleno gozo de seus direitos. Nesse sentido, dispõe a Constituição Federal em seu art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Acompanhando a disposição do artigo supra, dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente: Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção inteRevista da Escola da Magistratura - nº 13 329 gral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O rápido desenvolvimento das ciências biológicas e biotecnológicas fazem surgir para o Direito diversas novas situações e relações, as quais modificam por completo a atual noção dessa instituição chamada família. Nesse sentido cada vez se faz mais necessário que o ordenamento jurídico se desprenda de um positivismo secular, a fim de, poder abarcar o ilustre todas essas novas circunstâncias que se apresentam na modernidade. Nesse sentido explicita Cristiano Chaves de Farias: Nesse passo, antevisto esse avanço tecnológico, cientifico e cultural, dele decorre, inexoravelmente, a eliminação de fronteiras arquitetadas pelo sistema jurídico-social clássico, abrindo espaço para uma família contemporânea, susceptível às influências da nova sociedade, que traz consigo necessidades universais, independentemente de lín85 guas ou territórios. Dessa forma, o melhor interesse do menor ou então a busca pela melhor forma de desenvolvê-lo constitui-se na maior busca do direito de família. Nesse caminho, sobreleva apontar dois motivos essenciais para formação do núcleo familiar na sociedade, dos quais um é, antes, o fim imediato visado pelo outro: o desenvolvimento da personalidade humana e a concretização do projeto de felicidade. A família, pois, não se localiza dentro de um conjunto de muros ou num campo, mas em 86 atitudes mentais, no terreno fecundo da cultura. Mas, se a busca pelo desenvolvimento individual de cada um é o objetivo da entidade familiar, até que ponto permitir a nidação de um embrião in vitro no caso de pessoa divorciada, viúva, solteira prejudicaria a criação do individuo daí gerado? Vejamos. Sob a égide do melhor interesse do menor em que se busca “cuidar de sua 87 boa formação moral, social e psíquica” , tal procedimento deveria ser totalmente rechaçado, uma vez que não seria possível propiciar de forma plena seu melhor desenvolvimento, não havendo um ambiente familiar adequado. No entanto, não obstante a enunciação constitucional da família monoparental, o afeto é o grande alicerce da família, de modo que, é perfeitamente possível e aceitável que apenas um pai seja capaz de propiciar um ambiente familiar adequado. Desse modo, não há 330 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 embasamento constitucional que implique o impedimento da utilização das técnicas de reprodução humana assistida. É importante lembrar que com o advento da Constituição Federal e do novo Código Civil, o âmbito familiar se desprende da conjuntura patrimonial e passa a se calcar cada vez mais na égide da afeição, sempre se preconizando pelo desenvolvimento de cada indivíduo presente no seio familiar. Vejamos: A mudança do Direito de Família, da legitimidade para o plano da afetividade, redireciona a função tradicional da presunção pater is est. Destarte, sua função deixa de ser a de presumir a legitimidade do filho, em razão da origem matrimonial, para a de presumir a paternidade em razão do estado de filiação, independentemente de sua origem ou de sua concepção. A presunção da concepção relaciona-se 88 ao nascimento, devendo esta prevalecer. Sendo assim, ao passo que surgem as técnicas de reprodução humana assistida, a presunção pater is est se relativiza no reconhecimento da filiação, vez que no caso da inseminação heteróloga, onde o material genético é diverso do pai, o registro civil do menor passa a se apresentar como pedra angular na determinação da sua paternidade, quase que absoluta nesses termos, apenas podendo ser contestado nos casos expressos do artigo 1.604 do Código Civil, o qual dispõe que “ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro”. Ressalta-se que, uma vez que na fertilização heteróloga é indispensável à anuência do marido ou companheiro, cuja concordância por si só garante a presunção de paternidade disposta no ordenamento civil. É importante ressaltar que, independentemente da origem da filiação, todos os filhos gozam de igualdade entre eles, nos termos dispostos pelo art. 227, § 6º da Constituição Federal e art. 1.596 do Código Civil: “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”. Dessa feita, principalmente guiado pela Constituição Federal de 1988, a qual igualou os filhos, o Direito Civil trouxe com o tempo diversas mudanças no âmbito do direito de família e principalmente no direito de filiação. Nesse contexto, a socioafetividade muitas vezes prepondera sobre a consanguinidade, fato este que fomentou a doutrina ao entendimento de que na inseminação heteróloga a socioafetividade é que definirá o parentesco. Conforme Juliana Frozel de Camargo, atualmente estamos de frente com três espécies de maternidade e paternidade, quais sejam, uma jurídica, uma biológica e 89 uma socioafetiva . Nesse diapasão, pode-se dizer que a “posse de estado de filho”, apesar de não haver qualquer menção no pátrio direito, é que conduz o ordenamento jurídico, podendo ser utilizada inclusive como um meio de prova, supletivo ao registro de que há filiação, já que se constitui naquela relação existente entre os pais e os filhos, socioafetivos ou biológicos. Para tanto, esta pode conduzir-se através de três elemenRevista da Escola da Magistratura - nº 13 331 tos, o nome familiar, o trato como filho, e por fim a fama, na qual o filho (a) sempre é 90 apresentado como tal. Portanto, a socioafetividade e a convivência familiar se apresentam como elementos determinantes para o estado de filiação, desprendendo-se do entendimento de que a consanguinidade constitui fundamento nodal para determinar a posse de estado de filiação, não se podendo esquecer, obviamente, da máxima norteadora do direito de família, qual seja do melhor interesse do menor. Vejamos: Diante do momento social e da pressão que se está exercendo sobre o sistema codificado que trata do estabelecimento da maternidade e paternidade, brota um sentimento de que a reforma está próxima e o reconhecimento da relação socioafetiva é uma verdade que já não se pode ignorar. É o estabelecimento da filiação por meio do direito 91 voluntário! Outra questão de imensa relevância reside da presunção de paternidade disposta no artigo 1.597 do Código Civil, verbis: Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Frente ao disposto no artigo supra, é indubitável o fato que a presunção ali disposta referente à inseminação homóloga possui a presunção pater is est absoluta já que o simples ato de se submeter a reprodução assistida nesta modalidade, na qual o material genético utilizado é de ambos os pais, possuindo o filho aqui concebido traços genéticos de ambos, o que, afasta, portanto, a contestação de paternidade em relação ao menor. Lado outro, em relação à fecundação heteróloga a presunção se torna juris tantum, ou seja, admite prova em contrário, vez que para sua ocorrência prescinde de anuência do marido, de modo que, essa manifestação de vontade é o motor para o estabelecimento do vínculo de filiação quando há o uso deste tipo de procedimento, em face da falta da relação sexual entre os pais. Donde se conclui que caso a mulher realize a inseminação heteróloga sem a autorização do marido, a presunção de paternidade prevista neste dispositivo do Código 332 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Civil pode ser contestada, culminando na anulação do registro de nascimento do menor, bem como, o marido poderá pretender a dissolução do casamento, já que além de atingir a moral e honra. Deve-se levar em conta ainda o princípio do melhor interesse do menor, de modo que, essa indesejada gravidez pode gerar uma negação pelo marido dessa criança, o que pode gerar uma série de problemas psicológicos ao mesmo. Faz-se mister salientar que a Resolução n° 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, apesar de ser norma ética sem caráter cogente, dispõe que a mulher “estando casada ou em união estável, será necessária a aprovação do cônjuge ou companheiro, após processo semelhante de consentimento informado”. Assim dispõe Silvio de Salvo Venosa sobre a fecundação heteróloga: Questão primeira que se coloca para o campo jurídico é que se a inseminação heteróloga deu-se sem o consentimento do marido, este pode impugnar a paternidade. Se a intimação deu-se com seu consentimento, há que se entender que não poderá impugnar a paternidade e que assumiu. Nesse sentido se coloca o inciso V, do art. 1.597, do atual Código. A lei brasileira passa a resolver expressamente essa questão. A lei não esclarece ainda, porém, de que a forma deve ser dada essa autorização. Por outro lado, a nova lei civil fala em ‘autorização prévia’, dando a entender que o ato não pode ser aceito ou rati92 ficado posteriormente pelo marido, o que não se afigura verdadeiro. Sobre a fertilização artificial heteróloga e a lacuna no Código Civil, assim se manifesta Guilherme Calmon Nogueira da Gama: Na realidade, o Código Civil de 2002, em relação aos aspectos civis da reprodução assistida heteróloga, toca superficialmente no critério de estabelecimento da parentalidade-filiação decorrente da procriação assistida heteróloga, bem como no que tange à origem do parentesco civil, mas pouco modifica o sistema jurídico envolvendo as relações de parentesco – e, consequentemente, de paternidade, maternidade e filiação – no campo das novas técnicas conceptivas. Nesse sentido, revela-se fundamental a necessária e obrigatória atuação da doutrina e da jurisprudência brasileiras nas suas funções, especialmente relacionadas à compreensão, interpretação, aplicação e efetivação das normas jurídicas constantes do Código de 2002, sempre procedendo à conferência a respeito da existência do fundamento de validade constitucional a seu respeito diante da nova tábua de valores inscul93 pidos na Constituição Federal de 1988 com seus princípios e regras. Outra questão de suma relevância reside na questão dos embriões excedentários, à luz do disposto no inciso IV do dispositivo supra. Como já anteriormente referendado, no procedimento da fertilização in vitro, a fim de se obter uma maior possibilidade de êxito são fecundados inúmeros embriões, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 333 implantando-se no útero feminino, no entanto, o número máximo de quatro, nos ditames da Resolução n° 1.358/92. Em relação a este inciso IV, é interessante para a doutrina e jurisprudência no intuito de solucionar de vez a grande problemática advinda desses embriões excedentes, estabelecerem que a presunção ali estabelecida deva ocorrer apenas se adstrita nos prazos descritos nos incisos I e II, de modo que, passado tal período a presunção da 94 paternidade não ocorre, devendo esta se reconhecida pelo pai. Pode-se observar, portanto, que o Código Civil não é suficientemente abrangente para regular as novas situações trazidas pelo avanço da biomedicina, o que evidencia cada vez mais uma movimentação doutrinária, jurisprudência e normativa, a fim de finalmente se regular essa nova conjuntura. 3.6 Princípio da Autonomia Privada Em que pese a relevância pública que envolve o Direito de Família, os interesses tutelados no seio familiar possuem caráter privado, de modo que, a intervenção estatal deve ser limitada ao mínimo possível, competindo ao Estado, portanto, apenas a tutela desses indivíduos, sem preteri-los, no entanto, de sua autonomia. Desse modo, faz-se mister tratar aqui do princípio da autonomia privada, que “constituirá a base do novo enfoque das relações entre os profissionais da saúde e os pacientes nas Cartas dos direitos dos doentes, cujo fundamento está na preocupação 95 com a capacidade de decisão do paciente” . O princípio da autonomia privada irá se apresentar como a real determinação das relações jurídicas provenientes dos procedimentos de reprodução assistida, de modo que, será indispensável o consentimento do casal, tornando-os responsáveis pelo ato ao qual se submeteram e pelas consequências advindas deste. Nesse sentido, pode-se dizer que passa a vigorar em algumas circunstâncias no Direito da Família, o princípio da menor intervenção estatal, onde o Estado se fará presente apenas com cunho assistencialista, propiciando aos seus membros os meios para se desenvolverem, fato este abarcado inclusive pela nova Carta Magna, em seu art. 226, já anteriormente aqui referido: Ficou muito claro que a Constituição Federal procurou unir a liberdade do indivíduo à importância que a família representa para a sociedade e para o Estado. Ao garantir ao indivíduo a liberdade através do rol de direitos e garantias contidos no art. 5º, bem como de outros princípios, conferiu-lhe a autonomia e o respeito dentro da família e, por conseguinte, assegurou a sua existência como célula mantenedora de uma sociedade democrática. Isto, sim, deve interessar ao Estado. No texto constitucional está prevista também a liberdade do casal, no que concerne ao planejamento familiar, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade res96 ponsável. 334 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Dispõe ainda o art. 1.513 do Código Civil que “é defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família”. Portanto, pode-se dizer que, sob a égide do princípio da dignidade da pessoa humana e do livre planejamento familiar, a utilização de técnicas de reprodução humana assistida não podem de maneira alguma ser impedidas, devendo ser, no entanto, melhor reguladas pelo ordenamento jurídico. Desse modo, conclui-se: Por fim, a aplicabilidade do princípio da autonomia privada da família como instrumento de freios e contrapesos da intervenção do Estado funda-se, ainda, no próprio direito à intimidade e liberdade dos sujeitos que a compõem, que resulta também da personificação do indivíduo [...] O desafio fundamental para a família e das normas que disciplinam é conseguir conciliar o direito à autonomia e à liberdade de escolha com os interesses de ordem pública, que se consubstancia na atuação do Estado apenas como protetor. Esta conciliação deve ser feita através de uma hermenêutica comprometida com os princípios fundamentais do Direito de Família, especialmente o da autonomia privada, desconsiderando tudo aquilo que põe o sujeito em posição de indignidade e o assujeite ao objeto da relação ou ao 97 gozo de outrem sem o seu consentimento. 4. Legislações Infraconstitucionais Conforme já amplamente observado e ressalvado nesse trabalho, observa-se que o limbo legislativo acerca da regulamentação dos ditames das técnicas de Repodução Humana Assistida pode gerar um pandemônio na órbita jurídica, haja vista que são diversas as suas implicações no âmbito civil. Assim, tendo em vista que a técnica da Fertilização In Vitro implica na produção de diversos embriões excedentários que, por carência de legislação específica, acabam por implicar em inúmeras problemáticas no âmbito sucessório, fecundação post mortem, da determinação do início da vida e da personalidade civil, na presunção de paternidade disposta no art. 1.597 do Código Civil, bem como, a elevação da socioafetividade em relação à consanguinidade. No Brasil, a respeito de regulamentação acerca da reprodução humana assisida vigora apenas a Resolução 1.358/92, do Conselho Federal de Medicina, a qual contém as únicas normas em respeito da reprodução humana assistida. Ocorre que, em verdade, a aludida Resolução apenas contém normas éticas dirigidas aqueles que realizam o procedimento, referindo-se à regras e procedimentos a serem igualmente observadas. Da leitura de tal resolução normativa do Conselho de Medicina resta disposto alguns princípios gerais, usuários, disposição para as clínicas que realizam a técnica, dentre outras questões mais, como o fato de assegurar o sigilo dos procedimentos. Assim, importante destacar que a Resolução prevê, por exemplo, a necessidade do consentimento informado nos casos de FIVET, a limitação do número de receptores por doação, dispões sobre prazo máximo para o desenvolvimento de um embrião fora Revista da Escola da Magistratura - nº 13 335 do corpo, proíbe descarte de embriões, permite a seleção embrionária, este apenas no sentido de evitar a trasmissão de doenças hereditárias, autoriza a doação temporária do útero entre mulheres, ou gestação substituta, e permite a possibilidade da fertilização in vitro em mulheres solteiras. Todavia, tal resolução representa apenas uma orientação a ser seguida, não tendo que se falar em qualquer efeito vinculativo ou sancionatório pela não observância de suas orientações, nem ao menos estabelece diretrizes para regulamentar os efeitos provenientes da reprodução assistida. A meu sentir, a grande problemática do tema refere-se a questão dos embriões excedentários e sua fecundação post mortem, haja vista que o âmbito sucessório e de filiação em razão do genitor ou genitora pré-morto traduzem grandes implicações no âmbito civil. Nesse diapasão, faz-se importante destacar que tramitam no Brasil alguns Projetos de Lei no sentido de diminuir a lacuna legislativa existente no ordenamento jurídico brasileiro, o qual passamos a observar. Nesse diapasão, destaca-se que atualmente tramita no Senado o Projeto de Lei n.º 54/02, de autoria do Deputado Luiz Moreira, que compõe-se de quatorze artigos organizados em sete capítulos que tratam, dos princípios gerais, dos usuários e da técnica de reprodução assistida, dos serviços que aplicam técnicas de reprodução assistida, da doação de gametas ou pré-embriões, da criopreservação de gametas ou pré-embriões, do diagnóstico e tratamento de pré-embriões e sobre a gestação de substituição. Propõe ainda acerca da necessidade do consentimento do cônjuge ou companheiro, se a mulher for casada ou viver em união estável, além de prever que a decisão sobre o destino dos embriões cabe ao casal. Percebe-se deste contexto, que o aludido projeto de lei visa transformar a Resolução do Conselho Federal de Medicina em lei. Outra proposta de regulamentação estava prevista Projeto de Lei nº 90/99, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, o qual dispõe de 43 (quarenta e três) artigos, prevendo os procedimentos podem ser utilizados por mulheres casadas ou em união estável, bem como pelas solteiras. Admite que os usuários possam permitir que seus gametas e pré-embriões sejam utilizados em pesquisas, salvo nesses casos, a intervenção em gametas ou embriões somente será permitida com fins terapêuticos ou diagnósticos. A doação deverá ser gratuita e sigilosa. Além disso, a criança poderá ter acesso à identidade civil do doador. Não obstante, a mais importante regulação a meu ver referenda que, no caso de inseminação post mortem, não será reconhecida a paternidade. Todavia, o aludido projeto já restou substituído Projeto de Lei nº 1.184/03, de autoria do Senador Roberto Requião, o qual define normas para realização de inseminação artificial e fertilização “in vitro”, proibindo a gestação de substituição (barriga de aluguel) e os experimentos de clonagem radical, dispõe que somente casais (casados ou em união estável) podem ter acesso à técnica. Dentre as disposições do aludido projeto, resta prevista que os usuários poderão permitir que seus gametas e pré-embriões sejam utilizados em pesquisas, bem como proíbe também a criopreservação e o congelamento de embriões. Como outros projetos, permite a seleção terapêutica e a doação temporária do útero entre mulheres com parentesco até o segundo grau. Destaca-se ainda, que permite a possibilidade de o filho conhecer a identidade do genitor após a maioridade, além de prever que o doador possa ser pai de apenas um beneficiário. Por fim, possibilita a inseminação post mortem, prevendo que a filiação será reconhecida, 336 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 desde que o depositário dos gametas tenha autorizado em testamento a sua utilização pela esposa ou companheira. Nesse diapasão, faz-se mister trazer à baila o voto exarado pelo deputado Regis de Oliveira, VTS 2 CCJ – Comissão de Constituição e Justiça no âmbito de tramitação do Projeto de Lei Supracitado. Vejamos: Dispõe o parágrafo 7º do art. 226: “Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”. O objetivo básico da lei é a regulamentação do uso de técnicas de reprodução assistida “para implantação artificial de gametas ou embriões humanos fertilizados in vitro, no organismo de mulheres receptoras”. Disciplina o uso de gametas de forma responsável e apenas mediante o livre consentimento das mulheres e na hipótese de constatada a infertilidade. O projeto em tela tem o cuidado extremo de cuidar da livre manifestação da vontade, preservando a identidade de doadores e beneficiários, ressalvadas hipóteses que prevê. Segundo voto proferido no curso da tramitação procedimental, as técnicas de reprodução assistida já são conhecidas e utilizadas em boa parte do mundo, constituindo-se na inserção do sêmen do marido no útero, na vagina ou nas trompas de falópio da mulher. Nos casos de esterilidade masculina, legítimo é falar-se em doação de sêmen para reprodução humana. Tais técnicas já estão ao alcance de cientistas e médicos brasileiros. De seu turno, nada ficamos a dever, em todos os níveis do mundo, em termos éticos. A bioética brasileira em nada se encontra atrás de outros países. O que busca fazer o projeto é colocar a ciência à disposição de casais que não podem reproduzir, por qualquer razão ou motivo. Preservando a vontade das pessoas e a liberdade na decisão de o que fazer com sua intimidade, conecta tais pontos, possibilitando colocar a ciência à disposição da felicidade das pessoas. Ainda que na Constituição da República brasileira não exista dispositivo equivalente ao da Constituição norte-americana, na busca da felicidade, na feliz expressão de Thomas Jefferson, em verdade é um dos ingredientes do todo constitucional. Na medida em que se preserva a dignidade da pessoa humana e tem como objetivo fundamental “promover o bem de todos” (inciso IV do art. 3º), legítimo se afigura inserir em tais conceitos a preservação e o atendimento da felicidade. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 337 […] Dessa forma, a reprodução assistida, assim como qualquer outro instrumento de planejamento familiar, deve ser fomentado pelo Estado, e não coibido. Diante do que a própria Constituição estabelece quanto ao desenvolvimento científico e quanto ao planejamento familiar, não se pode proibir a procriação, sobretudo quando só é viável através das técnicas de reprodução assistida, pois são os avanços técnico-científicos que garantirão a existência de uma família plena e, portanto, digna. Ao contrário, em vez de coibir, o Estado deve fomentar as mais diversas formas de planejamento familiar, sejam elas conceptivas ou contraconceptivas. O texto do artigo 226, § 7o, CF/88 é de clareza meridiana ao afirmar que cabe ao Estado “propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício” do planejamento familiar. Ademais, nos termos da Constituição, cabe ao Estado promover e incentivar “o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica” (art. 218, CF/88). Daí, não se pode negar a importância da participa98 ção do Estado no fomento da utilização de tais tecnologias. Juntamente com o projeto de lei supracitado, tramitam alguns outros projetos conjuntamente, como por exemplo o Projeto de Lei nº 4686/04, que visa acrescentar o Art. 1567-A no Código Civil, visando assegurar o direito ao conhecimento da origem genética do ser gerado a partir de reprodução assistida, disciplina a sucessão e o vínculo parental, nas condições que menciona. Além desse, o Projeto de Lei nº 120/2003, que dipõe sobre a investigação de paternidade de pessoa nascidas da Reprodução Humana Assistida, bem como o Projeto de Lei nº 1135/03, que define norma para realização da inseminação artificial, fertilização in vitro, e criopreservação de gametas e pré-embriões. Observa-se que a Poder Legislativo, embora vislumbrando a necessidade da edição de norma reguladora do procedimento da Reprodução Humana Assistida, caminha a passos lentos dentro do Processo Legislativo, enquanto a evolução tecnológica acontece muito rapidamente e implica profundas alterações na sociedade que vivemos. 4.1 Do Direito Comparado Nessa esteira de análise, tem-se como imprescindível a análise das normas existentes no direito comparado, a fim de se observar as soluções encontradas por outros países nesse tipo de procedimento de reprodução humana assistida, visando referendar as mais interessantes soluções encontradas em outros países. Como se sabe, a evolução da tecnologia e os avanços científicos proporcionaram a acessibilidade global da procriação humana artificial. A FIVET, embora tenha surgido primeiramente nos Estados Unidos, se espalhou pelo globo, tendo surgido “de forma evidente e provocadora, dali se espalhou pelo globo, atingindo países não industrializados ou probres, gerando as mesmas dúvidas e perplexidades dos principais centro de origem, 99 ou de difusão das novas técnicas.” 338 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 De acordo com Juliana Frozel de Camargo pode-se referendar que: A diversidade de postura nos mais variados países não deriva, pois, de uma questão econômica, mas, e especialmente, das influências decorrentes das tradições, dos usos e costumes e, certamente, das religiões e ideologias aí dominantes. Com excecao destes elementos, os problemas levantados pelas conquistas científicas colocam-se de 100 modo quase comparável. Contrario sensu do que poder-se-ia imaginar, foi na Suécia que surgiu a primeira legislação completa sobre inseminação artificial, datada de 1 de março de 1985, aonde referendou normas específicas sobre procriação humana assistida, dando proteção legal às crianças que forem fruto da inseminação homóloga, mesmo quando o casla estiver 101 em situação de concubinato. Destaca-se que a inseminação artificial heteróloga surgiu nos anos 20 na Suécia, na década de 20, embora quase não tenha tido grande utilização até a década de 80. Em seu caso, restou disposto que apenas será considerado o genitor legal da criança se tiver expressamente consentido anteriormente, não podendo, nessa hipótese, contestar a paternidade. Inicialmente, da análise desse disposto, pode-se vislumbrar a inseminação artificial como um contrato, aonde deve-se observar os ditames previstos no Código Civil a seu respeito, como o princípio da boa-fé objetiva e ainda, do dito venire contra factum proprium, ou seja, veda-se comportamentos contraditórios na diagnose contratual. Na Suécia, a lei de inseminação artificial, datada de 1985, resta definido, dentre outras hipóteses mais, condições para a realização da FIVET, assim como disposição acerca de direito do filho proveninente desta técnica de ter acesso aos dados do doador tanto quando alcançar a maioridade. Conforme amplamente referendado nesse trabalho, acredito que tal hipótese o sigilo do doador apenas poderia ser quebrado na hipótese de descoberta de alguma doença genética, cuja vida dependesse de tais informações. Aduz-se que a legislação sueca, embora tenha considerado a inseminação artificial homóloga sem qualquer relevância jurídica a ser suscitada, como mera medida para contornar a esrelidade do casal, proibiu, prontamente, a inseminação post mortem. Ressalta-se que a legislaçào daquele país permitiu a utilização desta técnica em qualquer tipo de união livre, sendo totalmente dispensável a existência de matrimônio entre o casal. Todavia, na hipótese de inseminação heteróloga, deve-se observar: Quanto à inseminação heteróloga, o novo texto legal colocou os pais da criança em situação paralela àquela desfrutada pelos pais adotivos. Assim, a legislação sueca requer que o casal que idealizou a fecundação in vitro venha a adotar o bebê. O número de dodores de esperma acessível para inseminação é limitado, como corre em outros países europeus, e a doação não é remunerada. Alguns médicos, Revista da Escola da Magistratura - nº 13 339 exigem que o doador seja casado e que tenha filhos próprios e sãos, assim como exigem que sua esposa consinta com a doação. Ou seja, a doação ocorre de um casa (fértil) a outro casal (estéril). A doação é de casal para casal. É necessário o consentimento escrito do marido,ou companheiro. Assim, será ele o responsável legal, de forma irrevogável, pela criança nascida a partir da inseminação. Este tipo de inseminação é proibida em mulheres celibatárias ou que viviam uma relação lésbica. A inseminação heteróloga somente pode ser realizada em hospitais públicos sob a reponsabilidade de médicos com especialização em ginecologia e obstetrícia, evitando-se, por meio desta medida, o surgimento de bancos 102 de esperma com base comercial, como ocorre nos Estados Unidos. A referida lei sueca de 1985, art. 6, só permite a entrada de material fertilizante congelado no país com autorização do Conselho Superior de Seguridade Social. A Suécia proíbe a inseminação post mortem e a Lei 1.140/80 também veda a possibilidade de transexual ou homosexual pretender que a companheira obtenha filho por meio 103 dessas técnicas. Conforme pode-se observar desde o surgimento da técnica da fertilização in vitro, na Alemanha também passou-se a questionar acerca da necessidade da regulamentação acerca do procedimento de reprodução humana assistida. Após a realização de diversos relatórios acerca do tema, e o surgimento de Resolução do Conselho Federal, passa a vigorar em 1990, Lei de Proteção aos Embriões sob o nº 745/1990, a qual inclui diversos dispositivos, consagrando a existência de algumas figuras delitivas e infrações administrativas, bem como referenda diversos outros tópicos, dispondo sobre “usos inadequados de técnicas artificiais de reprodução humana e manipulação de embriões, transferência arbitrária de embriões e a fecundação artificial 104 depois da morte, limites à atuação dos médicos e suas violações.” No tocante à inseminação homóloga, existem algumas distinções em relaçào à disposição sueca, a qual, não obstante ser necessária a prescrição médica para o procedimento, é imprescindível que haja Autorização por escrito do marido para a realização desta. Referenda-se, que a inseminação post mortem é igualmente proibida. Nesse sentido, inclusise, apenas será permitida a fecundação de número de óvulos necessários para apenas uma inseminação, evitando assim a existência de embriões excedentários, sendo, proibida a conservação destes, inclusive com a tipificação da conduta na seara penal. No que diz respeito à inseminação heteróloga, predomina a ideia de que não deve haver proibição, podendo ser autorizada em algumas hipóteses apenas, como o tratamento para a esterelidade e, desde que haja pertubação duradoura da fecundidade 105 do marido e após o consentimento escrito deste, na presença de notário. Ressalta-se que em ambas as hipóteses de inseminação artificial, homóloga ou heteróloga, somente instituições aprovadas pelo Estado podem realizar o procedimento. Ante a observância do princípio do direito à identidade e ascendência genética, tem-se como obrigatória a consevação dos dados dos doadores, fato que possibilita o 106 conhecimento pela criança de seus pais genéticos. 340 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Observa-se ainda o referendado por Juliana Frozel de Camargo: Relativamente à paternidade, embora se tenha admitido, em dado momento da evolução jurisprudência, a possibilidade de contestação do marido em caso de inseminacao artificial heteróloga, a posição atual é muito diversa. Em primeiro lugar, a tendência mais recente entende que o consentimento do marido para a inseminação heteróloga deve ser sacramentado por meio de ato notarial. Em segundo lugar, a maioria, se não a unanimidade da doutrina, entende que o consentimento manifestado diante de notário gera, como consequência para o marido, a perda de seu direito contestar a legitimidade 107 da criança assim concebida. Nesse sentido, no Direito Civil Brasileiro, diante da observância do princípio da instrumentalidade das formas, tal previsão deveria passar a ter previsão legal para ser legítima, haja vista que tal exigência apenas é possível se houver exceção prevista na lei. Na Espanha, em 22 de novembro de 1988, foi votada a “Lei sobre técnicas de reprodução assistida”- Lei 35/1988. Essa lei, embora contenha uma série de normas civis, não é uma lei de caráter exclusivamente civil, pois contém, também, numerosas normas de caráter administrativo e sancionador. De acordo com essa lei, restava disposto que estas técnicas só poderiam realizar-se: a) quando há possibilidade de êxito e quando não põem em risco grave a saúde da mulher e de sua possível descendência; b) e em 108 mulheres maiores e em bom estado de saúde psicofísico (art. 2). Não obstante, a aludida lei dispunha que sendo a mulher casada seria necessário o consentimento do marido, bem como veda a inseminação post mortem, estabelecendo inclusive que em qualquer tentativa dessa modalidade de inseminação não há que se falar no estabelecimento de qualquer tipo de filiação, salvo se tiver havido manifestação expressa de vontadade em vida. Inclusive, a criopreservação é limitada a cinco anos, mas, após dois anos ficam à disposição dos bancos de gametas. Destaca-se, no entanto, que houve alteração na legislação espanhola, através da Lei 45/2003, que entrou em vigor em 2005, a qual passou a permitir a doação de embriões excedentes para pesquisas científicas, desde que haja o consentimento dos genitores (Disposición final primera). Nos Estados Unidos, tendo em vista a ausência de lei específica sobre as técnicas de reprodução humana assistida, o valor constitucional do Right of Privacy passou a ser evocado frente ao juizo para fazer reconhecer – nos caos de maternidade de substituição – a procriação artificial como um elemento do direito de procriar, protegida para os 109 casais casados pela Corte Suprema dos Estados Unidos. Nesse contexto: A American Medical Association e a American Fertilicity Society recomendam que estes métodos só sejam empregados em benefício dos casais estéreis. Quanto às condições de realização das técnicas, o princípio fundamental do direito americano continua sendo o consentimento inequivoco do casal. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 341 Em se tratando de fecundação in vitro, estima-se que as 25 leis limitando a pesquisa sobre o embrião podem ser interpretadas como incluindo a totalidade ou parte das técnicas de fecundação in vitro. A legislação de certos Estados impõe, ainda, a necessidade de uma autorização governamental para adquirir os equipamentos necessários à fertilização in vitro. Um procedimento de aprovação é igualmente aplicado aos bancos de esperma, em um número limitado de 110 Estados. Na ordenação americana, algumas questões encontram diferentes respaldos. De acordo com o disposto em alguns Estados, não é permitido congelamento de embriões além do tempo do parto. No mesmo sentido da legislação dos demais países, na hipótese de inseminação heteróloga, em grande maioria na legislação dos Estados resta disposto que tendo o marido consentido pela realização da inseminação não pode negar a paternidade. Veja-se ainda: Em 1986, a American Fertilicity Society pronunciou-se favoravelmente sobre o princípio da pesquisa em embriões. De acordo com Westfall, no sistema americano verifica-se que disputas envolvendo a disposição de pré-embriões produzidos por fertilização in vitro devem ser resolvidas, primeiro, levando-se em consideração as preferências dos progenitores. Mas se o desejo destes não puder ser determinado, ou ainda, se houver disputa entre o casal, então a opnião de cada um deverá ser analisada e, geralmente, o desejo da paternidade que quer evitar a procriação deve prevalecer. Se nenhuma outra alternativa razoável existe, então o argumento em favor de usar os pré-embriões para realizar a gravidez pode ser considerado. Porém, se a parte que busca o controle sobre os embriões tem a intenção meramente de doá-los para um outro casal, daí a objeção da outra parte, obviamente, prevalecerá. Mas não há uma regra geral contemplata de uma criação automática 111 do veto, considerações caso a caso devem ser feitas. Na França, em 1994, o Conselho Constitucional foi chamado a apreciar a constitucionalidade da “Loi relative au respect du corps humain” e da “Loi relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal”, e considerou ambas compatíveis 112 com a Constituição do país. Nesse diapasão, observa-se que a situação na França é mais similar a existente no Brasil, aonde já houveram diversas propostas legislativas apresentadas, mas sem a formação de uma legislação específica. Esta indefinição legislativa tem muito a ver com o fato de na França possuir um comitê Consultor Nacional de Ética, o qual regulamenta os casos de inseminação artificial e de manipulação genética. Observa-se que no ordenamento francês alguns princípios norteadores do procedimento, como gratuidade 342 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 da doação, anonimato dos doadores, exigência prévia de paternidade. Nesse diapasão, 113 veja-se ainda: Na França, realizada inter vivos, a inseminação artificial pelo marido ou pelo concubino não cria problema algum, mesmo no plano ético; a criança está juridicialmente vinculada a seu pai e à sua mãe. Realizada post mortem, quando a mulher se faz inseminar após a morte de seu marido, ou de seu concubino, graças à coleta previamente feita, o processo suscita uma dificuldade dupla. De um lado, a criança nascida depois dos 300 dias da morte de seu genitor é considerada como concebida após a morte daquele (conforme art. 315 do Code Civil). Em outras palavras, é filho exclusivo da mãe. De outro, o CECOS, que realizou a coleta e o depósito do esperma, pode se recusar a devolver os capilares de esperma congelado a qualquer pessoa, mesmo que o defunto, em vida, tenha autorizado a sua entrega. A inseminação post mortem é, pois, proibida. Tratando-se porém de inseminação artificial heteróloga, duas situações diferentes podem ocorrer: pode-se falar de inseminação remérdio (para a esterelidade do casal) ou de inseminação de conveniência ( de uma mulher só, ou de homosexuais). No primeiro caso, o direito francês permite a negatória de paternidade ao marido da mãe da criança, ou a contestação de seu reconhecimento ao concubino que consentiu, ou mesmo quis a inseminação. Este consentimento não tem valor jurídico algum, pois não é permitido, no direito francês, renunciar, por antecipação, a uma ação relativa à filiação. No segundo caso, a ética dos CECOS conduz a recusar a inseminação, uma vez que estes estabelecimentos entenderam, como objetivo, remediar a esterelidade do casal. Quanto aos embriões excedentes ( e não utilizados), a idéia dominante na França continua sendo a de que cabe à equipe médica decidir o que fazer desses embriões. Na Inglaterra o tema restou regulamentado através do Human Fertilization and Embryology Act 1990(Chapter 37), aonde se estabeleceu alguns restrições no tocante a 114 realização do procedimento da reprodução humana assisitida. Na observância da disposição supra, observa-se que na Inglaterra adota a mesma posição de alguns outros países, como Espanha, ao permitir a inseminação post mortem, mas esta apenas produz efeitos na órbita civil se previamente referendado pelo morto. Em Portugal, primeiramente, restou promulgado o Decreto-Lei nº 319/86, embora apenas com três artigos regula a atividade referente à procriação artificial humana, embora tempos depois, tenha havido projetos no intuito de proibir a inseminação e a Revista da Escola da Magistratura - nº 13 343 fertilização in vitro, post mortem com esperma, determinando ainda que, se da violação desta proibição, resultar gravidez da mulher inseminada, a criança que vier a nascer é 115 havida como filha do falecido. O documento estabelece que os procedimentos realizados por fertilização assistida sejam praticados sob responsabilidade direta deum médico ligado a organismo público ou privado, sob a autorização do Ministério da Saúde. Será dispensada a autorização quando a fertilização for da modalidade homóloga. No direito constitucional português: “Art. 36, n 1 da CRP, consagra o direito fundamental de constituir família, o que significa o direito fundamental de procriar. Já o Código Civil português, referenda, que o filho nascido de fecundação heteróloga será do casal encomedante, bem como estabelece que na hipótese de a maternidade por sub-rogação, privilegia-se a mãe que teve gravidez e o parto. Além disso, resta disposto que depois de os cônjuges terem consentido numa inseminação com esperma de doador, não poderão impugnar a paternidade do filho que foi atribuída, por lei, ao marido, embora norma de direito probatório, aceita os progressos da ciência com relevo forense, abrindo o sistema à verdade científica e aos meios de prova mais modernos. Por sua vez, na Argentina, de acordo com o resultado da XVI Jornada Nacional de Direito Civil da Argentina, setembro de 1997 – Tema: “Fecundação Assistida e Manipulação Genética – a maioria dos argentinos acredita que a existência das pessoas começa desde o momento da concepção, ou seja, dentro ou fora do seio materno. A pessoa por nascer goza dos mesmos direitos que a pessoa física, reconhecend-se a 116 qualidade de ser humano ao óvulo fecundado. De acordo com os doutrinadores argentinos, a criopreservação dos embriões humanos representa um ato violador do direito à vida. Ressalta-se que, como em outro países, “também na Argentina tem-se preocupado com o avanço da fecundação assistida e sua falta de legislação. Preocupam-se em evitar excessos que possam levar à 117 violação e manipulações genéticas por parte dos profissionais intervenientes.” Nesse diapasão, vale-se destacar Os argentinos reconhecem o avanço e a importância destas técnicas e acreditam que estas podem evitar muitos males, como, por exemplo, enfermidades de caráter congênitos. Em contrapartida, para ele não é menos certo que, para evitar esses males, recorra-se a uma manipulação que possa resultar em outro dano ao embrião, o que seria a violação dos direitos humanos da pessoa que está por nascer, e sobre este aspecto questionam até que ponto a ciência pode intervir. A fecundação homóloga, como na maioria dos países, não apresenta maiores problemas, já a heteróloga é assunto de muitas controvérsias. Há duas correntes sobre a fecundação heteróloga: uma que proíbe e outra que a admire. Para os que defendem a proibição desta técnica, o principal fundamento é que se trata de uma situação potencialmente conflitiva, porque introduz um elemento genético estranho ao casal. Cria uma situação de desigualdade entre o casal porque, embora a mulher esteja ligada ao filho 344 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 pelo parto, o homem não está. Põe em crise a figura do pai e, com relação ao doador, provoca uma dissociação entre a procriação e a responsabilidade. Portanto, para esta corrente, são métodos eticamente inaceitáveis porque contrariam a dignidade do matrimônio. Já para que os que aceitam a regulamentação desta técnica, o principal fundamento é que a proibição é basicamente injusta, ineficaz, cega à realidade internacional, contraria os intereses dos filho e é violadora do direito à procriação. Para estes, a proibição consagra uma légitima descriminação entre mulheres férteis e inferteis; fomenta a clandestinidade; desconhece importantes avanços científicos; desconhece a realizadade, já que as práticas de fecundação medicamente assistida com material genético de terceiros doadores 118 é praticada na Argentina há mais de 25 anos. Assim, na análise das legislações existentes no direito comparado pode-se observar que foram adotadas soluções comuns nos diversos ordenamentos, as quais podem permitir ao legislador brasileiro uma análise sobre a realidade brasileira no tocante ao procedimento da reprodução humana assistida. Veja-se A fertilização com sêmen do marido ou companheiro é aceita em praticamente todas as legislações existentes. Relativamente à fertilização com sêmen de doador, a grande maioria dos países estabelece expressamente a necessidade da autorização do marido, após o que a criança será registrada como filha do casal, não recaindo, sobre o doador, qualquer direito ou obrigação. O anonimato dos doadores é de entendimento não unânime, havendo países que votam pelo anonimato, como França, e outros, como Inglaterra e Espanha, que sugerem que os flhos, após os 18 anos, tenha o direito de saber a própria origem. A maioria dos países, com referência aos procedimentos dos centro médicos, salientam que se faz necessário o controle da atuação, por meio de comissão específica, criada após a licença do órgão responsável pela saúde pública. A grande divergência legislativa está na fecundação heteróloga, bem como na possibilidade de utilização da chamada mãe de 119 substituição e fecundação post mortem. Colhe-se ainda o referendado pelo Mininistro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, no voto proferido na ADI nº 3510, senão vejamos: Enfim, esses são apenas alguns exemplos, colhidos do direito comparado, que demonstram a preocupação dos países europeus com a pesquisa envolvendo célulastronco embrionárias. Vê-se que as legislações estrangeirastêm ao menos três pontos em comum: o primeiro, referente à obrigatoriedade de que os embriões sejam utilizados em pesquisas que visem ao bem-comum; o segundo, que sejam utilizados Revista da Escola da Magistratura - nº 13 345 apenas embriões excedentes dos processos de fertilização in vitro, o que, em outras palavras, significa a proibição de que sejam criados embriões para este fim; e, por último, que haja o consentimento expresso dos genitores. Nessa ordem de idéias, parece-me que a legislação brasileira segue os critérios mínimos que têm sido exigidos por outros países que permitem a pesquisa envolvendo células-tronco embrionárias. Ademais, creio que a existência de autorização expressa para pesquisa em diversos países no mundo certamente nos levará, mais cedo ou mais tarde, a outro dilema ético: se o Brasil proibir a pesquisa com essas células-tronco poderemos futuramente admitir que os tratamentos derivados de pesquisas feitas em outros países sejam aplicados no país? Em outras palavras, não aceitaremos que os embriões brasileiros, dentro dos limites objetivos fixados na lei de biossegurança, sejam objeto de pesquisa no país por ofensa ao direito à vida, mas aceitaremos, no futuro, os tratamentos que podem beneficiar milhares de pessoas decorrentes de pesquisas feitas com embriões de outras nacionalidades? Por fim, julgo importante fazer uma última observação lateral. A pesquisa envolvendo seres humanos, sejam eles embriões, fetos, bebês, crianças, adultos ou idosos, deve ser pautada pelos mais rigorosos critérios, tanto no momento em que a pesquisa é autorizada como durante o desenvolvimento dos trabalhos. No direito comparado, o papel de fiscalização das pesquisas com seres humanos é desempenhado com qualidade pelos Comitês ou Conselhos de Bioética, órgãos multidisciplinares, compostos por diversos integrantes da sociedade, cuja missão é avaliar, autorizar e fiscalizar as pesquisas envolvendo seres humanos. Sem um Conselho ou Comitê sério e responsável, comprometido com a preservação da sociedade e o desenvolvimento da ciência, corre-se o risco da banalização da pesquisa envolvendo seres humanos. Vivemos um momento histórico da mais ampla significação, e não digo isso apenas em relação a este julgamento. De fato, a evolução da humanidade, em seus múltiplos aspectos, requer respostas éticas diferentes dos modelos outrora construídos sobre teorias filosóficas, teológicas e científicas fundamentadas numa visão de mundo (e de ser humano) agora aparentemente ultrapassada. Ultrapassada não porque eram teorias ruins, mas porque a sociedade evoluiu e surgiram questionamentos para os quais elas não se aplicam a contento. Assim, o melhor caminho para a proteção do direito à vida, em seus diversos e diferentes graus, é uma legislação consciente e a existência de órgãos dotados de competência técnica e normativa para implementá-la, fiscalizando efetivamente a pesquisa científica no país. A proibição tout court da pesquisa, no presente caso, significa fechar os olhos para o desenvolvimento científico e para os eventuais benefícios que dele podem advir, bem como 346 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 significa dar uma resposta ética unilateral para uma problemática que envolve tantas questões éticas e tão diversas áreas do saber e da sociedade. CONCLUSÃO A técnica da Fecundação in vitro, aqui debatida, visa obter uma maior possibilidade de sucesso da gravidez, vez que promove a fecundação de inúmeros embriões, sendo implantados o número máximo de quatro, minimizando assim, o risco de gravidez múltipla. Desse modo, os embriões excedentes são criopreservados para que possam ser posteriormente utilizados. Ocorre que, as implicações trazidas pelo procedimento da fecundação in vitro e pela criopreservação geram diversos questionamentos no âmbito legal, tal como os direitos sucessórios desses embriões. A Reprodução Humana Assistida da Fertilização in vitro pode ocorrer em duas modalidades, a fecundação homóloga e a fecundação heteróloga, de modo que, a primeira corresponde aquela situação em que são utilizados os matérias genéticos do próprio casal que se submete ao tratamento, ao passo que a segunda hipótese é aquela em que o material genético provém de terceiro, seja da mãe, do pai, ou de ambos. Na fecundação homóloga, é inegável a filiação existente entre os pais e o menor, já que o este possui os traços genéticos de ambos os pais. Já na modalidade heteróloga, se estiverem os pacientes casados ou viverem em união estável, é imprescindível a autorização expressa do marido, tornando-se a paternidade juris tantum, ou seja, a autorização do marido é crucial neste caso. Lado outro, se não houver matrimônio ou união estável, jamais poderá ser atribuída a paternidade ao doador do material genético. Desse modo, a socioafetividade, com a fecundação heteróloga, se torna cada vez mais um fator determinante para caracterizar a filiação, tornando-se a consanguinidade, nessa circunstância, fator secundário na estrutura familiar, ou seja, o pai socioafetivo se sobrepuja ao pai biológico. Não obstante, à luz do disposto no art. 227 da Constituição Federal, é vedada a discriminação entre os filhos, sendo esses iguais perante a lei independente de sua origem. Além disso, a fertilização in vitro na modalidade heteróloga gera outro importante questionamento, qual seja se o filho havido por esse procedimento faz jus ao direito personalíssimo de buscar sua origem genética, na busca de averiguar os possíveis problemas de saúde que poderiam ter sidos transmitidos. Nessa circunstância, de um lado há o direito à vida, e do outro o direito de anonimato do doador. Em que pese as diversas possibilidades trazidas pelas técnicas de reprodução assistida, aquela que parece causar maior problemática é a fecundação post mortem. Referendada no art. 1.597, III, do Código Civil, consiste na possibilidade de fecundar a cônjuge supérstite com o embrião criopreservado do de cujus, ou no caso de morte da mulher, utilizar o homem para fecundá-lo em outra mulher, que será caracterizada como substitutiva do útero. À luz do disposto no artigo supracitado, há a presunção de paternidade se ocorrer a fecundação homóloga post mortem. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 347 O maior de todos esses questionamentos reside na questão dos direitos sucessórios do filho havido pela fecundação post mortem. Conforme disposição do art. 1.798 do Código Civil, estão legitimadas a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Determinar se os embriões criopreservados já são concebidos, é ponto vital para se chegar a um entendimento acerca do tema. A declaração de constitucionalidade do art. 5º da Lei de Biossegurança deu um grande passo para firmar que o embrião in vitro não é ser dotado de vida ainda, de modo a fazer jus ou não aos direitos sucessórios inerentes aos herdeiros. É importante salientar que, conforme disposição da Resolução n° 1.358/92 do Conselho Federal de Medicina, os pacientes devem deixar expresso o destino dos embriões criopreservados no caso de divórcio, separação judicial, falecimento. Ocorre que, essa resolução não possui força normativa, constituindo-se como meras normas de conduta. Sendo assim, se torna mais uma vez imprescindível invocar os princípios basilares do Direito, como o melhor interesse do menor, ou seja, deve-se avaliar se é melhor que seja concebida criança sem pai ou mãe, ou que seja essa concebida. Não obstante, deve-se levar em conta os princípios da bioética, como da autonomia, beneficência e, para alguns, da não-maleficência. Dessa feita, a fim de conceder aos herdeiros uma maior segurança sobre a partilha da legítima, a fixação de prazo legal para que seja concebido filho havido por fecundação post mortem, não podendo a utilização de esse procedimento ficar ao alvedrio do supérstite. O melhor entendimento parece ser estender os direitos sucessórios ao filho concebido por fecundação post mortem, se havidos nos prazos estabelecidos no art. 1.597 do Código Civil. É evidente que, frente ao rápido avanço das ciências, o ordenamento jurídico brasileiro carece de legislação específica que traga a terreno remansoso toda a problemática trazida pelas técnicas de Reprodução Humana Assistida, já que a legislação pátria existente não é capaz de responder a tais lacunas. Ao poder legiferante cabe ouvir aos anseios da sociedade, com o intuito de jurisdicizar fato que a ciência pôs como corriqueiro no dia a dia, vez que pelo Direito é possível a pacificação de interesses em busca do equilíbrio das relações sociais e atingimento de sua vontade. Por seu turno, os operadores do Direito devem ser à sociedade para que o melhor entendimento prevaleça para cada caso concreto que venha à baila, vez que o conceito de família, como um dia conhecido, modificou-se. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AGUIAR, Roberto A. R. de. Bioética e direito: saberes que se interpenetram In Revista Humanidades: Bioética, vol. 9, n° 4, out/dez.. Universidade de Brasília, 1991. ALVES, Cristiane Avancini. Embrião humano: proposição de um estatuto jurídico no direito privado brasileiro In NICOLAU JÚNIOR, Mauro (coord.). Novos Direitos. Curitiba: Juruá, 2007. 348 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética X biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos In BARBOZA, Heloisa Helena. BARBBARRETTO, Vicente de Paulo. Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. BOTTEGA, Clarissa. Reprodução humana medicamente assistida e o direito à origem genética In Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá, Vol. 8, n° 2, Cuiabá, EdUNIC, 2006. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997. CAMARGO de, Juliana Frozel. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003. CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA. Disponível em: <http:// pt.wikipedia.org>. Acesso em 17 ago. 08. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: <www. onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em 27 abr. 08. DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008. DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002. FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003. FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1992. FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família (ou famílias sociológicas versus famílias reconhecidas pelo direito: um bosquejo para uma aproximação conceitual à luz da legalidade constitucional) In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. FRANÇA, Genival Veloso de. Intervenções fetais – uma visão bioética In BARBOZA, Heloisa Helena. MEIRELLES, Jussara M. L. de. BARRETO, Vicente de Paulo Barreto (coord.). Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: São Paulo: Renovar, 2003. GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A reprodução assistida heteróloga sob a ótica do novo código civil In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004. LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2009. LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 349 OLIVEIRA, Deborah C. Alvarez de. Reprodução assistida: até onde podemos chegar? – Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, p. 11 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003. PASSINI, Leo e BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2005. PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. REALE, Miguel. Pluralismo e liberdade. São Paulo, Saraiva, 1963. SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre os Particulares e a Boa-Fé Objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. SAUWEN, Regina Fiúza e HRYNIEWICZ, Severo. O direito in vitro: da bioética ao biodireito. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000. SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. SEREJO, Lourival. Direito constitucional da família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. SILVA, Patrícia Leite Pereira da. A busca de uma solução ético-jurídica para a destinação dos embriões excedentários In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, v. 14, dez/2006. VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006. VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2007. GLOSSÁRIO Crescimento Folicular: a primeira metade do ciclo menstrual, durante o qual o folículo dominante secreta grande quantidade de estrógeno (hormônio feminino responsável pelo espessamento endometrial durante a primeira metade do ciclo menstrual). Criopreservação: conservação em baixa temperatura. Fecundação Homóloga: consiste na reprodução assistida realizada por meio da doação ou recepção de material genético de casais que buscam uma solução para seus problemas de fertilidade ou de sexualidade, ou seja, os gametas pertencem ao próprio casal solicitante. Fertilização in vitro (FIVET): um método de reprodução assistida que envolve aspiração de óvulos dos ovários, união com sêmen em uma placa de laboratório. Os óvulos, se fertilizados, resultarão em pré-embriões que serão transferidos para o útero da mulher. Gametas: célula sexual, masculina ou feminina. Laparoscopia: é um procedimento cirúrgico minimamente invasivo realizado sob efeito de anestesia. Há casos que necessita o acompanhamento de um médico anestesista, utilizada para diagnosticar alterações na superfície dos órgãos ginecológicos. 350 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 Nidação: implatação do óvulo na mucosa uterina. Oócito: gameta feminino que ainda não atingiu a maturidade. Ovócitos: citoplasma de células femininas de caráter embrionário. Sobrenadante: que fica por cima de outra solução. Notas 1 Advogado formado pelo Centro Universitário de Brasília-CEUB, 2008. Pós-Graduado pela Escola de Magistratura do Distrito Federal, 2009/2010. [email protected] Apud OLIVEIRA, Deborah C. Alvarez de. Reprodução assistida: até onde podemos chegar? – Compreendendo a ética e a lei. São Paulo: Gaia, 2000, p. 11 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 22. 3 Apud BOLZAN, Alejandro. Reprodução assistida e dignidade da pessoa humana. São Paulo. Paulinas, 1998, p. 33-37. In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 22. 4 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 489. 5 SAUWEN, Regina Fiúza e HRYNIEWICZ, Severo. O direito in vitro: da bioética ao biodireito. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p. 89. 6 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 16. 7 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 26. 8 PASSINI, Leo e BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. São Paulo: Centro Universitário São Camilo: Loyola, 2005, p. 295. 9 Apud BOLZAN, Alejandro. Reprodução assistida e dignidade da pessoa humana. São Paulo, p. 7 e 8 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 25. 10 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2007, p. 221. 11 Apud SCARPARO, Mônica Sartori. Fertilização assistida: uma questão aberta: aspectos científicos e legais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, p. 7 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 24. 12 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito, São Paulo: Edicamp, 2003, p. 25. 13 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 489. 14 Apud LAMADRID, Miguel Angel Soto. Biogenética, filiación y delito. Buenos Aires: Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, 1990, p.33 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 29. 15 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 532 – 533. 16 VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 22. 17 Apud BOLZAN, Alejandro. Reprodução assistida e dignidade da pessoa humana. São Paulo, p. 59. In CAMARGO, Juliana Frozel de; Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 48. 18 Apud BOLZAN, Alejandro. Reprodução assistida e dignidade da pessoa humana. São Paulo, p. 59. In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 49. 19 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 57. 20 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 30 21 VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 26. 22 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 539. 23 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2007, p. 222. 24 SILVA, Patrícia Leite Pereira da. A busca de uma solução ético-jurídica para a destinação dos embriões excedentários In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, v. 14, dez/2006, p.287 25 VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 27 26 BARBOZA, Heloisa Helena. Bioética X biodireito: insuficiência dos conceitos jurídicos In BARBOZA, Heloisa Helena. BARBBARRETTO, Vicente de Paulo. Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 2. 2 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 351 27 AGUIAR, Roberto A. R. de. Bioética e direito: saberes que se interpenetram In Revista Humanidades: Bioética, vol. 9, n° 4, out/dez.. Universidade de Brasília, 1991, p. 403. DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 79. 29 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 66. 30 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 83 31 Disponível em: <http:// pt.wikipedia.org>. Acesso em 17 ago. 08. 32 VASCONCELOS, Cristiane Beuren. A proteção jurídica do ser humano in vitro na era da biotecnologia. São Paulo: Atlas, 2006, p. 139. 33 GARCIA, Maria. Limites da ciência: a dignidade da pessoa humana: a ética da responsabilidade. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 157. 34 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 15. 35 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 20. 36 ALVES, Cristiane Avancini. Embrião humano: proposição de um estatuto jurídico no direito privado brasileiro In NICOLAU JÚNIOR, Mauro (coord.). Novos Direitos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 120. 37 SILVA, Patrícia Leite Pereira da. A busca de uma solução ético-jurídica para a destinação dos embriões excedentários In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, v. 14, dez/2006, p.264. 38 Disponível em <www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php>. Acesso em 27 abr. 08. 39 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 238 – 239. 40 Ibidem, p. 237. 41 Ibidem, p. 240. 42 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 256. 43 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 515. 44 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 43 45 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 670. 46 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 53 47 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 516 48 Disponível em: <http:// pt.wikipedia.org>. Acesso em 20 de dez. 2010 49 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 518 50 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 55 51 SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. Aplicação dos Direitos Fundamentais nas Relações entre os Particulares e a Boa-Fé Objetiva. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 35 52 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 670. 53 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 525 54 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 63 55 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 525 56 DINIZ, Geilza Fátima Cavalcanti. Aspectos jurídicos da clonagem reprodutiva de seres humanos. Cuiabá: Juará, 2008, p. 69 57 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 526 58 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 23. 59 Ibidem, p. 25. 60 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 273. 61 FRANÇA, Genival Veloso de. Intervenções fetais – uma visão bioética In BARBOZA, Heloisa Helena. MEIRELLES, Jussara M. L. de. BARRETO, Vicente de Paulo Barreto (coord.). Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro: São Paulo: Renovar, 2003, p. 28. 62 SILVA, Patrícia Leite Pereira da. A busca de uma solução ético-jurídica para a destinação dos embriões excedentários In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, v. 14, dez/2006, p. 260. 63 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 40. 28 352 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 64 SILVA, Patrícia Leite Pereira da. A busca de uma solução ético-jurídica para a destinação dos embriões excedentários In Revista da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, v. 14, dez/2006, p. 270. 65 FRANÇA, Genival Veloso de. Intervenções fetais – uma visão bioética In BARBOZA, Heloisa Helena. MEIRELLES, Jussara M. L. de. BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). Novos Temas de Biodireito e Bioética. Rio de Janeiro, São Paulo: Renovar, 2003, p. 29. 66 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 206 – 208. 67 Ibidem, p. 209. 68 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte:Mandamentos, 2003, p. 276. 69 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 17. 70 FABRIZ, Daury César. Bioética e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Mandamentos, 2003, p. 281. 71 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2007, p. 15. 72 SEREJO, Lourival. Direito constitucional da família. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 70. 73 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família (ou famílias sociológicas versus famílias reconhecidas pelo direito: um bosquejo para uma aproximação conceitual à luz da legalidade constitucional) In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p.31. 74 ALVES, Cristiane Avancini. Embrião humano: proposição de um estatuto jurídico no direito privado brasileiro In NICOLAU JÚNIOR, Mauro (coord.). Novos Direitos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 120. 75 ALVES, Cristiane Avancini. Embrião humano: proposição de um estatuto jurídico no direito privado brasileiro In NICOLAU JÚNIOR, Mauro (coord.). Novos Direitos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 121. 76 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 135. 77 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 325. 78 Ibidem, p. 327. 79 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 342. 80 ALVES, Cristiane Avancini. Embrião humano: proposição de um estatuto jurídico no direito privado brasileiro In NICOLAU JÚNIOR, Mauro (coord.). Novos Direitos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 89. 81 BOTTEGA, Clarissa. Reprodução humana medicamente assistida e o direito à origem genética In Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá, Vol. 8, n° 2, Cuiabá, EdUNIC, 2006, p. 77. 82 BOTTEGA, Clarissa. Reprodução Humana Medicamente Assistida e o Direito à Origem Genética In Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá, Vol. 8, n° 2, Cuiabá, EdUNIC, 2006, p. 81 – 83. 83 Ibidem, p. 83. 84 BOTTEGA, Clarissa. Reprodução Humana Medicamente Assistida e o Direito à Origem Genética In Revista Jurídica da Universidade de Cuiabá, Vol. 8, n° 2, Cuiabá, EdUNIC, 2006, p. 89. 85 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família (ou famílias sociológicas versus famílias reconhecidas pelo direito: um bosquejo para uma aproximação conceitual à luz da legalidade constitucional) In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 22 86 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito constitucional à família (ou famílias sociológicas versus famílias reconhecidas pelo direito: um bosquejo para uma aproximação conceitual à luz da legalidade constitucional) In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 21. 87 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, p. 137. 88 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma distinção necessária In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 335. 89 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 210. 90 FACHIN, Luiz Edson. Estabelecimento da filiação e paternidade presumida. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1992, p. 150 – 156. 91 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 219. 92 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito de família. São Paulo: Atlas, 2007, p. 220. 93 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A reprodução assistida heteróloga sob a ótica do novo código civil In Temas Atuais de Direito e Processo de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 368. 94 Ibidem, p.358. 95 ALVES, Cristiane Avancini. Embrião humano: proposição de um estatuto jurídico no direito privado brasileiro In NICOLAU JÚNIOR, Mauro (coord.). Novos Direitos. Curitiba: Juruá, 2007, p. 87. Revista da Escola da Magistratura - nº 13 353 96 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores para o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 158. Ibidem, p. 162. 98 http://www.camara.gov.br/sileg/integras/439892.pdf, Acessado em 18/11/2010. 99 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 272 100 Idem. 101 Idem, p. 295 102 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 297 103 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 482. 104 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 274 105 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 483 106 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 274 107 Idem, p. 277. 108 Apud FERNANDEZ, María Carcaba. Los problemas jurídicos planteados por las nuevas técnicas de procreación humana. Barcelona: J.M. Bosh Editor S.A, 1995, p. 60 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 282. 109 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 287 110 Idem. 111 Apud WESTFALL, David. Family Law. American Casebook Series – Saint Paul (MN): West Publishing Co., 1994, pp. 380-381 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 282. 112 ADI nº 3510. Voto Joaquim Barbosa 113 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 290 114 Activities governed by the Act 3 Prohibitions in connection with embryos (1) No person shall— (a) bring about the creation of an embryo, or (b) keep or use an embryo, except in pursuance of a licence. (2) No person shall place in a woman— (a) a live embryo other than a human embryo, or (b) any live gametes other than human gametes. (3) A licence cannot authorise— (a) keeping or using an embryo after the appearance of the primitive streak, (b) placing an embryo in any animal, (c) keeping or using an embryo in any circumstances in which regulations prohibit its keeping or use, or (d) replacing a nucleus of a cell of an embryo with a nucleus taken from a cell of any person, embryo or subsequent development of an embryo. (4) For the purposes of subsection (3)(a) above, the primitive streak is to be taken to have appeared in an embryo not later than the end of the period of 14 days beginning with the day when 115 the gametes are mixed, not counting any time during which the embryo is stored. Apud BARBAS, Stela M. Neves. Direito ao Patrimônio Genético. Coimbra: Almedina, 1998, p. 142In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 292. 116 Apud BULA, María Andrea Fernández. “Fecundacion Assistida y Manipulación Genética”. XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil – setiembre/1997. Disponível em: <http://www.jornadas-civil.org>, p. 04 In CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução Humana – Ética e Direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 278. 117 CAMARGO, Juliana Frozel de. Reprodução humana – ética e direito. São Paulo: Edicamp, 2003, p. 279. 118 Idem. 119 Idem, p. 302. 97 —— • —— 354 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 A Obrigação como Processo: um Estudo sobre a Obra de Clóvis do Couto e Silva Daphne de Carvalho Pereira Nunes Advogada e ex-aluna da Escola da Magistratura do Distrito Federal e Territórios - Amagis 1. Introdução I nteressante notar como há ramos no Direito Civil que se mostram ainda deveras refratários às mudanças e que pouco se alteraram desde suas raízes romanas. Provavelmente, esta característica decorre da elevada abstração conceitual e do rigor dogmático que permeiam esta disciplina, além da proximidade deste instituto das relações econômicas, mantendo-a afastada do imediatismo das influências evolutivas 1 da sociedade . Assim, é extremamente interessante o estudo da obrigação como um processo, pensamento novo (e relativamente recente para patamares históricos) da forma de vislumbrar a relação obrigacional, que durante séculos foi vista no Brasil e em outras partes do mundo apenas como uma atividade estática, ignorando peculiaridades da relação jurídica concreta e de valores contemporâneos. Neste sentido, toma vulto a obra A obrigação como processo, do ilustre jurista Clóvis do Couto e Silva, que trouxe para a doutrina brasileira esta nova abordagem teórica do avoengo instituto das obrigações, renovando-lhe os ares e demonstrando a necessidade de aplicação ao mesmo de princípios de Direito, como a boa-fé, e ainda de uma interpretação sob o prisma constitucional de seus elementos, sem perder o foco na característica dinâmica e funcional de cada obrigação, como um caminho a ser 2 perseguido, passo a passo e não como um vínculo estático . Com efeito, o mérito do uso da expressão “obrigação como processo”, que muito influenciou Clóvis do Couto e Silva, a ponto de a ter usado como título de sua tese de cátedra da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, se deve ao autor alemão Karl Larenz, para quem a unidade do direito das obrigações provinha da unidade de seus efeitos jurídicos: “Existe uma relação obrigatória sempre que existe uma Revista da Escola da Magistratura - nº 13 355 obrigação frente a determinadas pessoas para cumprir uma determinada prestação, qualquer 3 que seja o acontecimento no qual esta relação se fundamente” . Impende destacar, contudo, que como prefaciado na obra de Couto e Silva, embora Karl Larenz tenha chegado a se utilizar explicitamente da terminologia “relação obrigacional como estrutura e como processo” na introdução do primeiro volume do seu manual de obrigações, este não empregou explicitamente o conceito de obrigação como processo no curso de sua exposição. Assim, cresce em vulto a contribuição de Couto e Silva para o tema, pois, além de trazer tal discussão para a seara do direito nacional, ainda permeou a peculiaridade da relação obrigacional como processo como fio condutor de toda sua análise do nascimento e desenvolvimento do vínculo obrigacional em cada uma de suas fases e momentos. Desta forma, embora o atualmente vigente Código Civil de 2002 tenha perdido a oportunidade de abordar o direito das obrigações sob esta perspectiva mais dinâmica, não podem os operadores do Direito deixar de superar este enfoque estático que a história confere à relação obrigacional para compatibilizá-la com os princípios e valores constantes da Constituição Federal, e nem de objetivar atender de forma satisfatória aos centros de interesses demandantes da devida tutela das relações jurídicas concretas, conferindo ao instituto das obrigações a devida eficácia social. 2. Evolução Histórica do Direito das Obrigações Em se tratando de um instituto que pouco se alterou desde tempos remotos, parece-nos adequado discorrer brevemente sobre a evolução histórica do Direito das Obrigações, de modo a demonstrar o significativo avanço que a leitura da obrigação como um processo representou para o estudo desta disciplina, notadamente em sistemas nos quais o nexo finalístico entre Direito das Obrigações e Direito das Coisas tem posição relevante, como ocorre no Brasil, assunto ao qual voltaremos com mais detalhes no decorrer deste artigo. Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona nos ensinam que, embora já houvesse esboços da noção de obrigação na Grécia antiga, dividindo-as entre voluntárias (decorrentes de um acordo entre as partes) e involuntárias (advindas de um fato do qual nasce a obrigação, subdividindo-as, por sua vez, a depender se o ato ilícito dela originador era cometido às escondidas ou praticado com violência), é no Direito 4 Romano, na época de vigência da lei das XII Tábuas , que surgem seus equivalentes históricos (embora o termo obrigação ainda não houvesse sido empregado), com a figura do nexum, espécie de empréstimo que conferia ao credor o poder de exigir do devedor o cumprimento de determinada prestação, inclusive com a disposição de seu corpo, 5 que poderia ser usado para quitar a dívida, por meio da escravidão (manus infectio) ou 6 mesmo da sua mutilação entre credores . Além disso, o Direito Romano ainda conheceu o contractus, o pactum e as constituições imperiais. O contractu, por sua vez, refletia um teor de rigidez em sua estrutura que perdura até tempos recentes (ora, contudo, mitigado pela interpretação doutrinária e 356 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 jurisprudencial), sendo ainda amplamente empregado desta forma estanque, ainda que imprecisa, ao redor do mundo. Tratava apenas dos contratos reais ou formais, nos quais, em caso de inadimplemento, o credor poderia se valer da actio (forma de preservação do direito utilizada pelos credores). Com as constituições imperiais, o formalismo do contractu foi atenuado, criandose, assim, uma teoria sobre contratos inominados e uma para os pactos mais simples. O pactum, por sua vez, possuía mero valor moral e não era revestido de caráter obrigatório, consistindo em um acordo no qual as partes não poderiam responsabilizar o devedor em caso de descumprimento do acordado. O pacto era, portanto, desprovido 7 da correspondente actio . A disposição física do corpo do devedor só foi suprimida com a lei Papiria Poetelia no século IV a.c., embora haja indícios de que tal prática já se encontrava em desuso na sociedade. A grande contribuição da lei Poetelia foi a de transformar o conceito de obrigação, para retirar o vinculum iuris da pessoa do devedor e fazê-lo recair apenas sobre seu patrimônio. Tal lei, contudo, não permitia ao devedor o direito de autodefesa, que 8 só poderia ser realizado por meio de um uindex , falha esta corrigida posteriormente pela Lex Varia. Com tal evolução empreendida pela Lex Poetelia, as obrigações no Direito Romano passaram a se constituir em um vínculo pessoal e intransferível, e a responsabilidade pelo inadimplemento desta passou a recair apenas sobre o patrimônio do devedor. Posteriormente, pouca foi a contribuição dada pelo período medieval, salvo registros atinentes aos costumes germânicos, entre os séculos V e XV, que cada vez mais abandonaram o apego a qualquer ideia pessoal da dívida obrigacional, para fundarse na concepção de um direito sobre os bens do devedor. A obrigação, no conceito germânico, converteu-se numa noção econômica e objetiva, suscetível de transferência e transformação. Com efeito, esta fase pouco expressiva para o Direito das Obrigações perdurou até o Renascimento, merecendo registro que a relação obrigacional foi-se caracterizando por dar cada vez mais valor às palavras previstas nos contratos, em razão da forte influência da Igreja nos valores morais. Importante modificação veio a surgir somente em 1804 com o Código de Napoleão, consagrando fase de individualismo exorbitado, no qual as partes eram livres para contratar da maneira que melhor lhes conviesse: porém, uma vez pactuada, esta liberalidade fazia lei entre os nela envolvidos. Além disso, sedimentou-se o entendimento de que “os bens do devedor são a garantia comum de seus credores” (art 2.093 do Código Civil Francês) que, como nos relembram Pablo Gagliano e Rodolfo Pamplona, é “regra fundamental não somente para aquele direito positivado, mas para toda a construção teórica 9 moderna do Direito das Obrigações, inclusive o brasileiro” . Outra importante contribuição do Código Napoleônico nos é destacada por Caio Mário da Silva Pereira, quando preleciona que é neste momento que se passa a considerar a vontade como sendo a força geradora do vínculo obrigacional, mas ao mesmo tempo em que ainda se aceitava a ideia de impessoalidade da obrigação, distanciando a concepção romana da moderna sobretudo no que diz respeito a esta 10 impessoalidade do vínculo . Revista da Escola da Magistratura - nº 13 357 Enfim, o centro de tudo passou a ser o indivíduo, a propriedade e a aquisição de bens. Em tempos mais recentes, no Brasil, é inegável que o Código Civil de 1916 sofreu forte influência da legislação francesa, inspirada no liberalismo, valorizando o indivíduo, a liberdade e a propriedade. A base contratual na qual se pautou o diploma civil de 1916 registrou características individualistas, observando apenas uma igualdade formal, fazendo lei entre as partes (pacta sunt servanda). Não se pode ouvidar que o Código Civil de 1916 é “reflexo de uma sociedade estável, agrária e conservadora, recém-saída de um regime de 11 escravidão” . Falhava, portanto, em não contemplar de forma precisa certos aspectos de uma nova era capitalista, como os juros compensatórios e moratórios e as indenizações por danos morais, pois fundava sua preocupação na importância dada ao proprietário e nos Direitos Reais. Merecido destaque deve ser dado, contudo, à promulgação da Constituição Federal de 1988, que trouxe para o âmbito do Direito Brasileiro conceitos fundamentais à forma de interpretar a disciplina das obrigações, como os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, bem como os valores sociais da livre iniciativa. O Código Civil de 2002, por sua vez, pouco inovou nesta seara, salvo o aspecto didático de trazer para o início da parte especial esta disciplina, atendendo ao reclamo da doutrina, posto que o estudo de diversos institutos do Direito Civil depende do entendimento prévio do Direito das Obrigações, bem como distribuiu de forma mais lógica matérias como a cessão de crédito e a assunção de dívida, ainda reconhecendo a correção monetária como efeito de desvalorização da moeda. Merece ressalva, contudo, que o atual Código Civil é reflexo de anteprojeto que data de 1975, cuja comissão de juristas foi criada em época ainda mais remota (no ano de 1967) e mais de uma década antes da promulgação da atual Constituição Federal, quando permeavam no âmago do legislador brasileiro os ideais liberalistas que já tinham norteado o anterior Código Civil de 1916 e que vêm sendo cada vez mais mitigados em âmbito mundial. Portanto, o estudo da matéria em tempos atuais depende da avaliação compatibilizada da legislação civilista com a presente Constituição da República, merecendo destaque o uso constante da moderna doutrina que trata a obrigação como processo, superando-lhe o enfoque estático do atual Código Civil, bem como valendose do uso de cláusulas gerais presentes no ordenamento brasileiro, que têm permitido ao aplicador do Direito renovar determinados institutos demasiado individualistas e engessados, para adequá-los à nova interpretação do Direito sob o prisma da preservação da dignidade da pessoa humana e da ênfase na boa-fé. 3. A Obrigação Como Processo 3.1. Conceitos e elementos dinâmicos do Direito das Obrigações A obrigação, em uma acepção jurídica genericamente aceita do termo, tem sido historicamente entendida como “uma relação jurídica pessoal que vincula duas pessoas, 358 Revista da Escola da Magistratura - nº 13 credor e devedor, em razão da qual uma fica ‘obrigada’ a cumprir uma prestação patrimonial 12 de interesse da outra” Mesmo Karl Larenz, que inspirou o estudo da obrigação como um processo, definia obrigação como uma relação pela qual uma ou mais pessoas se obrigam a cumprir e adquirem direito a exigir determinada prestação. Àquela pessoa a quem corresponde exigir a prestação chamamos de credor, porque se trata de uma relação de caráter contratual, aquela que “crê” na pessoa do obrigado, em sua vontade e capacidade de cumprir a obrigação. O credor crê que o devedor - que ocupa o polo passivo da relação - irá cumprir com sua prestação. No entanto, cumpre notar que esta definição, que pouco se modificou deste o tempo das Institutas de Justiniano, deve ser atualmente interpretada por três i
Download