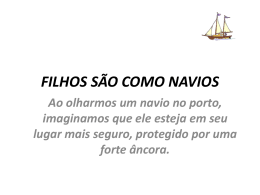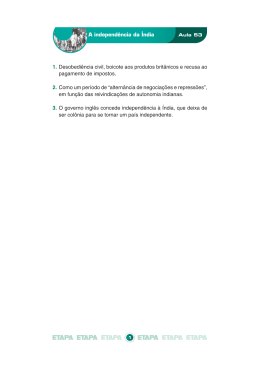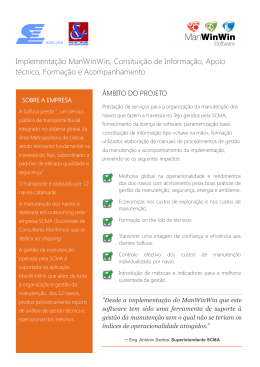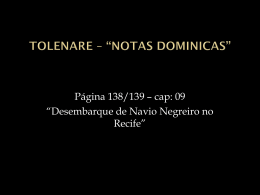Francisco Contente Domingues
A CARREIRA DA ÍNDIA
Índice
Introdução
A viagem
os navios
Os homens
A vida a bordo
Epílogo: o relato de um viajante
Leituras
Lisboa, 1998
2
Introdução
Chama-se Carreira da Índia à ligação anual entre Lisboa e os portos da Índia
(Cochim e Goa), que se estendeu por vários séculos; mas este breve enunciado pouco ou
nada diz, por si só.
De facto não houve outra rota como esta na era da navegação à vela: pela extensão
do percurso, pela dureza e duração da viagem, pelas incontáveis vidas que se perderam
no caminho, em naufrágios causados tanto pelas próprias condições de navegação ou
pelas tempestades como pela cupidez dos homens, que os levava a carregar
excessivamente os navios.
Sobretudo pela duração no tempo. A viagem de Vasco da Gama, que mostrou a
possibilidade de atingir a Índia vindo da Europa por via marítima, contornando o
continente africano, foi uma viagem inaugural, em nada típica do que se tornou depois o
curso regular da navegação para os portos orientais. Vasco da Gama saíu tarde, a 8 de
Julho, quando as armadas posteriores o fizeram sobretudo em Março; tardou cerca de
dois anos na ida e retorno, quando a duração média posterior andava por volta de 15
meses, em condições normais; perdeu metade, ou mais de metade da tripulação, um valor
excepcional para a época; e viajou em pequenos navios de 100 ou pouco mais de 100
toneladas de arqueação, quando logo depois, com Pedro Álvares Cabral, chegaram ao
triplo, aumentando significativamente a sua resistência ao mar e a capacidade de carga
para o comércio que se pretendia fazer.
A Carreira da Índia começou pois com a viagem de uma grande armada de 13
velas, capitaneada por Pedro Álvares de Gouveia, ou Pedro Álvares Cabral, nome pelo
qual ficou recordado pela posteridade. Mas acabou quando? Uma pergunta difícil de
responder, ou melhor, para a qual se tem procurado evitar a resposta. No século XIX
segundo a maioria das opiniões, em momento incerto, dos inícios à segunda metade da
3
centúria: há várias hipóteses em aberto. Sem dúvida, porém, a Carreira chega - ou quase até ao final da era dos grandes veleiros, muito embora os navios que faziam então a
chamada Rota do Cabo (a rota que levava os navios de Portugal à Índia pelo cabo da Boa
Esperança) não se pudesem equiparar aos velozes clippers ou similares que batiam
recordes na travessia do Atlântico, na vã tentativa de vencer a concorrência das
embarcações de propulsão mecânica. A Carreira da Índia, tal como se define
classicamente, acabou por igual com o aparecimento nos mares de navios que podiam
manter uma marcha regular sem estarem dependentes dos regimes de ventos e correntes.
Grosso modo durou três séculos e meio; daí vem sobretudo, como dizíamos, o seu
carácter excepcional.
Naturalmente que conheceu grandes variações durante este período. Quando os
Portugueses chegaram à Índia por via marítima movia-os o desejo expresso desde logo
por um dos dois homens que Vasco da Gama desembarcou em primeiro lugar: buscar
cristãos e especiarias. Quer dizer: tratar do comércio das almas (no sentido elevado do
termo) e dos bens para consumir e revender na Europa (num sentido bem mais terreno).
Uma dupla tarefa que não foi fácil; a evangelização conheceu alguns sucessos a par de
fortes resistências, onde foi tentada pelos inúmeros missionários que seguiram a bordo e cujo testemunho nos é deveras precioso, como veremos mais à frente -, o comércio teve
em primeiro lugar que disputar meios operativos, pontos de apoio e mercados, em boa
parte já tomados.
As primeiras armadas tinham missões simultaneamente comerciais e políticomilitares. Justifica-se por isso que no primeiro decénio saiam uma média de 14 navios
por ano para o Oriente, número que diminui de 8 para 10 velas no decurso dos trinta
anos seguintes. Estabilizada a situação, a Carreira entra numa fase mais rotineira: até ao
final do século as armadas que saem da barra do Tejo têem 5 ou 6 navios (sempre em
valores médios, é bom frisar).
As grandes mudanças deram-se justamente pelos finais de Quinhentos.
4
Num dia do verão de 1594 nove comerciantes da praça de Amesterdão juntaramse à volta de uma mesa, discutindo a possibilidade de se associarem para enviar uma
armada ao Oriente a comerciar directamente as especiarias, sobretudo pimenta, com que
os Portugueses vinham abastecendo boa parte do mercado europeu desde há um século,
em regime de exclusividade no que à via marítima dizia respeito, e por isso com grande
margem de manobra quanto à fixação de preços de revenda. Capitais, meios e
informações não lhes faltavam; enriquecidos pelo comércio marítimo entre as cidades do
Báltico, contavam com a experiência dos verdadeiros ninhos de mareantes que eram a
Holanda e a Zelândia, duas das regiões que faziam parte das Províncias Unidas, e quanto
à viagem para a Índia já sabiam o essencial. Jan Huygen van Linschoten, que para lá
viajara em navios portugueses e haveria de ficar famoso com a publicação em 1596 do
seu Itinerário, um cuidado e extenso relato sobre o Oriente, as oportunidades de
comércio e, não menos importante - na verdade até uma questão fundamentel -, sobre as
técnicas de navegação necessárias à Rota do Cabo, providenciara-lhes um exemplar
manuscrito da obra, permitindo-lhes assim o acesso à experiência de um dos neerlandeses
que melhor conhecia então o Oriente português.
No dia 2 de Abril de 1595 partiu uma frota de três navios e uma pequena
embarcação de apoio, comandada por Cornelis de Houtman e Gerrit van Beuningen. A
viagem teve alguns pontos em comum com a de Vasco da Gama, a começar pelo número
de navios, mas também pelo relativo insucesso dos primeiros contactos estabelecidos,
pelo volume de perdas de vidas humanas anormalmente alto - sobreviveram 87 dos 240
tripulantes -, pelo tempo, demasiadamente longo, da viagem; e, tal como a de Vasco da
Gama, também porque não contou tanto o resultado comercial da empresa (aliás
irrelevante), como sobretudo o precedente que abriu. A partir de então os holandeses
tinham aberto o caminho do Oriente: a Rota do Cabo deixou de ser um monopólio
português; e logo de seguida vieram os Ingleses, buscando por igual as riquezas do
comércio ultramarino.
5
Não havia possibilidade de competir com as duas potências que se preparavam
para disputar o contrôle dos mares. Nos finais do século XVI e durante os primeiros
anos do seguinte esboçou-se alguma reacção por parte da coroa portuguesa, mas a partir
do terceiro quartel de Seiscentos, sensivelmente, a Carreira da Índia entra em declínio tão
visível quanto irreversível. Pelos meados do século XVII, numa conjuntura
particularmente difícil, com o reino envolvido na guerra da Restauração que se seguiu à
independência em 1640, e perante os esforços militares que tiveram de se afectar à
recuperação de posições em África e no Brasil, parece registar-se alguma reanimação do
movimento anual das armadas, mas depois a Carreira torna-se uma sombra de si mesma:
sucedem-se os anos em que partem apenas um ou dois navios, às vezes três.
Pontualmente a situação alterava-se: a conjuntura comercial e político-militar
internacional permitia que em certos momentos se assistisse a uma recuperação que, na
verdade, residia apenas no aproveitamento de um espaço deixado em aberto pela
concorrência estrangeira: sucedeu assim, em mais de uma ocasião, no tempo do marquês
de Pombal.
Com maiores ou menores dificuldades, entre momentos de grande movimento ou
reduzida ao mínimo indispensável, a Carreira foi-se mantendo por mais de três séculos,
como já se disse atrás: o facto em si é não só o momento mais alto da história marítima
portuguesa como também, permita-se-nos que o acentuemos de novo, a mais
extraordinária das epopeias da era das grandes navegações à vela. Não houve, em
qualquer momento na História deste período, nada de similar que lhe fosse comparável.
A viagem
Um dos mistérios que mais persistentemente envolve as navegações
quatrocentistas é o do aparente hiato existente entre o regresso de Bartolomeu Dias, em
6
1488, e a partida de Vasco da Gama, em 1497. Mistério porque, para uns, não faz
sentido pensar numa paragem súbita nas navegações, justamente quando se abriam as
portas da Índia, quer dizer, quando por fim se provava a existência da ligação marítima
entre o Atlântico e o Índico, tão longa e persistentemente procurada. Aparente hiato
para outros: a década em causa foi deveras complicada, e as circunstâncias da vida
política interna do reino e a sua situação face aos problemas internacionais bem
justificam que não houvesse lugar à preparação e envio de uma armada com requisitos
tão especiais como aquela.
Provavelmente têm parte da razão uns e outros, mas essa é uma discussão que
não podemos acompanhar aqui. Importa apenas chamar a atenção para um aspecto da
actuação de D. João II: o monarca não se limitava a organizar frotas para explorar os
mares, pois simultaneamente outros enviados seus iam por terra complementar a recolha
de informações.
Ao mesmo tempo que Bartolomeu Dias zarpava com as suas caravelas para o
Atlântico Sul, à procura da almejada passagem que efectivamente encontraria, seguiam
para o Oriente, por terra, Pêro da Covilhã e Afonso de Paiva. Desconhecemos as
instruções que levariam consigo, mas não é difícil adivinhar que uma delas seria, como
escreveu Luís de Albuquerque, "informarem-se concreta e, se possível, directamente dos
países produtores das especiarias que interessavam à Europa"; a questão não estava em
saber apenas se era possível enviar uma armada à Índia, mas onde em concreto e a quê.
Pêro da Covilhã viajou demoradamente pelo Oriente, bordejando boa parte do
Índico. Que informações trouxe, e se chegaram sequer a Portugal, eis o que
desconhecemos em absoluto. É porém seguro que se o monarca pôde inteirar-se-se dos
resultados da sua missão, ou dessas eventuais explorações posteriores a Bartolomeu
Dias, uma e outras não resolveram um problema com que Vasco da Gama teve de se
defrontar, pois este, quando saíu de Lisboa não conhecia ainda a Rota do Cabo: como
7
vimos acima a armada largou muito tarde, demorou mais do que se tornou depois usual e
isso traduziu-se em perdas avultadas.
O reconhecimento da rota foi feito ou completado na viagem inaugural: prova-o o
facto de Álvares Cabral ter navegado seguindo as instruções escritas de Gama, nos
termos gerais em que se fez depois por sistema a viagem para o Oriente enquanto durou
a travessia à vela.
O problema fundamental era permitir que os navios cursassem os mares a favor
dos ventos dominantes: olhando para um mapa da Rota do Cabo constata-se que a
viagem é mais bem mais longa do que seria possível; como acontece frequentemente
quando a progressão dos navios depende exclusivamente dos ventos, um trajecto mais
comprido torna-se mais rápido e, sobretudo, mais cómodo e seguro.
Os navios largavam do Tejo em Março, quanto muito em princípios de Abril;
descobriu-se que era a melhor altura para assegurar a passagem do cabo da Boa
Esperança em tempo de apanhar a monção grande, ou sejam, os ventos que sopram
regularmente da costa oriental de África em Agosto e Setembro de cada ano e podem
transportar os navios até aos portos do Indostão (antes desta altura as condições
climatéricas não permitiam sequer que se entrasse nestes portos).
Segundo Max Justo Guedes, que seguiremos a este propósito, a viagem para a
Índia decompunha-se em cinco etapas fundamentais, sendo a primeiro o troço de Lisboa
às ilhas de Cabo Verde, quase a direito: viagem sem problemas (excepto para os que
sofriam de enjôo, que pode provocar um terrível mal estar, como se sabe), com
aprovisionamentos frescos, boas condições de navegação e climatéricas, em geral.
Vinha logo depois um dos piores momentos, o da travessia das calmarias
equatoriais, onde os navios chegavam a permanecer várias semanas sem a mais leve brisa
de vento - "ao pairo" como então se dizia -, debaixo de um calor tórrido; começavam as
doenças e a deterioração dos géneros alimentícios.
8
Passada esta dificuldade, a fase seguinte era a chamada "volta do mar": uma rota
em arco que levava os navios a contornar os ventos gerais (alíseos) do Atlântico Sul e
aproximar-se da costa brasileira, procurando ganhar a melhor posição para rumarem ao
Cabo. Essa aproximação tinha de se fazer com precaução, pois sucedeu algumas vezes
que as naus arribaram, isto é, foram forçadas a dar à costa, com notório prejuízo do
calendário previsto, ou mesmo a voltar ao ponto de partida, por se terem chegado demais
a Norte e os ventos já não permitirem a continuação da viagem.
O troço a fazer depois, já navegando para leste na direcção do cabo da Boa
Esperança, consistia na aproximação às ilhas de Tristão da Cunha, onde os pilotos
procediam aos necessários ajustes de rota, e então os navios dirigiam-se ao extremo sul
do continente africano. Esta passagem era um momento particularmente penoso e
muitas foram as embarcações que naufragaram; não foi impunemente que Luís de
Camões lá colocou o Adamastor, ele que também soube por experiência própria o que
era dobrar o cabo da Boa Esperança (que sempre foi o símbolo das dificuldades passadas
pelos navegadores, embora o ponto mais meridional de África seja o cabo das Agulhas).
Entrava-se então na última etapa. Chegados os navios até fins de Julho (mais
tarde os roteiros anteciparam esta data para os meados do mês), faziam a viagem por
dentro, isto é, seguiam pelo canal de Moçambique, entre a costa oriental africana e a ilha
de Madagáscar, então chamada de S. Lourenço, procurando evitar um obstáculo temível os baixos da Índia, verdadeiro cemitério de navios.
Atingidas as ilhas Comoro, a norte de Madagáscar, as armadas seguiam então
praticamente em linha recta em direcção à Índia, com vento a favor.
Se porventura entravam no Índico depois da época ideal, seguiam então por fora,
isto é, a leste de S. Lourenço. Num caso como noutro, as armadas esperariam chegar ao
seu destino por Agosto ou Setembro
No regresso existia uma alternativa semelhante, como sempre determinada pela
data de saída, que, idealmente, devia ser pelos finais de Dezembro: muitos navios
9
largaram para o mar no próprio dia de Natal. Neste caso rumavam primeiro em direcção
ao que é hoje a costa da Somália e desciam pelo canal de Moçambique (por dentro);
saídas mais tardias aconselhavam a viagem por fora, tal como acontecia na situação
inversa, desta vez com duas alternativas no início do percurso, conforme podemos ver
no mapa: a Carreira Velha, preferida pelos que vinham de Goa, e a Carreira Nova, para
os que zarpavam de Cochim.
Entradas no Atlântico as armadas aproveitavam os ventos gerais que lhes eram
favoráveis nesta altura, e rumavam praticamente a direito para Cabo Verde, passando ao
largo ou parando em Santa Helena (uma escala muito apreciada pela amenidade do clima)
e nas ilhas Ascensão. Em Cabo Verde começava a rota ou "volta pelo largo", um novo
trajecto em arco para atingir os Açores. Aí, chegados sensivelmente à mesma latitude da
costa portuguesa, bastava rumar a direito e atingir Lisboa.
Em boas condições isso iria suceder pelos meados do ano; para navios saídos no
Março anterior completavam-se cerca de 15 meses de viagem, dos quais
aproximadamente três na Índia e os restantes no mar, intervalados apenas pelas breves
escalas.
Havia-as de três tipos, segundo Luís de Albuquerque: escalas de reabastecimento,
as mais frequentes e necessárias aos navegadores, onde tomavam refresco e
aprovisionavam água, alimentos sólidos e lenha; escalas para reparações, que eram mais
raras com este fim exclusivo e aconteciam quando se tornava imperioso para garantir a
segurança da viagem, uma vez que a manutenção normal do navio se fazia também
durante os reabastecimentos; e as escalas para reagrupamento da armada, ainda mais
raras se feitas só para assegurar este propósito: deviam-se à obrigação regimental de os
navios seguirem em comboio, como se diria hoje, ou em conserva, na terminologia antiga,
o que era tanto mais aconselhável quantos maiores eram os problemas de segurança.
Foram estes que, aliás, alteraram a rotina da Carreira. Bem cedo as marinhas
concorrentes identificaram as escalas preferidas pelas armadas da Índia: ilha de
10
Moçambique à ida, Santa Helena e Açores no regresso. Era nestas duas últimas que se
concentravam os piratas e corsários, o que no século XVII levou a uma medida extrema:
a viagem de rota batida, isto é, sem qualquer escala - pretendendo-se justamente evitar o
que se tinham tornado verdadeiras armadilhas -, mas, como não podia deixar de ser, as
consequências foram desastrosas. As perdas de navios e homens aumentaram em flecha,
tornando a medida insustentável no longo prazo.
De qualquer maneira tinha acabado o período áureo da Carreira da Índia, e as
vicissitudes da viagem não deixavam de o reflectir. A experiência normal de navegação
dos Portugueses pela Rota do Cabo estabelecera-se e provara num mar português, um
mar à escala transoceânica, que no século XVII deixou definitivamente de existir.
Os navios
Quando Bartolomeu Dias voltou da viagem que em 1487-8 o levou a ultrapassar
o Cabo da Boa Esperança, trazia consigo duas certezas: a caravela latina, o navio com
que os Portugueses tinham empreendido a exploração sistemática do Atlântico Sul e da
costa africana, não servia já para a viagem que se projectava à Índia.
Atestadamente utilizadas desde cerca de 1440 nas navegações de reconhecimento
geográfico ao longo da costa ocidental africana e exploração marítima no Atlântico sul, as
caravelas latinas eram pequenos navios ideais para esse tipo de missão, com o seu
velame latino (velas de forma triangular) a permitir-lhes a navegação à bolina, isto é, a
progressão em zigue-zague contra a direcção dominante do vento. Por outro lado, dada
sua pequena dimensão podiam aproximar-se das costas, explorar o curso dos rios e, em
geral, navegar em águas desconhecidas e com regimes de ventos e correntes também
ignorados. É evidente que a progressão nestas condições era difícil, até penosa, por
vezes, mas tratava-se de um recurso de excepção - de excepção mas possível.
11
Justamente ser um navio ligeiro, a caravela tinha limitações que não deixaram de
se tornar patentes com a continuação das viagens cada vez mais para sul. O casco afilado
não permitia grande capacidade de carga, e a tripulação, embora em número reduzido
quando comparada com as dos navios de maior porte, acabava por ser relativamente
grande para o tamanho do navio, pois a manobra das grandes velas latinas - na qual
residia a sua vantagem, por outro lado - assim o exigia. O alongar das viagens para
paragens não conhecidas, onde portanto nunca se tinha a certeza de quando se podiam
fazer reabastecimentos, acabava por obrigar à afectação de grande parte do espaço útil ao
transporte das vitualhas necessárias para os tripulantes - com a água potável em
primeiro lugar. Tanto Diogo Cão, que comandou duas ou três expedições à costa africana
nos anos oitenta, como Bartolomeu Dias, que comprovou a existência da passagem do
Atlântico para o Índico, no que foi uma viagem verdadeiramente revolucionária para os
conhecimentos geográficos da época, experimentaram problemas com o abastecimento
das suas tripulações.
As caravelas não eram de facto navios adequados para as grandes rotas oceânicas
com os seus 50 tonéis de arqueação, em valores médios para as de dois mastros,
podendo as maiores, já com três mastros de pano latino, chegar talvez aos 80 ou 100.
Na época, diferentemente do que sucede hoje, a dimensão dos navios media-se
pela capacidade de transporte de tonéis, cuja dimensão média andava por 1m de diâmetro
e 1,5m de altura; assim, dizia-se que uma embarcação era de 50 tonéis (usou-se o termo
tonelada com igual significado) quando podia acomodar outros tantos tonéis, que serviam
como vasilhame para guardar géneros sólidos e líquidos - de abastecimentos para os
mareantes e carga geral - e em simultâneo de unidade de medida. O que era
manifestamente pouco para o volume de comércio que se adivinhava, como se vê com
facilidade.
Constatou-se pois que a caravela não podia suportar mares grossos; como
escreveu o cronista Gaspar Correia os grandes mares encontrados na viagem de 1488
12
"comiam os navios". Havia que pensar numa solução diferente, e prepararam-se com
todo o cuidado as naus que haviam de integrar a armada cujo comando foi entregue a
Vasco da Gama.
A frota que na viagem de 1497-9 chegou pela primeira vez à Índia por via
marítima, vinda da Europa pela Rota do Cabo (isto é, contornando o cabo da Boa
Esperança) era composta por 4 navios: nisto estão todos os autores de acordo. Discutese depois que tipo de navios, o que já é outra questão.
Os dois maiores, a 'São Gabriel' e a 'São Rafael', respectivamente sob o comando
dos irmãos Vasco e Paulo da Gama, eram indubitavelmente naus. A terceira embarcação,
'Bérrio' de seu nome, era capitaneada por Gonçalo Coelho e foi descrita por alguns
autores como sendo uma caravela, o que não é seguro; um último navio de mantimentos
levava Gonçalo Nunes por capitão e é quase sempre nomeado assim, isto é, como navio,
palavra muito genérica já na época.
O que importa reter é a tipologia das duas embarcações mais importantes: as
naus.
As naus da primeira viagem de Vasco da Gama teriam aproximadamente 100
tonéis de arqueação, mas é de crer que morfologicamente não andariam já longe das que
fizeram depois o curso regular da Carreira no século XVI, ressalvadas, evidentemente, as
alterações que foram sendo feitas, quer com vista à melhoria das suas prestações (o
velame, por exemplo, foi sendo complexificado e aumentado), quer fruto das opções
próprias de cada construtor naval: era-lhes deixada uma grande margem de decisão
quanto a aspectos vários da construção e da própria arquitectura do navio, para além do
que diziam os regimentos.
Sabemos isso; o que não sabemos é como seriam exactamente os navios de Vasco
da Gama. Pesem embora todas as tentativas de reconstituição, as fontes documentais da
época são escassas e pouco esclarecedoras. De qualquer forma cumpre notar que logo na
13
armada de Pedro Álvares Cabral se veriam diferenças significativas, pois as maiores das
naus capitaneadas por este último chegavam, segundo se acredita, aos 300 tonéis.
A razão de ser deste súbito aumento das tonelagens é fácil de compreender e foi
claramente explicada por Duarte Pacheco Pereira, um dos mais insignes especialistas das
matérias navais à época, no seu Esmeraldo de Situ Orbis: D. Manuel mandara fazer
"quatro navios pequenos, que o maior deles não passasse de cem tonéis para cima",
porque eram destinados a navegar para paragens desconhecidas, e tinham de poder
"entrar e sair em todo lugar". É sem dúvida uma viagem de exploração, a que se organiza .
Quando Cabral parte para a Índia a situação é pois bem diversa: sabia-se que tipo
de navios interessavam, para se dirigirem aonde e em que condições. Por outro lado ficou
desde cedo estabelecido o tipo de comércio que os Portugueses podiam fazer o que, tudo
junto, ajudou a determinar a tipologia genérica das depois chamadas naus da Índia.
Naus da Índia: chamava-se-lhes assim porque eram as que faziam a Carreira. O
que é que então as distinguia das restantes?
A tonelagem, em primeiro lugar. Estas naus começaram muito rapidamente a ter
400, 500, 600 tonéis de arqueação, e até mais. Com o correr do século XVI e pelos
princípios da centúria seguinte multiplicam-se as referências a navios de maior porte
ainda: 800, 900, 1000 e mais toneladas. O que sabemos dos navios do mesmo tipo que
faziam outras carreiras no século XVI, ou o tráfico de curta distância, leva-nos a pensar
que as suas tonelagens médias seriam muito inferiores, talvez um quarto daqueles
valores; pese embora o facto de estes dados serem muito variáveis no tempo e consoante
a funcionalidade específica para que se construía cada navio, não devemos andar muito
longe da verdade avançando estes números.
O navio da Índia, pelo contrário, requeria-se grande para defrontar a aspereza da
viagem e para garantir boa capacidade de carga. O rácio tripulante-tonelagem dá-nos uma
boa medida da vantagem competitiva de cada tipo de embarcação para o comércio a longa
distância. Assim, uma nau de 600 tonéis com 120 homens de tripulação teria uma relação
14
1:5, ou seja, cinco toneladas de arqueação por tripulante, embora não se devam esquecer
todos os outros que também embarcavam e o espaço que ocupavam com as suas
bagagens e vitualhas, somando-se-lhes, no regresso, as mercadorias que os particulares e
os tripulantes podiam trazer para comerciar por conta própria. Aquela relação sai pois
prejudicada com a correcção a fazer - para a qual não é possível obter números muito
precisos -, mas sem dúvida que há uma diferença visível para as caravelas, que com 50
tonéis podiam ter 25 homens na tripulação; isto é, uma relação simples de 1:2.
Capacidade de carga, capacidade para os embates do mar, capacidade enfim para
resistir aos ataques dos contrários. Em tudo isso pensava o padre Fernando Oliveira
quando c. 1580 escreveu o Livro da Fábrica das Naus, primeiro tratado em português
sobre a construção dos navios, no qual não teve dúvidas em deixar expressa a sua
opinião. É um passo no qual vale a pena atentar:
"As viagens longas hão mester navios grandes: por que os pequenos, não forram a
despesa. A viagem longa há mester muitas vitualhas: as quais, se o navio é pequeno,
tomam todo o navio, e não fica lugar para as mercadorias. Aqui me lembra, que ouvi
dizer, que algumas pessoas diziam, que se fizessem navios pequenos para a viagem da
Índia: mas a mim não me parece o seu conselho acertado: assim pela razão que disse,
da despesa ser maior que a receita, como também, por que os navios pequenos não são
seguros naquela viagem, tanto como os grandes: digo seguros, do mar, e dos ladrões.
O mar naquela viagem requer navios grandes: por que assim come ele um navio de
quinhentos tonéis na costa da cafraria de Moçambique até ao cabo, como no adarço de
Sacavém para Vilafranca um barco de Punhete: e mais azinha comerá um navio
pequeno. Pois de ladrões, muito melhor se defende o grande, que o pequeno: por que o
grande traz mais gente, e mais armas para se defender: e só a magestade do grande
atemoriza os contrários, que não ousam cometê-lo: e contra o pequeno afoitam-se
15
mais, e não arreceiam ir a ele, e investi-lo, e entrar nele: por que nem gente pode trazer,
de que se receem"
Nem todos pensavam assim: para alguns, cujos argumentos o padre Oliveira
procurou rebater, perdendo-se um grande navio a perda era maior, mas o principal
motivo de preocupação residia na falta de qualidades marinheiras que se associava por
norma aos maiores navios. É em resposta a essa preocupação que o rei D. Sebastião
legisla em 1570 no sentido de os navios da Índia não poderem ter nem menos de 300
tonéis nem mais de 450, procurando obter um meio termo ideal. Que essa legislação não
foi seguida à risca prova-o o facto de determinações similares terem sido repetidas nos
reinados de Filipe I e Filipe II de Portugal. Na verdade, os armadores tinham meios de
aumentar a capacidade do navio sem violar ostensivamente as normas que o poder régio
tentava impôr, bastando-lhes para isso aumentar o tamanho dos castelos.
O corpo principal da nau típica da Carreira da Índia, que nos meados do século
XVI teria uns 500 a 600 tonéis de arqueação, tinha três pavimentos corridos da proa à
popa (mais tarde também se fizeram com quatro): eram as cobertas. Ao contrário do que
sucede hoje, a que se situava imediatamente por cima do porão era designada por
primeira coberta; a principal era o convés, ou terceira coberta, que se abria ao ar livre a
meia-nau.
Nas extremidades do convés erguiam-se os castelos de popa e proa, que por sua
vez tinham vários pavimentos. Sobretudo nos inícios do século, a avaliar pela iconografia
que nos chegou, parece que estes castelos chegaram a atingir grande proporções, mas os
marinheiros não terão deixado de perceber que isso retirava estabilidade ao navio.
Serviam sobretudo para o alojamento das principais personalidades embarcadas, para
transporte de alguma carga, e como baluarte de artilharia; eram de facto autênticos
castelos, e podiam servir de último refúgio aos defensores no caso de uma abordagem que
permitisse ao inimigo disputar a posse ou ocupar o convés do navio.
16
Para efeito do cálculo da tonelagem do navio só se levava em linha de conta o que
se podia transportar debaixo do convés; daí que resultasse o expediente de aumentar o
volume dos castelos sem que isso tivesse implicações no aumento da tonelagem do
navio, o que era tanto mais fácil quanto é certo que as regras de construção das
embarcações deixavam a edificação destas superestruturas ao arbítrio do construtor
naval.
Estas naus tinham normalmente três mastros principais: o grande, mais ou menos
a meia-nau, e o do traquete, mais chegado à proa, com pano redondo; o da mezena, à ré,
com velame latino.
"Pano redondo": na verdade o formato é trapezoidal, mas chamava-se assim por
causa da forma aproximadamente semi-esférica das velas quando enfunadas pelo vento. E
aqui pode residir um outro aspecto distintivo: a iconografia parece de facto sugerir que as
naus portuguesas da Índia tinham um grande superfície vélica, comparativamente
falando. Sobretudo a vela grande do mastro grande (mais tarde conhecida por papa-figos)
é de enormes dimensões. Conhecidos os condicionalismos físicos da navegação de
Portugal para a Índia e volta, os navios faziam a sua rota com ventos dominantes pela
popa. Podiam assim aproveitar cabalmente essas grandes superfícies vélicas, mas sem
dúvida que a sua dimensão exigia grandes esforços à tripulação para a manobra.
As naus eram navios de carga armados com peças de artilharia, algumas das quais
de grande calibre. Sobretudo nos primeiros anos após a chegada dos Portugueses à Índia,
tendo sido necessário disputar influências políticas, militares e comerciais, estes navios
acabaram por desempenhar uma função mista: note-se que já a armada de Pedro Álvares
Cabral - ao contrário da de Vasco da Gama, cumpre acentuá-lo - ia bem preparada para
acções militares ofensivas que efectivamente veio a protagonizar. Nos anos subsequentes
os navios de alto bordo (assim chamados por oposição aos navios de remo como a galé,
ditos de baixo bordo porque o convés ficava muito mais próximo da linha de água)
serviram tanto para os principais combates militares como para a vigilância costeira e
17
contrôle de rotas. Não tardou que se empenhassem fundamentalmente neste último tipo
de missões, pois para combates junto à costa, desembarques e acções fluviais veio
rapidamente a constatar-se a superioridade das embarcações a remos. Mas até para sua
própria defesa no alto mar - sobretudo depois do início dos ataques franceses, ingleses e
holandeses aos navios da Carreira para os pilhar na viagem de regresso, quando vinham
carregados de mercadorias - as naus dispunham sempre de peças de artilharia; tanto as da
coroa como as de particulares, que a isso estavam obrigados por determinação régia, além
de o aconselhar o mais elementar bom senso.
Só dispomos de elementos informativos mais seguros para os finais do século
XVI: as bocas de fogo podiam ir até às quatro dezenas, metade em pequenos e médios
calibres, outra metade em médios-grandes. A artilharia, predominantemente de bronze,
era cara. Estes números podiam variar muito em função de vários factores, como a
disponibilidade financeira do armador para assegurar um custo que, em relação ao preço
de uma nau nova aprontada para navegar, se situava por norma entre um quarto e um
terço do total (considerando também a munição e o armamento ligeiro).
Navio de carga armado, a nau não era por natureza um vaso de guerra. Por isso
surge c. 1520 um tipo de navio similar mais vocacionado para este fim: o galeão.
O termo designa por igual embarcações espanholas e inglesas. Em Espanha era o
equivalente à nau portuguesa, no sentido em que era o nome genérico dado aos navios de
alto bordo. No caso de Inglaterra a palavra aparece muito mais tarde, mas acabou por se
identificar com os navios do século XVI.
Nem num caso nem noutro estamos perante embarcações similares. O galeão
português tinha características peculiares, tanto quanto nos é possível apurar hoje em
dia, porquanto a questão é deveras controversa. De facto importa notar desde já que, na
época, naus e galeões eram frequentemente confundidos, a ponto de num mesmo
documento se chamar uma e outra coisa a uma só embarcação, o que pode querer dizer
que ou a distinção não era muito clara, ou pelo menos não era evidente para todos. Por
18
outro lado os galeões aparecem também envolvidos no tráfico comercial, quer dizer,
eram, tal como as naus, bifuncionais.
Não obstante tudo isto, há documentos escritos e iconográficos que mostram a
existência de um tipo de navio similar à nau, mas mais comprido e afilado, e com um tipo
de aparelho (o conjunto das velas) diferente: quatro mastros principais em vez dos três
típicos da nau, tendo o traquete e grande com pano redondo, tal com esta, mas à popa
dois de pano latino, o mastro da mezena e o da contra-mezena.
Pelos inícios do século XVI apareceu um terceiro tipo de navio que integrou
frequentemente as armadas da Índia: a caravela redonda ou caravela de armada (por vezes
só caravela armada, com sentido que pode ser diverso do anterior).
Neste caso estamos sem dúvida alguma diante de um vaso de guerra, mas de
dimensões bem mais modestas. Esta caravela tinha tipicamente 150 a 180 tonéis
(portanto não era pela sua capacidade de carga que a integravam na Carreira), um
conjunto de peças de artilharia importante para a sua dimensão, e quatro mastros que lhe
conferiam boas capacidades marinheiras (fundamental para a manobra de um navio de
guerra): o da frente, o traquete, com pano redondo, os restante três com velas latinas.
Se ao princípio a Rota do Cabo foi uma rota portuguesa, a imagem dos navios
ajoujados das ricas mercadorias trazidas do Oriente começou a tornar-se num acicate
poderoso para os corsários e piratas de outras nações, que passaram infestar o Atlântico:
ou junto às escalas onde sabiam que os navios portugueses se dirigiam para os
reabastecimentos, ou na última parte do trajecto, entre os Açores e Lisboa. Navios
desgastados pelo bater do mar ao longo de meses e tripulações cansadas eram presas
fáceis. Nestas condições as caravelas, além de fazerem a viagem para o Oriente, serviam
amiúde de escolta para garantir a segurança das naus que chegavam.
A típica nau portuguesa da Carreira da Índia não era um navio excepcionalmente
grande (em Inglaterra já os havia com mais de 1000 tonéis nos inícios do século XV), e
arquitectonicamente não era substancialmente diferente do que já era conhecido. Foi
19
todavia o primeiro navio de grande porte adequado para a navegação oceânica
desenvolvido por uma nação europeia com sucesso, e com ele se cumpriu a rota que
passou então a ligar o Oriente e o Ocidente.
Os homens
Tem-se discutido desde há muito a razão ou razões que levaram o rei D. Manuel I
a confiar o comando da primeira armada que foi à Índia a Vasco da Gama (se tal não
ficara já resolvido em tempo de D. João II, o que para o caso que nos interessa discutir
aqui é pouco relevante); do qual, como de resto é frequente para a época, não se
conhecem perfeitamente todos os dados da sua biografia. Vários foram os historiadores
que concluíram que o desempenho de tal missão só podia ser entregue a um homem com
experiência de navegação, o que é referido de passagem por um cronista: Fernão Lopes
de Castanheda diz que era "experimentado nas coisas do mar". É porém o único a fazê-lo
de entre quantos trataram da história dos Portugueses na Índia, e, como vem de escrever
Luís Adão da Fonseca em livro recentemente publicado sobre o descobridor do caminho
marítimo para a Índia, é bem natural que parte do que se disse a propósito da
personagem fosse retroprojectivo, quer dizer, reflectindo o conhecimento do que se
passou depois.
A missão de Vasco da Gama era uma missão extremamente importante a todos os
títulos, e a coroa era a primeira a considerá-la assim. O comandante da frota não tinha de
saber governar um navio; ele actuava como representante do rei e assumia a
responsabilidade geral da expedição, o que, convenhamos, já não era pouco. Estabelecer
uma rota e fazer o navio segui-la, marcar o ponto na carta e anotar no diário de navegação
as ocorrências náuticas é completamente diferente - é o trabalho de um técnico.
20
A matriz manteve-se depois. O capitão do navio representava o armador - quase
sempre o rei a início - e era o responsável último por tudo o que se passava; o
comandante em chefe de cada armada era o capitão-mor.
Os critérios de nomeação deixam-no claro: o comando dos navios era assegurado
por homens da confiança pessoal do armador e de condição social adequada. Só no
reinado de D. João IV se procurou que estes postos de comando fossem entregues em
função da competência técnica, mas a ideia nunca vingou graças à oposição da nobreza,
ciosa dos privilégios e vantagens materiais daí advenientes. Ter-se-ia de esperar pela
segunda metado do século XVIII para que os lugares de comando fossem ocupados
normalmente por oficiais de marinha escolhidos pelas suas capacidades profissionais.
O segundo homem na hierarquia a bordo era o piloto, que se tornava assim no
membro mais importante da tripulação; era justamente a este que competia garantir que a
navegação se fazia dentro do previsto, sendo-lhe portanto necessários um conjunto de
conhecimentos técnicos adequados para o efeito. As tarefas mais importantes dos
pilotos eram: o cálculo da latitude pela observação dos astros (a chamada náutica
astronómica, que os Portugueses criaram no decorrer do século XV, quando lhes passou
a ser imperioso poder determinar a posição de um navio no alto mar), recorrendo a
instrumentos como o astrolábio náutico, também ele uma criação dos navegadores
portugueses; o cálculo da longitude que se fazia por estimativa, o que requeria uma
grande experiência de mar, bom conhecimento do navio e das condições concretas em que
navegava a cada momento; a marcação do ponto e o acompanhamento da progressão
sobre a rota prevista nas cartas de marear; e, por fim, o piloto devia ainda anotar tudo o
que de relevante se passava no diário da navegação e que a esta dissesse respeito, como
já dissémos atrás. Nestas funções era auxiliado pelo sota-piloto.
Nos documentos dos finais do século XVI encontramos informações que nos
permitem ter uma ideia clara das pessoas que constituíam a tripulação e respectivos
21
vencimentos. Em 1589 fez-se o orçamento do preparo de vários navios, entre eles o
galeão 'S. Bartolomeu' que ia tripulado como segue:
Capitão, 2000 réis/mês
Escrivão, 800 rs
Capelão, 2000 rs
Mestre, 3000 rs
Piloto, 3000 rs
Contramestre, 2400 rs
Guardião, 2000 rs
Sotapiloto, 2000 rs
2 Carpinteiros a 2000 rs cada
2 Calafates a 2000 rs
Tanoeiro, 1600 rs
Despenseiro, 1200 rs
Meirinho, 1200 rs
Barbeiro, 1200 rs
50 Marinheiros a 1200 rs cada
50 Grumetes a 800 rs cada
4 Pagens a 533 rs cada
Condestável, 2000 rs
29 Bombardeiros a 1400 rs cada
250 soldados a 800 rs cada
Esta listagem engloba três grupos distintos.
O primeiro é o do pessoal de navegação. Além do piloto e do sota-piloto, de
quem já falámos atrás, incluem-se aqui: o mestre, número três da hierarquia de bordo,
22
encarregue de supervisionar tudo o que dizia respeito à manobra do navio e aos
marinheiros; o contramestre e o guardião, que o coadjuvavam nesta tarefa; e os
marinheiros e grumetes.
No segundo núcleo, ainda pertencente à tripulação propriamente dita, estavam
englobados os artesãos de ofícios que nada têm a ver com o mar, entre outros cuja
presença a bordo era por igual imprescindível: o escrivão e o capelão (o primeiro dos
quais com a incumbência de registar tudo o que se passava a bordo de relevante, levava
também consigo o rol dos embarcados, das cargas, etc.), o meirinho, que era o oficial de
justiça, o despenseiro e o barbeiro, cujas obrigações são óbvias, e dois carpinteiros, dois
calafates e o tanoeiro. Este último construía e velava pelo estado de conservação dos
recipientes de carga, os carpinteiros não tinham naturalmente mãos a medir num navio e
madeira, enquanto a missão dos calafates era assegurar a substituição dos materiais
empregues para tapar as juntas das pranchas de madeira do navio, tentando mantê-lo
tanto quanto possível estanque. Os pagens serviam como criados do capitão.
À parte, mas fazendo por igual parte da tripulação, estavam os bombardeiros.
Como o nome indica manuseavam as peças de artilharia, e, teoricamente, deveriam ser
capazes de fabricar a pólvora e até fundir as peças. O condestável era o oficial
responsável por eles, e só respondia perante o capitão.
A tripulação era neste caso composta por 150 pessoas no total, das quais 105
estavam directamente ligados às tarefas da navegação. O terceiro núcleo que aparece é o
dos soldados, que não se incluem nestes números.
Pode parecer estranho que o capitão tenha um vencimento inferior ao do piloto,
mestre e contramestre, e igual, por exemplo, ao do sota-piloto ou do capelão; o exemplo
escolhido foi-o justamente por ilustrar uma situação que, embora invulgar, não é
excepcional nos orçamentos que conhecemos desta época. Não deverão porém esquecerse dois aspectos que ajudam a compreender este facto: a tradição de pagar bem aos
principais responsáveis pela navegação, que já vem do tempo da viagem de Vasco da
23
Gama; e o facto de todos os tripulantes terem mais benesses além dos ordenados, e nas
quais, aí sim, as do capitão são superiores a quaisquer outras: falamos das quintaladas,
ou seja, o direito de cada tripulante a trazer consigo uma determinada quantidade de
especiarias para comerciar livremente, sem taxas ou com taxas reduzidas - determinada
justamente pela sua importância a bordo.
Convenhamos porém que, ainda assim, não é sem surpresa que se verifica que o
soldo do capitão não é o maior (se o caso do documento que extractamos fosse único,
poderia ser com facilidade atribuído a um erro de escrituração; mas não é, como já se
disse). Por outro lado a lista que apresentamos tem algumas omissões inesperadas: os
navios da Índia deviam levar a bordo um físico ou cirurgião, para tratar dos doentes, o
que se resto sabemos que era frequente não acontecer (excepto nas naus em que ia
embarcado o capitão-mor da armada, por isso chamadas naus capitâneas); e no mesmo
sentido entre os ofícios que não encontramos representados ressalta o boticário. Mais
uma vez as normas obrigavam ao embarque de uma botica, isto é, uma farmácia, com as
mézinhas curativas, que na verdade era uma grande caixa em folha de flandres da qual
esse boticário tomava conta.
Este exemplo ilustra bem que não há um padrão rígido. As tripulações não
variavam muito, mas não existia a observância estrita de um normativo que obrigasse ao
embarque de tripulações padronizadas por tipos e tonelagens de navios. Garantidas as
"pessoas do mar", como se lhes chama nos documentos, os restantes lugares da
tripulação ocupavam-se na medida do possível.
A vida a bordo
A Carreira da Índia deu origem a várias espécies de documentos: ainda em terra,
aos capitães era dado um regimento com instruções sobre a viagem; os pilotos, a bordo,
24
escreviam o seu diário; o escrivão e o dispenseiro arrolavam por escrito o que era
embarcado (excepto as pertenças de particulares que só a estes diziam respeito); o
meirinho tomava conta das ocorrências do seu foro; e tantos mais, hoje em grande parte
desaparecidos, como sucede com o rol dos embarcados feito para cada nau que saía para
a Índia.
Não que estes testemunhos nos pudessem ser de grande utilidade para o fim em
vista. Como facilmente se compreende, dada a sua própria natureza, não continham
grandes elementos informativos àcerca do que se passava no dia a dia. Ao contrário do
que sucedia com os passageiros: muito poucos escreveram as suas impressões de viagem
(com certeza bem mais dos que chegaram ao nosso conhecimento, ainda assim em
número muito pequeno face à totalidade dos que embarcaram para o Oriente), mas os
que o fizeram deixaram-nos relatos preciosos sobre o que era a vida a bordo nos navios
que faziam a Carreira da Índia.
De entre todos merecem especial realce os padres jesuítas. Embarcaram para o
Oriente como missionários a partir dos meados do século XVI, e, ao contrário do que
sucedia com os membros de outros institutos religiosos, deviam escrever ao provincial
logo à chegada ao porto de destino (a Companhia de Jesus estava dividida em províncias
para efeitos de organização interna - Portugal correspondia a uma província, dando-se o
nome de Provincial ao seu responsável máximo). Estas cartas são-nos hoje
indispensáveis para compreendermos o que se passava então a bordo dos navios, muito
embora devamos ter sempre presente que transmitem também pontos de vista muito
particulares pela própria especificidade da missão de que iam encarregues os seus
autores.
Embarcados durante seis ou sete meses (isto se a viagem corria bem, como vimos)
num espaço exíguo, onde se amontoavam pessoas, carga e animais vivos, o tempo
parecia escoar-se ainda mais lentamente. Pelo menos para os passageiros, que aos
tripulantes não faltava nunca que fazer entre a multiplicidade de tarefas que a manobra e
25
conservação de um navio sempre exigiam. E logo aqui residia a primeira diferença: a uns
faltava o tempo, a outros sobrava o tédio.
Para todos, a hora das refeições constituía um dos momentos mais importantes
do dia; e, verdade se diga, um dos mais confusos também. Os tripulantes abasteciam-se
da despensa do navio, pois viajavam por conta do armador, competindo a este
providenciar pelo abastecimento necessário. A comida era racionada e entregue diária ou
mensalmente, consoante o tipo de vitualhas. Já os passageiros tinham de levar consigo os
seus próprios alimentos e, num caso como noutro, era necessário cozinhá-los.
Havia dois fogões a bordo, situados na coberta abaixo do convés, um de cada lado
do navio, de que todos tinham de se servir. Eram 400, 500, 600 pessoas embarcadas, às
vezes 800 - o número era muito variável -, procrando a vez de poder pôr no lume os seus
preparados. O fumo invadia a coberta, com pouco menos de dois metros de altura e
ventilação deficiente. Tarefa demorada e difícil, às vezes registavam-se episódios de
alguma violência no afã de chegar aos fogões. Podemos supôr que muitos se esquivassem
a tais trabalhos, e preferissem basear boa parte da sua alimentação em géneros que se
podiam consumir logo: sucedia assim com o principal alimento de então, o biscoito (um
pão cozido pelo menos duas vezes para se manter em melhores condições e por mais
tempo), os enchidos de toda a espécie, a fruta no princípio das viagens ou depois de
reabastecimentos, e similares.
O tipo de alimentação e o processo de conserva dos géneros, que se mantinham
em barricas cheios de sal, aumentavam o problema principal: a necessidade de água
potável. Bem de conservação difícil, guardada em tonéis de madeira, tornava-se escassa
ao fim de pouco tempo. Alguns relatos falam de tonéis de água fétida que só se podia
beber em pequenos goles e tapando o nariz, outros dizem que parecia que a água criava
bichos, mas o pior era quando a água escasseava ou faltava de todo. Os doentes eram os
primeiros a ressentir-se, pois deixava de haver possibilidade de cozer a carne de galinha,
alimento principal da dieta aos enfermos. Mas todos sofriam, e a sede, piorada pelos
26
alimentos salgados (nos navios do Sul da Europa, onde o sal era abundante, não se
recorria tanto aos fumados como nos do Norte e Noroeste europeu), foi sem dúvida um
dos piores inimigos dos homens que viajaram para a Índia.
A aguada - ou seja, o reabastecimento em água potável - era o principal motivo
pelo qual os navios buscavam regularmente as escalas onde podiam também suprir a falta
de frutas frescas e carnes várias. Acima dizíamos que nos navios se misturavam pessoas,
carga e animais vivos: estes eram embarcados justamente para evitar que a alimentação se
baseasse exclusivamente em conservas, abatendo-se os porcos, galinhas e carneiros à
medida das necessidades. Quanto à fruta, desconhecia-se o carácter preventivo e
terapêutico dos citrinos contra a mais impressionante das doenças que se manifestavam a
bordo, o escorbuto; mas eram consumidos por serem considerados refrescos, e, muito
embora não fosse totalmente compreendida essa relação de causa-efeito, não deixou de
haver quem notasse que o consumo de laranjas e limões tinha efeitos benéficos sobre
aqueles que sofriam do terrível mal.
As doenças manifestavam-se com certa facilidade, e decorriam de duas situações
principais: a falta de condições higiénicas e a alimentação deficiente.
Quanto às primeiras, é facilmente compreensível que o navio era um excelente
meio para o aparecimento e transmissão de agentes patológicos de vária ordem, pois as
condições em que as pessoas viajavam eram francamente deficientes. A higiene pessoal
reduzia-se ao mínimo indispensável, ou nem isso quando a água faltava. Misturados com
parte da carga e os animais (apesar de terem zonas próprias) nos convés e na coberta, a
maior parte dos passageiros e tripulantes não dispunha de qualquer privacidade e o
cheiro era nauseabundo, pois às vezes nem havia possibilidade de despejar os dejectos.
Os doentes eram os que sofriam mais, sobretudo quando o seu estado de saúde nem lhes
permitia vir até à coberta apanhar ar fresco, local em que se refugiavam muitos que
preferiam dormir ao relento em vez de abrigados nas condições disponíveis.
27
Deveas impressionante é a descrição feita pelo padre António de Herédia em
1552 do ambiente que se vivia nas cobertas inferiores:
"a mim me coube naquela nau algumas vezes [o ofício de] enfermeiro, o qual ofício é
anexo lançar clisteres, ir debaixo da coberta, primeira e segunda; na primeira onde
estavam os doentes, donde se sofria tão grande fedor, que trespassava as entranhas,
por estar ali com eles a fazer suas necessidades, e os que podiam faziam-nas em um
quarto de pipa, e os outros onde estavam por ser necessário assim, à uma por
carecerem de vasos e à outra por não poderem subir acima e serem muitos. A segunda
donde se lhes ia a buscar água, onde havia tão grande quentura, que parecia estar [um]
homem em um forno de vidro, porque tudo se tornava e convertia em água"
Para os corpos cansados e debilitados a alimentação disponível não supria
carências básicas, nomeadamente vitamínicas. O escorbuto, conhecido por mal de Luanda
ou mal dos marinheiros, fazia a sua aparição por causa dessas carências e o aspecto dos
doentes atemorizava os mais sãos: membros inchados e gengivas inchadas e purulentas
("cresciam as gengivas tanto sobre os dentes que os homens não podiam comer", lê-se no
relato da viagem de Vasco da Gama) eram os sintomas mais visíveis.
Era a doença mais temida e porventura a mais repulsiva, mas estava longe de ser a
única a afligir os embarcados. As fontes referem ainda o tifo, as febres várias, os
tremores cuja causa se atribuída às grandes variações de temperatura sofridas pelos
viajantes, entre tantas mais. As condições higiénicas de qualquer navio nestas épocas
faziam do aparecimento de chagas e das infestações de piolhos fenómenos vulgares tanto mais vulgares quanto mais longas eram as viagens.
A medicina da época pouco podia fazer contra semelhantes maleitas, levassem ou
não as naus médico a bordo, o que nem sempre sucedia, e a botica com os preparados
medicinais. Os doentes só podiam amiúde contar com o amparo de outros passageiros e
28
dos padres, que serviam com frequência de enfermeiros, como no caso citado acima, mas
os remédios não eram muitos: as terapêuticas quase nunca dispensavam, além dessas
mézinhas, a dieta - caldo de galinha quando a havia -, clisteres e sangrias (por
lancetamento) para tirar os maus humores dos corpos. Por vezes a cura podia fazer tanto
mal quanto a doença: os pacientes chegavam a ser sangrados dez vezes, ficando em
extrema debilidade por esse motivo. Todavia era o que se fazia também em terra.
O estado de saúde dos embarcados logo no início da viagem (precário nalguns
casos), o tempo com que deparavam, a duração da travessia, a qualidade dos alimentos e
as condições em que eram acondicionados, tudo eram factores muito variáveis que por
consequência faziam com que a sorte dos viajantes não fosse sempre a mesma. Em certas
viagens o número de vidas perdidas não chegava a 5% dos embarcados; noutras,
sobretudo para os finais do século XVI e no século XVII, podia em casos extremos
chegar aos 50%. Navios houve em que as doenças que vulgarmente ocorriam mal fizeram
a sua aparição; em outros, os doentes eram tantos que em certos momentos era difícil
encontrar gente capaz e com robustez física para assegurar a manobra ou a defesa do
navio perante a iminência de um ataque.
Das condições psicológicas dos viajantes ajuiza-se com facilidade pelo exposto
atrás, ao que se somava a natural incerteza que rodeava uma viagem destas. Os receios
tradicionais pelas intempéries e pela fúria dos elementos, que raramente deixavam de se
manifestar, com maior ou menor intensidade, podia ser temperado pela consciência de
que a navegação estava entregue a bons profissionais, como sucedia por via de regra; ou
aumentado pela intranquilidade de quem pressentia o contrário, às vezes com bons
motivos, outras vezes apenas por falta de noção das dificuldades inerentes ao governo de
um navio pela Rota do Cabo, em vista dos conhecimentos náuticos da época. A carta que
se reproduz no fim dá bem conta destas ansiedades, quando chama "físicos" - isto é,
médicos - aos pilotos, querendo ironicamente dizer que estes eram como aqueles:
29
consolavam os doentes, ou os viajantes, podia-se ou não confiar neles, mas o que uns
(não) sabiam de medicina (não) sabiam outros da navegação.
Era um clima pesado o que vivia no dia a dia, portanto, e a falta de ocupação de
quantos não estavam directamente envolvidos nas lides de bordo piorava as coisas.
Inventaram-se divertimentos, transferiram-se para o mar hábitos de terra, toleravam-se
algumas infracções, procurando sempre aliviar a pressão latente.
Como os navios saíam da barra do Tejo próximo da época pascal, com pouco
tempo de navegação já se preparavam os festejos em que todos participavam; o ponto
mais alto era a procissão que percorria o navio. Nestas ocasiões festivas representavamse peças de teatro com uma encenação rudimentar em que colaboravam os carpinteiros de
bordo; conhecemos mesmo algumas peças expressamente escritas para serem
representadas a bordo das naus da Índia, sempre sobre temas sacros.
Bem mais profanos eram os jogos de azar, mormente os dados. Teoricamente
eram proibidos porque passavam de distracção a foco de conflito com facilidade, mas os
responsáveis pela disciplina fechavam os olhos, como quem diz, tolerando uma diversão
popular a quem pouco mais tinha de fazer.
As touradas conheciam grande sucesso; uma canastra de verga empurrada fazia de
touro, ou então sublimava-se um dos medos ancestrais dos homens do mar: quando
acontecia pescar-se uma tintureira viva lançavam-na no convés com os olhos vazados, e
o animal era "toureado" enquanto se contorcia. A tintureira, parecida com o tubarão, é
um esqualo inofensivo, mas não se sabia ou pensava assim à época.
Acontecimentos que em outras circunstâncias seriam só banais tornavam-se
motivo de festa. As pescarias, por exemplo, quando se passava por zonas em que eram
possíveis, distraiam e forneciam peixe fresco para as ementas, como sucedia junto ao
cabo da Boa Esperança, afamado tanto pelos tormentos que o mar e os ventos infligiam
às naus como pela qualidade do pescado.
30
Eram apenas lenitivos. Quando as naus chegavam enfim ao porto de destino o
sentimento mais comum entre os que não eram profissionais do mar era o alívio puro e
simples.
Epílogo: o relato de um viajante
Os relatos de viagens escritos pelos padres jesuítas são muito variados na forma e
no conteúdo, o que se deve a três motivos principais: a falta ou a ocorrência de
acontecimentos excepcionais que merecessem atenção particular, as normais diferenças
de espírito de observação e interesse particular de cada um nos eventos, enfim, o próprio
domínio ou predisposição para a escrita asseguravam as diferenças. Algumas cartas são
de grande secura, e praticamente limitam-se a dizer que da viagem pouco ou nada havia a
registar, outras são documentos notáveis pelo realismo descritivo, a riqueza de detalhes
ou os recursos estilísticos de quem escreve, e permitem ao leitor ficar com uma forte
impressão do que foi fazer uma determinada viagem - saber das peripécias, dos
contratempos da navegação ou das condições de salubridade a bordo, por exemplo.
A carta escrita de Cochim pelo padre Gonçalo da Silveira, nos inícios do ano de
1557, inscreve-se sem dúvida nesta última categoria. D. Gonçalo da Silveira, doutor em
Teologia, pessoa de elevada extracção social e senhor de um apurado sentido de
observação, haveria não obstante de ficar para a História por ter sido martirizado no
Monomotapa, quando pregava a sua fé e procurava obter conversões. A devoção aos
valores espirituais, que pagou com o preço mais elevado, não o impediu todavia de deixar
um testemunho único sobre o que era viajar na Carreira da Índia. Não que a sua carta seja
a mais acurada no apuro dos detalhes, aspecto em que outras são bem mais ricas, ou a
mais profusa em pormenores informativos, ou, sequer, a mais realista na descrição do dia
a dia. O que lhe confere um valor excepcional é o conteúdo tão profundamente dramático
31
quanto humano, é a capacidade de expressar tão vivamente os apuros, os medos e os
anseios que calavam mais fundo nas almas. Escrita por um padre, a carta reduz os
viajantes - e ele próprio - à mais terrena das dimensões, a da consciência da sua pequenez
perante a força e os desígnios da Natureza. Saída da pena de um homem que terá vivido
sobretudo a dimensão espiritual das coisas reflecte, melhor que qualquer outra, toda a
fragilidade da condição humana:
".... Deixando a recordação da navegação que fizémos desse para este outro mundo,
porque, assim como a morte não a pinta senão quem morre, nem se pode ver pintada
senão vendo quem está morrendo, assim o trago que passam os que navegam de
Portugal à Índia, não o pode contar senão quem o passa, nem o pode entender e crer
senão quem o vê passar; e assim como os homens, que, [pela] primeira vez se viram na
hora da morte, lhes parece que nunca ouviram falar nela, assim quem seviu naqueles
golfãos não lhe lembrava coisa que lhe tivessem dito da verdade e terror presente; e
assim como os que muitas vezes se viram mortos, depois de vivos e fora da morte
nunca falam nela nem cuidam, porque aquela hora é tão presente e sua, que passada
nem bem imaginar se pode, assim e sem mais nem menos a angústia e agonia em que se
vêem os passageiros desse ocidente a oriente, em que estamos, os que nos vemos fora
dela, ainda que o trabalhemos, nunca a podemos vivamente representar connosco
mesmos, quanto mais pintar sem errar o mais, a quem está em Portugal e em Lisboa, e
tão seguro de navegar, se não for em bergantim de Lisboa para Almada.
Nunca se viram suores de morte como os que se suão na costa de Guiné; nunca
se viram membros frios como os que cortam os ventos do Cabo de Boa Esperança;
nunca se viram desmaios mortais como os que se passam nos balanços que as naus
fazem neste Cabo; nunca se viram dar golpes na vida como as machadadas que dão os
mares neste cabo; nunca se viram termos de morte e tão pranteados como trazem
consigo os pés de vento que fuzilam neste Cabo; nunca se viu morrer homem cercado de
32
temores e saudades do que neste mundo deixa e no outro se espera como os que se vêem
nesta carreira, vendo muitos mortos e lançados ao mar. E todos os outros com quem
fica e entre os quais anda, [é] vê-los a todos de contínuo para morrer de fome, de sede,
de doenças gravíssimas: e de perigos do mar inumeráveis, de baixos, de penedos, de
costas, de encontros de naus, e de absorvo de mares. E V.R. imagine, como se pode
escapar da morte que espera a tantos portos, e que tem tantos laços quantos palmos há
de Portugal a esta Índia, de modo que se pode dizer que, tantas vezes morrem os que
fazem esta viagem, quantos pontos da morte vêem claramente que hão-de passar, tendo
tão provado ficar em algum deles!
Não é nada, senão que os físicos são para confiar e consolar, digo os pilotos que
governam as naus. Dizem-vos que vedes a Ascensão, vedes as ilhas dela: senão
quando, a 150 léguas, vos tornam a dizer que não eram as ilhas de Ascensão, senão as
de Martim Vaz! Olhai que comparação [as ilhas] de Ascenção que meteu a Deus no
paraíso, para as ilhas desertas de Martim Vaz, que não sei se o meteram no fundo, ao
menos dizem que lhe pesou de as ter vistas. Diziam os médicos da nossa nau que o erro
destas sangrias ou sangraduras não lhes enleariam mais de 150 léguas. O físico-mor
da [nau] capitânia, digo o seu piloto, por consolar ao nosso e a nós, dizia, se me mal
não lembra, que a sua nau lhe furtara 200 léguas ou mais. Não é nada, senão que em
direitas por linha ao porto que governavam e desejávamos, uns nos achávamos [a]
caminho do Congo, aonde foi ter a nau "Flamenga", outros amanhecia-lhes a terra do
Natal, aonde diz que é o adro ordinário das naus que se perdem, outros havendo-se de
chegar para Moçambique, que está bem vizinha dos calores da linha, iam dar consigo
pouco menos do pólo.
Finalmente, Padre meu, que os temores, que sobreveem nesta passagem, do que
a morte descobre do outro mundo, parece-me que são tão próprios deste mar, que, nele
ou outro tal, contemplava quem disse: "Dolores imferni sircumdederunt me et torrentes
iniquitatis conturbaverunt me". E por tão averiguado têm os pilotos ser sem remédio o
33
perigo desta viagem, que todos têm por aforismo que as naus de Portugal para a Índia,
e da Índia para Portugal, Deus as leva e Deus as traz. E assim é verdadeiramente que,
posto que a diligência humana sempre lhe Deus deixa seu lugar, porém neste governo
desta viagem em especial parece que os olhos e mãos de Deus somente bastam...."
[segundo a versão publicada por José Wicki, Documenta Indica III (1553-1557), Roma,
1954, pp. 622-4; modernizado, mantendo a pontuação original]
34
Leituras
Araújo, Maria Benedita, Enfermidades e medicamentos nas naus portuguesas (séculos
XVI-XVIII), Lisboa, Academia de Marinha, 1993.
Boxer, Charles Ralph, "The 'Carreira da Índia' (Ships, Men, Cargoes, Voyages)" in O
Centro de Estudos Históricos Ultramarinos e as Comemorações Henriquinas, Lisboa,
CEHU, 1961, pp. 33-82.
Dicionário de História dos Descobrimentos Portugueses, dir. Luís de Albuquerque, 2
vol., Lisboa, Círculo de Leitores /Ed. Caminho, 1994.
Domingues, Francisco Contente / Guerreiro, Inácio, "A evolução da Carreira da Índia até
aos inícios do século XVII", in Luís de Albuquerque (dir.), Portugal no Mundo, vol. IV,
Lisboa, Alfa, 1989, pp. 105-130.
______, A vida a bordo na Carreira da Índia (Século XVI), Lisboa, Instituto de
Investigação Científica Tropical, 1988.
Godinho, Vitorino Magalhães, "Os Portugueses e a 'carreira da Índia' 1497-1818", in
Mito e Mercadoria. Utopia e Prática de Navegar, Lisboa, Difel, 1990, pp. 333-374.
Guedes, Max Justo, A Carreira da Índia - Evolução do seu roteiro, separata de
Navigator, nº 20, [Rio de Janeiro], s/d.
Matos, Artur Teodoro de, Na Rota da Índia. Estudos de História da Expansão
Portuguesa, Macau, Instituto Cultural de Macau, 1994.
Santos, Maria Emília Madeira, O problema da segurança das rotas e a concorrência
luso-holandesa antes de 1620, Lisboa, Instituto de Investigação Científica Tropical,
1984.
Download