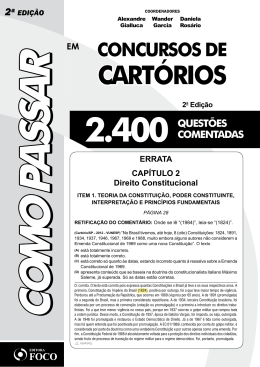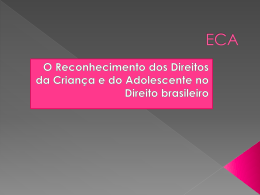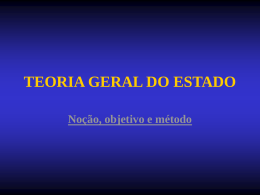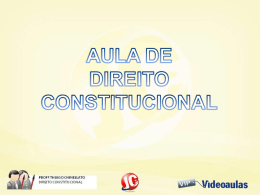O DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO DIREITO FUNDAMENTAL PRESTACIONAL: O DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE 1824 A 1988 Isvânia Alves dos Santos (UNEAL/FAPEAL/PIBIC) [email protected] Wilkase Gabrielle Barros de Figueiredo (UNEAL/FAPEAL/PIBIC) [email protected] Júlia Sara Accioly Quirino (UNEAL/FAPEAL/PIBIC) [email protected] Resumo: O presente trabalho analisa a construção do direito à educação no Brasil, especificamente à educação básica, assegurado às crianças e aos adolescentes pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Brasil através do Art. 227 da Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei 8.069/1990. A CF/88 assegurou às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o gozo de inúmeros direitos, no entanto, essa tem sido a pedra de toque quanto à atuação estatal, uma vez que se tem subtraído do referido direito o caráter prestacional que o caracteriza. Nesse sentido, as Constituições Brasileiras oscilaram entre referências débeis ao direito à educação até prestações mais volumosas. Perceber, portanto, como o direito à educação tem sido construído ao longo da história permitirá compreender o espaço reservado no cenário atual às políticas públicas de educação voltadas ao atendimento de crianças e adolescentes, bem como possibilitará compreender o que reflete o caráter de direito público na esfera de oferta de bens públicos pelo ente estatal. Palavras-chave: Direito à educação; Constituição; Direito fundamental prestacional. 1. INTRODUÇÃO Neste estudo discutiremos como o direito à educação, sobremaneira das crianças e adolescentes, vem sendo contemplado nos textos constitucionais brasileiros, a saber: de 1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, Ementa Constitucional de 1969 e a de 1988. Salienta-se que dessas apenas as Cartas de 1891, 1934, 1946 e 1988 contaram com a participação popular em sua elaboração, como será abordado a seguir. Nesse sentido, será traçado uma linha histórico-constitucional da oferta escolar pública, apresentando os retrocessos e avanços pertinentes na normatização desse direito. Ademais, 2 destacaremos a relevância do direito à educação enquanto direito fundamental prestacional, regulamentado, sobretudo, pelo Estatuto da criança e do adolescente (ECA – Lei 8.069/90), e artigo 227 da Constituição Federal de 1988, definindo normativamente o Estado como ente competente e responsável pela promoção, controle e defesa do direito à educação de crianças e adolescentes, implementando políticas públicas a estes destinadas, delineando, ademais, o caráter prestacional que caracteriza atualmente o direito à educação. 2. O DIREITO À EDUCAÇÃO NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS DE 1824 A 1967 E A EMENDA CONSTITUCIONAL DE 1969 O direito à educação no Brasil oscilou entre previsões débeis e volumosas no texto das Constituições Brasileiras, reconhecendo-se que as características de sua oferta, bem como seu teor prestacional, estiveram, via de regra, atrelados às demandas do contexto histórico e, sobretudo, ao caráter democrático ou não de sua Carta Magna. A primeira Constituição brasileira, outorgada1 ainda durante o regime imperial, em 25 de Março de 1824, traz apenas dois incisos referentes à educação (art. 179, incisos XXXII; XXXIII): o primeiro refere-se à expansão e gratuidade do ensino primário e o segundo mencionava a iniciativa de implantação de Colégios e Universidades. O direito à educação, nesse contexto, é ainda mencionado timidamente, sem a explicitação de peculiaridades importantes, como compulsoriedade de sua oferta por parte do governo, competências dos entes públicos, sistema de financiamento, entre outras. Ao contrário da Constituição anterior, a de 1891 apresenta uma política administrativa descentralizada, característica que abrangeu também a organização educacional da época. Nessa perspectiva, o Capítulo IV (Das atribuições do Congresso) traz: Art. 35. Incumbe, outrossim, ao Congresso, mas não privativamente: (...) 2º) animar no País o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura, a indústria e comércio, sem privilégios que tolham a ação dos Governos locais; 3º) criar instituições de ensino superior e secundário nos Estados; 4º) prover a instrução secundária no Distrito Federal”. [Grifo nosso]. 1 A construção do texto dessa primeira Carta não contou com a participação dos representantes legais do povo, servindo unicamente para garantir a permanência do Imperador D. Pedro I no controle político. 3 Destarte, a explicitação da atuação do congresso com caráter não privativo o livra da compulsoriedade do serviço educacional, delegando-se, por outro lado, aos Estados da Federação a responsabilidade pela educação secundária e superior, priorizando suas ofertas. Vale salientar que “a delegação da responsabilidade da educação primária aos Estados da Federação, acentuou a desigualdade entre estes estados, e não apenas no que se refere ao desenvolvimento da educação” (LIMA, 2006, p.63). Por outro lado, a Constituição de 1891 não repete o artigo sobre a expansão e gratuidade do ensino primário. A Carta de 1934 é uma das mais ricas no que diz respeito à Educação, destinando todo um capítulo à educaçãtulo a educaçtodo um capue diz respeito implantaçois artigos referentes a educa33333333333333333333333333333333333333333333333o e à cultura. Essa Constituição trouxe alguns avanços inovadores: a explicitação da educação como um direito de todos (Art.149); a centralização da organização do ensino (Art.150), determinando que toda a esfera do poder devesse contribuir com o envio de recursos para os sistemas educativos (Art.157); obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário a todos (Art.150, § único, alínea a); há preocupação com a remuneração docente (Art.150, § único, alínea f); existe ainda, a obrigatoriedade de auxiliar alunos carentes mediante a criação de fundos de educação, fornecendo bolsa de estudo, material escolar gratuito, assistência alimentar, dentária e médica, entre outros direitos (Art. 157, § 2º). Dessa maneira, criam-se mecanismos, ainda que desprovidos de caráter justiciável, para garantir a permanência desse aluno na escola. A promulgação2 da Constituição de 1937, influenciada pelo modelo fechado da era Vargas, não concebeu a educação como prioridade, exceto a profissionalizante. Com efeito, esta Carta representou um retrocesso em relação à anterior, desaparecendo de seu texto quase todos os direitos educacionais mencionados. Nesse caso, a educação integral da prole seria obrigação primeira dos pais, colocando o Estado em condição de mantenedor secundário (art.125), embora ainda mencione que o ensino primário continuaria obrigatório e gratuito, mas apenas para aqueles alunos mais carentes. Sendo assim, aqueles que demonstrassem possuir recursos teriam que contribuir mensalmente 2 Diferente do contexto histórico anterior, esse período é marcado pelo golpe de Estado instaurado pelo presidente Getúlio Vargas, caracterizado pelo recrudescimento político e sua influência direta na dinâmica das políticas sociais. 4 para o caixa escolar. Mostra ainda, que para a infância e a juventude é garantido o acesso ao ensino em todos os seus graus, priorizando o ensino pré-vocacional e profissional (adestrando-o para o trabalho). Quanto aos Estados-Membros, a Carta de 1937 ignora a participação dos Estados em matéria educacional. A omissão denota o centralismo da União em relação à legislatura de matérias normativo-educacionais. Como decorrência do centralismo e autoritarismo da Carta de 1937, podemos citar os artigos 128 e 134, disciplinadores da Educação e da Cultura, em que não são delimitadas as competências dos entes federados. Refletindo sobre o caráter centralizador desta Carta, Martins (s/d): A palavra Estado, no capítulo educacional da Carta de 1937, é usada sempre no singular, traduzindo, decerto, a unidade ou centralismo estatal. Lembremos, ainda que, na abertura da carta constitucional, que o Brasil é uma república, mas não uma república federativa e, assim, não se justifica fazer referências explícitas à capacidade legislativa dos Estados. Em substância, o que observamos é que os Estados sofrem um processo de intervenção da União no tocante à manutenção dos serviços públicos. Por seu turno, o Catálogo de Direitos de 1946, aborda o direito à educação de forma mais abrangente, pois retoma quase todos os artigos da democrática Constituição de 1934. A educação volta a ser explicitada como um direito de todos, sendo determinado que o ensino primário seja gratuito e obrigatório e o secundário aos que comprovarem carência de recursos. A mesma enfoca ainda, a criação de um fundo nacional para a educação e estatui a oferta obrigatória de serviços de assistência que assegurem aos alunos necessitados permanência na escola. Além disso, estimula a pesquisa nas Universidades. Portanto, o fim do Estado Novo e o começo de um período político mais democrático implicam também na oferta de um ensino mais abragente, com a expansão de seu caráter prestacional. Não obstante, apesar de já está sob a égide do Regime Militar, a Constituição de 1967 é muito semelhante à Carta anterior, tanto que se repetem quase todos os artigos desta. Com exceção de algumas ausências, como o fundo nacional. Todavia, ela estabelece que a oferta do ensino dos 07 aos 14 anos será obrigatório e gratuito nas escolas primárias. Vale salientar que em 1969 ocorre uma Emenda Constitucional, impulsionada pelo recrudescimento do período da ditadura, entretanto, em relação ao ensino educacional, não houve mudanças significativas, constando quase todos os artigos da CF/67, com a vantagem de dar certo vislumbre à educação para excepcionais. 5 3. A CONSTITUIÇÃO DE 1988 A Constituição Cidadã, assim chamada a Constituição Federal de 1988, consagra a educação com um sentido mais amplo, enquanto promotora do desenvolvimento da pessoa, da cidadania e da profissionalização para o trabalho, garantindo igualdade de condições e permanência na escola (Arts. 205 e 206). Ela retoma várias passagens positivas das constituições anteriores, repetindo o discurso da educação como direito de todos(Art. 205), garantindo, ainda, a oferta de recursos como material didático escolar, transporte, alimentação para permanência do aluno na escola (Art. 208, VII). Permanece a obrigatoriedade e gratuidade da oferta do ensino fundamental, incluindo sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria (Art. 208, I, com nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 14/1996). Fica determinado que o poder público deva ofertar bolsas de estudo para o ensino fundamental e médio, quando houver falta de vagas na rede pública. Criam-se, agora, cotas estaduais e municipais de financiamento, provenientes do salário-educação, proporcionais ao número de alunos matriculados na educação básica, fixando-se, ainda, conteúdos mínimos para o ensino fundamental (Art. 210), repartindo-se competências quanto às ações destinadas à oferta de ensino pelas diferentes pessoas jurídicas estatais (Art. 211). Essa Constituição inova também na oferta do ensino noturno regular, adequando-se as condições do educando (Art. 208, VI). Traz o discurso da inclusão, priorizando o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência (Art. 208, III) e a educação infantil, na forma de creches e pré-escolas (Art. 208, IV, com nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 53/2006), preferencialmente na rede regular de ensino, até então, pouco mencionado nas Constituições anteriores. Um dos avanços principais desta Carta foi a criação do piso salarial para docentes, valorizando essa categoria (Art. 206, VIII, com nova redação conferida pela Emenda Constitucional nº 53/2006). Ressalte-se, por seu turno, que o grande diferencial da CF/88 foi ter concebido o direito à educação como direito público subjetivo (Art. 208, § 1º), garantindo-lhe a exigibilidade e justiciabilidade por qualquer indivíduo, mediante o acionamento do poder público, pela utilização das ações processuais postas à disposição da sociedade pelo legislador constitucional, exigindo a oferta adequada da educação. Isto implica a possibilidade de qualquer pessoa de provocar a jurisdição em caso de violação ou oferta 6 irregular de tal direito. Sua oferta, por sua vez, contemplará, pois, não apenas o acesso à escola por meio de matrícula, mas implicará: o direito à assiduidade e pontualidade dos professores, o direito à oferta de ensino de qualidade e direito à assistência (LIMA, 2003). Portanto, a Carta Constitucional em vigência concebe o direito à educação das crianças e adolescentes conferindo-lhes um caráter de efetividade, apresentando a quem possa interessar instrumentos processuais de sindicalidade. 4. O DIREITO À EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL PRESTACIONAL A análise histórico-constitucional brasileira demonstra que o direito à educação, de forma mais ou menos ampla, sempre esteve normatizado nos textos constitucionais, contudo, categorizado como direito à educação da criança e do adolescente, de oferta estatal prioritária, apenas a partir da ratificação pelo Brasil da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, pela Constituição de 1988 e, posteriormente, pela Lei 8.069/90. Nesse novo contexto, o artigo 227 da CF/88 aborda ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, dentre outros direitos, a educação, colocando-o a salvo de qualquer forma de negligência, portanto: A obrigatoriedade do ensino fundamental desdobra-se em dois momentos: do Poder Público, que deve oferecer (obrigatoriamente) o serviço essencial e básico da educação; e dos pais, que devem (obrigatoriamente) matricular seus filhos. Temos, portanto, dois atores responsáveis pela garantia do direito à educação, e temos a criança e o adolescente, que são protagonistas de seu direito ao acesso, à permanência e ao ensino de qualidade no ensino fundamental. (LIBERATI, 2004, p.222): Além de determinar a obrigação estatal, social e familiar na oferta/garantia do direito à educação infanto-juvenil, o caput do artigo supracitado da Constituição explicita a proteção inerente à promoção desse direito, denotando que o nãoatendimento, o atendimento irregular ou a violação dos direitos enseja a responsabilização tanto do Estado, quanto da sociedade e da família. Ademais, o direito à educação é concebido no texto constitucional vigente como um direito fundamental incluído no rol dos direitos sociais (Capítulo II – Dos direitos Sociais, art.6º). Em suma, o legislador disciplinou tal direito como sendo tão importante quanto o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Nesse sentido, Lima (2003, p 29), lembra que embora a educação básica esteja evidenciada como direito social, houve o seu deslocamento para a categoria de direito fundamental, 7 uma vez que ao tratar do Título VIII, Da Ordem Social, o legislador constituinte atendeu aos reclamos da sociedade e estabeleceu no artigo 208, §1º que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Levando em consideração que direitos fundamentais correspondem a “direitos de liberdade, inalienáveis, imprescritíveis e permanentes, inerentes ao homem, como ser humano e, portanto, anteriores à própria formação do Estado” (LIMA, 2003, p. 14), a oferta do direito à educação da criança e do adolescente, no cenário normativo, ganha uma dimensão que implica numa prestação estatal imediata, voltada para políticas públicas que concebam o direito à educação com todas as suas implicações, ou seja, ações efetivas que garantam a inclusão e permanência desse público na escola, demandando para além da oferta de matrícula, condições básicas para a promoção de uma educação de qualidade. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS O direito à educação da criança e do adolescente, no tocante à previsão de normas jurídicas de asseguramente, em particular, as constitucionais, se deu no sentido de expansão e retração, alargando-se ou deprimido-se a depender do período histórico e da orientação político-ideológica dos governantes, o que é facilmente constatado pela análise documental dos textos constitucionais. Contudo, o direito à educação assegurado ao público infanto-juvenil, de forma prioritária, é algo relativamente novo, reflexo dos princípios norteadores da Convenção Internacional sobre do Direitos da Criança, do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal de 1988, sobremaneira do artigo 227. A oferta da educação, nesse contexto, engloba a promoção, com absoluta prioridade, de condições básicas de inclusão e permanência da criança e do adolescente na escola, garantindo-se-lhes seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Constata-se que o legislador constitucional, bem como o infraconstitucional, teceu a matéria considerando a importância da educação para esse público específico, determinando normativamente o direito à educação enquanto direito fundamental de natureza prestacional, bem como direito social. Atrelado ao primeiro conceito, a educação é concebida como direito público subjetivo, concedendo a qualquer cidadão o direito de acionar o poder público e dele exigir a oferta regular e qualificada desse serviço, ou ainda, a regularização de uma 8 oferta negligente, acarretado, quando necessário, a responsabilização Estatal, social ou familiar. Saliente-se, por oportuno, que, não obstante as determinações normativas aqui analisadas, as quais colocam ao direito à educação a prerrogativa de exigibilidade e justiciabilidade, este ainda possui uma baixa carga de efetividade, denotando a necessidade de maior compreensão estatal quanto à natureza deste direito e de sua respectiva implementação, assim como compreensão do corpo social sobre o que comporta o direito à educação e do uso dos seus instrumentos de sindicalidade. 6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente: disposições constitucionais pertinentes: lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 6. ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretária de Edições Técnicas, 2005. BRASIL. Constituição Federal de 1824. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Constituição Federal de 1891. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Constituição Federal de 1934. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Constituição Federal de 1937. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Constituição Federal de 1946. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Constituição Federal de 1967. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em www.senado.gov.br (Acesso em 10 de outubro de 2007). BRASIL. Emenda de 1969. Disponível em http://www3.dataprev.gov.br/SISLEX/paginas/30/1969/1.htm (Acesso em 03 de novembro de 2008). LIBERATI, Wilson Donizeti (Org). Conteúdo material do direito à educação escolar. In: ___________. Direito à educação uma questão de justiça. São Paulo: Malheiros Editores, 2004. 9 LIMA, Maria Cristina de Brito. A Educação como Direito Fundamental. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2003. MARTINS, Vicente. Aspectos Jurídico-Educacionais da Constituição de 1937. Site do Curso de Direito da UFSM. Santa Maria – RS. Disponível em: http://www.ufsm.br/direito/artigos/constitucional/cf-37.htm (Acesso em 22 de maio de 2010).
Download