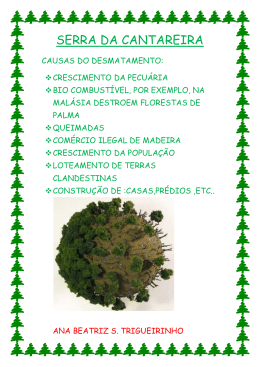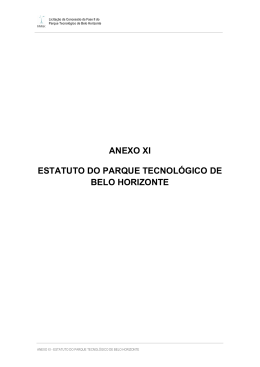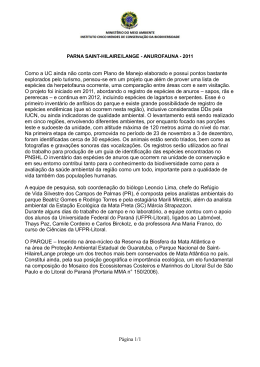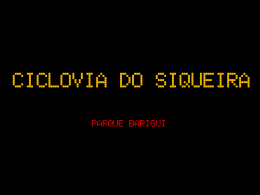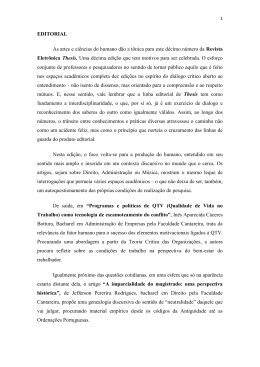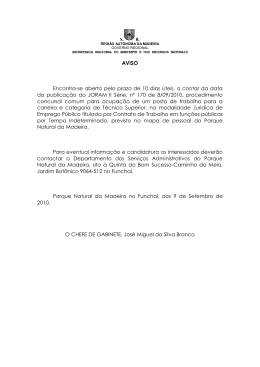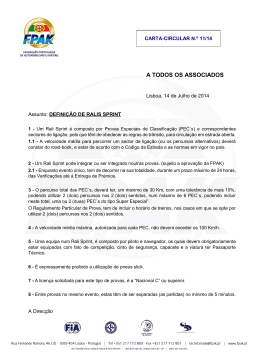DOI: 10.4025/4cih.pphuem.486 CATALOGAÇÃO, DIAGNÓSTICO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO PARQUE ESTADUAL SERRA DA CANTAREIRA Silvia Helena Zanirato – EACH - USP Introdução Patrimônio pode ser definido como um legado que recebemos do passado, que vivemos no presente e que o transmitimos às gerações futuras; uma fonte insubstituível de vida e inspiração, nosso ponto de referência, nossa identidade (UNESCO, 2005). Ele é o “conjunto de elementos naturais ou culturais, materiais ou imateriais, herdados do passado ou criados no presente, no qual um determinado grupo de indivíduos reconhece sinais de sua identidade” (CASTILLO-RUIZ, 1996, p. 22). A preocupação com a proteção do patrimônio é oriunda da modernidade avançada, aguçada, entre outros fatores, pelas pressões homogeneizadoras da globalização (ARIÑO VILLARROYA, 2007). As ameaças vêm da lógica do progresso que esvazia de significado e função as práticas sociais do passado e de ações depredadoras de interesses particulares diversos, entre os quais a especulação urbanística. A consciência dos riscos de perda e, com ele, da amnésia histórica, leva à procura de meios para salvaguardá-lo. A defesa do meio ambiente e do patrimônio confluem nas ações que buscam mobilizar a opinião pública e provocar atitudes destinadas a salvaguardá-los para o futuro, por meio da proteção legal. As primeiras medidas legais destinadas a salvaguardar o patrimônio se originaram no continente europeu no século XIX. O Brasil, desde a década de 1930, tem formulado uma normativa jurídica voltada à proteção do patrimônio natural e cultural e organizado uma estrutura administrativa especializada nesse propósito. Tais ações demonstram o reconhecimento da necessidade de salvaguardar nosso legado e também a responsabilidade do Estado e da sociedade no que tange à conservação dos bens patrimoniais (FONSECA, 2005). No entanto, em que peses essas ações, uma série de fatores tem continuado a ameaçar a manutenção de elementos constitutivos da nossa herança natural e cultural. O turismo de massa, a especulação imobiliária, a falta de recursos à conservação e a mudança de uso corroboram para danificar a patrimônio edificado. Já áreas naturais protegidas encontram 3916 outras formas de degradação, como o uso intensivo de seus recursos naturais, o desmatamento, a perda da diversidade biológica, entre outros (ZANIRATO e RIBEIRO, 2006). A degradação se espalha pelo Brasil como um todo e se torna bastante expressiva no município de São Paulo, que traduz as grandes dificuldades de salvaguardar o legado natural e cultural que ainda resiste. Frente a isso, surge a importância de conhecer os bens existentes em seu interior que se encontram na iminência de desaparecimento e dos fatores que geram impactos negativos a eles e que podem acarretar sua perda. Ações nessa direção consistem em meios para avalizar a manutenção desses bens e, também, um compromisso com as gerações futuras, que têm tanto o direito de conhecer seu passado quanto o de usufruir os recursos naturais com qualidade. Com base nessa argumentação, selecionei uma área dentro da região metropolitana de São Paulo para fazer um levantamento sistemático dos bens existentes em seu interior e avaliar os riscos que se colocam para sua conservação. O Parque Estadual da Cantareira (daqui por diante PEC) é a área selecionada para a avaliação. Sua escolha se justifica por ser uma região protegida por uma série de instrumentos jurídicos que visam assegurar a salvaguarda dos bens ali constantes. Com quase oito mil hectares, o Parque abrange parte dos municípios de São Paulo, Caieiras, Mairiporã e Guarulhos. É a maior floresta urbana do mundo e abrigo de diversas nascentes do sistema Cantareira, que fornece parte da água consumida na Grande São Paulo. Por isso mesmo, é protegido pelas Leis Estaduais de Proteção dos Mananciais da Rede Metropolitana de São Paulo. O PEC está incluso na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo, como parte Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, o que lhe configura um status de Patrimônio da Humanidade. A Mata Atlântica é um ecossistema importante, desde o ponto de vista da conservação da biodiversidade, uma vez que é composta por formações florestais e ecossistemas associados, tais como manguezais, restingas vegetação, campos de altitude, entre outros (CAPOBIANCO, 2001). Como Reserva da Biosfera as ações desenvolvidas no Parque devem buscar "a conservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de atividades de investigação, monitoramento ambiental, educação ambiental, desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida" (SNUC, 2000). Além de produtor de nutrientes, é refúgio da fauna e banco de recursos genéticos; atividades que funcionam em cadeia. O desaparecimento de espécies da 3917 fauna e da flora pode gerar o afastamento dos outros, colocando em risco essa função, bem como reduzir sua capacidade de renovação natural. A riqueza da flora se expressa em espécies como o jequitibá branco, o cedro rosa, o açoita-cavalo, o palmito, o pau-jacaré, a embaúba, a canela-incenso, o jacarandá-paulista, a figueira, a samambaia-açú, entre outras. A fauna é composta por aves e mamíferos ameaçados de extinção como o bugio-ruivo, a onça parda, o macuco, a jaguatirica e o macaco sauá vivem no Parque, juntamente com o veado mateiro, a preguiça, o caxinguelê e o quati. O PEC é ainda uma área tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT - em função do “grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico [..]. da condição múltipla de banco genético de natureza tropical, dotada de ecossistemas representativos em termos de flora e fauna” bem como por ser uma região “capaz de funcionar como espaço serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da Região Metropolitana da Grande São Paulo” (CONDEPHAAT, Resolução SC 18/83, de 4/08/1983). Também é área de reconhecida importância por deter em seu interior edificações dos primórdios da industrialização em São Paulo, como “a bomba d’ água com edificação que a abriga, relíquia histórica dos primórdios do abastecimento da cidade, datada de 1906 movida a vapor” (idem). De fato, no interior do Parque encontram-se tanto os vestígios materiais dos anos iniciais do transporte férreo, percebidos nas edificações e mecanismos da Tramway Cantareira que funcionou no período de 1893 a 1965, quanto uma série de elementos remanescentes da Companhia Cantareira de Águas e Esgotos, que fazia, desde o último quartel do século XIX, a captação, o armazenamento e a distribuição de água para São Paulo. São instrumentos que expressam práticas sociais em torno do sistema de transporte ferroviário de pessoas e cargas e das tecnologias de uso e manejo da água, entendidos como expressões de uma sociedade, em um espaço e tempo determinado. São elementos muitas vezes sujeitos a falta de proteção legal, carentes de olhares sensíveis por parte da administração e por grande parte da sociedade. Não obstante, se entendemos o patrimônio como construção social (CHOAY, 2001, GONZALES-VARAS, 2004), temos que reconhecer não só como patrimônio os feitos dos grupos dominantes, mas também os bens não suficientemente representados, periféricos. O conjunto de elementos que tratam de parte da história do abastecimento de água em São Paulo e do transporte ferroviário pela Serra da Cantareira, ainda que derrotados pela 3918 obsolescência dos processos produtivos, são símbolos dotados de valor. Valor tecnológico, que expressa a engenharia humana em um tempo e lugar; valor social, no sentido que traduz as condições de trabalho e de vida; valor ambiental posto que está relacionado com as ações produtivas humanas em um dado espaço. Esses eixos se expressam numa dimensão temporal de tempo, espaço e conferem a esse tipo patrimonial uma interdisciplinaridade que é essencial para qualquer processo formativo. Sua importância se encontra tanto por difundir e explicar a técnica e a vida em uma época concreta, como também por constituir um elemento de reflexão sobre o significado da urbanização e sua relação com a sociedade atual (CASSANELES I RAHÓLA, 2007). No interior do PEC encontram-se testemunhos do mundo do trabalho e da vida cotidiana, signos das transformações tecnológicas processadas no tempo e, por isso mesmo, bens que compõem o patrimônio do país. Esse conjunto de bens, apesar das medidas protecionistas existentes para o Parque, corre o risco de se perder caso continue a haver impactos sobre a área preservada (VILAR, 2007). Não se pode perder de vista que o PEC é uma das poucas unidades de conservação localizada em um perímetro urbano e que construções avançaram em direção ao interior da área protegida. Essa pressão, associada ao vandalismo e a ação do tempo corroboram para a deterioração e desaparecimento de elementos representativos do patrimônio existentes no PEC e em seu entorno. Estudos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Fundação SOS Mata Atlântica detectaram 16 polígonos de desmatamento no entorno do PEC. Somente no período entre 2005 e 2008 “a Serra da Cantareira perdeu 1,4 milhão de metros quadrados de área verde - o equivalente a 180 campos de futebol iguais aos do Morumbi” (O ESTADO de S.Paulo 17/03/2008 - 19:02). A perda da área verde se deve à pressão por outras formas de uso e ocupação do solo. A busca pela ocupação da zona Norte de São Paulo é evidenciada nas pesquisas de Biderman, Meyer e Grostein que indicam um crescimento dessa região numa taxa de 3% ao ano entre 1991 e 2000 (BIDERMAN, MEYER e GROSTEIN, 2004). Segundo as pesquisadoras, a ocupação de espaços se deu em direção das áreas de preservação ambiental da Mata Atlântica. As áreas limítrofes do Parque no município de São Paulo recebem tanto habitações destinadas às classes alta e média, quanto à população de baixa renda. Na direção Norte, especialmente em Mairiporã e Caieiras, se vêem numerosos condomínios de alto padrão, negociados com a propaganda do contacto com a natureza. Cada vez mais a cidade se 3919 aproxima da Serra da Cantareira e dos limites do Parque. Um processo intensificado na década de 1990 quer com a consolidação de áreas já ocupadas, quer com a abertura de novas áreas residenciais (SILVA e GROSTEIN, 2008). Diante disso, pode se afirmar que a normativa que visa a conservação do local segue em paralelo à pressão urbanística, explicitando a forte contradição desta última com os preceitos conservacionistas. Esse cenário sombrio desperta a atenção de pesquisadores preocupados com a situação e estimula a investigação de alternativas que corrobore para a detenção do processo de degradação da área. Com essa intenção é que a presente pesquisa se apresenta. Seu objetivo é fazer uma catalogação do patrimônio cultural existente no interior do PEC, conformando uma base de dados a ser disponibilizada para a consulta pública, que contenha informações sobre os bens, seu estado de conservação e os riscos de desaparecimento desse legado. A expectativa é que esse material possa subsidiar ações que efetivamente colaborem para a conservação da riqueza cultural existente no Parque Estadual da Cantareira, entre as quais uma revisão do zoneamento da área. Justificativa Pesquisas realizadas por Vilar (2007) acerca da arqueologia industrial do PEC indicaram o abandono dos elementos remanescentes do sistema de abastecimento. Muitos estão sofrendo com o vandalismo ou mesmo desaparecendo em face da abertura de espaços para ocupação imobiliária. Embora o CONDEPHAAT tenha tombado a área e definido normas de conservação, pouco se pronunciou em relação aos bens culturais ali existentes. Num entendimento de que o patrimônio é a obra monumental, destacou a bomba d’água do núcleo Engordador como um bem a ser conservado. No entanto, há muito mais objetos e edificações na área do que esse destacado pelo Conselho. Há um conjunto de elementos que constituem testemunhos importantes da história da tecnologia para o transporte e o abastecimento da água em São Paulo nos idos do século XIX e parte do XX (reservatórios de acumulação, condutores, aquedutos, edifícios funcionais, estações). Por isso mesmo, há que se fazer uma atualização da norma do CONDEPHAAT que inclua essa herança que está em vias de desaparecer. Nesse sentido, considero que a catalogação poderá subsidiar um novo Plano para o PEC que inclua o patrimônio cultural. Atualmente o PEC conta com quatro programas de manejos: proteção, manutenção, 3920 administração e uso público e quatro núcleos Cabuçu, Pedra Grande, Águas Claras e Engordador. O primeiro em fase de implantação e os três seguinte abertos para o público. Os vestígios remanescentes do Sistema Cantareira encontram-se no núcleo Engordador. O Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, Lei 13.430/2002, considerou o Núcleo Engordador como Zona Especial de Preservação Cultural, voltada à preservação, recuperação e manutenção do patrimônio histórico, artístico e arqueológico, enquanto que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Social do município de Guarulhos Lei 6055/2004 não expressou a preocupação com a conservação do patrimônio existente na área que se encontra em sua jurisdição. Ao elaborarmos um material de reconhecimento, documentação e divulgação do patrimônio cultural existente no PEC, uma base de dados a ser disponibilizada para a consulta pública, informando seu estado de conservação e os riscos de desaparecimento desse legado, devemos contribuir para produzir e disseminar conhecimentos que possam levar à rediscussão do zoneamento tal como proposto e que resultem em modificações que efetivamente contribuam para a salvaguarda desse patrimônio. Afinal, esses bens são elementos da cultura material e também signos representativos de um sistema de vida, memórias das transformações tecnológicas processadas no tempo e, por isso mesmo, bens que compõem o patrimônio do país (POSSE Y DE ARNAIZ, 2007). Esperamos que essa catalogação venha a suprir a carência de informações a respeito dos bens patrimoniais existentes no Parque Estadual da Cantareira e que possam ser úteis aos técnicos responsáveis pela revisão do Plano de manejo dessa Unidade de Conservação. Metodologia O trabalho será iniciado com a leitura e sistematização de uma ampla bibliografia básica referida ao Parque. Esse material fornecerá os elementos para o trabalho de campo com vistas ao levantamento dos bens culturais ali existentes, bem como aos entraves que possam justificar as dificuldades em sua conservação. A catalogação dos bens requer critérios técnicos objetivos e fundamentados de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, paisagística, entre outros, que contribuam para a classificação e agrupamento do bem. Os registros devem trazer uma descrição sucinta do bem, informações básicas quanto a sua importância, seu histórico, características físicas, estado de conservação, etc. (MIRANDA, 2008). Ainda que não se trate 3921 de um inventário, a catalogação seguirá os dispositivos de classificação inventarial disponibilizados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN (BASTOS, 2004 e VIANNA, 2004). Tais registros deverão favorecer a produção futura de um inventário patrimonial do PEC. As informações completas no trabalho de campo serão registradas em mapas, relatórios e fichas padronizadas. O resultado final do trabalho deverá expressar os bens e as áreas de interesse histórico e cultural que merecem ser preservadas. Esse acervo documental poderá ser empregado para subsidiar políticas de conservação, projetos destinados à salvaguarda da memória, alem de servir como instrumento para a sensibilização da opinião pública quanto à necessidade de preservação do patrimônio ali contido. Referências bibliográficas ARIÑO VILLARROYA, Antonio. La invención del patrimonio cultural y la sociedad del riesgo. In RODRIGUEZ MORATÒ, A. ed. La sociedad de la cultura. Barcelona: Ariel, 2007. BASTOS. Sênia. Nosso patrimonio cultural. Uma metodologia de pesquisa. Pasos, vol 2, no. 2, 2004. pp 257 – 265. BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós, 1998. BIDERMAN, Ciro; MEYER, Regina Maria; GROSTEIN, Marta Dora. São Paulo Metrópole. São Paulo: Edusp, 2004. CAPOBIANCO, J. P. R. (org.) - Dossiê Mata Atlântica. Projeto Monitoramento Participativo da Mata Atlântica. Rede de ONG's da Mata Atlântica/Instituto Socioambiental/Sociedade Nordestina de Ecologia (RMA/ISA/SNE). São Paulo-SP, 2001. 15p. CASSANELS I RAHÓLA, Eusebe. Nuevo concepto de Patrimonio Industrial, evolución de su valorización, significado y rentabilidad en el contexto internacional. Revista do Instituto do Patrimônio Histórico Espanhol, n. 7, 2007. CASTILLO-RUIZ, Hacia una nueva definición de patrimonio histórico? PH Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, n. XVI, Sevilla, IAPH, septiembre 1996. CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo, Editora da. UNESP, 2001. CONDEPHAAT Resolução SC 18/83, de 4/08/1983. FONSECA Maria Cecília Londres. O Patrimônio em processo. Trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: IPHAN/Editora UFRJ, 2005. GONZALES-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales. Teoria, história, princípios y normas. Madri: Cátedra, 2003. 3922 MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. O inventário como instrumento constitucional de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1754, 20 abr. 2008. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=11164>. Acesso em: 08 fev. 2009 O ESTADO de S.Paulo 17/03/2008, 19:02. POSSE Y DEARNAÍZ. Dolores F. Presentación del Plan de Patrimonio Industrial. Revista do Instituto do Patrimônio Histórico Espanhol, n. 7, 2007. SILVA Dimas Antonio da. Zoneamento ambiental de um setor do PEC e entorno seccionado pela rodovia Fernão Dias. (BR381). Tese de Doutorado – Geografia Física – USP, 2005. SILVA, Lucia Sousa SILVA e GROSTEIN, Marta D. Proteção ambiental e expansão urbana: a ocupação do sul do Parque Estadual da Cantareira. IN GROSTEIN, Marta D. (org). Ciência ambiental. Questões e métodos. São Paulo: FAPESP/Anablume, 2008. SNUC, LEI No 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. UNESCO – Convención para la protección del patrimonio mundial natural y cultural, 1972. Disponível em www.unesdoc.unesco/org/ UNESCO, World Heritage Center. Carpeta de Información. Paris, 2005. VIANNA, Letícia. Patrimônio imaterial: legislação e inventários culturais. In: FONSECA, M. C. L. et al. Celebrações e saberes da cultura popular: pesquisa, inventário, crítica, perspectiva. Rio de Janeiro: Funarte; Iphan; CNFCP, 2004. VILAR, Dalmo Dippold. Água aos cântaros: os reservatórios da Cantareira. Um estudo da arqueologia industrial. Tese de Doutorado – Arqueologia USP, 2007. ZANIRATO, Silvia Helena; RIBEIRO, Wagner Costa. Patrimônio cultural: a percepção da natureza como um bem não renovável. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 26, n. 51, 2006.
Download