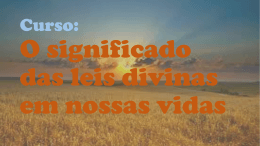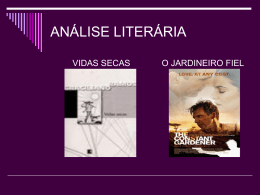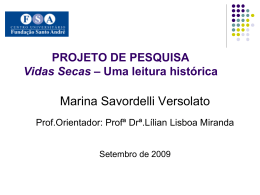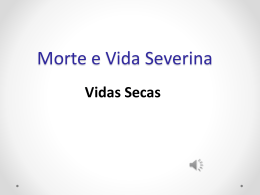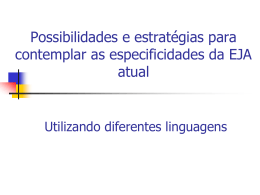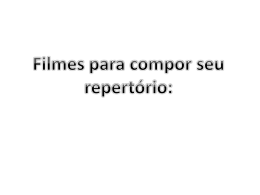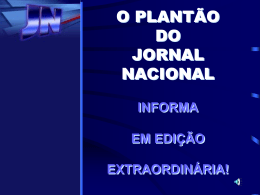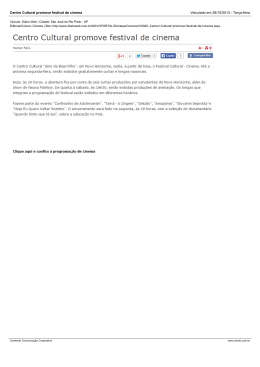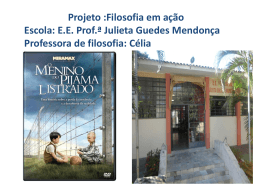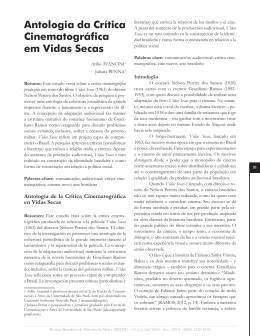REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 “O sertão é do tamanho do mundo” 1 Lizaine Weingärtner Machado (UFSC, Florianópolis, Brasil) 2 Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a obra Vidas secas de Graciliano Ramos tendo a versão fílmica, de Nelson Pereira dos Santos, como contraponto. O trabalho visa, também, mostrar a relação e a identificação das personagens com o meio árido, típico do sertão nordestino, em ambas as versões, a literária e a cinematográfica. Palavras- chave: Vidas secas; Graciliano Ramos; Sertão; Cinema Novo, Nelson Pereira dos Santos. Abstract: The aim of this paper is to analyse the work Vidas secas of Graciliano Ramos as counterpoint to its filmic version of Nelson Pereira dos Santos. The work also aims to show the relation and the identification of the characters with an arid milieu, typical of the northeastern backlands, in both versions, the literary and the cinematographic. Keywords: Vidas secas; Graciliano Ramos; Backlands; Cinema Novo, Nelson Pereira dos Santos. O romance Vidas secas (1938), do escritor Graciliano Ramos, constitui-se de uma narrativa fragmentada onde há uma “autonomia absoluta” entre seus treze capítulos, parecendo quase que um conjunto de contos. A obra de Graciliano narra, basicamente, a luta pela sobrevivência da família de Fabiano e Sinhá Vitória, personagens de uma história que enfoca as condições de existência de um povo castigado pelo sol e pelas engenhosidades do poder no sertão nordestino. Neste trabalho, pretendo analisar a referida obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tendo a versão fílmica da obra como contraponto. Tal análise visa discutir a obra moderna de caráter neo-realista de Graciliano – que buscou mostrar o absurdo da miséria e do embrutecimento do povo sertanejo – e perceber a relação das personagens 1 Trabalho proposto para a disciplina Textualidades Contemporâneas; Prof. Dr. Jair Tadeu da Fonseca; Semestre 2008/2, Fragmento de Grande Sertão: veredas de João Guimarães Rosa. 2 Lizaine Weingärtner Machado é bacharelanda e licencianda do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Literaturas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Pesquisa a poesia leminskiana sob orientação do Prof. Dr. Jair Tadeu da Fonseca; E-mail: [email protected]. REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 com o meio árido que lhes cerceia e reflete em ambas as versões, a literária e a cinematográfica. Cada capítulo da obra de Graciliano apresenta uma perspectiva, às vezes a de Fabiano, noutra a de Sinhá Vitória etc. e, desse modo, há sempre um novo foco a cada ponto de vista das diferentes personagens, ou seja, o ponto de vista da narrativa é sempre a de um “outro”, não há hegemonia por parte da figura do narrador. O leitor e, veremos também, o espectador, partilham das aflições e da fadiga dos seres descritos, mas também compartilham com eles de seus pequenos desejos, como a cama de couro tão almejada por Sinhá Vitória ou a população de gordos preás do imaginário da cachorra Baleia que “[...] era como uma pessoa da família, sabida como gente.” (RAMOS, 2008, p.34). No entanto, nem o narrador, nem as personagens nos apontam uma saída para eliminar a condição de oprimidos e meros “viventes” dos seres de Graciliano, e isso não é um dado aleatório, pois “Se há algo a „cobrar‟ de cineastas e escritores, é o sentido de suas invenções – incluído o narrador – no conjunto de relações internas à obra, relações que definem a contribuição de cada aspecto para as significações do filme ou do romance.” (XAVIER, 1983, p.14). Em Vidas secas há uma absurda identificação das personagens com o mundo que nos é narrado. A paisagem seca e árida confunde-se com as personagens e isso se deve, em grande parte, ao método compósito da escrita de Graciliano. O autor utiliza uma linguagem por vezes áspera, onde busca dizer-nos só o essencial, constitui-se de modo “a palo seco”, como diria o poeta João Cabral de Melo Neto, aliás, a escrita de Graciliano equipara-se à poesia de João Cabral quando o poeta nos diz que “Catar feijão se limita com escrever: joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel: e depois, joga-se fora o que boiar.” É notável a secura da família de retirantes que, fugindo da seca no nordeste brasileiro, acaba incorporando os ares da paisagem em seus traços psicológicos, pois a aspereza do ambiente é incorporada ao trato social por onde o meio determina a linguagem. E é a linguagem a principal temática da obra, que salienta o processo de animalização acarretado nos personagens “viventes, bichos” e também a quase ausência dela, pois, muitas vezes, os grunhidos e o silêncio são as formas de provocar o outro em Vidas secas. REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 Há um íntimo diálogo entre o cinema novo (apoiado pelo neo-realismo italiano) e o realismo moderno de Graciliano Ramos, prova disto é a bem sucedida adaptação cinematográfica de Vidas secas feita por Nelson Pereira dos Santos. E que, segundo Paulo Emílio Salles Gomes, em Cinema: Trajetória no subdesenvolvimento, “[...] resultou num filme que, pesquisando e refletindo a condição subumana do vaqueiro nordestino, coloca-se pela sua universalidade entre os melhores já realizados no Brasil.” (GOMES, 2001, p.80). A adaptação fílmica foi realizada entre 1962/3 em Alagoas e, posteriormente, lançada em 1963 e tem, além da direção, roteiro de Nelson Pereira dos Santos e fotografia de Luiz Carlos Barreto e José Rosa. E, segundo Glauber Rocha, foi com esse filme que o diretor paulistano cinemanovista, Nelson Pereira dos Santos, “[...] dá um salto [...] e se coloca na mesma pista por onde correm os grandes autores de hoje – no caso e na maioria os italianos dos começos do neo-realismo e Jean-Luc Godard, que introduz a dialética na desmontagem.” (ROCHA, 2004, p.63). A sinopse da obra de Pereira dos Santos segue, basicamente, o romance de Graciliano, onde nos é contada a saga de uma família de retirantes em meio a duas grandes secas no sertão nordestino, no entanto, o filme apresenta-nos uma datação (a luta pela sobrevivência da família de Fabiano acontece entre os anos de 1940-2, dado que não é comum ao romance de 1938). Embora haja essa diferença de temporalidade entre as duas obras, isso se torna apenas um mero fator de diferenciação entre elas, pois o que realmente importa é a riqueza existente em ambas as obras, vistas de modo independente, e o caráter de denúncia de uma realidade ainda existente, seja nos anos 30, época de escritura do romance; nos anos 60, período de feitura do filme, ou até mesmo hoje: a da assustadora miséria que assola o país e acaba por gerar embrutecimento aos milhares de “pobres-diabos” detentores de vidas castigadas pela seca e pela injustiça social. E é essa veracidade que contribuiu para o reconhecimento do livro e, posteriormente, do texto fílmico, pois como nos diz Glauber Rocha, O que fez do cinema novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com a verdade; foi seu próprio miserabilismo, que, antes escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60; e, se antes era escrito como denúncia social, hoje passou a ser discutido como problema político. (ROCHA, 2004, p.65). REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 O filme de Nelson Pereira dos Santos resgata esse caráter denunciador da obra de Graciliano, segundo Célia Aparecida Ferreira Tolentino em artigo publicado em O rural no cinema brasileiro, já que a adaptação fílmica [...] inicia-se com uma espécie de advertência, chamando o cidadão comum, o espectador, às falas: „Esse filme não é apenas a transposição fiel para o cinema de uma obra imortal da literatura brasileira. É antes de tudo um depoimento sobre a dramática realidade social de nossos dias e extrema miséria que escraviza 27 milhões de nordestinos e que nenhum brasileiro digno, pode mais ignorar.‟ Isto está colocado em letras brancas sobre um fundo negro antes mesmo dos créditos da fita, conclamando o espectador a prestar atenção de forma muito particular, pois a intenção do filme é a de ir para além do espetáculo, é incomodá-lo em sua passividade indigna diante da miséria e reclamar-lhe um posicionamento. (TOLENTINO, 2001). Portanto, parto da idéia-base de que mesmo que uma obra seja baseada em outra, são, ainda sim, obras distintas e independentes, onde a qualidade maior, não necessariamente, é imposta sempre à obra antecessora, no sentido de que um livro sempre será superior a uma adaptação fílmica por ter-lhe sido o texto-base. Trato, aqui, de Vidas secas como obras independentes e tentarei aludir às diferenças entre esses dois meios semióticos – a literatura e o cinema, pois partilho humildemente da idéia de Randal Johnson que diz ser [...] muito mais produtivo, quando se considera a relação entre literatura e cinema, pensar na adaptação, como quer Robert Stam, como uma forma de dialogismo intertextual; ou como quer James Naremore, que vê a adaptação como parte de uma teoria geral da repetição, já que narrativas são de fato repetidas de diversas maneiras e em meios artísticos ou culturais distintos [...]; ou como Darlene Sadlier, que propõe levar em consideração as circunstâncias históricas, culturais e políticas da adaptação; ou ainda como José Carlos Avellar, com a metáfora do desafio dos cantadores do Nordeste, que improvisam livremente em torno de um determinado tema.” (JOHNSON, 2003, p.44-5). A literatura nacional foi relida pelo Cinema Novo e, assim, utilizada como base para um projeto bastante engajado politicamente, no entanto, a grandiosidade desses filmes não é tida só por esse fator, pois REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 Se o Cinema Novo adaptou livros de Mário de Andrade, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado, cada filme tratou de definir a sua leitura da tradição literária, levando em conta que intervir no processo cultural e, se possível, na sociedade nas décadas de 1960 ou 1970 não era a mesma coisa que escrever livros nos anos 1920, 1930, 1940. (XAVIER, 2003, p.62), por isso e, por tantos outros fatores, Vidas secas (1963), baseado no romance homônimo de Graciliano Ramos, pode e deve ser respeitado e, principalmente, prestigiado. O filme de Nelson Pereira dos Santos apresenta um resgate da precisão narrativa de Graciliano ao utilizar uma fotografia árida em preto e branco; economia de diálogos e, principalmente, ao fazer uso do som direto com seus ruídos naturais (segundo o diretor, só alguns diálogos foram dublados posteriormente). As falas desencontradas também são um ponto alto do filme (como na cena em que Fabiano e Sinhá Vitória em frente a uma fogueira protagonizam uma série de falas sobrepostas que quase caracterizam um diálogo ininteligível). Essas medidas foram adotadas, segundo Randal Johnson, pois “no filme, o monólogo interior no estilo indireto livre desaparece, cedendo lugar a diálogos diretos e esparsos. A luta interna de Fabiano com a linguagem, por exemplo, não existe; o que recebemos é o fato de sua inarticulação.” (JOHNSON, 2003, p.55). Nelson Pereira dos Santos preocupou-se em expor a “riqueza da pobreza” por meio dos detalhes, onde a fotografia em preto e branco dá uma dimensão bastante realista do cenário escaldante do sertão nordestino e onde a câmera funciona como o papel do narrador em terceira pessoa no romance e, assim, o filme apresenta uma linearidade maior que a encontrada no texto literário, pois alguns capítulos do livro são aglutinados no texto fílmico de modo a parecer uma história mais contínua, pois embora seja uma adaptação intersemiótica, a narrativa fílmica lança mão do mesmo intuito da narrativa literária: expor o contexto da injustiça social e salientar a circularidade e a continuidade da exploração daqueles e tantos outros “viventes”. A circularidade é a característica principal de Vidas secas – o texto fílmico data esse período de 1940-2 –, onde a rotina da família de retirantes é regida pelo ciclo da seca e o seu desfecho, tanto no livro quanto no filme, que pode ser dimensionado pelo trecho seguinte: REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis, acabando-se como Baleia. Que iriam? Retardaramse, temerosos. Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o sertão mandaria para a cidade homens fortes, brutos, como Fabiano, sinha Vitória e os dois meninos. (RAMOS, 2008, p.128) Isso nos dá a idéia de que ainda há essa circularidade de sofrimento e opressão (representados pelo fazendeiro, pelo soldado amarelo ou pelo ingrato destino), pois O romance abre-se com a caminhada dos retirantes, em busca de um lugar menos castigado pela seca. Encerra-se com outra, que, afinal, é o mesmo caminhar. Tem-se, assim, o efeito de circularidade, pois se prevê a retomada da mesma fuga. Nada se altera: „Mudança‟ e „Fuga‟ distinguem-se apenas no nome; são rotas de quem pretende desviar-se da morte. O deslocamento para o Sul – miragem final – não é nem confirmado nem negado. É apenas uma esperança, e isso é decisivo para manter acesa a chama da vida. (CASTRO, 1997, p.50). A quase ausência de diálogos e comunicação, muitas vezes feita através de grunhidos onomatopaicos, dá uma dimensão da representatividade da família de Fabiano no meio onde vivem – os indivíduos descritos quase não tem voz. São oprimidos até pela natureza, onde a falta de perspectiva da família chega a ser desconfortante para o leitor e ainda mais para o espectador. Fabiano, Sinhá Vitória e seus meninos figuram quase sem expectativas em um meio altamente desolador – seco e infindável – que chega a apresentar-se de forma desumanizada ao ponto de a cachorra Baleia caracterizar-se de modo mais humano que eles nas duas narrativas – a literária e a cinematográfica. Aliás, no romance, mas, em especial, no filme, a morte da cachorra Baleia é um dos pontos mais emocionantes, onde ferida por Fabiano, a cachorra como em uma miragem ainda vê preás (sua antiga caça), mas já não tem forças para capturálos – há uma ânsia de correr e os caçar –, mas já não há energias (só vertigens) e o som dos carros de boi anunciam seu fim. Em Vidas secas, o silêncio predomina: há sons apenas da escassa chuva, dos animais, dos parcos diálogos e dos carros de boi, que abrem e encerram o filme, e que o caracterizam sonoramente, já que o som oriundo dos carros de boi combina com a paisagem da narrativa e são desconcertantes e aflitivos para o espectador, pois o som REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 peculiar parece fundir-se com as imagens de luz estourada, propostas por Nelson Pereira dos Santos. Fabiano é o personagem mais refém da linguagem em Vidas secas e, em se tratando dele, ela é por vezes ausente e quase sempre gutural. Maurice Blanchot, no capítulo intitulado Literatura e o direito à morte em A parte do fogo, afirma que “[...] falar é um direito estranho” (BLANCHOT, 1997, p. 311) e esse direito não é concedido devidamente ao “vivente” Fabiano, pois ele apresenta uma complexa relação de indignação e passividade diante do enigma da linguagem, da qual ele se mostra desfamiliarizado e, sobretudo, temeroso. A personagem esboça um afastamento da relação de poder promovida pela linguagem e isso faz com que ele seja explorado e se encontre em uma situação aporética, já que não sabe se desafia a linguagem ou se continua à margem dela e, eis aí, um dos principais tormentos de Fabiano, também lexicalmente um pobre-diabo, pois “o que mais o atormenta é a impotência de não se sentir „dono‟ da própria linguagem, que lhe é subtraída pela condição social adversa. O que mais o anima é a perspectiva de que, algum dia, seus filhos possam vir a dominá-la” (CASTRO, 1997, p.67) e, talvez, encerrem seu ciclo de dominação. A secura sertaneja é enfatizada em ambas as obras pelo uso de uma linguagem sem rodeios, onde o estilo “a palo seco”, anteriormente citado, pode ser aludido em relação à ausência de trilha sonora, pois assim como os cantores da região de Sevilha – que cantam sempre à capela dispensando o acompanhamento musical – o diretor e roteirista de Vidas secas opta pela ausência de trilha sonora convencional e faz do som desagradável dos carros de bois a sonoridade mais marcante da narrativa fílmica. Os únicos momentos marcados por música são aqueles que assinalam para o espectador que a família de Fabiano tem direito apenas ao som agoniante dos carros de bois, pois enquanto a banda de músicos toca na praça (há a marca de não pertença de Fabiano e da família àquele ambiente festivo, já que é aí que Fabiano é preso e leva uma surra de facão por “desacatar” o soldado amarelo) e o mesmo ocorre no momento em que a filha do fazendeiro, patrão de Fabiano, tem aulas de violino (que é justamente o momento em que Fabiano é, descaradamente, roubado pelo patrão mais uma vez). Inegavelmente, segundo Randal Johnson, REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 A cultura de elite é representada pelas lições de violino clássico dadas à filha do fazendeiro no começo do filme. Essa seqüência – que ocorre quando Fabiano vai à vila num carro de boi – também oferece um exemplo do sutil humor do diretor. A trilha sonora do filme é engenhosa, proporcionando um momento de „uso estrutural do som‟. O som não diegético das rodas do carro de boi acompanha os letreiros do filme. Mais tarde o som é diegetizado quando vemos Fabiano no carro de boi e ouvimos o som ao mesmo tempo. Nesse ponto o som faz parte de um trocadilho aural no qual o ranger do carro de boi se modula ao som do violino arranhado. No decorrer do filme, o som do carro de boi torna-se uma espécie de sinédoque auditiva que encapsula o Nordeste, por meio de sua denotação (o carro de boi evoca o atraso da região) e de sua conotação: o som, que é muito desagradável, constitui por si só uma estrutura agressiva. Simultaneamente, a roda opera como metáfora, lembrando, em sua circularidade, os períodos cíclicos de seca na região. Na seqüência do violino, o som do carro de boi modulado ao som do violino equipara a cultura de elite com a repressão. (JOHNSON, 2003, p.51). A circularidade das narrativas de Vidas secas, em especial, a fílmica, representa, de certo modo, o futuro da família de “viventes” e parece nos dizer que o ciclo de opressão, infelizmente, não está em vias de extinção e quem nos dá a entender isso é a cachorra Baleia na cena em que diante da afirmação de Sinhá Vitória de que no futuro a família teria uma cama de couro – símbolo da prosperidade familiar – Baleia sentencia sua descrença e enfado com um longo e “irônico” bocejo canino. No entanto, faço a ressalva de que esse seja, talvez, só mais um dado cinematográfico, pois, efetivamente, “[...] Vidas Secas caminha numa direção marcada pela cautela de quem não se permite avançar conclusões.” (XAVIER, 1983, p.150). Só é possível concluir, efetivamente, que ambas as narrativas de Vidas secas, a literária e a cinematográfica, são propositadamente ásperas, “[...] mas a verdade que carrega em sua dura poesia é tão densa, que o torna permeável a todas as sensibilidades.” (CASTRO, 1997, p.90). REFERÊNCIAS BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Rio de janeiro: Rocco, 1997. CASTRO, Dácio Antônio de. Roteiro de leitura: Vidas secas de Graciliano Ramos. São Paulo: Ática, 1997. GOMES, Paulo Emílio Sales. Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. São Paulo: Paz e Terra, 2001. REVISTA LITTERIS ISSN: 1983 7429 Número 3, novembro 2009 JOHNSON, Randal. Literatura e cinema, diálogo e recriação: o caso de Vidas Secas. In: PELLEGRINI, Tânia (org). Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Senac/Itaú Cultural, 2003. MELO NETO, João Cabral de. Obras Completas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995. RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2008. ROCHA, Glauber. Revolução do Cinema Novo. São Paulo: Cosac Naify, 2004. TOLENTINO, Célia Aparecida Ferreira. O rural no cinema brasileiro. São Paulo: Editora da Unesp, 2001. XAVIER, Ismail. Sertão mar: Glauber Rocha e a estética da fome. São Paulo: Brasiliense, 1983. XAVIER, Ismail. Do texto ao filme: a trama, a cena e a construção do olhar no cinema. In: PELLEGRINI, Tânia (org). Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Senac/Itaú Cultural, 2003. * Lizaine Weingärtner Machado é bacharelanda e licencianda do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Literaturas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Pesquisa a poesia leminskiana sob orientação do Prof. Dr. Jair Tadeu da Fonseca; Email: [email protected].
Download