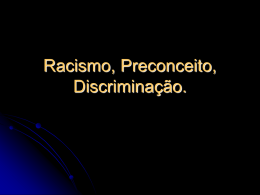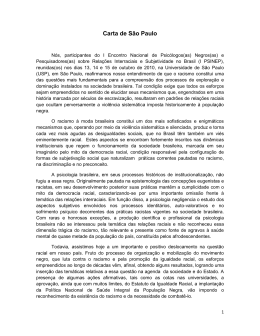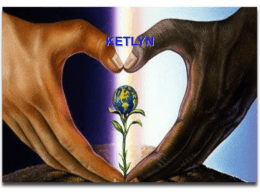Valter da Mata Psicólogo, Mestre em Psicologia Social, Estudioso de Psicologia e Relações Raciais. Professor da Unime – Lauro de Freitas e da Faculdade da Cidade do Salvador e Membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia. Em sua opinião, como vai se constituindo o debate sobre relações raciais dentro da Psicologia articulado com o contexto histórico, político e econômico do país e fora dele? O debate sobre as Relações Raciais dentro da Psicologia no Brasil precisa superar um grande desafio: a crença da existência de uma democracia racial. Boa parte dos brasileiros, quer por ingenuidade, quer por falta de informação, quer por cinismo, acredita que não existe racismo no Brasil, que o que existe é a discriminação social. Segundo essa crença, os negros e indígenas brasileiros não sofrerão discriminação se tivesse dinheiro na sua conta corrente e vivesse uma vida que ilustrasse essa posse. Como corolário, boa parte dos psicólogos psicólogas não veem no racismo, um vetor de sofrimento psíquico. É bom lembrar que s saberes psicológicos tiveram uma importância muito grande na consolidação do racismo e racialismo no Brasil, estudos enviesados afirmavam que as raças humanas tinhas predisposição a determinadas características psicológicas, como o caráter e a inteligência. Após a segunda grande guerra, a resposta dos psicólogos foi o silêncio, somente no início do século XXI as produções sobre Psicologia e Relações Raciais começam a ganhar corpo, mas ainda muito rarefeitas se formos considerar a importância. Fora do país, tenho contato principalmente com as produções norte americanas, eles estão muito à frente nessas questões. Entretanto algumas publicações de cunho racialistas ainda são lançadas. Creio que o livro The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life, dos pesquisadores Richard J. Herrnstein e Charles Murray, publicado em 1996, é o mais emblemático. Nesse livro eles procuraram demonstrar através de testes de QI, diferenças nos níveis de inteligência entre negros e brancos. Ao longo deste ano, diversos episódios de racismo ganharam visibilidade no Rio Grande do Sul, como você analisa esses fatos e a repercussão que tiveram em termos de racismo institucional? Prefiro não classificar os casos de discriminação racial como algo do Rio Grande do Sul, prefiro pensar nesse problema enquanto uma questão nacional. Esses fatos que ganham a mídia são importantes para discussão em torno dessa chaga, mas estamos longe de chegar até mesmo no mais básico: a existência do racismo no Brasil. A cultura brasileira é atravessada pelo machismo, racismo e a homofobia. Estar fora desses grupos de privilégio significa, em maior ou menor grau, ser vitima de discriminação. Dessa forma, a mulher negra lésbica está dentro dos padrões de discriminação como o maior exemplo do fracasso. Em termos de racismo institucional, creio que os episódios não trouxeram grandes mudanças, o mais importante é a visibilidade do problema, é a democracia racial colocada em xeque. Mas as instituições continuam produzindo discriminações baseadas na cor da pele, dentre outros trações fenotópicos. Todas elas: escola, hospitais, conselhos de classe, polícia militar, enfim, todas. Afinal essas instituições foram construídas nesse contexto cultural. Como psicólogo, você costuma pensar em como a desigualdade racial pode afetar nas diversas áreas da vida e do cotidiano de negras e negros brasileiras e, ao mesmo tempo, privilegiar pessoas brancas? Como psicólogo, negro e estudioso das relações raciais, posso afirmar que o racismo afeta a todos os brasileiros, obviamente que de forma diferente. Para constatar os privilégios psicológicos decorrentes do racismo no Brasil, recomendo a leitura do livro Psicologia Social do Racismo, organizado por IrayCarone e Maria Aparecida Bento, publicado em 2002. Nesse livro diversos pesquisadores e pesquisadoras discorrem estudos sobre branquitude e branquidade. Boa parte dos brancos brasileiros sabem que ser branco é ter privilégios implícitos, não ditos e o silêncio sobre isso é uma prática comum entre eles. Na maior parte das vezes, esses mesmos brancos creditam seus sucessos aos méritos individuais. Quanto ao fracasso das outras “raças”, provavelmente são creditadas a “um defeito de cor”. O racismo e a discriminação racial tem forte impacto nos sujeitos não brancos, e as dimensões psicológicas mais atingidas são a formação da identidade e a autoestima. Em ambas as dimensões, os não brancos tendem a se constituir de forma conflituosa e dolorosa. Ninguém deseja identificar-se com o que é feio, sujo, selvagem, perdedor. Não restando outras formas possíveis de identificação, cabe a esses sujeitos a construção identitária fragilizada e fundamentada no branqueamento. Uma saída que geralmente remete a outras desordens psíquicas. Quais os efeitos psicossociais do preconceito racial e do racismo na constituição da subjetividade tanto daquele que comete quanto daquele que recebe essas violências? Como falei anteriormente o racismo e a discriminação racial irá atingir a todos os brasileiros e brasileiras de forma diferente. Somos um país extremamente miscigenado, e provavelmente algum leitor está nesse momento questionando toda essa entrevista com dois argumentos frágeis, mas que servem para mascarar essa problemática. O primeiro deles é que não existem raças humanas e por isso não existe racismo. Ora, a raça biológica não é defendida por ninguém de bom senso, entretanto a raça sociológica existe de fato e de direito e é uma categoria fundamental no estabelecimento de lugares na sociedade brasileira. O outro argumento é que não existem negros e brancos no Brasil, somos todos mestiços. Esse é talvez o maior problema na construção identitária do brasileiro e obviamente na constituição da subjetividade. O mestiço é o obstáculo epistemológico, é o lugar do não ser, do não lugar, do que pode ser tudo, que pode ser nada, é a não identidade. O mestiço pode ser moreno, mulato, sarará, cabo verde, escurinho, cor de jambo, cravo e canela, e ao mesmo tempo não ser nada disso. Assumir-se negro para alguém que não tenha conhecimento das desigualdades históricas entre as raças no Brasil, torna-se pois um exercício doloroso. Ser negro ou indígena é ser herdeiro das coisas mais insignificantes no que diz respeito ao desenvolvimento da civilização e até mesmo ser responsável por coisas demoníacas. Como os psicólogos podem contribuir com o combate ao racismo em seu cotidiano de trabalho, seja ele em políticas públicas, em clínicas privadas ou em outros campos, como o das organizações, por exemplo? A primeira coisa que os psicólogos e psicólogas precisam fazer é reconhecer a existência do racismo e que em maior ou menor grau as práticas racistas fazem parte do repertório comportamental dele próprio. A psicologia se instituiu no Brasil de costas para a realidade social, por muito tempo não contribuiu para construção de um país melhor e mais equânime. A nossa inserção nas politicas publicas nos coloca diante de um grande desafio: Como atuar para uma população a qual parece estar distante dos modelos apresentados nas teorias europeias e norte americanas? Serão elas inferiores, indolentes, atrasadas, enfim portadoras de um “gene” degenerado? O que desejo dizer nesse momento é que a psicologia ainda busca o seu fazer nas politicas publicas, não encontrou o seu lugar nos CRAS, CREAS, CAPS, dentre outros equipamentos públicos. Não conseguimos enxergar que o termo “boa aparência” esconde a concepção racista de “parecer branco”, “ter traços finos”, “ter o cabelo arrumado de um determinado jeito”. Fico triste quando vejo entrevistas sobre buylling e não ouço absolutamente nada sobre a discriminação racial nas escolas. Me pergunto: a que servirá a inclusão do psicólogo ou da psicóloga nas escolas públicas, se eles ou elas não conseguem enxergar o racismo a meio metro na frente dele? Então sugiro que psicólogos e psicólogas estudem, se desfaçam do senso comum, saiam do achismo, saiam da zona de conforto e enfrentemos esse problema gigantesco, que não é um problema de negros e indígenas , é um problema para toda sociedade brasileira.
Download