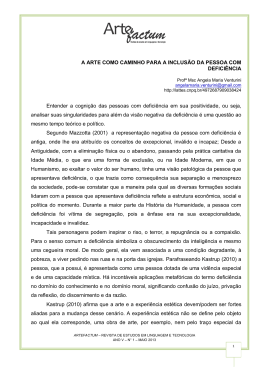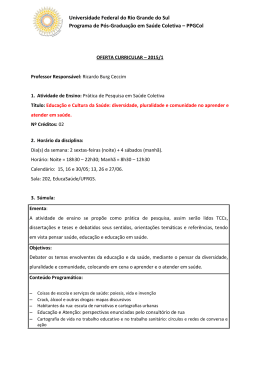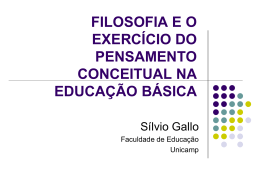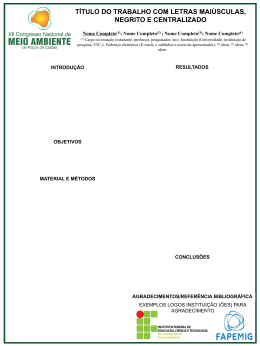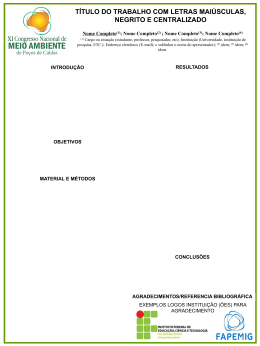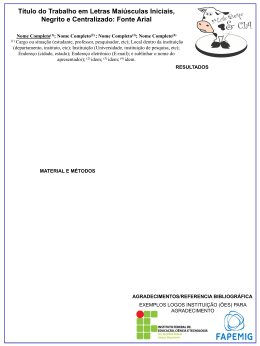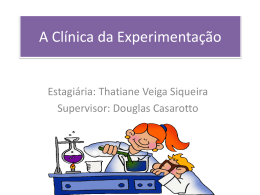9 UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CENTRO DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES INSTITUTO DE PSICOLOGIA NÃO FALE COM ESTRANHOS! A CRIANÇA E O ESTRANHAMENTO (DO) PRESENTE Fernanda Alcantara de Oliveira Monografia entregue ao Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro como exigência para a conclusão da Graduação em Psicologia sob a orientação da professora Doutora Heliana Conde de Barros Rodrigues. Julho/2008 9 10 I - ESTRANHANDO... “Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa?” (Dunga e Paula Toller) O tempo passa... Abandonamos essas perguntas. Temos mais o que fazer. Tempo é dinheiro! O que um dia nos surpreendeu, nos causou estranhamento, nos despertou curiosidade e muitas perguntas, hoje é banal, óbvio, natural, “faz parte”. Levamos a vida sem indagar por que o fazemos dessa forma e não de outra, o que pode comprometer, entre outras coisas, a nossa saúde. Canguilhem, segundo Sandra Caponi (1997), compreende saúde como a possibilidade de enfrentar situações novas, inusitadas, impensadas. Ela é considerada deficiente quando tem sua margem de segurança restrita, limitando o poder de tolerância e compensação frente às dificuldades. A saúde inclui a possibilidade de adoecer e de se recuperar. Afinal, a vida é inconstante. Sendo assim, a saúde não é um estado, mas um exercício, uma prática, uma luta. A normalidade é uma modalidade defensiva, uma adaptação ao meio (ATHAYDE, BRITO & NEVES, 2003). A defesa é uma diminuição de vida, pois quando nos encontramos em estado de normalidade estamos dependentes da norma instituída, incapacitados de criar modos singulares de vida. Sentir-se com boa saúde é mais do que sentir-se normal, pois inclui uma normatividade. A normatividade é uma capacidade de criar e recriar normas, sem ser aprisionado por elas, é uma capacidade de lidar com as variabilidades, com as transformações, com a diferença. O filósofo Luiz Antonio Fuganti, em entrevista1, afirma que o homem está muito 1 10 Entrevista realizada com Luiz Antonio Fuganti, por Amanda dos Santos Gonçalves, em 2007. 11 doente, pois a sociedade contemporânea é uma máquina de produzir impotência. A saúde, para ele, é uma capacidade criativa e, o adoecimento é uma reação, uma reação saudável. A saúde é um poder de agir, uma potência, que a doença consome. A normalidade, para Fuganti, é uma maneira de aceitar a realidade, de sobreviver e, geralmente é uma forma de incorporar o modo conformado de ser. Em nossa sociedade é comum a ausência de condições necessárias para a saúde; logo, o estado de normalidade é freqüente. Poupamos energia automatizando certos movimentos. Alguns comportamentos se transformam em hábito. Acostumamo-nos a nos relacionar uns com os outros de um certo modo. O que vemos sempre - as casas da rua em que moramos, os vizinhos, o caminho que percorremos até o local de trabalho, o ascensorista do elevador etc. - se torna paisagem ao fundo das nossas vidas. Tão natural, como se sempre houvesse sido assim e sempre vá continuar a ser. Quando algo escapa à rotina, a nossa atenção é ativada. Estranhamos prontamente o que rompe com o padrão. Difícil é se surpreender com o que constantemente se repete. Imaginem se a cada dia experienciássemos tudo como se fosse a primeira vez! No entanto, aquilo com o que nos acostumamos e naturalizamos se torna rígido, com pouca possibilidade de mudança. Algo que em uma circunstância funcionou muito bem, em outro momento pode perder o sentido, mas permanecerá operando como antes, mesmo que não cumpra mais a sua função, pois nos habituamos a esse funcionamento. Por que manter práticas meramente por hábito? Parece estúpido, mas nem o percebemos por estarmos condicionados a esse modo de operar. A Socioanálise oferece três conceitos que podem auxiliar nessa reflexão: instituição, instituído e instituinte. Segundo Gregorio Baremblitt (1998:177), instituição “são árvores de decisões lógicas que regulam as atividades humanas, indicando o que é proibido, o que é permitido e o que é indiferente”. Instituinte é definido pelo autor como o “processo mobilizado por forças produtivo-desejante-revolucionárias, que tende a fundar instituições ou a transformá-las, como parte do devir das potências e materialidades sociais” (1998:178). O Instituído é a forma resultante da força instituinte e tem a tendência de se cristalizar, resistindo a mudanças. No entanto, a vida é cambiante e o que fora instituído logo perde sua funcionalidade e precisa ser desconstruído para que outras formas sejam forjadas. 11 12 Devido à solidez característica do instituído, nos acostumamos com a forma assumida e passamos a percebê-la como natural, perdendo de vista o processo que a produziu. O estranhamento é um importante dispositivo, pois pode dar visibilidade às instituições que enrijeceram, dificultando a vida, de modo a favorecer movimentos instituintes. Como estranhar o que já foi estabelecido? Não temos tempo. “– Olá! Como vai? – Eu vou indo. E você, tudo bem? – Tudo bem! Eu vou indo, correndo pegar meu lugar no futuro... E você? – Tudo bem! Eu vou indo, em busca de um sono tranqüilo... Quem sabe? – Quanto tempo! – Pois é, quanto tempo! – Me perdoe a pressa - é a alma dos nossos negócios! – Qual, não tem de quê! Eu também só ando a cem! – Quando é que você telefona? Precisamos nos ver por aí! – Pra semana, prometo, talvez nos vejamos...Quem sabe? – Quanto tempo! – Pois é...quanto tempo! – Tanta coisa que eu tinha a dizer, mas eu sumi na poeira das ruas... – Eu também tenho algo a dizer, mas me foge à lembrança! – Por favor, telefone - Eu preciso beber alguma coisa, rapidamente... – Pra semana... – O sinal... – Eu procuro você... – Vai abrir, vai abrir... – Eu prometo, não esqueço, não esqueço... – Por favor, não esqueça, não esqueça... – Adeus! – Adeus! – Adeus!”2 Nas grandes cidades, cotidianamente vivemos ou assistimos cenas como essa em sinais de trânsito, na calçada da rua, no ponto de ônibus, no caixa do supermercado, na fila do banco, na ala do shopping center, no corredor de uma universidade etc. Não há tempo para encontrar, para trocar, para afetar e ser afetado, para pensar. Tudo se torna corriqueiro, inclusive as relações. Se não temos tempo para um velho amigo, será que temos tempo para questionar o que se repete diariamente? Que defasagem é essa que sentimos em relação ao tempo, como se este sempre nos faltasse? A pressa é a “alma dos nossos negócios”. A aceleração do mercado, com suas 2 12 Letra da música Sinal fechado composta por Paulinho da Viola. 13 inovações tecnológicas, exige uma intensa e veloz flexibilidade da subjetividade a serviço de sua maquinaria. A desconstrução é tida como finalidade em si mesma, pois a partir dela se instaura a necessidade de consumo para substituir o que fora destruído. Segundo Felix Guattari, o Capitalismo Mundial Integrado (CMI) exerce uma dupla opressão. A primeira se dá por uma repressão direta no plano social e econômico. Já a segunda forma de opressão: “consiste em o CMI instalar-se na própria produção de subjetividade: uma imensa máquina produtiva de uma subjetividade industrializada e nivelada em escala mundial tornou-se dado de base na formação da força coletiva de trabalho e da força de controle social coletivo” (2005:48). Se até recentemente a subjetividade moderna resistia a mudanças, à perda de valores, hoje ela é convocada a transformações incessantes e desprendimento do passado (BARCELOS, 2006). A exigência que o mercado nos faz de nos reinventarmos é reforçada por um discurso que afirma “Se você quer, você pode”, centrando a subjetividade na volição do indivíduo. Todavia, para Guattari, a subjetividade é essencialmente social. É nas relações sociais que ela se constitui e, desde a modernidade, vem se produzindo uma individualização da subjetividade, aprisionando-a aos corpos dos sujeitos. Guattari defende que a subjetividade individual “resulta de um entrecruzamento de determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de mídia e tantas outras” (2005:43). O discurso vigente afirma que cabe a nós conquistar nosso lugar no futuro. Se não nos adaptamos às constantes transformações, que ocorrem num curto período, é devido a uma incapacidade nossa. Então, nos sentimos fracassados e culpados. Reconhecemos que não nos comportamos adequadamente, não fomos suficientemente competentes, empreendedores e criativos. Não questionamos as metas que nos são impostas. Afinal, a subjetividade capitalística produz indivíduos submissos às regras do mercado de consumo, indivíduos que funcionem como meras engrenagens da máquina. “No contexto do capitalismo atual, não só os corpos estão a serviço da produção, mas, também, a dimensão subjetiva” (BARCELOS, 2006:23). Assim, não questionamos o que nos incomoda. Não estranhamos esse modo de operar que nos rouba a potência. Tornamos-nos tolerante a tudo que nos acontece. Daniel Lins afirma que a 13 14 tolerância neoliberal se apóia numa verdade, tolerando o que não é verdadeiro. Logo, difere do sentido etimológico da palavra que remete ao respeito à liberdade. Esse modelo de tolerância seria a intolerância legitimada. “Um gesto de desprezo, uma pitada de caridade, um punhado de hipocrisia, uma suspeita de cinismo, uma nuvem de presunção, uma camada de consentimento: eis a composição da química da tolerância” (2005:20). A tolerância leva à passividade e ao conformismo com a ordem estabelecida, pois retira o direito à revolta. Estamos apenas em busca de um sono tranqüilo. Ainda segundo o autor, nossa sociedade vive numa guerra contra a inventividade. Enaltecemos o que se repete, o que já fora pensado ou instituído. O que é tolerado permanece em posição inferior ao que é norma. No entanto, “se nenhuma forma é imposta em última instância, se nada é gravado no mármore da necessidade, então tudo pode ser feito e tudo pode ser criado” (Idem:22). Lins propõe outra tolerância que não se feche numa verdade, que não se equivalha à indiferença: “Se é verdade que a tolerância tem como função nos auxiliar a acompanhar as transformações do mundo, do mesmo modo que as nossas andanças e errâncias pessoais, ela exerce também um papel primordial: o de impedir que o universo do pensamento e do desejo seja cristalizado” (Idem:28). Podemos nos valer de uma tolerância que acolha a diferença e não a solape pela moralização que só reconhece a identidade, uma tolerância que seja um exercício de liberdade. Essa tolerância frente às adversidades impostas pela a vida é valorizada por Canguilhem para que se produza saúde (CAPONI, 1997). Guattari (2005) considera que a subjetividade capitalística traz possibilidades de desvio e de reapropriação, desde que se reconheça que a luta não se dá apenas no plano da economia política, pois inclui o plano da economia subjetiva. Suely Rolnik, em seu livro com Guattari (2005), valoriza movimentos sociais que operam como focos de resistência política por atacarem a lógica do sistema, não como abstração, mas como experiência vivida. A tentativa de controle social, pela produção da subjetividade em grande escala, é frustrada pela resistência das “revoluções moleculares”3: processos de 3 Guattari importa as palavras molar e molecular da química para conceituar as formas de organização dos elementos. A ordem molar diz respeito às estratificações que formatam sujeitos, objetos e representações, enquanto a ordem molecular comporta devires, fluxos e intensidades (GUATTARI & ROLNIK, 2005). A primeira se refere à forma e a segunda à força, ao movimento. 14 15 diferenciação permanente, que correspondem a uma atitude ético-analítico-política, afirma Guattari. São exemplos dessas revoluções: o questionamento da vida cotidiana, a contestação do trabalho em sua forma atual e a recusa ao sistema de representação política. As revoluções moleculares subvertem a modelização da subjetividade pela reapropriação desta, promovendo processos de singularização. Esses processos são automodeladores, pois captam os elementos disponíveis e constroem suas próprias referências, libertando-se da submissão ao poder global. O processo de singularização é definido por Guattari como o “fato mais objetivo de desprender-se dos estratos de ressonância e fazer proliferar e ampliar um processo, o qual poderá ou não encontrar uma estrutura ou um sistema de referências intrínsecos” (Idem:142). Tânia Maia Barcelos, em sua tese de doutorado Re-quebros da subjetividade e o poder transformador do samba, busca no samba estratégias de mudança da subjetividade no mundo contemporâneo. A autora julga necessária a mudança, no sentido de que se faça resistência ao modo de produção de subjetividade capitalística, aprendendo a rebolar nesse “samba do crioulo-doido” (2006:17). Sua hipótese é de que as forças de criação, alegria e resistência que perpassam o samba podem ser grandes aliadas na luta por novas possibilidades de vida. Barcelos pesquisa linhas de fuga no plano da subjetividade. Essa fuga pode ser tida como utópica, mas para a autora está longe disso, pois se faz pela ruptura, desconstruindo formas e criando o novo. Sobre o seu trabalho, Barcelos diz: “Interessam-me as intensidades que produzem estranhamento na subjetividade, aumentam sua capacidade de problematização e forçam o pensamento a decifrar os signos que emergem no encontro com o samba. Signos em favor de novos agenciamentos com o outro e o mundo” (Idem:35). Uma dessas intensidades que a autora destaca é o malandro. Esse personagem surge na música popular nos anos 20, e seu prestígio chega ao ápice na década seguinte. No entanto, passa a ser desvalorizado com a política do Estado Novo, de culto ao trabalho e repressão à cultura popular (MATOS apud BARCELOS, 2006). Nesse contexto, o malandro assume uma postura fronteiriça, ocupando os lugares de passagem, misturando em sua vestimenta signos de mundos distintos e se utilizando de uma linguagem ambígua e sorrateira. Ele coloca em questão os valores da ideologia 15 16 dominante através de suas táticas sutis e escorregadias. A música do malandro é o samba-de-breque, em que o sambista brinca com o ritmo e a língua. Os breques quebram o ritmo, possibilitando a invenção de novos movimentos do corpo. Os cortes produzidos pela linguagem inventiva e pelos breques, “as paradinhas” do som, causam estranheza e criam condições de produção de diferença (BARCELOS, 2006). Para além do “devir-malandragem”4, a autora ocupa-se da relação que estabelecemos com o tempo, pois a “invenção implica o tempo” (KASTRUP apud BARCELOS, 2006:24). Entretanto, durante o ano, corremos desatadamente na tentativa de dar conta de todas as atividades pelas quais nos responsabilizamos. Contamos com aqueles momentos programados para o descanso, fins de semana, feriados ou férias, pois é neles que depositamos a esperança de desaceleração e a expectativa de felicidade. Onze meses de sofrimento, para gozar um de alegria. Vivemos esgotados num mundo acelerado, mas não faz mal, pois o carnaval já está chegando. O estado de normalidade impera. Doenças freqüentemente nos acometem. Afinal, quem tem tempo para lutar pela saúde? Conforme o filósofo Peter Pál Pelbart, “se o lema do capitalismo era fazer o máximo, no mínimo de tempo, nas últimas décadas, o lema é outro: veicular de forma estática, um regime de temporalidade instantâneo, sem duração e sem espessura” (BARCELOS, 2006:66). Vivemos um eterno presente, um achatamento temporal, como se não houvesse história passada ou futura: “presente sem espessura, ilusão de imortalidade que ignora o começo e o fim, a morte e o imprevisto, que só integra o desconhecido enquanto probabilidade calculável. O paradoxo é que a desmaterialização provocada pela velocidade absoluta equivale a uma inércia absoluta. Estranha equação em que coincidem velocidade máxima e imobilidade total” (PELBART apud BARCELOS, 2006:66). Essa velocidade absoluta faz com que a subjetividade esteja sempre em trânsito, 4 “Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas daquilo que estamos em vias de nos tornarmos, e através das quais nos tornamos. É nesse sentido que o devir é o processo do desejo” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:64). 16 17 já no passado, eternamente ultrapassada, desatualizada, em dívida. Resta voltarmo-nos para o futuro na esperança de dias melhores. Pelbart nos aponta um pouco de possível: “numa época em que o capitalismo desterritorializou o tempo (...), não só surge uma consciência aguda do tempo, mas abrem-se possibilidades para outras temporalizações, com seu novo cortejo de estranhamentos, estrangeirices, aberrações” (1998:140). Barcelos (2006) critica o lema “viva o presente intensamente”, recusando essa “ditadura do presente” e a aderência à estética do novo como finalidade em si. A abertura para o novo nem sempre é abertura para o estranho, para o que difere, o imprevisível, o instituinte. Ela sugere que se invente uma política do presente que atualize o passado como força mobilizadora e propulsora de novas experimentações. Uma outra relação com o tempo se faz necessária para que seja possível o estranhamento das formas instituídas. Guattari fala de uma resistência social que deve combater as formas de temporalização dominantes: “isso vai desde a recusa de um certo ritmo nos processos de trabalho assalariado, até o fato de certos grupos entenderem que sua relação com o tempo deve ser produzida por eles mesmos – como na música e na dança” (2005:56). Barcelos (2006) julga necessário fazer resistência aos ritmos dominantes do tempo do capitalismo. Propõe, então, um “devir-lentidão”, que promova a desconstrução pela sonoridade, abrindo brechas para a desaceleração do tempo. A autora cita o exemplo de poetas que buscam sustentar uma “vagabundagem” da imaginação em busca de aumentar a impressão de estranheza do mundo. Ela entende a pausa não como parada do movimento ou da ação, mas um tempo para esquecimento e criação, um “entre-tempos”. Precisamos nos desprender do conhecido e habitual, nos esquecer do que consideramos normal, para que seja possível estranhar a norma e inventar outras formas. A pausa é imprescindível para essa prática, pois ela faz um corte na velocidade desenfreada da modernidade, produzindo por si só uma estranheza na subjetividade capitalística. Por estarmos tão acostumados com a aceleração cotidiana, não sabemos lidar com o vazio no tempo. Corremos de um lado para o outro e de repente nos deparamos com uma fila ou com um engarrafamento. A espera é insuportável. Como ficar parado, se temos tantas tarefas pendentes? O que fazer quando nos sentimos imobilizados enquanto o tempo segue sem que o acompanhemos? 17 18 Estamos habituados a uma agenda lotada de compromissos. Se eles são desmarcados de última hora, sem que haja tempo para remarcarmos outros, ficamos no vazio. Sofremos um breque em nosso movimento. Sentimos uma estranheza. Não sabemos o que fazer com o ócio. Então, logo preenchemos o vazio, de preferência consumindo imagens televisivas. Por que não potencializar a estranheza que a pausa nos causa, estendendo-a a outras questões? Por exemplo, estranhar o próprio ritmo de nossas vidas. O sobretrabalho dificulta a problematização das políticas do tempo. Apesar de precisarmos da pausa, sentimos culpa por desejá-la. Tememos que o tempo nos engula (BARCELOS, 2006). O corpo não suporta essa velocidade desenfreada e adoece. A doença nos obriga a desacelerar, a cuidar de nós mesmos, a repousar. Ela tem uma função reparadora e sinalizadora de que a nossa estética de vida está restringindo as nossas possibilidades de lidar com as dificuldades e a nossa criatividade frente às situações com que lidamos. Nossos corpos e pensamentos não estão acostumados a funcionar de outros modos. Resistimos a mudanças. No entanto, estranhar o instituído exige que estranhemos a nós mesmos, questionando as instituições que nos atravessam e nos subjetivam. Aceitamos a ordem vigente porque acreditamos que ela é a única ordem possível, garantidora da vida social. Como estranhar essa crença? Como estranhar o funcionamento de nossa sociedade? Como descristalizar o pensamento e o desejo? Algumas intensidades favorecem o estranhamento. A criança, recentemente chegada ao nosso mundo, não está tão cristalizada em nossos modos de vida, tão habituada ao que já percebemos como natural. Ela estranha e questiona muitas coisas, nos enchendo de ‘por quês’, como no trecho da música reproduzido na epígrafe. Nós já instituímos esse movimento da infância como um período normal, a “fase do ‘por quê?’”. Nós capturamos esse estranhar dela sem estranhá-lo, naturalizando-o numa fase. Ocupando o lugar de adulto, aquele que sabe, damos respostas simples a essas perguntas. Quando não temos respostas ou já perdemos a paciência com tantos ‘por quês’, dizemos apenas “porque sim!”. Não entendemos por que tanto questionar coisas que nos parecem óbvias. Não aproveitamos o estranhar da criança para estranharmos a nós mesmos. O saber sobre essa realidade naturalizada já está pronto, não o recriamos no encontro com a criança. Será que é tão natural o horário que designamos para a 18 19 criança deitar-se ou a pintura que a mulher coloca sobre sua face? Podemos fazer um paralelo com os agenciamentos que Barcelos (2006) estabelece com o samba, em sua busca por aliados em processos de criação da subjetividade. Linhas de fuga também podem ser produzidas a partir de alianças com as multiplicidades da criança, de modo a aumentar a potência de ser afetado por linhas de alegria. Pensar os movimentos da infância pode ser um dispositivo para repensarmos a lógica em que operamos. Suas velocidades e lentidões podem nos inspirar a viver de um outro modo, menos enrijecido, menos repetitivo e mais criativo, com mais potência. “Inventar não é uma prática exclusiva de alguns, mas de qualquer um que se aventura a desejar novas oportunidades de vida” (BARCELOS, 2006:24). Como nos deixar atravessar por essa subjetividade em que o estranhamento surge como uma virtualidade intensa? Como buscar subjetividades mais inquietas, mais desconfiadas do que é visto como natural? Como fazer de nossas práticas revoluções moleculares? 19 20 II – A INFÂNCIA MARCADA DE HISTÓRIA E A HISTÓRIA ARRUINANDO O CORPO INFANTIL Percebemos as crianças como graciosas, indefesas, inocentes, irracionais, amáveis, fracas, dependentes, influenciáveis, delicadas, primitivas, puras, ignorantes, frágeis, assexuadas etc. Devido às características que atribuímos a esses pequenos humanos, reconhecemos a necessidade de certas práticas, como: as crianças precisam ser educadas; devem freqüentar escolas; são proibidas de trabalhar; merecem cuidados especiais (higiene, por exemplo); carecem de proteção; não podem ir a locais tipicamente destinados a adultos; devem ser poupadas de certas linguagens (como palavrões), informações (complexas ou trágicas, por exemplo) e vivências (especialmente sexuais); são proibidas de participar de atividades que não lhe são apropriadas; têm direitos especiais e consomem produtos específicos, produtos infantis (roupas próprias, brinquedos, alimentação adequada etc.). No entanto, a nossa concepção de infância só tem sentido no contexto em que vivemos. O que entendemos por infância e a forma como nos relacionamos com ela é distinto do modo como as crianças eram vistas e tratadas em outras épocas ou lugares. A criança de hoje é marcada por um processo histórico que constituiu o lugar que lhe é conferido, as expectativas que lhe são dirigidas, as regras a que está submetida, os saberes sobre ela, os modelos que deve seguir, as maneiras como os adultos manipulam seu corpo, as metas que precisa alcançar, as atividades que lhe cabem e as punições que pode sofrer. Precisamos desconfiar de nossas verdades. Comecemos estranhando a própria noção de infância. Philippe Ariès nos conta uma história de como o sentimento da infância na Europa ocidental mudou durante a Idade Média e o Renascimento. Ele define sentimento da infância como “consciência da particularidade infantil” (1981:99). Afirma que na velha sociedade tradicional, a infância era reduzida ao seu período mais frágil, pois logo que a criança saía dos cueiros, vivia como os adultos, realizando com eles trabalhos e jogos. A sua socialização garantia a educação. A aprendizagem se dava na convivência da criança com os mais velhos, ajudando-os com as atividades diárias. O único sentimento de infância que Ariès observa nesse período é a “paparicação” destinada aos pequenos, em seus primeiros anos de vida. Era comum que tão logo a 20 21 criança sobrevivesse ao tempo da “paparicação” fosse viver na casa de outra família para aprender os costumes e desenvolver habilidades. Áries diz sobreviver, pois a mortalidade infantil tinha grande incidência e a perda de um filho era tão freqüente que se tornava praticamente banal. “As pessoas não podiam se apegar muito a algo que era considerado uma perda eventual” (Idem:22). Durante a Idade Média, não se dava importância para a idade. A partir do século XVI é que a noção de idade passa a ganhar um valor pessoal. Isso demonstra a pequena distinção que havia entre crianças, jovens e adultos, até então. Essa indiferença se evidenciava nas roupas que eram as mesmas para todas as idades. Os trajes apenas demarcavam os gêneros e a hierarquia social. Ariès analisa as palavras utilizadas para significar infância. A noção de infância estava relacionada à idéia de dependência. Não havia em francês uma palavra especifica que designasse criança. As palavras fils, valets e garçons, que se referiam aos pequenos, pertenciam também ao vocabulário das relações feudais ou senhorais de dependência. “Um ‘petit garçon’ (menino pequenino) não era necessariamente uma criança, e sim um jovem servidor” (Idem:11). Na arte medieval até o século XIII a criança só era distinguida dos adultos pelo tamanho, não era caracterizada por uma expressão infantil. A criança representada com graça e formas arredondadas, típica da arte grega, desapareceu da iconografia do mesmo modo que os temas helenísticos. “Os homens do século X-XI não se detinham diante da imagem da infância, que esta não tinha para eles interesse, nem mesmo realidade” (Idem:18). A criança aparece na arte da Idade Média, a partir do século XIII, mas nunca como representação de uma criança contemporânea, como um retrato. Apenas anjos infantis e a infância sagrada - Menino Jesus e Nossa Senhora menina - eram tema de pinturas. No século XV a infância aparece sob novas formas: o retrato e o putto, a criança nua. “O gosto novo pelo retrato indicava que as crianças começavam a sair do anonimato em que sua pouca possibilidade de sobreviver as mantinha” (Idem: 23). Durante o século XVII os retratos de crianças sozinhas eram comuns, os antigos retratos de família passaram a se organizar em torno da criança e a representação de cenas cotidianas privilegiavam a criança, demonstrando cenas infantis, como a lição de leitura ou de música. No retrato fixavam-se os traços das crianças vivas e mortas. Muitas 21 22 famílias desejavam ter retratos de seus filhos. O século XVII é marcado por Ariès como decisivo na transformação que a noção de infância sofreu. Essa mudança ocorreu primeiramente nas classes altas e depois se estendeu às famílias populares. A expressão “petit enfant” passa a ser usada como contemporaneamente e surgem as expressões “pequenas almas” e “pequenos anjos” que expressam o sentimento de infância e o romantismo a ele associado. Com o novo interesse pela infância, o francês importa palavras estrangeiras: o baby inglês e o bambino italiano, que se transforma em bambin. Nessa época, as crianças deixam de se vestir como adultos e passam a usar trajes específicos, como uniformes que as separam dos outros. É também nesse momento que a escola assume a educação, mantendo a criança separada dos adultos. O autor afirma que, então, se inicia um longo processo de enclausuramento das crianças, assim como dos loucos, prostitutas e pobres, e que se denomina escolarização. Essa separação é uma das faces de um grande movimento de moralização promovido por reformadores protestantes ou católicos ligados à Igreja, ao Estado ou às leis, mas que só foi possível com o apoio das famílias. A importância que se passou a dar à educação é característica de uma família baseada na afeição entre os cônjuges e entre pais e filhos, uma família centrada na criança. Tanto a família quanto a criança assumem um novo lugar nas sociedades industriais. O autor atribui a uma maior cristianização dos costumes a importância que passa a ser dada à personalidade da criança. Apesar das condições demográficas não terem se modificado muito do século XIII ao XVII, surge uma nova sensibilidade em relação à infância e passa-se a considerar a alma da criança também imortal. O autor afirma que o sentimento de infância garantiu maiores cuidados com esses pequenos seres, o que resultou na redução da mortalidade infantil. Há na teoria de Ariès uma certa contradição, pois segundo ele, a larga mortalidade infantil era um dos principais fatores para o não apego das famílias com os bebês e o sentimento de infância surge apesar disso e, contribui para a redução da mortalidade. Algumas das práticas assumidas no cuidado dos filhos foram hábitos de higiene e a vacinação, a partir do século XIX. “O apego à infância e à sua particularidade não se exprimia mais através da distração e da brincadeira, mas através do interesse psicológico e da preocupação moral” (Idem:104). A “paparicação”, o primeiro 22 23 sentimento da infância, surgira na família. O segundo sentimento de infância proveio dos moralistas no século XVII que estavam preocupados com a racionalidade e a disciplina das crianças. Antes da consolidação do sentimento de infância, “a vida da criança era então considerada com a mesma ambigüidade com que hoje se considera a do feto, com a diferença de que o infanticídio era abafado no silêncio, enquanto o aborto é reivindicado em voz alta – mas esta é toda a diferença entre uma civilização do segredo e uma civilização da exibição” (ARIÈS, 1981:XV). Essa afirmação, pouco fundamentada, é interessante, se tivermos cuidado com sua mensagem moralista – vejam como eram descuidados com as crianças e hoje o somos com os fetos! –, pois pode provocar o pensamento. Embora, a relação que temos hoje com o feto seja bastante polêmica, tendemos a tratar a infância como sagrada, merecedora de atenção e cuidados inquestionáveis. A afirmação de Ariès pode nos levar a estranhar o nosso sentimento de infância. Quando temos o primeiro contato com essa história da criança, relutamos. É difícil nos desprender da nossa concepção de infância e imaginar uma família medieval que não tinha apego aos recém nascidos, que mandava seus filhos para serem criados em outras casas, que prescindia da educação formal, que não diferenciava as crianças dos adultos. Talvez seja o trato com a sexualidade que nos cause maior espanto, pois como as crianças eram vistas como pequenos adultos não havia pudor em relação a elas e poderiam ser tão sexualizadas quanto um adulto. Precisamos estender esse estranhamento para a contemporaneidade e questionar a forma como nos relacionamos com a infância. A nossa maneira de educar as crianças é mais correta? Há uma forma certa? As crianças são tão inocentes quanto as queremos? Há uma especificidade natural e essencial da infância, ou a diferenciação criança/adulto foi produzida? A filósofa Sandra Corazza, em seu livro História da infância sem fim (2000), busca a proveniência do conceito “infantil” nos moldes da genealogia de Nietzsche e Foucault (1979b). Seu objetivo é “manter o que se passou com o infantil, na dispersão que lhe é própria, demarcando os acidentes, os pequenos desvios, e também as inversões completas (...) que deram ‘nascimento’ à infância que existe e tem valor para nós” (Corazza, 2000:114-5). Corazza coloca em análise a emergência da infância a 23 24 partir da história dos dispositivos5 de infantilidade: elementos de saber da infância, de poder com as crianças e de subjetivação do infantil. Ela não defende que o dispositivo de infantilidade desde o primeiro momento surgiu para infantilizar. O que pretende é cartografar6 o diagrama de forças deste dispositivo que historicamente infantiliza, desemaranhando algumas linhas de infantilidade, de onde deriva o imaginário, ou talvez a ficção, da infância. Assim como Ariès, a autora se atém às palavras que designam infância. Ela também observa a equivalência entre os nomes que significam crianças e serviçais e percebe que o vocabulário marca a dependência característica da identidade infantil. No português, infância é associada a ingenuidade e simplicidade. Uma das significações de ‘infantil’ é frívolo. Na linguagem oral, chamar alguém de ‘filho(a)’ ou ‘menino(a)’ coloca-o numa posição hierárquica inferior, desqualifica-o. A palavra ‘pequeno(a)’ é associada à infância e carrega o sentido de limitado ou insignificante. O vocábulo ‘infantilismo’, derivado de infantil, designa uma degenerescência resultante de intoxicação crônica, que acomete o adulto e tem como sintoma características físicas e mentais infantis. Esses exemplos ilustram a visão da criança como de menor valor em relação ao adulto. Retomando os “inumeráveis começos” da identidade infantil, a filósofa afirma que “do início até o fim da Idade Média, o dispositivo de infantilidade não teve por função ‘cuidar do infantil’, e sim zelar pelos cuidados da descendência, pelas relações de submissão e de posse entre pais/mães e filhos(as), pela guerra e pela paz” (Idem:120). Nos séculos XVII e XVIII começam a funcionar mecanismos que criariam posteriormente um mundo especificamente infantil, onde as crianças seriam confinadas. Outro “começo” que Corazza analisa se dá no processo de colonização do Brasil. Ela conta que ao chegarem à terra de Santa Cruz, no século XVI, os europeus consideravam as crianças almas virgens, sem pecado e que precisavam ser adestradas 5 Deleuze (1996) define dispositivo como um conjunto multilinear que faz ver, por linhas de visibilidade; faz falar, por linhas de enunciação; exerce poder, por linhas de força; produz subjetividade, por linhas de subjetivação e abre brechas, por linhas de ruptura. Todas essas linhas se entrecruzam e suscitam outras, por variações e mutações de agenciamento. 6 Cartografar, segundo Deleuze (1996), é desembaraçar as linhas de um dispositivo, construindo um mapa ao percorrer terras desconhecidas. 24 25 espiritual e moralmente. O amor era dado aos pequenos através de disciplina severa, ameaças e castigos diariamente. Europeus estranhavam a nudez dos índios brasileiros e não a permitiam quando se tratava dos filhos de pais portugueses com mães brasileiras. Cobriam o corpo dessas crianças com o algodão vindo da Europa e fiado pelas mulheres indígenas, atividade que lhes foi ensinada pelos colonizadores. O prazer que acontecia no rio era prazeroso demais, aos olhos dos estrangeiros. Logo, foi substituído por jogos portugueses, pelo canto e pela dança. “Muitos eventos coloridos e barulhentos eram organizados para conquistar mais meninos, semear na sua sensibilidade um novo saber e um novo modo de ser cristianizados” (Idem:136). Para moldar o corpo infantil ao saber ocidental cristão, impunha-se-lhe uma pedagogia do medo que inspirava desapreço pela carne e necessidades físicas. Nas famílias brancas, a “criança-filho” era posta a serviço do poder paterno que centralizava a família. “A criança brasileira, até o século XIX, permaneceu prisioneira do papel social do filho. A família colonial dos três primeiros séculos ignorava e subestimava essa figura, já que seu universo cultural compunha-se do culto à propriedade, ao passado, à religião, no qual o pai, homem-adulto, o chefe da casa, condensava a ‘majestade’” (CORAZZA, 2000:139). Ensinava-se aos filhos que justiça se faz por punição, punição que eles mereciam. A mensagem transmitida era de que a única forma de escapar aos severos castigos físicos era a obediência cega. Assim, seu comportamento era condicionado às vontades e valores patriarcais e sua subjetivação cerceada e moldada por esses valores e o modo como eram impostos. No afrontamento da emergência da infância, Corazza monta cenas. Uma dessas cenas é a da infância bem-educada. Segundo a autora, a instituição escolar organizou o começo histórico da infância na Modernidade. Ariès (1981) defende que foram as instituições escolares e as práticas de educação que impuseram um novo sentimento de infância. Esse sentimento de uma infância longa considerava a criança portadora de uma inocência, que deveria ser preservada, e de uma fraqueza, que precisava ser fortalecida. Portanto, legitimavam-se a orientação e a disciplinarização especializada da escola. Corazza assinala que a escola passou a ser vista como o espaço privilegiado da “formação do cidadão”, imprescindível para a constituição das nações. Essa instituição social se tornou um bem em si mesma. Embora, posteriormente, a educação 25 26 institucionalizada se estenda a uma parcela maior da população, é à infância que ela se destina privilegiadamente. A cena seguinte, apresentada por Corazza, se baseia nas idéias de Postman, apresentadas no livro The disappearence of childhood. Segundo este autor, com a invenção da imprensa, em 1450, a necessidade social de saber ler e escrever aumenta. Isso produz uma nova idéia de adultez: aqueles capazes de exercer tais funções. Então, nasce uma nova concepção de infância, marcada pela incapacidade de ler e escrever. Destacam-se quatro efeitos desse processo: a necessidade de uma organização especializada em ensinar a ler e escrever; controle do ambiente simbólico da criança pelo adulto devido a seu acesso à escrita; saberes possuídos por adultos, impróprias a crianças; e a reestruturação da mente infantil pelo aprendizado da leitura. Para Postman (CORAZZA, 2000), entre 1850 e 1950, a infância vive seu clímax como categoria social e, paradoxalmente, começa a entrar em declínio quando a cultura literária da imprensa é substituída pela cultura visual, eletrônica, do show-business. A infância eclipsa-se à medida que a televisão fornece informação sem distinção de público ou idade e não exige a capacidade de leitura. “Dando cabo da distinção moderna adulto/criança, a televisão – assim como todo o restante da vida social, midiatizado – opera na direção de acelerar o desenvolvimento infantil, adultizando a criança e infantilizando o adulto, por incorporá-los conjuntamente a uma mesma moral de consumo e uma mesma dependência da sociedade tecnológica e dos milagres da técnica” (CORAZZA, 2000:194). Mais uma infância é encenada: a infância a-edípica. Desta vez, Corazza coloca em cena idéias de Trisciuzzi e Cambi. Esses autores defendem que, no século XX, o valor da infância continua a ser reconhecido a partir de um deslocamento do “sentimento de infância” ao “direito da infância”. Alguns fatores que justificam essa mudança são exibidos no palco: o crescimento econômico, que promoveu maior distribuição de renda possibilitando que famílias pobres também passassem a colocar as crianças no centro de suas vidas; o sentido burguês que individualiza a criança; e a sociedade industrial, que transforma a instituição familiar, tornando-a nuclear. Para Corazza, a mídia forja uma personalidade infantil dependente do adulto e idealizada: serena, inocente, afetuosa e maleável. Logo, o homem contemporâneo 26 27 entende a infância dentro de uma irrealidade, uma idade que possui um valor em si mesma e que precisa ser cuidada e protegida. “A infância perde sua autonomia por ser interpretada e codificada de forma universal, definitiva e enganosa” (CORAZZA, 2000:197). Segundo a filósofa, o século XX inventou novos modos de exploração e abandono da infância, como o isolamento e o confinamento a que se submetem as crianças diante da televisão. A televisão adultiza a criança, privando-a da possibilidade de fantasiar e refletir. A infância hoje se estende temporalmente e apesar disso lhe exigimos um acelerado desenvolvimento. A tutela dos pais e da escola se prolonga no tempo e, paradoxalmente, a condição infantil é contraída pelo: uso de uma linguagem adulta, do largo conhecimento das coisas e de experiências maduras. Forma-se um híbrido infantil e adulto, dependente e autônomo. O modelo edípico já não funciona com as mudanças nos papéis familiares e a ausência dos pais. Cria-se a criança aedípica. Essa “outra criança” emerge nas figuras de duas identidades sociais: a “criança violentada” e a “criança expropriada”. A primeira é aquela que aparece nas páginas dos jornais, marcada pela miséria e abandono. Essa infância é alvo de vigilância e intervenções corretivas. Cecília Coimbra (2001) nos ajuda a compreender a produção da “criança violentada”, apresentada por Corazza, quando fala das intervenções do Estado brasileiro sobre a infância no início do século XX. Atuava-se sobre a família através dos filhos. Os conceitos “científicos” de vício e degenerescência embasavam os ensinamentos dados às mães de noções de higiene física e moral. A maior preocupação era a infância pobre, que poderia vir a compor futuramente as “classes perigosas” e por isso era tida como a infância em perigo: “a que deveria ter suas virtualidades sob controle permanente” (COIMBRA, 2001:92). A “criança violentada”, de Corazza, é a própria atualização desse temor, é a infância perigosa, o “menor” infrator. O primeiro Código de Menores nasce em 1927, da aliança entre juristas e médicos. Nessa época o termo “menor” já não designava qualquer menor de idade, e sim aqueles pertencentes às classes pobres. Apesar de o Estatuto da Criança e do Adolescente ter retirado de seu texto a palavra “menor”, hoje essa marca ainda se impõe nas subjetividades brasileiras. O termo continua a ser utilizado inclusive por profissionais que trabalham em organizações especializadas, como o Juizado da Infância e Juventude, serviços de saúde ou assistência social. O vocábulo “menor” reforça tanto a percepção da infância como 27 28 de menor valor em relação ao adulto, quanto desqualifica a criança pobre frente a crianças de classes econômicas mais elevadas. Outra identidade infantil de que Corazza nos fala é a “criança expropriada”, produto da mídia e do consumo, da família e da sociedade. Ela é desapropriada do direito de viver sua idade, pois é conduzida em direção ao equilíbrio da maturidade. Essa infância já não necessita tanto da escola, pois está imersa no mundo do adulto através da televisão e do computador. A “criança expropriada” é sedentária e contemplativa, não cria, apenas recebe e incorpora. A escolarização colabora para a desapropriação da infância, tornando a criança mais adulta, mais racional, mais cedo. Corazza diz que, estranhamente, no “Mundo Infantil” se produz um “Mundo Adulto”, criando a figura do infantil adulto que não é tão contemporâneo quanto alertam os que afirmam o “fim da infância”, como Postman. “Pois não é de se espantar que o infantil, sujeitado sob múltiplas formas, pelo dispositivo de infantilidade, como dependente do Outro foi adultizado justamente pelo tipo de sujeição que lhe objetivou?” (CORAZZA, 2001:203). O “fim da infância” - associado à adultez, à Pedagogia e à escola – é tido como o atual nome da produção de infantilidade. Segundo Corazza, a anunciação do desaparecimento da infância carrega-a ainda mais do valor moral, controlando-a, reproduzindo um desgastado modelo de infância. A autora, após nos apresentar os argumentos de Postman, Trisciuzzi e Cambi como verdade, revira-os pela crítica. As análises de Guattari (2005) sobre a construção de uma infância, somada às histórias contadas por Ariès e Corazza, contribuem com o nosso estudo. Segundo ele, até a Revolução Francesa, a subjetividade era baseada em modos de produção territorializados7, como a família e os sistemas de castas. A produção de subjetividade infantil não era centrada no funcionamento da família conjugal. Com a emergência dos sistemas capitalistas, alguns modos de produção de subjetividade foram varridos do planeta. A delimitação de uma nova forma de individuação da subjetividade produziu a circunscrição da infância e o confinamento da família. 7 O conceito de território é caro às idéias de Deleuze e Guattari e se refere à forma como os sujeitos organizam-se, delimitando sua subjetividade. Cada território se articula com outros territórios e, pode ser relativo ao espaço vivido ou a um sistema em que o sujeito se sente “em casa”. “O território é sinônimo de apropriação, de subjetivação fechada em si mesma” (GUATTARI & ROLNIK, 2005:388). 28 29 Foucault (1979a), ao analisar a política de saúde européia do século XVIII, nos fornece mais linhas da história da infância. Devido ao grande crescimento demográfico nesta época, faz-se necessário um maior controle sobre a população. Portanto, cria-se uma tecnologia da população, que incluía, entre outras ações, o cálculo da pirâmide das idades. Esta nova tecnologia tem os corpos dos indivíduos e da população como fonte de diversas variáveis que tornam esses corpos mais ou menos úteis. À medida que os traços biológicos da população se tornam mais relevantes para a gestão econômica, a noso-política do século XVIII assume novas diretrizes: o privilégio da higiene e o funcionamento da medicina como instância de controle social; e o privilégio da infância e a medicalização da família. Além do problema “das crianças” – natalidade e mortalidade – emerge o problema da “infância” que visa a organização dessa fase em sua especificidade – sobrevivência até idade adulta, condições econômicas e físicas dessa sobrevivência e investimentos necessários para que esse período de desenvolvimento seja útil. As relações entre pais e filhos são codificadas segundo novas regras, embora as relações de submissão sejam mantidas. Novas obrigações se impõem à família: cuidados, contatos, proximidade atenta, higiene, vestuário limpo, amamentação dos bebês pela mãe, exercícios físicos etc. A família não deve ser mais apenas uma mera teia de transmissão de bens. “Deve-se tornar um meio físico denso, saturado, permanente, contínuo que envolva, mantenha e favoreça o corpo da criança” (FOUCAULT, 1979a:199). Busca-se com as melhores condições fabricar um ser humano maduro e, para que isso seja possível, a saúde das crianças torna-se um dos principais objetivos da família. Criam-se instituições especializadas no cuidado de crianças órfãs, que não contam com a família para assegurar sua saúde. As intervenções do poder, relativas à saúde do corpo social, operam sobre o corpo do indivíduo a partir da medicalização das famílias. Coimbra (2001) enfatiza o papel da medicina higienista no processo de associação da pobreza à criminalidade no Brasil. Segundo a autora, a mulher burguesa transformada em “rainha do lar” foi a grande aliada dos médicos higienistas, a partir do século XIX. Os filhos são alçados “de uma posição secundária e indiferenciada em relação ao mundo dos adultos, para a condição de figura central no interior da família, com espaço próprio e atenção especial, tornando-se o ‘reizinho da família’” (COIMBRA, 2001:90). Sob a tutela dos médicos – detentores do saber, que orientam 29 30 como cada um deve comportar-se, trabalhar, morar, comer, dormir, viver e morrer –, ordena-se o modelo de família nuclear burguesa brasileira. Essa tutela é especialmente direcionada aos pobres, que, na visão dos higienistas, eram portadores de “degenerescências”8. Objetivando transformá-los em corpos produtivos, implantava-se uma série de medidas de controle das classes pobres, agindo preferencialmente sobre a infância. Baseando-se na teoria de controle da população, através do poder sobre o corpo, apresentada por Foucault, Corazza (2000) conclui que a infância não se constituiu pela mudança de “mentalidade” das famílias, nem por uma institucionalização da educação na escola, que chama as crianças à razão a partir de um movimento de moralização, como afirma Ariès (1981) sobre o surgimento do “sentimento de infância”. As novas práticas de biopoder são tidas pela autora como responsáveis pela invenção da infância, como hoje a conhecemos. A família e a escola funcionaram como outras instituições disciplinares articuladas por táticas e estratégias. “Os agenciamentos concretos deste poder trabalharam em torno de um foco que, aliás, não foi específico das crianças, mas a elas atingiu fortemente: o domínio de si mesmas” (CORAZZA, 2001:225). Estão postas algumas linhas da produção da infância. Como afirma Foucault: “A pesquisa da proveniência não funda, muito pelo contrário: ela agita o que se percebia imóvel, ela fragmenta o que se pensava unido; ela mostra a heterogeneidade do que se imaginava em conformidade consigo mesmo” (1979b:21). Apesar do “fim da infância” ter sido anunciado, a infância recupera o vigor a partir de seu próprio enfraquecimento e se transforma. As idéias associadas ao “fim da infância”, aclamadas pelo pânico da infância roubada ou inocência perdida, são carregas de nostalgia de uma infância que já 8 Os ideais eugênicos – que visam o aperfeiçoamento da espécie humana pela eliminação de traços decadentes de certas raças – foram a base das teorias de “degenerescências” e das teorias racistas que tiveram seu apogeu na Europa, na segunda metade do século XIX. No Brasil, muitos foram e são adeptos a essas teorias. No fim do século XIX, alguns expoentes da ciência brasileira entendiam os mestiços como débeis, degradados e suscetíveis a doenças. Defendia-se a esterilização da população pobre que não fosse trabalhadora. Ainda no século XIX, o movimento higienista brasileiro extrapola o meio médico, se espalha pela sociedade e ganha aliados. Em 1920, é criada a “Liga Brasileira de Higiene Mental” que prega o aperfeiçoamento da raça e se coloca contra mestiços e negros. A elite científica brasileira busca eliminar a “degradação moral”, associada à pobreza e seus vícios (COIMBRA, 2001). 30 31 não é. Abandonando esse ultrapassado modelo idealizado, podemos imaginar e produzir uma outra infância, que não seja cronológica, que não seja calcada em relações de dominação, que se desprenda da dualidade adulto/criança, uma infância que nos invada, que nos renove, nos faça re-nascer abrindo mão de identidades e instituições. 31 32 III – O ESTRANHAR DA CRIANÇA E O NOSSO ESTRANHAMENTO FRENTE AO INFANTIL As crianças ora nos cativam, ora nos chocam, com sua sinceridade e ingenuidade. Elas enxergam a vida de uma ótica muito distinta dos adultos, por uma lógica que não é menos verdadeira do que a dominante e que não cessa de nos surpreender, se nos pusermos disponíveis à afecção9. A curiosidade e a sensibilidade infantis levam as crianças a investigar o nosso mundo. Como a história genealógica, que não aceita o “desde sempre aí” e pesquisa a produção do presente, as crianças não aceitam o enunciado “as coisas são assim porque são”. Elas estranham, questionam, analisam e experimentam. A criança estranha o em baixo e o em cima, e a lua no céu. Uma criança que vive em uma casa e não tem o hábito de freqüentar prédios, quando vai a um apartamento se surpreende com a rua e os carros lá embaixo. Maravilhada, nos aponta tudo que se passa abaixo. Não entendemos o porquê de tanto estardalhaço e insistência ao nos mostrar repetidamente o que para nós é tão normal. A criança se espanta e ri vendo as pessoas na varanda do andar de cima e ainda mais acima, a lua! Sorrindo, ela dá tchau para a lua, pula. Quanta alegria! Facilmente estranhamos o que difere, como a singularidade infantil. O novo nos espanta. Na infância tudo é novidade. No entanto, a criança se entrega na descoberta e no encontro com a alteridade. A criança se encanta com o que destoa do que, para ela, é comum e estranha o que, para nós, já está mais do que naturalizado. Temos grande dificuldade em lidar com a diferença, com o outro, aquele que não sou eu. Negamos o outro. Isso não difere quando nos relacionamos com as crianças, “esses seres estranhos dos quais nada se sabe, esses seres selvagens que não entendem a nossa língua” (LARROSA, 1998:67). Jorge Larrosa afirma que a infância é o outro: a 9 O corpo humano é apto a afetar e ser afetado. Afecção, um conceito de Espinosa, é o efeito num corpo de sua interação com outro corpo, não necessariamente humano. A afecção depende da natureza do corpo que afeta, e da natureza e situação do corpo afetado. A afecção pela qual a potência de agir de um corpo é aumentada ou diminuída é denominada afecto (GLEIZER, 2005). Portanto, colocar-se disponível à afecção é se entregar no encontro com o outro, de modo a estar aberto à transformação. 32 33 absoluta heterogeneidade. “Aí está a vertigem: na maneira como a alteridade da infância nos leva a uma região na qual não regem as medidas de nosso saber e de nosso poder” (Idem:70). O autor fala de nossas expectativas em relação a uma criança que está para nascer. Vemos na infância a matéria-prima da realização de nossos sonhos. A tomamos como expressão de nós mesmos, do que somos ou queríamos ser. O nascimento é visto como continuidade cronológica do desenvolvimento e história da humanidade e não como acontecimento. No entanto, o nascimento frustra nossos projetos, pois é a origem absoluta, não é antecipável nem previsível, é a extrema descontinuidade conosco, interrompendo toda cronologia. O poeta Manoel de Barros escreve sobre o momento em que contou aos pais, através de uma carta, que não queria ser doutor de curar, nem doutor de fazer casa ou medir terras. Ele desejava ser fraseador. “Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça” (BARROS, 2003). A infância não materializa nossos desejos, nem cumpre nossas metas. A criança dissolve a solidez de nossas crenças e a certeza de nós mesmos. Ela sempre nos surpreende. Damos-lhe brinquedos caros, último lançamento. A criança abandona os brinquedos e se farta com o papel do embrulho, suas cores, brilhos e barulhos produzidos quando manipulado. Seu comportamento escapa ao esperado, mas às vezes nem isso é suficiente para nos surpreender. Consideramos como coisa da idade, comportamento errante, sem sentido, “infantil”, em suma. Caterina Lloret (1998) afirma que há uma disposição hierárquica dos grupos etários que tem seu ápice na fase adulta masculina. Ariès (1981) discorre sobre a iconografia das idades da vida. Para o autor, a popularidade dessas figuras estava ligada à idéia de que a vida é dividida em fases bem definidas, correspondentes não apenas a etapas biológicas, mas demarcadoras de funções sociais. Nessas imagens, a figura da criança aparece no início da curva, em sua parte mais baixa – como a velhice ao fim da curva. Freqüentemente ela é desenhada engatinhando, o que simboliza, segundo Lloret, os atributos e possibilidades que ela ainda não tem. Quando a infância é vista como o outro do adulto, como a sua ausência, ela é reduzida a uma negatividade. Assim, não se enxerga a positividade da infância, sua potência, sua afirmatividade. Esse reducionismo é realizado com outras minorias como a mulher, o outro do masculino; a loucura, a falta da razão; o ancião, não-adulto ou 33 34 adulto em decadência; a doença, ausência de saúde; algumas etnias, os não-brancos; e o pobre, aquele que é desprovido de riqueza. Segundo Corazza (2000), a infância, enquanto figura antropológica, é identificada com essas minorias. A associação da infância ao feminino é marcada nos trajes infantis dos séculos XVII e XVIII, na Europa (ARIÈS, 1981). Tanto meninos quanto meninas vestiam roupas femininas. O menino, quando crescia, passava a trajar-se como o homem. A menina não se diferenciava da mulher pelas vestimentas e também não freqüentava a escola, apesar de o menino fazê-lo desde o século XVI. Ela era preparada para o casamento, desde nova, ou contratada como serviçal. Sua educação se dava no lar. A especialização das meninas só ocorreria mais recentemente, na história da infância. Isso marca a infantilização da mulher e a efeminização da infância. “Pior do que uma mulher somente uma criança” (TUCKER apud CORAZZA, 2000:148). Ariès (1981) estabelece uma relação entre o sentimento de infância e o sentimento de classe. Antes do século XVII, as brincadeiras e jogos dos adultos eram os mesmos das crianças. Quando a idéia de nobreza foi constituída, passou-se a distinguir os jogos de adultos e fidalgos, dos jogos mais simples, reservados às crianças e plebeus. O mesmo ocorreu com os contos de fada, que, antes apreciados por pessoas de qualquer idade, passaram a ser considerados infantis. Os jogos, trajes, contos, roupas de fantasia, danças e outras atividades, antes apreciadas por adultos, passam a ser restritas às crianças e classes mais baixas. Isso pode ser visto em relação aos brinquedos infantis. Por exemplo, a representação das coisas em formas reduzidas era uma arte popular que se tornou brincadeira de criança. As antigas danças coletivas da corte subsistiram no campo e nas rodas infantis. O homem do povo vestia roupas doadas; portanto, trajava a moda do homem de sociedade de algumas décadas anteriores (ARIÈS, 1981), como as crianças. A infância é associada à pobreza e ao passado do adulto nobre - o seu resto, o que deixou para trás, o que ultrapassou. No século XVIII, quando já havia uma distinção entre as idades, a incapacidade de raciocínio, na infância, era chamada de “besteira” ou “patetice” e, se era estendida ou surgia no adulto, denominava-se “imbecilidade”. Os loucos “estão abaixo da idade da razão, como as crianças de menos de sete anos” (FOUCAULT, apud CORAZZA, 2000:153). A loucura é tida como uma infância social e psicológica. Corazza percebe uma analogia entre a arte de educar as crianças e a de cuidar dos alienados. 34 35 Do mesmo modo, o adoecimento é considerado uma infantilização do homem. O doente necessita de cuidados e proteção do mesmo modo que as crianças. Segundo Focault, a Psicanálise identifica o doente ao primitivo e à infância ao teorizar o desenvolvimento libidinal (CORAZZA, 2000). A doença mental, nessa concepção, é uma regressão a comportamentos infantis. A regressão seria uma fuga dos conflitos presentes pelo retorno a uma vida passada, mais protegida. Corazza (2000) denomina “figura regressiva” a imagem que associa a infância ao patológico, louco, anormal e criminoso, por estes rótulos provocarem um retorno à menoridade jurídica e à inferioridade subjetiva, o infantilismo. A criança é vista por nós como deficientes em relação ao desenvolvimento físico e cognitivo de um adulto, e desqualificamos suas produções como o fazemos com a loucura. Percebemos a vida como continuidade e a infância como fase transitória e evolutiva – da negatividade à positividade. Não vemos o que há de positivo na infância, o que há de acontecimento. Com a desqualificação da infância, as falas infantis são desvalorizadas. “As palavras mais simples são as mais difíceis de ouvir. Em seguida, achamos que a entendemos e imediatamente, sem prestar ouvidos, as abandonamos e passamos a outra coisa” (LARROSA, 1998:71) - assim lidamos com a fala e as ações das crianças, por nos parecerem simples, pueris. Não percebemos sua riqueza. Segundo Larrosa, a simplicidade não oferece obstáculo ao nosso saber; logo, é ignorada por este. “As perguntas das crianças são mal compreendidas enquanto não se enxerga nelas perguntas-máquinas10” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:42). “Por que você é flamengo E meu pai botafogo? O que significa "impávido colosso"? Por que os ossos doem Enquanto a gente dorme? Por que que os dentes caem? Por onde os filhos saem? 10 Máquina, conceito de Deleuze e Guattari, difere de mecânica, pois é comparável a espécies vivas. As máquinas funcionam por agregação ou agenciamento. “Elas engendram-se umas às outras, selecionam-se, eliminam-se, fazendo aparecer novas linhas de potencialidade” (GUATTARI & ROLNIK, 2005:385). 35 36 Por que os dedos murcham Quando estou no banho? Por que as ruas enchem Quando está chovendo? Quanto é mil trilhões Vezes infinito? Quem é Jesus Cristo? Onde estão meus primos? Well, well, well Gabriel... Por que o fogo queima? Por que a lua é branca? Por que a terra roda? Por que deitar agora? Por que as cobras matam? Por que o vidro embaça? Por que você se pinta? Por que o tempo passa? Por que que a gente espirra? Por que as unhas crescem? Por que o sangue corre? Por que que a gente morre? Do que é feita a nuvem ? Do que é feita a neve? Como é que se escreve Reveillòn? well, well, well, Gabriel...”11 Apesar das perguntas acima se referirem a substantivos por artigos determinados, como “os dentes”, elas indagam sobre todo dente, ou qualquer dente, ou nenhum dente específico. Gilles Deleuze e Felix Guattari (1997) afirmam que as questões das crianças são direcionadas a artigos indefinidos – por exemplo, “como que uma pessoa é feita?”. Eles afirmam que as crianças utilizam o indefinido não no sentido de indeterminação e sim de um individuante em um coletivo. Um enunciado indefinido – “morre-se”, “é triste” – é remetido a um agenciamento coletivo de enunciação, não a um sujeito de enunciação. Entretanto, a psicanálise busca sentidos definidos por trás dos indefinidos. “Quando a criança diz ‘um ventre’, ‘um cavalo’, ‘como as pessoas crescem?’, ‘bate-se numa criança’, o psicanalista ouve ‘meu ventre’, ‘o pai’, ‘ficarei grande como meu pai?’. O psicanalista pergunta: quem está sendo batido e por quem?” 11 36 Letra da música Oito anos de Dunga e Paula Toller, gravada por 37 (DELEUZE & GUATTARI, 1997:52). Os autores retomam um caso analisado por Freud, o pequeno Hans. Quando Hans fala de um “faz-pipi”, ele não se refere a uma função orgânica ou a um órgão, mas a um material, um conjunto de elementos que realizam conexões, que variam de acordo com suas relações de movimento e repouso. “Uma menina tem um faz-pipi? O menino diz sim, e não é por analogia, nem para conjurar o medo da castração. As meninas têm evidentemente um faz-pipi, pois elas fazem pipi efetivamente” (Idem:41). Apenas o material não entra no mesmo agenciamento na menina e no menino. Por esse modo de operar infantil, de se referir ao material ao invés de à forma, de indefinir, de fazer perguntas-máquinas, Deleuze e Guattari (1997) consideram as crianças espinosistas. Para a criança nada é obvio ou natural. Tudo a inquieta. Então nos enche de perguntas. Enfadados com tantos “por quês?” - “Well, well, well, Gabriel...” -, respondemos: porque sim. Todavia, essa resposta-cala-a-boca não contenta a criança. Ela quer compreender os mecanismos, os sentidos, não quer uma regra, tipo é assim porque é. No programa infantil de televisão Castelo Rá-tim-bum, há um quadro que se destina a responder às curiosidades que surgem durante as aventuras das crianças que são personagens do programa. A música-tema desse quadro canta: “- Porque sim não é resposta... "O que você quer saber?' Eu quero saber por quê que a gente grita Eu quero saber por quê Tem grito de chamar, tem grito de avisar, tem grito de bravo, e grito de con ten te Tem grito de rock, tem grito de ópera, tem grito de guerra, grito de gol, tem grito de menina quando vê barata aaaai grito de horror quero saber por quê quero saber Adriana Partimpim. 37 38 por que que o galo grita, araponga também grita, ganso, macaco, elefante, baleia, todo mundo grita desde a idade da pedra com os dinossauros uhhhhrrrauuu quero saber por quê quero saber por quê quero saber tem grito de Tarzan, tem grito karate, tem grito de mãe e grito de bebê Tem grito de Dom Pedro no Ipiranga e tem o grito de assusTAR quero saber por quê quero saber por quê quero saber "A gente grita porque tem coisas que só o grito consegue dizer.. Entenderam o porquê?-"”12 O personagem que responde às perguntas é um cientista. Entretanto, nem todas as questões levantadas pelas crianças têm explicações científicas. A pergunta “por que a gente grita?” é respondida na música de maneira pouco científica, quase poeticamente. Então, por que cabe à ciência solucionar os questionamentos infantis? A razão tecnocientífica, que rege a nossa sociedade, tem um modelo positivo de verdade compreendida como correspondência entre os fatos e as proposições (LARROSA, 1998). Os saberes científicos determinam o que são as coisas que foram tomadas como objeto de conhecimento. A infância foi convertida em objeto de estudo e reduzida ao que os nossos saberes podem objetivar e nossas práticas podem submeter, dominar e produzir. A criança, como figura da ciência, se tornou “objeto de poder de discursos, um saber positivado, uma subjetividade descrita, mas que não sustenta discursos sobre si mesmo” (CORAZZA, 2000: 36). É vedado à criança o saber sobre si, pois este pertence à ciência. Especialistas trabalham para reduzir o que há de desconhecido nas crianças e para controlar o que há de selvagem nelas. Foucault (1987) afirma que saber e poder estão diretamente implicados. As relações de poder se apóiam em campos de conhecimento e os produzem. Congruentemente, os saberes constituem relações de poder e imprescindem destas. 12 38 Letra da música Porque sim não é resposta de Hélio Ziskind. 39 Corazza (2000) afirma que o enfraquecimento do papel da família é construído junto à demanda por especialistas – professores, médicos, psicólogos, assistentes sociais etc. –, que detêm a verdade sobre as crianças e dizem à própria família (já outra, portanto) o que e como fazer no cotidiano com seus filhos. “Essa necessidade de aconselhamento e de orientação implica uma perda da intimidade, da dependência filialpaterno e da confiança que caracterizam as antigas relações pais-filhos” (CORAZZA, 2000:195). As instituições passam a entender mais sobre as crianças do que as suas famílias. Segundo Larrosa (1998), a psicologia infantil descreve e a pedagogia dirige. Virgínia Kastrup (2000) questiona as teorias de desenvolvimento que vigoram no campo dos estudos da cognição. Essas teorias são baseadas numa noção de desenvolvimento que se assemelha à noção biológica de evolução. Ela é calcada em um tempo cronológico, seqüencial e histórico, em que as estruturas cognitivas são construídas sucessivamente. Desse modo, as teorias de desenvolvimento tomam o “adulto como ponto de chegada” das transformações cognitivas ocorridas na infância. A idéia de progresso é marcante nesse raciocínio. Assim, a cognição infantil é vista como deficiente frente à cognição adulta. Uma dessas teorias é o construtivismo de Jean Piaget. O teórico “caracteriza a criança por certas estruturas intelectuais que tendem a ser integradas e subordinadas ao modo adulto de conhecer” (KASTRUP, 2000:374). As estruturas cognitivas, que vão sendo adquiridas pela criança, levam-na a ultrapassar estágios anteriores e a alcançar estágios hierarquicamente superiores, superando o déficit intelectual caracteristicamente infantil representado em categorias negativas como ausência de função simbólica, inteligência pré-operatória, pré-lógica e irreversibilidade das formas. Nesse ponto de vista, desenvolver-se é superar deficiências e alcançar um fechamento do sistema cognitivo. “O desenvolvimento ultrapassa e deixa para trás a criança, pensada sob a forma de estruturas intelectuais mais rígidas e pobres” (Idem: 374). Logo, a infância é vista como uma fase de preparação para a forma de conhecer e pensar adulta. Kastrup afirma que essas teorias se dedicam a responder à seguinte questão: “o que falta à criança para pensar como um cientista?” (Idem:374). Em busca de transformar a criança levando-a à idade da razão, utilizam-se dispositivos de adultização do infantil (CORAZZA, 2000). Essa forma de compreender o desenvolvimento humano é empregada na pedagogia e atravessa os processos de subjetivação, marcando o modo de nos 39 40 relacionarmos com a infância. Nós, adultos, vemos a criança como algo a ser integrado no nosso mundo, para que se torne como nós, ou como nós gostaríamos de ser. Mata-se a infância em favor do progresso, desenvolvimento, futuro e competitividade. Só vemos na criança o que esperamos dela: desenvolvimento adequado ou desviante. Obcecados por um ideal de infância, diante de uma criança real só podemos enxergar duas possibilidades: a criança modelo ou a criança fracassada. E o que não sabemos sobre a infância? Há espaço para a criação, produção, diferença? Apesar de toda a objetificação da infância, ela nos escapa, escapa ao nosso saber e ao nosso poder. A infância como algo outro, de que nos fala Larrosa (1998), não pode ser tomada como objeto de saber, pois é absoluta diferença em relação a nós e a nosso mundo. A infância “inquieta a segurança de nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio no qual se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de acolhida” (LARROSA, 1998:69). A criança nunca está no lugar que lhe damos, mas devemos abrir um lugar que a receba sem reduzi-la à lógica que rege nossa casa. Devemos recebê-la de modo a possibilitar o encontro com a alteridade, com a presença enigmática. No entanto, no paradigma da inclusão, não acolhemos a diferença, apenas reconhecemos que os diferentes merecem fazer parte do nosso mundo. Personificamos a diferença, enclausurando-a no corpo de um sujeito estigmatizado e tentamos tolerá-lo. Não aprendemos com a alteridade para modificar a nós mesmos. Fazendo compras em um shopping center, vi uma menina parar e cheirar as flores. Achei a cena muito peculiar, afinal nunca vira ninguém dar atenção às tímidas flores que decoram um shopping. Todos caminham por ali atentos às vitrines e promoções nelas anunciadas. Ninguém vai a um estabelecimento como esse esperando admirar flores; se esse fosse o objetivo, se iria a um parque. Todavia, uma criança não se importa com a função de um shopping, ou com as ofertas instituidamente oferecidas. A criança não respeita as convenções sociais. Se ela estranha o cheiro na casa de alguém, não se contém e fala: que cheiro ruim! - constrangendo terrivelmente seus pais. A criança se atém aos detalhes que nos parecem insignificantes, como uma lesma que diariamente se desprega de sua concha e sobe numa pedra13. Admirei o ato da 13 Manoel de Barros recorda, em suas memórias infantis inventadas, que tinha fascínio em assistir essa cena (BARROS, 2003). 40 41 menina, mas estava com muita pressa e cansaço para acompanhá-la e descobrir como cheiravam as flores de um shopping. Apenas a observei da escada rolante e fiquei me questionando sobre o sentido da minha tarde de compras. O pai parecia inquieto e sem paciência para esperar a filha. A tolice infantil retardava seus objetivos de consumo. Uma das figuras da infância, para Corazza, é a figura histórica negativa: “o Outro, desordem da razão, o inumano, o anormal: na Geografia do Mal, negado, abandonado, excluído, confinado, educado” (2000:36). Essa desqualificação da infância é ainda mais extrema no caso de crianças ditas deficientes mentais. Não há nada mais estranho do que o comportamento ou os interesses de um autista – o abrir e fechar de uma porta; a água que sai de uma torneira; o girar de um ventilador –, mas rapidamente os naturalizamos. Como especialistas, os nomeamos de estereotipias; como familiares, os chamamos de manias. A criança autista é a mais absoluta alteridade. Ela se recusa a falar, não atende nossas demandas, raramente constrói estranhos laços sociais, não se comporta como adulto, tampouco como esperaríamos de uma criança, entretém-se em brincadeiras que seriam tidas como normais para uma criança de um ano de idade (mas percebemos como bizarras após uma certa idade), parece se fechar num mundo à parte, imersa em pensamentos inimagináveis, balança-se repetidamente com o olhar fixo. Loucura? Deficiência mental? Portadora de grave sofrimento psíquico? Como saber se uma criança que pouco se comunica sofre? Podemos qualificar o nosso modo de viver e de se relacionar de mais saudável do que o modo dos autistas? Como agrupar crianças tão singulares num só rótulo? Vemos a infância apenas pela ótica do saber que inventamos sobre ela, mas a infância se reinventa apesar de nós. Chamamos a sua invenção de desvio. Enquanto especialistas, rotulamos a diferença de hiperatividade ou dificuldade de aprendizagem, por exemplo. A família chama a divergência de desobediência. A criança testa os limites e regras. Ela experimenta, verifica os efeitos de suas ações. Nós estabelecemos as regras, não deixando espaço para questionamento, diálogo ou estranhamento, mas a criança rompe com nossas imposições, nos desobedece e cria. As famílias freqüentemente dirigem à psicologia demandas de disciplinamento. Os pais, incapazes de conter seus filhos, queixam-se do comportamento desregrado da criança, que não atende às suas expectativas, que não age como o desejado, que repete 41 42 palavrões aprendidos fora de casa, que se revolta, é agressiva e desobediente. Após utilizar todos os recursos de que dispõe e não obter sucesso no controle de seu filho, a família se volta para o especialista, em geral psicólogo ou psiquiatra, em busca de alguém que “dê conta”. Evitando a culpa por seu fracasso, os pais buscam diagnósticos de transtorno neurológico ou mental que justifiquem o mau comportamento infantil. Eles esperam encontrar no consultório a solução mágica, de preferência em forma de medicamento que cure a desobediência, ou ao menos diminua a agitação. A escola também não tem sabido lidar com o comportamento das crianças. Os professores culpam a família por não educar apropriadamente seus filhos. No entanto, não é só a forma como os alunos se portam que tem incomodado os educadores. As crianças não estão aprendendo, não atingem as metas estabelecidas pela escola. Mais uma vez os professores culpam a família por não acompanhar o aprendizado do filho, ou buscam distúrbios que justifiquem o não-aprender. Um grupo de professoras da mesma escola reclama de dez irmãos que estudaram ali e apresentam os mesmos problemas. Localizam na educação familiar e na genética a causa desses problemas. Entretanto, não questionam a participação da escola nessa questão - afinal as dez crianças freqüentaram essa mesma instituição. Escola e família não se implicam nas queixas que fazem. Agem como se a produção da criança-problema não as envolvesse. Todo o fracasso é localizado no corpo infantil, que deve ser encaminhado para um especialista que o trate e o conserte. Percebe-se a criança desconectada do seu contexto. Não se analisam as relações pais/filho, professor/aluno, televisão/espectador, comunidade/morador, saber/objeto, mercado/consumidor, especialista/paciente, polícia/“menor”, Estado/cidadão, entre outras inserções da criança no mundo. Não consideramos a perspectiva infantil. Consideramos a nossa visão de cima, do adulto, do homem crescido, a correta, a visão que um dia a criança alcançará com o seu desenvolvimento progressivo. Além do poder-saber que exercemos sobre a infância, o que garante o nosso modo de entender o mundo como superior ao modo infantil? Lembro que durante minha adolescência voltei ao prédio em que vivi até os oito anos de idade. Estranhei aquele espaço. Tudo parecia muito menor do que na minha memória. Os prédios, a área livre pela qual corria, tudo parecia pequenino. A grade pela qual enfiava meu rosto quando pequena agora terminava na altura do meu peito. No 42 43 bloco que subia com grande esforço, agora facilmente apoiaria o pé. Toda aquela área e arquitetura que eu enxergava dos meus poucos centímetros de altura era percebida muito maior, na minha infância, do que depois de crescida na adolescência. Afinal, qual é o real tamanho do prédio? Isso poderia ser verificado por um engenheiro ou arquiteto com medidas precisas, embora o que realmente importe para as pessoas que freqüentam aquele lugar seja a forma como o percebem. Manoel de Barros, inventando memórias, diz: “Acho que o quintal onde a gente brincou é maior do que a cidade. A gente só descobre isso depois de grande. A gente descobre que o tamanho das coisas há que ser medido pela intimidade que temos com as coisas” (BARROS, 2003). A percepção é sempre parcial, posicionada, subjetiva. Precisamos apenas reconhecer que as perspectivas variam e acolher a singularidade da perspectiva infantil. A criança tem outra perspectiva do tempo. Uma menina estranha porque não estava na foto de casamento de seus pais, questiona e chora por não ter participado. Ela não era nascida, então, mas essa cronologia não faz sentido para crianças pequenas. A mãe responde: “se você estivesse lá sua avó teria me matado”. A expectativa social da época, de que a mulher casasse virgem e posterior ao casamento ocorresse a gravidez, é ignorada pela criança. Outra criança conta histórias que sempre começam por “quando eu era grande...”. O menino diz que quando era grande alcançava o registro do chuveiro e empurrava a irmã mais velha no carrinho de bebê. Se a maioria das pessoas que o cercam é grande e ele é pequeno, conclui que um dia também já foi grande. Em sua concepção, passado, presente e futuro não se sucedem linearmente. Não há uma lógica que diga que ele não era nascido quando sua irmã mais velha era bebê. O filósofo Walter Kohan (2007) retoma três palavras do grego clássico que designam tempo, com diferentes sentidos: chrónos, kairós e aión. A primeira representa a continuidade de um tempo em que o depois sucede o antes, em que o passado é substituído pelo presente, que por sua vez cede seu lugar ao futuro. Kairós tem o sentido de medida, proporção, momento crítico, oportunidade. E finalmente, aión representa “a intensidade do tempo da vida humana, um destino, uma duração, uma temporalidade não-numerável nem sucessiva, intensiva” (KOHAN, 2003:86). Em seu fragmento 52, Heráclito afirma “aión é uma criança que brinca (literalmente, ‘criançando’), seu reino é o de uma criança” (KOHAN, 2003:86). Diferente da lógica do chrónos, que segue os 43 44 números, a criança brinca com os números e faz um outro tempo. Quando eu era criança e visitava meus primos, passávamos horas preparando nossas brincadeiras. Quando finalmente estávamos prontos para começar, meus pais vinham me chamar para ir embora. Isso sempre acontecia. Não programávamos o tempo de preparação para que fosse possível aproveitar o jogo. Nós nos demorávamos o quanto pensávamos necessário, pois nosso tempo não era medido pelo relógio. Entretanto o tempo dos adultos é cronometrado e eles tinham outros planos, a hora urgia e eram eles que decidiam quanto à hora de ir, o fim da brincadeira. O tempo adulto reina em nossa sociedade. Cabe à criança encontrar brechas temporais para vivenciar o tempo à sua maneira. Deleuze diferencia dois tipos de temporalidade (KOHAN, 2007). De um lado está a história, sucessão contínua de efeitos de um acontecimento, o conjunto de condições que possibilitam uma experiência, e do outro lado temos o devir, a própria experiência, o acontecimento, o descontínuo, a criação, o intempestivo. A temporalidade infantil não é histórica. A criança praticamente não tem passado. Não ativa muitas memórias, nem dá grande importância ao futuro. Ela não tem uma percepção do tempo a longo prazo, como os adultos. Se lhe dizemos que irá ao zoológico no domingo, todos os dias ela perguntará “hoje já é domingo?”. Afinal, é o hoje que lhe importa. O tempo infantil é o presente, o momento do acontecimento. Kastrup credita ao “fato da criança carregar consigo menos história e também menos um projeto de ação que o adulto, mas nem por isso aguardar por eles para orientar suas ações” o modo da criança “viver mais plenamente a experiência que se dá no presente imediato e aí encontrar o impulso que a inclina para o futuro” (2000:379). A concepção de tempo do filósofo Bergson, de que nos fala Kastrup (2000), difere da idéia do tempo cronológico, pois defende uma coexistência de todos os tempos. Assim, passado, presente e futuro paradoxalmente subsistem como coexistência virtual. Essa noção de tempo se assemelha ao modo como o tempo é vivenciado na infância. Talvez as crianças não sejam apenas espinosistas, mas também bergsonianas. Ou talvez sejam esses filósofos que experimentem o movimento da criança e inventem conceitos a partir disso. Para a criança não há espera. Um adulto numa fila ou sala de espera fica 44 45 estressado remoendo a perda de tempo e planejando suas ações quando voltar a ter controle do uso de seu tempo. A criança não tolera a espera, ela brinca com o tempo. Enquanto o adulto está preso naquele espaço-tempo de espera, a criança que o acompanha se utiliza dos elementos daquele espaço e estabelece novos agenciamentos. Ela transforma os objetos em peças de um jogo e cria novas conexões. Todavia, o adulto não suporta o comportamento da criança, que não condiz com as normas prescritas daquele lugar, e incomoda-se que ela tome os objetos distorcendo suas funções. Logo ordena: “Não mexa! Fique quieta”. Essa relação diferenciada que a criança tem com o tempo possibilita outros modos de viver. Ela vivencia o seu cotidiano num ritmo diferenciado. Esse ritmo não é comandado pelas exigências do mercado, ou pelas instituições – ao menos quando a infância não está aprisionada em uma instituição. No reino infantil, não há consecutividade. As suas velocidades e lentidões atendem à experiência. O que impera é a intensidade da duração. Se algo chama a atenção de uma criança, nada mais importa, ela pára para observar e experimentar. Essa outra relação com o tempo favorece o estranhar, não só do que se destaca pela alteridade, mas também do que se repete automática e monotonamente. No entanto, as imposições a que submetemos a infância impedem essa experimentação do tempo. A institucionalização da infância na escola molda-a ao tempo serializado: hora de fazer fila, hora de fazer o dever, hora de brincar etc. Seu tempo é preenchido não só pela escola, mas inclui outras atividades programadas, como cursos e esporte, para sua boa formação ou para não dar trabalho aos adultos, além da televisão que cronometra a duração dos programas infantis intercalando-os com propagandas. Desse modo, não resta à criança tempo para ser vivido livremente. Não há mais tempo para imaginar ou estranhar. Assim, é compreensível que muitas crianças hoje não passem pela famosa fase dos “por quês?”. A criança é adestrada a nada questionar, a não surpreender, nem criar. Quando adultos, já conhecemos os protocolos comportamentais: sabemos o que devemos fazer, em que momento e de que modo. Temos regras de etiqueta. Precisamos nos portar apropriadamente em cada situação para garantir a boa convivência. Só falamos com um estranho o mínimo necessário – cumprimentamos, pedimos uma informação. Entretanto, quando nos deparamos com uma criança estranha, falamos com 45 46 ela, brincamos, fazemos caretas. Imagine-se sorrir para um adulto qualquer na rua, passar a mão em seus cabelos e fazer caretas até ele rir. Nunca nos exporíamos a tal “ridículo”. Imagine a reação da pessoa. No entanto, nos permitimos fazer essas mesmas coisas quando se trata de uma criança. Apesar dessa liberdade que gostamos de exercer ao brincar com uma criança estranha, elas são ensinadas a não falar com estranhos. Essa regra tem ganhado maior importância com os altos índices de violência em nossa sociedade, especialmente no contexto urbano em que o medo encoraja uma certa paranóia, já naturalizada. Nós, moradores das metrópoles, ao ver alguém confiando em estranhos, consideramos seu comportamento ingênuo e, identificamos a pessoa como estrangeira à cidade grande, pois quem aqui vive sabe se comportar desconfiada e reservadamente. Logo, reforça-se a idéia de que é preciso evitar comunicar-se com estranhos. O que se torna uma proibição enfática no caso das crianças, por serem consideradas frágeis e mais suscetíveis ao mal que o estranho potencialmente oferece. As crianças só podem ser adultizadas por adultos confiáveis, que às vezes são restritos aos pais. Popularizam-se cada vez mais as câmeras que vigiam babás, cuidadores de creches e professores. A família sente necessidade de monitorar tudo que ocorre com seu filho, afinal todos somos permanente regulados em nossa sociedade de controle14. Quando se abre mão do medo do outro, do desconhecido e, possibilitamos a conexão da criança com o adulto, o encontro pode ser potente. A criança nos convida a sair do nosso protocolo de adulto sério e a bancar o bobo no meio da rua. A infância tem uma força que nos possibilita livrar-nos das regras e instituições. 14 Segundo Deleuze (1992a, 1992b), as sociedades disciplinares, apresentadas por Foucault, tiveram seu apogeu no século XX e vêm sendo substituídas pelas sociedades de controle. Aquelas tinham como importante mecanismo o confinamento, mas nestas o controle se dá continuamente em meios abertos e a comunicação instantânea é um valioso dispositivo. 46 47 IV – EMPODERAR-SE DO ESTRANHAR INFANTIL: DEVIR-CRIANÇA Kohan (2007) afirma que Platão inaugurou a tradição filosófica que tem como referência um modelo transcendental do homem. Desse modo, também há um modelo de educação da infância, a fim de transformá-la em direção a esse modelo supostamente eterno de homem. Platão atribui à infância a possibilidade frente à realidade, entendendo-a como o material para a realização de uma utopia política, através da educação apropriada. O filósofo grego também caracteriza a infância como inferior ao modo adulto, daí a necessidade de excluí-la de certos âmbitos, como o próprio âmbito político. Esse entendimento da infância como negatividade é compartilhado por outros pensadores, entre eles Aristóteles e Kant. A infância da palavra infância, em sua etimologia, é também observada por Kohan (2007). O nascimento deste significante está ligado a normas e ao direito. A palavra advém do termo infans, formado pelo prefixo privativo, in, e fari, “falar”, redundando assim no sentido “o que não fala”. O substantivo infantia, que daí deriva, significa incapacidade de falar. Portanto, no seu nascimento (infância...), a palavra infância era associada a uma falta: a incapacidade de falar. “Infans não remete especificamente à criança pequena que não adquiriu ainda a capacidade de falar, mas se refere aos que, por sua minoridade, não estão ainda habilitados para testemunhar nos tribunais: infans é assim ‘o que não se pode valer de sua palavra para dar testemunho’” (CASTELLO, MÁRSICO, apud KOHAN, 2007:100) A perspectiva da infância enquanto falta iluminou e ilumina os ideários pedagógicos, saberes científicos, discursos filosóficos e ainda hoje é marcante na produção de subjetividade. No entanto, existem outros modos de compreender a infância que divergem dessa concepção dominante, modos que não percebem a infância em comparação a um modelo. Quanto a isso, Larrosa afirma: “a verdade da infância não está no que dizemos dela, mas no que ela nos diz do próprio acontecimento de sua aparição entre nós como algo novo” (1983:83). Valoriza-se assim a expressão infantil, que pode se dar através da fala ou por meios não-verbais. Para o autor, a criança é singular, irrepetível, pura diferença, irredutível a qualquer conceito ou causa, é condição e fundamento. Larrosa 47 48 diz não ser possível representar o outro; podemos, sim, pintar a imagem do encontro com o outro, uma imagem poética. O encontro com a infância não é um mero reconhecimento do já sabido, ou sua apropriação, mas um face-a-face com a autêntica experiência. É deparar-se com o desconhecido. “O sujeito do reconhecimento á aquele que não á capaz de ver outra coisa que a si mesmo, aquele que percebe o que lhe sai ao encontro a partir do que quer, do que sabe, do que imagina, do que necessita, do que deseja ou espera. O sujeito da apropriação é aquele que devora tudo o que encontra, convertendo-o em algo a sua medida. Mas o sujeito da experiência é aquele que sabe enfrentar o outro enquanto outro e está disposto a perder pé e a deixar-se derrubar e arrastar por aquele que lhe sai ao encontro: o sujeito da experiência está disposto a transformar-se numa direção desconhecida” (LARROSA, 1998:85). Também Kohan (2007) propõe que se pense a infância como presença, afirmação, força. Dentre as palavras do grego clássico usadas para nomear infância, o filósofo destaca néos, que significa novo, jovem, recente, que causa mudança. Neoterízo, derivada de néos, tem o sentido de “tomar novas medidas”, provocar algo novo. A palavra infância é também associada à idéia de re-visitar lugares como se fosse a primeira vez. Assim, Kohan afirma a positividade infantil. “A infância não é apenas uma questão cronológica: ela é uma condição de experiência” (KOHAN, 2007:86). Para reforçar esse outro lugar conferido à infância, Kohan convida outros pensadores, ente eles J.-F. Lyotard, Giorgio Agamben e Jacques Derrida.. Para Lyotard, a infância é a condição de ser afetado, pois está sempre esperando o inesperável. Lyotard afirma que o nascer é o acontecimento que muda o curso que leva as coisas a se repetirem. A criança mantém viva a renovação do nascimento ao estender o nascer a toda vida, libertando-nos do fato de sermos nascidos e não nascedores. A infância salva o mundo da ruína da normalidade, naturalidade e caduquice de suas instituições. “A infância é o reino do ‘como se ‘, do ‘faz de conta’, do ‘e se as coisas fossem de outro modo...?’” (KOHAN, 2007:111). A criança fantasia e experimenta sem se prender ao instituído. Ela impede a reprodução do mesmo. A vida toda sempre nos nasce uma criança: “Somos nascidos a cada vez que percebemos que o mundo pode nascer novamente e ser outro” (Idem:112). Agamben associa a uma disposição infantil uma das mais humanas características, a aprendizagem da linguagem. As crianças foram as primeiras a acessar 48 49 a linguagem e continuam sendo. Um adulto não aprende a falar. A infância garante a possibilidade de entrar na linguagem. Agamben fala por Kohan – ou seria Kohan por Agamben – que “se ele [ser humano] renunciasse à infância em nome da adultícia perderia a capacidade de se inventar, de encontrar novos inícios, de abrir a possibilidade de falar para criar um novo mundo e não apenas para reproduzir o mesmo mundo” (Idem:113). Derrida coloca em cheque o nosso modo se relacionar com a alteridade. Ele questiona a nossa hospitalidade frente ao estrangeiro e Kohan nos faz pensar a criança como um estrangeiro em nosso território adulto. Derrida problematiza a hospitalidade que exige ao estrangeiro que fale a nossa língua e compreenda nossos valores. Isso não seria a própria morte do estrangeiro enquanto tal? Nossas tolas perguntas a um estrangeiro – “Como te chamas?”; “De onde vens?” –, ou a uma criança – “Qual é teu nome?”; “Quantos anos tens?” –, mostram nossa necessidade de localizar e identificar o outro. Podemos ser hospitaleiros sem nada saber sobre o outro? Kohan expõe o paradoxo de Derrida: “ou o anfitrião cala e isenta sua verdade e se deixa absolutamente transpassar pela verdade do outro, ou então ele proclama saber a verdade sobre o estrangeiro – e acompanha seu saber com a pretensa ignorância do estrangeiro sobre si” (Idem:118). Para Derrida, o estrangeiro pode convidar o anfitrião a convidá-lo. Como acolher as crianças, esses estrangeiros que falam outra língua? “Como não sucumbir perante a tentação de acabar com a infantilidade da infância, em nome da tolerância, da solidariedade, do diálogo, e de tantas outras palavras bem pronunciadas?” (Idem:119). As idéias de Fuganti podem contribuir para essa compreensão da criança, não relacionada à falta, mas vista como presença. Segundo Fuganti15, à existência nada falta. Ao contrário, há uma plenitude. Ele nos convida a ver essa plenitude na loucura, pois há nela uma generosidade de forças. A infância costuma ser associada à loucura pela falta, pela desrazão. Ambas têm um lugar menor em nossa sociedade por sua alteridade. Podemos dizer que na criança também há uma multiplicidade de forças, uma plenitude, uma potência inventiva. “A criança é pura potência de afetar e ser afetada. Ela está aberta para as multiplicidades do mundo” (FUGANTI, 1990). Para Fuganti, as oficinas 15 2007. 49 Em entrevista realizada com Luiz Antonio Fuganti, por Amanda dos Santos Gonçalves, em 50 inspiradas na terapia ocupacional ortodoxa operam como uma forma de consumir a energia do louco, de gastar a energia que é tida como perigosa. Muitas atividades destinadas às crianças também têm essa função de ocupá-las, consumir sua energia, poupando a energia do adulto que tem a obrigação de cuidar e acompanhar os movimentos infantis. Incomodamo-nos com a desordem que a loucura e a infância tendem a promover. Consideramos a desordem perigosa, pois ela escapa das coordenadas do espaço e do tempo que foram socialmente estabelecidos de modo a contê-la. No entanto, é esse funcionamento outro da criança e do louco que lhes confere uma posição privilegiada para estranhar as práticas que naturalizamos, para experimentar quando só conseguimos repetir o conhecido. Kohan afirma que “a infância exige pensar numa temporalidade para além do tempo ‘normal’” (2007:113). Nesta linha, Kastrup (2000) expõe uma concepção do desenvolvimento cognitivo que não é cronológica, o que faculta retirar a criança do lugar da negatividade. Tal compreensão do desenvolvimento apóia-se nas idéias de Bergson. O filósofo entende que a evolução ocorre em forma de feixe e não numa única direção. A transformação evolutiva se dá sob o signo da diferenciação e divergência. Bergson destaca duas tendências distintas que se misturam ao se atualizar: a repetitiva e a inventiva. “Toda forma atualizada – e aí podemos ver o caso do sistema cognitivo infantil ou adulto – é um misto de matéria e tempo, guardando uma abertura e encontrando-se sujeito à instabilização” (KASTRUP, 2000:375). Assim, o modo de conhecer da criança não é visto como algo a ser ultrapassado. Compreende-se a infância como portadora de virtualidades, englobando em si diversas possibilidades, pois nela prevalece a tendência inventiva. O modo de conhecer infantil assegura a abertura da cognição. “O ‘infantil e o ‘adulto’ coexistem no interior da cognição e a dimensão ‘infantil’ vai se destacar como uma tendência sempre virtual, capaz de fazer divergir as formas e as estruturas constituídas” (Idem:275). As formas adultas podem se enrijecer, dificultando a sua diferenciação, mas há sempre uma criança no adulto que se revela nos movimentos cognitivos divergentes. Não há perda irreversível dos nossos devires. Bergson diz que “estamos incessantemente fazendo escolhas, e sem cessar também deixamos de lado muitas coisas. O itinerário que percorremos no tempo está juncado dos resíduos de tudo que começávamos a ser, de tudo que poderíamos ter 50 51 vindo a ser. Mas a natureza, que dispõe de um número incalculável de vias, (...) conserva as tendências que se bifurcam ao crescer” (Idem:376). O filósofo Friedrich Nietzsche, em sua obra Assim falou Zaratustra, também afirma a criança como positividade, nesse caso, como a última metamorfose do espírito, sua última superação. As três transformações de que nos fala Zaratustra são: o espírito que se muda em camelo, o camelo que se torna leão e, finalmente, o leão que se transmuta em criança. O filósofo compara o espírito sólido ao camelo, pois ambos carregam humildemente, sem resistência, seu peso pelo deserto e, abdicam da liberdade. O espírito sólido testa sua força sobrecarregando-se dos pesados valores tradicionais, que tanto respeita. O senhor do camelo é a imposição dos valores milenares: “Tu deves”. Para o espírito sólido e respeitoso, a mais terrível apropriação é a obtenção do direito de criar novos valores. Porém, na solidão do deserto, o camelo transforma-se em leão em busca de “conquistar sua liberdade e ser o rei de seu próprio deserto” (NIETZSCHE, p.32). O espírito do leão revolta-se contra os valores impostos e, renuncia ao seu último senhor dizendo: “Eu quero”. O inimigo do leão fala: “todos os valores foram já criados e eu sou todos os valores criados. Para o futuro não deve existir o “Eu quero!” (Idem). O leão nega o dever e ganha a liberdade para a nova criação. No entanto, o leão ainda não tem uma liberdade afirmativa, não sendo capaz de criar novos valores. Ocorre, então, a última e suprema metamorfose: o leão se muda em criança. “A criança é inocência, e esquecimento, um recomeço, um brinquedo, uma roda que gira sobre si própria, movimento primeiro, uma santa afirmação” (Idem). Agora o espírito livre quer sua vontade. A afirmação da criança possibilita o jogo da criação: é a vida que inventa os valores. Portanto, nenhum valor pode se sobrepor à vida. Fuganti (1990) chama esse movimento da criança de reversão do platonismo e do cristianismo, mas também a reversão de nós mesmos. “A invenção é necessariamente um movimento de leveza, um jogo alegre, uma explosão de riso” (FUGANTI, 1990:80). Sobre o espírito da criança de Zaratustra, Kohan diz: “Frente ao direito aos valores novos do leão, mas ainda sem as novas criações, a criança constitui a criação mesma, um novo começo para os valores, a liberdade mais afirmativa, tempo circular que retorna, pura afirmação da vida. A inocência e o esquecimento isentam a criança dos rancores e do ressentimento” (2007:110). 51 52 Para o autor, as três metamorfoses não se dão numa linha contínua e sucessiva de progresso, e sim num círculo de intensidades. Kohan diferencia duas infâncias. Uma é a infância molar, majoritária, das histórias da infância, da continuidade cronológica, do desenvolvimento por estágios, das maiorias, do modelo de criança, idealizada, educada, disciplinada, institucionalizada. A outra infância é a molecular, minoritária; ela habita outra temporalidade, é experiência, intensidade, acontecimento, um detalhe, criação, resistência, revolução, ruptura com a história, linha de fuga. Kohan diz que esta é “a infância que resiste aos movimentos concêntricos, arborizados, totalizantes: ‘a criança autista’, ‘o aluno nota dez’, ‘o menino violento’” (2007:94). A infância molecular está sempre saindo do lugar que lhe concedem e ocupando outros - inesperados, desconhecidos, inusitados. A infância molar é a forma; a molecular, a força. Habitamos as duas infâncias, ambos os espaços e temporalidades. Elas não são excludentes. Para Kohan, não é o caso de se idealizar uma em detrimento da outra. Trata-se não do que se deve ser, mas do que de pode ser. O autor diz que “uma infância afirma a força do mesmo, do centro do tudo; a outra, a diferença, o fora, o singular. Uma leva a consolidar, unificar e conservar, a outra a irromper, diversificar e revolucionar” (Idem:95). As idéias de Bergson e Nietzsche influenciaram muito o pensamento de Deleuze e Guattari. Podemos ver o “tornar-se criança” de Zaratustra numa das ferramentas criadas por esses dois autores: devir-criança. Esse conceito, segundo Kastrup, se refere a uma criança que persiste no adulto como virtualidade, condição de diferenciação e divergência cognitiva. Logo, ele está em consonância com a concepção de temporalidade de Bergson. O devir, como substantivo, porta a idéia do movimento de transformação que se dá no presente e não no decurso de um tempo histórico. “Não se define como passagem de uma forma a outra, mas sobretudo como movimento que faz tensão com as formas” (KASTRUP, 2000:377). A forma-adulto e a forma-criança são estados, pontos de parada. “O devir-criança é o encontro entre um adulto e uma criança – o artigo indefinido não marca ausência de determinação, mas a singularidade de um encontro não-particular nem universal – como expressão minoritária do ser humano” (KOHAN, 2007:95-96). O devir não se caracteriza pelo que ele pode vir a criar, seus pontos de parada ou desaceleração, nem se assemelha a uma metamorfose de uma forma que se transforma em outra. “O devir é um movimento pelo qual a linha libera-se 52 53 do ponto, e torna os pontos indiscerníveis” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:92). O devir é uma desterritorialização16. Ele desconstrói a forma. O bloco de devir não transforma uma coisa em outra, pois esta também está em devir. “Devir é um encontro entre duas pessoas, acontecimentos, idéias, entidades, multiplicidades, que provoca um terceira coisa entre ambas” (KOHAN, 2007:95). Deleuze e Guattari opõem o devir-criança à lembrança que temos da infância “‘uma’ criança molecular é produzida... ‘uma’ criança coexiste conosco, numa zona de vizinhança17 ou num bloco de devir, numa linha de desterritorialização que nos arrasta a ambos – contrariamente à criança que fomos, da qual nos lembramos ou que fantasmamos, a criança molar da qual o adulto é o futuro” (DELEUZE e GUATTARI, 1997:92). Devir-criança não significa, por exemplo, voltar a ser como na minha infância das memórias contadas a cima. Não retornaria a mesma perspectiva visual ou temporal. Não se trata de retomar uma vivência do tempo não-cronológico que antes possuía, desconsiderando a organização majoritária do tempo, ou ver o mundo com olhos infantis. Trata-se de desconstruir a forma atual, molar, adulta de ser, sem previsão dos efeitos desse movimento. Até as memórias da infância que hoje ativo, o faço pela perspectiva do adulto que sou nesse momento, com todos os meus atravessamentos contemporâneos. Não é possível resgatar a percepção exata que tinha quando criança. Segundo Kastrup (2000), falar em devir-criança é ter uma compreensão da cognição como politemporal, pois seus movimentos operam entre diversas camadas de tempo, entre múltiplos platôs. Um devir é sempre algo contemporâneo. Devir-criança não é retornar à infância ou infantilizar-se, nem significa imitar uma criança. Devir não é identificar-se, parecer, equivaler, ser ou produzir, nem é uma evolução por filiação. É uma aliança entre heterogêneos que os autores preferem denominar “involução”. “Involuir é formar um bloco que corre seguindo sua própria linha, ‘entre’ os termos 16 Desterritorialização é um processo que ocorre quando o território engaja-se em linhas de fuga, abre- se, sai de seu curso e até se destrói (GUATTARI & ROLNIK, 2005). 17 “A vizinhança é uma noção ao mesmo tempo topológica e quântica, que marca a pertença a uma mesma molécula, independentemente dos sujeitos considerados e das formas determinadas” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:64). O princípio de proximidade do devir indica uma zona de vizinhança, isto é, uma co-presença de uma partícula. Emitem-se partículas que assumem certas relações de movimento e repouso porque entram numa 53 54 postos em jogo” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:19). A involução é criadora e não se confunde com regressão. Deleuze e Guattari distinguem dois planos, ou duas maneiras de conceber o plano: o plano de consistência ou de composição e o plano de organização e desenvolvimento. Este é um plano estrutural e genético que corresponde às condições de possibilidade e desenvolvimento das formas visíveis e da formação do sujeito. O plano de organização e desenvolvimento é transcendente, oculto, é analogia e ausência. Ele próprio não é sujeito à criação. Só podemos concluí-lo a partir de seus efeitos. “Formas desenvolvem-se, sujeitos formam-se, em função de um plano que só pode ser inferido” (Idem:57). Ele é o plano explorado pelas consagradas teorias do desenvolvimento cognitivo. Já no plano de consistência ou de composição, “Há apenas relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão entre elementos não formados, ao menos relativamente não formados, moléculas e partículas de toda e espécie. Há somente hecceidades, afectos, individuações sem sujeito que constituem agenciamentos coletivos. Nada se desenvolve mas coisas acontecem” (Idem:55). Este é um plano de imanência, de proliferação, de contágio, de involução, onde a forma é constantemente dissolvida, liberando tempos e velocidades. O plano de consistência faz perceber o imperceptível. Segundo Kastrup (2000), apesar de estar aquém das formas existentes e visíveis, este plano proporciona as condições de produção das formas, sejam elas objetos ou sujeitos. As formas emergem desse plano, distinguem-se e individuam-se pelos agenciamentos entre movimentos, forças e linhas - afirma a autora. No entanto, as formas não se separam do plano de composição, pois são relançadas nele e permanecem envolvidas num movimento de criação, já que não possuem limites fechados. “Só há velocidades e lentidões entre elementos não formados, e afectos entre potências não subjetivadas, em função de um plano que é necessariamente dado ao mesmo tempo que aquilo que ele dá” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:57). Podemos dizer que o plano de organização e desenvolvimento é molar, enquanto o plano de composição é molecular. O devir se dá no plano de consistência, no meio molecular, invisível e denso, subsistindo entre as formas molares, visíveis. Kastrup (2000) afirma que há comunicação entre os planos: “as formas podem involuir e entrar em devir, zona de vizinhança, ou entram nessa zona devido a tais relações. 54 55 assim como o devir pode configurar formas que tendem a escapar dele” (p.378). A criança molar é uma forma visível, caracterizada por determinados traços e comportamentos. A criança da história da infância, das teorias de desenvolvimento, alvo da pedagogia é a criança do plano de organização. A criança molecular, do plano de composição, é o próprio devir-criança, que pode acometer tanto adultos quanto crianças. Kastrup (2000) tenta caracterizar o devir-criança. O primeiro elemento que destaca é a exploração do meio molecular. Essa característica aparece na escrita de Deleuze. O filósofo diz: “a criança não pára de dizer o que faz ou tenta fazer: explorar os meios, por trajetos dinâmicos, e traçar o mapa correspondente. Os mapas dos trajetos são essenciais à atividade psíquica” (DELEUZE, 1997:73). Deleuze afirma que esse meio é composto de substâncias, potências, qualidades e acontecimentos. Os trajetos pelos quais a criança experimenta se confundem com sua subjetividade e também com a subjetividade do meio. Os pais, com suas qualidades e potências, são um dos meios que a criança percorre. “Eles só tomam a forma pessoal e parental como representantes de um meio num outro meio” (Idem:73). A criança não se limita às coordenadas de seus pais para chegar aos meios por derivação depois. A criança sempre está mergulhada num meio atual que ela percorre. Os pais só têm a função de conectores ou desconectores de zonas. Para Kastrup (2000), a criança, ao explorar diretamente o meio molecular, está desprovida de um programa que acesse a memória ou ambicione um projeto. Portanto, o devir-criança é uma atividade que não é guiada por regras prescritas que determinariam sua ação. Essa é a segunda característica do devir-criança, levantada pela autora: “A criança quer procurar e inventar, sempre à espreita da novidade, impaciente com a regra” (BERGSON apud KASTRUP, 2000:379). Esse movimento é exploratório e experimental, pois lança-se no presente imediato e desliza pelas brechas que há entre as formas instituídas. “Há aí uma dimensão da subjetividade que transborda das estruturas estabilizadas” (KASTRUP, 2000:379). O movimento involutivo do devir promove um processo de dessubjetivação. No entanto, é imprescindível que haja formas para que ocorra o devir. A cognição infantil é complexa e comporta as dimensões molecular e molar. Logo, a cognição tem uma certa estabilidade devido a suas estruturas molares territorializadas que são desterritorializadas pelos movimentos moleculares. “O devir-criança é uma forma de encontro que marca uma linha de fuga a transitar, aberta, intensa” (KOHAN, 2007:96). 55 56 Singularidades femininas, infantis, homossexuais, poéticas ou negras podem romper com as estratificações dominantes. Se tomadas por um devir, desencadeiam um processo de singularização. Devires subjetivos, processos transversais, se instauram então através de indivíduos e grupos. A identidade é uma paralisação desse processo. Guattari (2005) concebe a existência de vias de passagem, de comunicação inconsciente, entre os movimentos minoritários do negro, da mulher, da criança e da arte - devires que permeiam essas diversas subjetividades. Os segmentos de devir – devir-criança, devir-mulher, devir-animal, vegetal ou mineral, devires moleculares de todas as espécies – transformam-se uns nos outros, atravessando limiares. Cantar, pintar, compor, escrever, desenhar, brincar desencadeiam devires. Deleuze e Guattari denominam “dimensão molecular” do inconsciente os elementos de devires que, articulados, constroem uma subjetivação minoritária (GUATTARI & ROLNIK, 2005). As minorias são pólos de resistência e, mais, são potenciais processos de transformação. A criança tem essa virtualidade, essa potência de invenção. Deleuze e Guattari (1997) destacam a vizinhança que pode haver entre as crianças e os animais. Se essa vizinhança é atualizada num devir, torna-se impossível diferenciar a fronteira que separa o humano do animal. Todas as crianças e alguns adultos dividem com o animal uma convivência inumana. As crianças que comem terra, capim ou carne crua fazem corpo com o animal: “um corpo sem órgãos definido por zonas de intensidade ou de vizinhança” (Idem: 65). O que nos precipita num devir pode ser qualquer coisa, mas sempre é uma questão política, não importa o quão inesperada ou insignificante seja. É preciso “conceber uma política infantil molecular, que insinua-se nos afrontamentos molares e passa por baixo, ou através” (Idem:68). Onde está escrito infantil, nessa frase, os autores diziam feminino, mas, como há passagens entre o devir-mulher e o devir-criança, podemos dizer o mesmo de uma política infantil. “É preciso pensar o devir-criança enquanto átomos de infantilidade, que produzem uma política infantil molecular, que se insinuam nos afrontamentos molares de adultos e crianças” (CORAZZA apud KOHAN, 2007:85). As crianças extraem as suas forças do devir molecular que elas fazem passar entre as idades, afirmam Guattari e Deleuze (1997). A criança é o devir-jovem de cada idade. “Saber envelhecer não é permanecer jovem, é extrair de sua idade as partículas, 56 57 as velocidades e lentidões, os fluxos que constituem a juventude desta idade” (Idem:70). Como extrair da nossa idade fluxos que promovam uma involução? Como provocar no nosso corpo uma potência inventiva? Como nos deixar invadir por um devir-criança? A cantora Adriana Calcanhotto entra num devir-criança e assume o nome de Adriana Partimpim. Partimpim era o nome que se dava quando criança. O álbum que ela grava sob esse nome foi vendido como um disco infantil. Segundo Deleuze & Guattari (1997), um devir-criança atravessa a música. Adriana grava músicas de uma molecularidade que faz vizinhança com as partículas infantis. Um devir-criança é inseparável da expressão musical, pois a música tem sede de desconstrução, afirmam os autores. Adriana, em seu website18, diz que a mudança de nome é para salvaguardar sua liberdade, pois o sucesso aprisiona o artista a uma identidade, a uma estética, a uma reputação, a si mesmo. Então, Adriana experencia o devir-criança para liberta-se de si e a esse movimento nomeia “Partimpim”. Entretanto, não é só o nome que se transforma, mas também a imagem. Na capa do álbum, no site, ou em qualquer momento em que haja uma imagem de Partimpim, a cantora aparece com um desenho de olhos sobre os seus. Isso dá uma característica infantil correspondendo à imagem do produto, mas também marca uma singularização do trabalho de Adriana, que, sob o nome de Partimpim, experimenta outras visões, outras percepções do mundo, experimenta a molecularidade da criança. Manoel de Barros, outro artista, quando escreve Memórias inventadas: a Infância (2003), experimenta um devir-criança. Ele não faz um retorno à infância que viveu através de suas memórias - afinal, como diz o título, as memórias são inventadas. Tampouco Barros imita uma criança, ou se torna uma. Ele é um poeta, adulto, que vivencia um movimento outro, um devir-criança. “Porque se a gente fala a partir de ser criança, a gente faz comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e suas graças, de um pássaro e sua árvore” (BARROS, 2003). Manoel de Barros faz comunhão com a molecularidade infantil e cria, inventa memórias. O poeta involui: deixa-se desterritorializar, desconstruindo a sua molaridade adulta para experimentar outras velocidades e lentidões que têm uma vizinhança com a criança. 18 57 http://wwww.adrianapartimpim.com.br 58 Kohan (2007) fala sobre a poesia do mato-grossense Manoel de Barros e, em especial, sobre esse mesmo livro. Kohan ressalta a contradição que há na expressão “memórias inventadas”, pois uma palavra nega a outra. No entanto, as contradições provocam o pensamento: “Quando nos situamos nesse espaço em que o já pensado parece impossível é que nascem as condições para pensar outra coisa, algo diferente do já pensado. O pensar é algo que se faz sempre entre o possível e o impossível, entre o saber e o não-saber, entre o lógico e o ilógico” (KOHAN, 1997:88). A contradição das Memórias inventadas de Barros nos causa estranhamento e nos convida a pensar. Sentimo-nos impelidos a pensar algo ainda não-pensado. A tensão da contradição produz afecção. Afetados, implicados, podemos nos debruçar sobre a contradição, colocá-la em análise, em busca de inventar outros sentidos. Costumamos insistir em instituições que perderam o sentido. Ao estranhar uma prática, vendo nela uma contradição, somos forçados a exercitar o pensamento e criar novas possibilidades. O devir-criança de Manoel de Barros promove estranhamento e impulsiona o pensar. O devir-criança é contagiante. Deixemos-nos afetar por ele. 58 59 V – FUGAS E CAPTURAS - ESTRANHANDO O FIM Quando somos crianças e estamos recentes no mundo, estranhamos tudo. À medida que crescemos, nos acostumamos tanto com as práticas cotidianas, que não conseguimos nos imaginar sem elas. O que acontece durante o envelhecimento que nos torna dependentes do hábito, da repetição, do instituído, do mesmo? Por estranharmos essa subjetividade adulta típica de nossa sociedade contemporânea, que se surpreende tão pouco com as práticas instituídas, podemos questioná-la. A subjetividade infantil ainda escapa a esse modelo. As crianças se surpreendem e indagam o sentido das coisas. Quais são as transformações que se dão na passagem da infância à fase adulta que promovem essa mudança de atitude em relação à vida? Alguns fatores, interrelacionados ou mesmo sinônimos, que contribuem para essa espécie de morte da potência infantil no adulto são: a nossa ambição de transformar a criança num ideal de adulto, legitimando certas práticas que objetivam moldar a criança; a disciplinarização por instituições; a captura19 de seus devires; as relações de poder; a subordinação da infância aos adultos; a infantilização da criança; o paternalismo; a tutela; a formação do sujeito como cópia do Outro; a institucionalização da infância na escola; a compartimentalização do saber transmitido à criança; a sujeição de seu corpo; a moralização da infância; a vigilância; as punições por comportamentos indesejados; a avaliação e classificação da infância; a sexualização do infantil20; a adultização da infância; as intervenções do Estado; a objetivação da infância pela ciência; a captura da criança como consumidora; a formação permanente; os dispersos e 19 Para Baremblitt (1998), o instituído, em especial o Estado e o capital, busca identificar, fragmentar e recuperar as singularidades e forças produtivas. Desse modo, adequa-se as linhas de fuga e seus efeitos à lógica estabelecida. O capitalismo é um sistema que está em permanente reterritorialização, pois busca “recapturar” os processos de desterritorialização que ocorrem na produção e nas relações sociais. A reterritorialização é uma “tentativa de recomposição de um território engajado num processo desterritorializante” (GUATTARI & ROLNIK, 2005:388). 20 Segundo Corazza (2000), o poder que infantiliza é correlato ao poder que sexualiza. A sexualização da infância é produzida concomitantemente com a infantilização do sexo. Do mesmo modo, pedagogiza-se o infantil e infantiliza-se a pedagogia. 59 60 contínuos mecanismos de controle. Se achamos todos esses mecanismos massacrantes, como se sentirá a criança? Nosso corpo é roubado para fabricar indivíduos de subjetividade capitalística. Rouba-se o devir infantil à criança para impor-lhe uma história. Nós, capturados, colaboramos para a modelização da infância. Dizemos à criança: “Não se comporte assim, você já é um/uma rapazinho/mocinha!” Guattari e Deleuze afirmam que a menina é o primeiro alvo; em seguida, a exemplo dela, se impõe a adultez ao menino, “indicando-lhe a menina como objeto de seu desejo, que fabricamos para ele” (DELEUZE & GUATTARI, 1997:69). A subordinação da identidade infantil é tida, por Corazza, como uma grande unidade estratégica, em que poder e saber fundiram-se em mecanismos específicos constituídos em torno do “infantil”. Essa unidade forneceu as condições para que um indivíduo infantil fosse inventado, um tipo social. Subjetiva-se o individuo moderno pela: “submissão ao Outro pelo controle e pela dependência; sujeição realizada por todos os procedimentos de individualização e de modulação que o poder de infantilizar instaura, atingindo a vida cotidiana e a interioridade daqueles infantis que ele chama ‘seus sujeitos’. Essa identidade infantil é sujeitada pelo funcionamento do conjunto das instituições disciplinares, tais como a Família, o Quartel, a Igreja, a Escola, o Hospício, o Hospital, o Asilo, a Casa da Roda; e é consubstanciada em uma figura inequívoca: a do ‘infantildependente’, enquanto ‘o outro’ do ‘Adulto’” (CORAZZA, 2000:123). A escola é uma das instituições mais importantes na produção de uma infância submetida e manipulada conforme os moldes pré-estabelecidos. Para que o corpo infantil se torne força útil, ele precisa ser transformado não só em corpo produtivo, mas também em corpo submisso (FOUCAULT, 1987). A infância escolar é segregada para ser disciplinada de modo a transformar seu corpo em dócil e utilitariamente funcional à dinâmica social. “Entre algumas de suas linhas invariáveis, a escola – com seus mecanismos e táticas de normalização, implantação de hábitos e rotinas, transmissão de conteúdos uniformes, horários, distribuição espacial, execuções disciplinares, operacionalização de formas determinadas de racionalidades e de subjetividades, criação de interesses, necessidades, afetos e desejo – produz a infância, por meio do discurso pedagógico que, no infantil e em seu desenvolvimento, encontra razões sociais, culturais, econômicas e políticas que justificam sua necessidade” (CORAZZA, 2000:189). 60 61 Os controles da instituição escolar objetivam a internalização da disciplina que se justifica pela passagem da heteronomia a uma autonomia da criança. Assim, domina-se a criança com o intuito de que ela aprenda a dominar a si mesma futuramente. Segundo Corazza, é na escola que a criança é infantilizada. Também para Guattari (2005), a escola é responsável pela despotencialização da criança. Em nome da infância, a educação a mata. No entanto, Jorge Larrosa (1998) afirma que a infância escapa à captura. A infância molecular escorre pelas brechas. Bergson nos diz, por sua vez, que nunca perdemos todos os nossos devires (KASTRUP, 2000). A cognição infantil, com sua característica inventiva e divergente, permanece na cognição adulta como virtualidade. A criança, alvo de mecanismos de submissão, resiste! Uma de suas formas de resistência aparece nas queixas mais freqüentes dos pais e professores: a indisciplina. A psicóloga Marisa Rocha (2001) reconhece a indisciplina como uma força legítima de resistência e a contextualiza na escola. Disciplina e indisciplina são produzidas paralelamente. A constituição da primeira funda a segunda como seu outro, sua negatividade. A autora afirma que: “quando a questão disciplinar passa a ser o eixo norteador do processo educacional, atravessando todos os segmentos da comunidade escolar, as relações entre os diferentes segmentos passam a ser avaliadas dentro da dualidade respeito ou desrespeito à ordem. Assim, multiplicam-se as técnicas de controle e as oposições entre administração x professores, administração x funcionários, professor x aluno, inviabilizando outros modos possíveis de convivência” (Rocha, 2001). A indisciplina é um fenômeno que afirma a diferença e explicita as tensões e conflitos existentes num coletivo escolar em que há grande dificuldade em administrar a singularidade, sempre comparada a modelos universais. A indisciplina é um analisador21 da hierarquia enquanto legitimação da autoridade tradicionalmente constituída. Ela é uma reação à violência exercida em função da manutenção de uma soberania. Rocha diz que para Castro, a indisciplina é o efeito do embate entre velhas formas institucionais e 21 Analisador é um conceito da Análise Institucional que se refere a um dispositivo ou situação que explicita as linhas de força ali presentes, permitindo que elas sejam postas em análise. 61 62 novos sujeitos históricos. A criança, recente habitante de nossa sociedade, estranha a ordem instituída e suas ultrapassadas instituições e se revolta contra estas, não se submetendo às suas disciplinas. Entendendo a indisciplina como uma tensão inerente ao processo educacional, Rocha defende que o desafio da escola é transformar em conhecimento as turbulências. Afinal, a indisciplina pode ser uma força que provoque reflexão e ação sobre a relação escola-aluno, as condições de trabalho e as estratégias usadas. Retira-se a indisciplina do lugar que atualmente ocupa – obstáculo ao processo ensino-aprendizagem –, ao transformá-la em um mecanismo disparador de práticas politicamente articuladas. Nunca somos absolutamente capturados, sempre nos restam linhas de fuga. Podemos, enquanto camelos, estranhar nossas instituições, transformar-nos em leão, colocando abaixo os valores que nos aprisionam e, em seguida, tornar-nos criança e reinventar a vida. No entanto, até a criança pode enrijecer, tornando-se prisioneira dos novos valores criados, transformando-se no espírito sólido do camelo. Assim, novamente se faz necessária a rebelião do leão e a mutação em criança. Portanto, o estranhamento é fundamental para que se perceba que a criança envelheceu, tornando-se um camelo, e perdeu sua potência criadora. Não há um “patamar-criança” que se alcance e onde se repouse estavelmente. A metamorfose em criança é um movimento. É preciso sempre se tornar criança. A saúde é essa busca permanente de mobilização de forças, em que não há estabilidade. Ela nos exige uma negociação cotidiana para que a vida seja viável. A luta por uma subjetividade menos cristalizada, num modo de viver hegemônico, não tem fim. Assim como não tem fim o presente trabalho, que busca disparar questões, reflexões e estranhamentos, na expectativa de que o movimento não cesse aqui, nessas últimas linhas, mas repercuta em outros pensamentos e ações. 62 63 REFERÊNCIAS ARIÈS, P. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. ATHAYDE, M.; BRITO, J.; e NEVES, M. Saúde cadê você? Cadê você? In:_______. Caderno de textos: programa de formação em saúde, gênero e trabalho nas escolas. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 2003. BARCELOS, T. Re-quebros da subjetividade e o poder transformador do samba. Tese de doutorado em psicologia clínica, PUC-SP. Disponível em: http://www.sapientia.pucsp.br/, acesso em 21/04/2008. BAREMBLITT, G. Compêndios de Análise Institucional e outras correntes. Rio de Janeiro: Record/Rosa dos Tempos, 1998. BARROS, M. Memórias inventadas: a Infância. São Paulo: Planeta, 2003. CAPONI, S. Georges Canguilhem y el estatuto epistemológico del concepto de salud. In: História, ciências, saúde Manguinhos. Vol. IV (2), 1997. COIMBRA, C. Espaços urbanos e classes perigosas. In:________. Operação Rio: o mito das classes perigosas – um estudo sobre a violência urbana, a mídia impressa e os discursos de segurança pública. Rio de Janeiro/Niterói: Oficina do Autor/Intertexto, 2001. CORAZZA, S. História da infância sem fim. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2000. DELEUZE, G. Controle e devir. In: ________. Conversações. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992a. DELEUZE, G. O que as crianças dizem. In:________. Crítica e clínica. São Paulo: Ed. 34, 1997. DELEUZE, G. O que é um dispositivo? In:________. O mistério de Ariana. Lisboa: Ed. Vega – Passagens, 1996. DELEUZE, G. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: ________. Conversações. Ed. 34, 1992b. DELEUZE, G. & GUATTARI, F. 1730 – Devir-Intenso, Devir-Animal, DevirImperceptível. In:________. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol.4. São Paulo: Ed. 34, 1997. FIGA, M. As outras crianças. In: Jorge Larrosa & Nuria P. de Lara (orgs.). Imagens do outro. Petrópolis: Vozes, 1998. 63 64 FOUCAULT, M. A política de saúde do século XVIII. In:________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979a. FOUCAULT, M. Nietzsche, a genealogia e a história. In:________. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979b. FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1987. FUGANTI, L. Saúde, desejo e pensamento. In: Antonio Lancetti (org.). SaúdeLoucura 2. São Paulo: Hucitec, 1990. GLEIZER, M. Espinosa & a afetividade humana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. GUATTARI, F.; ROLNIK, S.. Micropolítica – cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 2005. KASTRUP, V. O devir-criança e a cognição contemporânea. In: Psicologia: reflexão e crítica. Vol 13 (3): 373-382, 2000. KOHAN, W. Infância, estrangeiridade e ignorância – Ensaios de filosofia e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. LARROSA, J. O enigma da infância ou o que vai do impossível ao verdadeiro. In: Jorge Larrosa & Nuria P. de Lara (orgs.). Imagens do outro. Petrópolis: Vozes, 1998. LINS, D. Tolerância ou imagem do pensamento? In: E. Passeti & S. Oliveira (orgs.). A tolerância e o intempestivo. Cotia: Ateliê Editorial, 2005. LLORET, C. As outras idades ou as idades do outro. In: Jorge Larrosa & Nuria P. de Lara (orgs.). Imagens do outro. Petrópolis: Vozes, 1998. NIETZSCHE, F. Assim falou Zaratustra – Um livro para todos e ninguém. São Paulo: Escala. PELPBART, P. A morte estrangeira e o tempo não-reconciliado. In: Caterina Koltai (org.) O Estrangeiro. São Paulo: Escuta/ FAPESP, 1998. ROCHA, M. Educação e saúde: coletivização das ações e gestão participativa. In: I. Marciel (org.) Psicologia e educação: novos caminhos para a formação. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2001. 64
Download