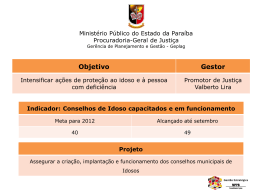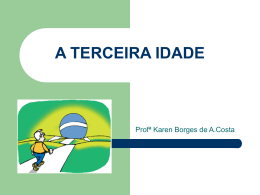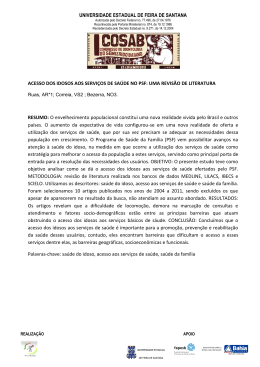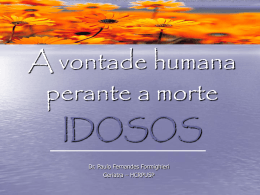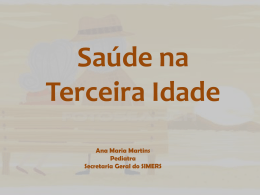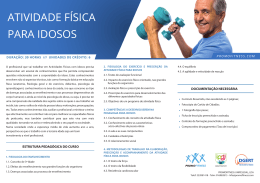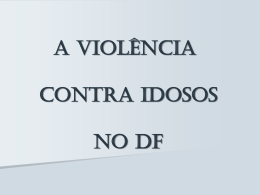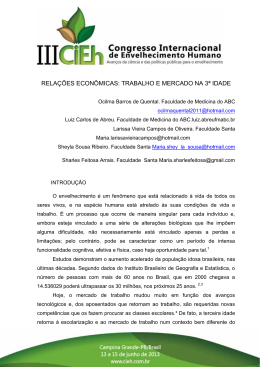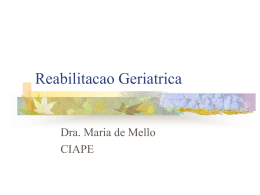CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARÁ FACULDADE CEARENSE CURSO DE SERVIÇO SOCIAL MARIA DE JESUS DA COSTA A VIDA FORA DO CONVÍVIO FAMILIAR: PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS DE IDOSOS ACOLHIDOS PELO ABRIGO OLAVO BILAC FORTALEZA 2013 MARIA DE JESUS DA COSTA A VIDA FORA DO CONVÍVIO FAMILIAR: PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS DE IDOSOS ACOLHIDOS PELO ABRIGO OLAVO BILAC Monografia submetida à aprovação da Coordenação do Curso de Serviço Social do Centro Superior do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Graduação. FORTALEZA 2013 3 C837v Costa, Maria de Jesus da A vida fora do convívio familiar: percepções e sentimentos de idosos acolhidos pelo abrigo Olavo Bilac / Maria de Jesus da Costa. Fortaleza – 2013. 112f. Orientador: Profª. Ms. Mariana de Albuquerque Dias Aderaldo. Trabalho de Conclusão de curso (graduação) – Faculdade Cearense, Curso de Serviço Social, 2013. 1. Família - velhice. 2. Instituições de longa permanência. 3. Políticas sociais. I. Aderaldo, Mariana de Albuquerque Dias. II. Título CDU 392 Bibliotecário Marksuel Mariz de Lima CRB-3/1274 Aos meus queridos pais, AMOR INCONDICIONAL, Luiza Maria da Costa e José Gomes da Costa. Aos meus avós Maria José e José Theófilo (in memoriam) Maria de Jesus e Pedro Gomes (in Memoriam). Em especial aos meus padrinhos Francisca Adalgiza e Pedro Joaquim de Matos (in memoriam) Maria Batista Moreira e meu anjo da guarda Camille Nunes Bezerra (in memoriam). A minha primeira professora Maria Alcântara de Matos, aos meus irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, tios e tias. Minha madrinha e Assistente Social Katiana Bezerra, a todos meus amigos e minhas grandes amigas, que contribuíram para a realização desse sonho de concluir esse trabalho, de coração a minha orientadora Mariana Aderaldo que me recebeu de braços aberto. OBRIGADA POR TUDO. AGRADECIMENTOS Primeiramente agradeço ao meu Deus, pelo dom da vida, pela força e sabedoria para discernir o bem do mal, por me propiciar a conclusão de mais uma etapa dos meus conhecimentos, por que se cheguei até aqui foi obra Dele, que não desistiu de mim nem um segundo, embora muitas vezes tenha perdido a FÉ. Ele sublime estendeu-me a mão e fez-me enxergar que tudo posso bastar acreditar e ter fé, meu muito obrigado Senhor. Aos meus pais, José Duda pelos ensinamentos e princípios éticos e morais que levo até hoje como troféu de vida. A minha mãe Luiza Maria, pelo apoio, pela força, sempre que precisei de sua ajuda estava disposta.Durante os quatro anos sempre acreditou que um dia eu conseguiria realizar meu sonho.Eu consegui viu mãe, meu AMOR INCONDICIONAL. Aos meus familiares, em especial Lourdes Macedo e Família, pelo carinho que sempre tiveram comigo, e ao longo desses anos, pelo apoio. A todos os meus sobrinhos que amo de verdade, tios e tias, primos e primas adoro vocês de verdade. Não poderia deixar de agradecer de maneira especial a Rosário Matos e família, à Dra. Marilva Moreira e família, exemplo de vida, coragem, mulher guerreira, Nossa! Essa fez parte de outra metade de minha vida, e agradeço muito por ter concedido a oportunidade de mesmo trabalhando em sua casa, poder continuar meus estudos, fazer curso e me profissionalizar e seguir com minha carreira profissional. Nesse momento gostaria de fazer uma homenagem a sua filha Camille Nunes que foi meu anjo da guarda a todo instante e ainda continua mesmo não estando mais conosco, saudades eternas embora ainda sinta sua presença em minha vida, a essa família, minha gratidão, respeito e admiração, falta palavras para expressar meu amor, obrigada! A Romênia Macedo e família, minha amiga, minha irmã, minha ex-chefe, continua querida em meu coração. Sempre me apoiou nos momentos mais difíceis, e sempre me mostrou que eu venceria OBRIGADA POR TUDO! Enfim minha amiga, Lorena Suelyn Félix, pelo apoio, pela segurança que me passaste nos momentos em que me senti fraca. Ela encorajou-me a vencer. Meu amor incondicional a você amiga. Aos meus amigos queridos, que não posso deixar de citá-los; Maria Alcântara e Gildene Matos e família, Gorete Cavalcante e família, Ilka Alves e família, e Isabel Neves e família e Dra, Mª de Fátima Gomes de Luna e seu esposo João Bosco e família, agradeço pelo carinho, força, apoio e amizade sincera que sempre me transmitiram, e acima de tudo obrigada por compreenderem minha ausência dentro da instituição hospitalar. Não esquecendo as minhas amigas da área da saúde Ana Lúcia Luna, por sua amizade e carisma sempre esteve ao meu lado, Jacqueline Lima exemplo de profissional ético, Philomena Simonetti por me ensinar a amar as pessoas independente de classe, Maria de Jesus Domingos pelos conselhos, Benélia Barreto por sua alegria, Eysler Brasil por ser amável e Paula Aragão furacão em minha vida toda, enfermeiras de coração e exemplos de profissionais, obrigada pelos ensinamentos durante minha permanência ao lado de vocês. A minhas companheiras e amigas, Zeneide Carvalho, minha amiga guerreira, Lúcia Sousa, Andréia Soares, Tatiana Morais, Rita Valéria, Leuza Sales, Neutanízia Silva francamente vão deixar saudades e outras nas quais fizeram parte de minha vida dentro dos hospitais, e que vivenciaram junto comigo os sacrifícios, angústias. Verão minha vitória, meu muito obrigado, sentirei saudades de vocês! A minha querida amiga, mestre professora Drª. Monica Duarte Cavaignac a quem sou grata, pois sempre acreditou que eu era capaz, meu carinho respeito, admiração, só tenho agradecê-la por tudo, um grande exemplo de profissional e mulher, valeu pelos quatro anos de convivência e aprendizagem. OBRIGADA. À banca examinadora composta por Mônica Duarte Cavaignac e Valney Rocha Maciel, pela honra de tê-las nesse momento tão especial. Agradeço a Deus por mais esse presente, meu muito obrigada. Às minhas queridas coordenadoras do Curso de Serviço Social da Faculdade Cearense, Eliane Nunes Carvalho, pelo apoio, pelas escutas, pela compreensão nesse momento tão delicado, você foi espetacular. A minha amada Flaubênia Girão, a quem tenho um carinho muito especial, meu muito obrigado pela força, pelos conselhos em meia a correria, valeu a pena. Às professoras e grandes profissionais, Letícia Peixoto, Sandra Lima, Valney Rocha, Ester Barbosa, Lúcia Mônica, Joelma Freitas, Cinthia Mendonça, Denise Furtado e Alexandre Carneiro, docentes da Faculdade Cearense e aos demais que fizeram parte da minha formação durante esses quatro anos, obrigada pelo carinho, pelos conhecimentos, pelo compromisso com a formação ético-política desses novos profissionais. Às minhas amigas e companheiras, de curso e de equipe Ana Ayla, Juliana Basílio, Dalvanice Facó, Maria Camila e Michelle Santos, Rita Gaspar, Itamara Firmino, e Nayane Felix em especial Juh e Milla sem vocês eu não tinha conseguido chegar a etapa final, meu muito obrigada, que a nossa amizade vá para além dos kms que nos distância, seja cada vez mais forte e eterna. À comissão de formatura da primeira turma de Serviço Social da Faculdade Cearense, foi um prazer está com vocês, ter feito parte dessa família. Não poderia deixar de agradecer as assistentes sociais do hospital HDEBO (Frotinha de Messejana) em especial Josefa Gicélia e Ilma Jesuíno, pelo acolhimento desde o primeiro estágio por onde passei 1 ano 6 meses (um ano e meio) durante as disciplinas de Estágio Supervisionado, pelo carinho e considerações comigo, sentirei saudades.Aos idosos, sujeitos desta pesquisa, pelo aceite e contributo na concretização deste trabalho. À Unidade de Abrigo Olavo Bilac pela disponibilidade do espaço e pelo consentimento na aplicação da pesquisa nos idosos residentes dessa instituição. A todas as pessoas que contribuíram, direta ou indiretamente, na realização desta monografia. MENSAGEM DE UM IDOSO Se meu andar é hesitante e minhas mãos trêmulas amparem-me... Se minha audição não é boa e tenho de me esforçar para ouvir o que você está dizendo, procure entender-me... Se minha visão é imperfeita e o meu entendimento é escasso, ajude-me com paciência... Se minhas mãos tremem e derrubam comida na mesa ou no chão, por favor, não se irrite, tentei fazer o melhor que pude... Se você me encontrar na rua, não faça de conta que não me viu, pare para conversar comigo, sinto-me tão só... Se você na sua sensibilidade me vê triste e só, simplesmente partilhe um sorriso e seja solidário... Se lhe contei pela terceira vez a mesma "história" num só dia, não me repreenda, simplesmente ouça-me... Se me comporto como criança, cerque-me de carinho... Se estou com medo da morte e tento negá-la, ajude-me na preparação para o adeus... Se estou doente e sou um peso em sua vida, não me abandone, um dia você terá a minha idade... A única coisa que desejo neste meu final da jornada, é um pouco de respeito e de amor... Um pouco... Do muito que te dei um dia!!! (Autor desconhecido) RESUMO O presente trabalho tem como objetivo principal identificar, através de depoimentos dos idosos que moram no Abrigo Olavo Bilac, seus sentimentos em relação a distancia familiar e o convívio com outros idosos do Abrigo. O envelhecimento demográfico da população brasileira é um fenômeno irreversível da sociedade moderna. Os idosos se enquadram em uma categoria de indivíduos, cujas propriedades, são normalmente identificadas com isolamento, solidão, doença, pobreza, abandono e mesmo exclusão social. Nesta perspectiva, as pessoas idosas são consideradas como indivíduos isolados, e muitas vezes permanecem excluídas da dimensão familiar. O abandono, na maioria dos casos, é provocado pela condição de fragilidade do idoso, que pode passar a depender de outras pessoas, pela perda da autonomia e da independência, pelo esfriamento dos vínculos afetivos e pela conduta do grupo de relações ou ausência dele. A família surge como um aspecto fundamental no decorrer do estudo sobre a pessoa idosa. Tudo parte da centralidade familiar: quem são os componentes dessa família; quais seus deveres e direitos; qual o papel no que concerne à estrutura familiar; entre outros. É importante deixar claro, que o bem-estar da pessoa idosa e garantia de seus direitos não é responsabilidade somente da família, mas a um conjunto de ações que envolvem as políticas públicas de atenção ao idoso sobresponsabilidade estatal. Este trabalho apresenta reflexões sobre o tema abandono na velhice, com base nas percepções e sentimentos de idosos acolhidos pelo Abrigo Olavo Bilac. A discussão metodológica, de natureza qualitativa e utilizou a pesquisa de campo para fundamentar o trabalho. As reflexões apontam para um tema de fundamental importância e as dimensões do abandono ao idoso nos mais diferentes aspectos. Algumas leis como a Lei Eloy Chaves, Estatuto do Idoso são citadas no decorrer do trabalho de forma a demonstrar como o idoso conseguiu, ao longo dos anos, conquistar o seu espaço na sociedade de maneira que seja respeitado em todas as suas instancias. Palavras-chaves: Família, Instituições de longa permanência, Políticas Sociais e Velhice. ABSTRACT This work aims at identifying, through testimonials of older people living in the Shelter Olavo Bilaspur, his feelings towards distance family and socializing with other seniors Shelter. The aging of the population is an irreversible phenomenon of modern society. The elderly fall into a category of individuals whose properties are usually identified with isolation, loneliness, sickness, poverty, abandonment and even social exclusion. In this perspective, the elderly are considered as isolated individuals, and often remain excluded from the family dimension. Abandonment, in most cases, is caused by the fragile condition of the elderly, who may come to depend on other people, the loss of autonomy and independence, the cooling of affective bonds and conduct group relationships or lack thereof. The family emerges as a key aspect in the course of study on the elderly. All part of the centrality of family: who are the components of this family, including their rights and duties, which the paper regarding the family structure, among others. It is important to make clear that the welfare of the elderly and ensuring their rights is not only the responsibility of the family, but a set of actions involving public policies elderly care under state responsibility. This paper presents reflections on the theme of abandonment in old age, based on the perceptions and feelings of the elderly welcomed by Shelter Olavo Bilaspur. The methodological discussion is qualitative and exploratory study used field research to support the work. The reflections point to a topic of fundamental importance and dimensions of abandoning the elderly in many different aspects. Some laws such as Eloy Chaves Law, the Elderly are cited in this work in order to demonstrate how the elderly could, over the years, winning their place in society in a way that is respected in all its instances. Keywords: Family, long-stay institutions, Social Policy and Aging. LISTA DE SIGLAS ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. BPC - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA CAPS - CAIXAS DE APOSENTADORIA E PENSÕES CF - CONSTITUIÇÃO FEDERAL CNI - CONSELHO NACIONAL DO IDOSO COBAP - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS COMID - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO EI - ESTATUTO DO IDOSO FAC - FACULDADE CEARENSE IAPB - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS BANCÁRIOS IAPI - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS IAPS - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA INPS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL LOAS - LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOPS - LEI ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL MAS - MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL MDS - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME MPAS - MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E AÇÃO SOCIAL OGS - ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS OMS - ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE ONGS - ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS ONU - ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PAG-PNI - PLANO INTEGRADO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO PASI - PROGRAMA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO IDOSO PCBP - PLANO DE CUSTEIO E BENEFÍCIOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PNI - POLÍTICA NACIONAL DO IDOSO PNSI - POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DO IDOSO SAS - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL SEMAS/DAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEMUS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SETAS - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE STDS - SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUMÁRIO INTRODUÇÃO .................................................................................................15 CAPÍTULO I: O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E OS IMPACTOS SOBRE A PESSOA IDOSA..............................................................................22 1.1 O envelhecimento da população no mundo, no Brasil e no Ceará.................................................................................................................24 1.2. AS múltiplas formas de envelhecimento populacional e as mudanças no contexto histórico da velhice........................................................................30 1.3 Os aspectos do envelhecimento..................................................................33 1.3.1 Envelhecimento fisiológico........................................................................33 1.3.2 Envelhecimento cognitivo.........................................................................34 1.3.3 Envelhecimento psicológico.....................................................................35 1.3.4 envelhecimento social..............................................................................36 CAPÍTULO II: A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO...................................39 2.1 A família, o idoso e as relações afetivas......................................................39 2.2 Tipos de instituições voltadas ao idoso no Brasil........................................46 2.2.1 Legislação Internacional...........................................................................47 2.2.2 Legislação Nacional..................................................................................51 CAPÍTULO III: AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA NO BRASI.............................................................................................57 3.1 O surgimento das primeiras políticas assistenciais voltadas para idosos no Brasil.............................................................................................................57 3.2 Leis Eloy Chaves: uma das primeiras conquistas dos idosos...................58 3.3 A proteção social aos idosos brasileiros através da Constituição Federal de 1988..............................................................................................................59 3. 4 A Lei Orgânica de Assistencial Social - Loas: um benefício do idosos não aposentado...................................................................................................66 3.5 Lei nº 8.842. de Janeiro de 1994: Uma das grandes conquistas do idoso no Brasil.............................................................................................................67 3.6 Estatutos do Idoso: Uma forma de mostrar à sociedade que estas pessoas também possuem direitos............................................................................70 3.7 Local da pesquisa: Unidade de Abrigo Olavo Bilac..................................73 CAPÍTULO IV: PERCEPÇÕES E SENTIMENTOS DOS IDOSOS EM RELAÇÃO À FAMÍLIA, AOS PROFISSIONAIS E À INSTITUIÇÃO QUE OS ACOLHE............................................................................................................74 4.1 Os sentimentos dos idosos por não estarem morando com seus familiares......................................................................................................74 4.2 A convivência dos idosos no abrigo.............................................................89 4.3 Sonhos e anseios dos idosos......................................................................92 4.4 O significado da velhice e da experiência de envelhecer para os idosos acolhidos pelo Abrigo...................................................................................94 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................98 REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS..............................................................101 APENDICE I TERMO DE CONSENTIMENTO................................................107 APÊNDICE II ROTEIRO DE ENTREVISTA....................................................109 INTRODUÇÃO O presente trabalho de conclusão de curso tem como temática “A vida do idoso fora do convívio familiar: percepções e sentimentos dos idosos acolhidos na Unidade de abrigo Olavo Bilac. O objetivo principal é identificar através de relatos/depoimentos dos idosos que residem no abrigo, seus sentimentos em relação à distância familiar e / ou abandono, por parte de seus familiares, bem como o seu dia a- dia em convívio com outros idosos, seus sonhos e perspectivas dentro do abrigo e o significado da velhice nos dias de hoje para eles. Para compreender a situação do idoso fora do convívio da família nesse contexto, faz-se necessário entender o processo de envelhecimento, as mudanças no contexto histórico da velhice, as principais instituições acolhedoras e as políticas de atendimento para a pessoa idosa no Brasil. As principais indagações para o estudo partem da analise das relações sociais dos idosos com seus familiares, que levaram a família a abandonar seu entequerido e como tais conflitos surgiram. Já que a família é o principal aparato para a pessoa idosa, por que o abandona? Como se dão as relações pais e filhos para que esse idoso não sofra algum tipo de abandono? O que as políticas públicas tem feito em defesa desses idosos em relação ao abandono familiar? Por que existem tantos idosos abandonados nas Instituições de Longa Permanência, embora ainda existam laços afetivos da família com o idoso? O que o Estatuto do Idoso tem em defesa de tantos casos de maus-tratos e abandono familiar? Seguido o que está exposto, o motivo do estudo, foi construído a partir dessas indagações fazendo relevância do problema social que é a situação de abandono e muitas vezes maus-tratos para com a pessoa idosa. O abandono de idoso cresce a cada minuto no mundo, no Brasil e, a cada dia, em Fortaleza-Ceará. Embora existam poucas instituições públicas asilares para abrigar tantos idosos em 15 situação de abandono, muitas vezes esses idosos ficam invisíveis, por se tratar de pessoas que não têm mais lugar na sociedade. E o idoso é tratado com desprezo por boa parcela da sociedade brasileira, dando para que quando chegar à velhice torne-se descartável, pessoa sem valor. Tudo aquilo que não produz, não dá lucro torna-se descartável para a sociedade e é assim que o idoso se sente nesse novo cenário brasileiro. O interesse em estudar essa problemática surgiu a partir do desejo de conhecer a vida dos idosos que residem em asilos, fora do convívio familiar, mais especificamente daqueles estão abrigados na Unidade de Abrigo Lar Olavo Bilac, na cidade de Fortaleza-Ceará. A pesquisa busca compreender suas percepções e sentimentos, bem como suas perspectivas de vida no que se refere à instituição onde se encontram. O despertar por esse assunto deu-se quando ao estagiar no Frotinha de Messejana, foram observadas inúmeras vezes casos de idosos, vítimas de abandono por seus familiares no leito de sua enfermidade. Abandono seja por condições financeiras, ou relacionamentos no seio familiar. Após o Serviço Social do hospital, comunicar o caso ao Ministério Publico e à Defensoria do Idoso, a família retornava ao hospital para assumir as responsabilidades com o idoso. O índice de abandono era visivelmente estampado. Para a realização dessa pesquisa, terminando o período de estagio, em Julho de 2012, fui a campo conhecer uma unidade acolhedora de idosos em situação de abandono. Com o ritmo acelerado da população idosa, o conceito de idoso no Brasil entra em discussão, pois para o ser humano ser denominado de idoso é levado em consideração à esperança de vida da população. Assim, essas mudanças ocorridas na demografia brasileira influenciam a denominação idosa. No Brasil para uma pessoa ser considerada idosa, legalmente conforme a Lei de nº 10.741 de 1º de Outubro de 2003, possui idade igual ou superior a 60(sessenta) anos de idade, sendo o mais utilizado pelas políticas sociais e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), isso em países desenvolvidos. 16 Para uma definição mais compreensiva da palavra idosa, o Brasil teve antes duas Leis que definiram o termo idoso, quais sejam: Constituição Federal de 1988 que considerava o idoso com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, e a Política Nacional do Idoso (PNI DE 1994), que tinha como idosa aquela pessoa que possuísse idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, sob a Lei 8.842 de 4 de janeiro de 1994. O termo “idoso” refere-se a pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com a Lei nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. As mudanças de natureza biológica, psicológica, social e econômica, que acompanham o processo de envelhecimento, são consideradas em nossa sociedade como perdas, gerando medo e culpa, e fazendo com que muitas pessoas tenham dificuldades para aceitar sua realidade, o que causa novos males como; depressão e angústia. Nem sempre tais mudanças são aceitas pela própria pessoa que envelhece, pois com elas chegam os sentimentos de perdas associadas ao declínio físico, às reflexões sobre a vida e sobre a proximidade da morte. A média de idade da população mundial está aumentando. No Brasil, este fenômeno ocorre com grande velocidade, conforme IBGE (2010). Mesmo com direitos garantidos, os idosos ainda sofrem em diversos setores, como por exemplo: no trabalho, na saúde e no meio familiar. Este último é considerado o mais grave. A família deveria ser o porto seguro e,quando isso não acontece, traz sérios prejuízos à dignidade do sujeito. Em caso extremo o idoso necessita ir para outro local onde possa ter os seus direitos respeitados e necessidades realizadas, principalmente de afeto e assistência à saúde. O Estado tem o dever de dar as pessoas mais idosas assistência em todas as suas necessidades, porém poucas são as casas de abrigo em todo o Brasil. Segundo a publicação do jornal Diário do Nordeste, em maio de 2011, o Ceará possui apenas um abrigo público para idosos. Percebe-se que o Estado necessita melhorar em relação à prestação de assistência aos idosos, tendo em vista que o abrigo existente acolhe somente 100 residentes. Em caso de demanda de vaga é necessário aguardar até que surja outra vaga. (LIMA, 2011). Diante dessa realidade e de nossa paixão pelas pessoas idosas de um modo 17 geral, foi despertada a ideia de fazer um trabalho de pesquisa sobre as condições de vida dos idosos, muitos invisíveis diante da sociedade, no único abrigo estatal de Fortaleza, por meio de entrevistas a residentes e funcionários, em busca de compreender como é a vida destas pessoas e como é a convivência com outros idosos longe do convívio familiar. Para a realização desta monografia foi realizada inicialmente uma pesquisa exploratória que, conforme GIL (1999), objetiva proporcionar uma visão geral, do tipo aproximativo, sobre determinado fato. Este tipo de pesquisa normalmente consiste na primeira etapa de uma investigação maior de um trabalho, pois envolve levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não estruturadas e estudos de caso. Foi preciso uma aproximação dos sujeitos da pesquisa para conhecer de perto o lugar onde eles vivem observar a rotina, como preenchem os vazios, como são cuidados. Num segundo momento foi realizada a pesquisa de campo, que, de acordo com MARCONI E LAKATOS (1996), é uma fase que ocorre após os estudos bibliográficos, para que o pesquisador tenha um bom conhecimento sobre o assunto.É nesta etapa que ele vai definir os objetivos da pesquisa, as hipóteses, definir qual é o meio de coleta de dados e a metodologia aplicada. A metodologia privilegiou os dados qualitativos, que segundo GALZIER E POWEL (1980) constituem-se em descrições detalhadas de fenômenos, comportamentos; citações diretas de pessoas sobre suas experiências; trechos de documentos, registros, correspondências; gravações ou transcrições de entrevistas e discursos; dados com maior riqueza de detalhes e profundidade e interações entre indivíduos, grupos e organizações. Nesta pesquisa, foi utilizada para a coleta de dados a entrevista do tipo semi estruturada, ou seja, as perguntas foram previamente formuladas. O principal motivo para o uso dessa técnica foi o fato de deixar o entrevistado mais a vontade para conversar sobre os seus sentimentos em relação a vivencia no abrigo. Conforme afirma (RICHARDSON, 1999, p.189), “a entrevista é uma técnica importante que 18 permite o desenvolvimento de uma estreita relação entre as pessoas. É um modo de comunicação no qual determinada informação é transmitida de uma pessoa A uma pessoa B.” Também foi utilizada a observação simples para obter informações sobre o dia-a-dia dos idosos, como eles se relacionam e qual a sua rotina na instituição. A escolha dessa técnica é justificada pelo fato de o pesquisador “identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” (MARCONI; LAKATOS, 1996, p.79). Através da observação é possível ver expressões e gestos que somente o pesquisador poderá ter a proeza de vivenciar, tornando esse momento da pesquisa único. O estudo empírico foi realizado em Fortaleza com idosos e profissionais do Abrigo Olavo Bilac situado à Rua Olavo Bilac 1320, bairro São Gerardo. O público alvo desta pesquisa foram idosos entre 60 e 90 anos e profissionais que trabalham no abrigo. Para a realização das entrevistas, foi feito contato com a gerente da Unidade de Abrigo e o agendamento dos dias e horários de acordo com o consentimento e disponibilidade da instituição, respeitando suas normas. Todas as entrevistas foram realizadas no abrigo, sem interferência na rotina diária dos residentes. As entrevistas foram gravadas com o consentimento dos idosos e funcionários. Também foram feitas anotações importantes e observações pertinentes, no caderno de campo, no momento das entrevistas. A pesquisa de campo teve duração de 2 meses, entre novembro e dezembro de 2012, pois apesar do agendamento em dias alternados, conforme a disponibilidade da Instituição, alguns idosos não se sentiam bem fisicamente para falarem. Foram respeitados os preceitos éticos e legais que devem ser seguidos nas investigações envolvendo seres humanos, conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). Assim, os sujeitos da pesquisa foram previamente informados acerca dos objetivos e da justificativa da pesquisa, garantindo-lhes o anonimato e a opção de participar ou não da pesquisa, podendo também desistir a qualquer momento se assim desejassem. (Anexo). Foram também assegurados, o sigilo das informações e a privacidade dos sujeitos, de forma a 19 proteger-lhes a imagem, respeitando os valores sociais, culturais, religiosos e morais dos mesmos. Na pesquisa bibliográfica foram utilizados livros, artigos e monografias cujas categorias revisavam sobre as temáticas de envelhecimento, velhice e idoso (como subsídios para a pesquisa). A monografia foi estruturada em quatro capítulos, que apresentam dados e discursos dos sujeitos pesquisados, estabelecendo relações com a teoria exposta. O primeiro capítulo com o título O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E OS IMPACTOS SOBRE A PESSOA IDOSA, apresenta-se através de três itens: primeiramente apresenta-se o envelhecimento da população no mundo, no Brasil e no Ceará. Em segundo momento as múltiplas formas de envelhecimento populacional e as mudanças no contexto histórico da velhice e o terceiro item os aspectos do envelhecimento da população. Para tais suscitações, dialogamos com autores Barreto (1992), Beauvoir (1990), Camarano (2002), Debert (1999), Neri (2007), San Martin e Pastor (1996 ). O segundo capítulo descreve A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO, através dos itens: A família e o idoso x as relações afetivas e os tipos de Intuições no Brasil. Faz uma discussão sobre o idoso asilado e sua imagem perante a sociedade. Para tais discussões buscou embasamento teórico com os seguintes autores: Aries (1981); Bulla, Argimon (2009), Giddens (2005), Carvalho (2003), Espitia; Martins (2006), Ferreira e Simões (2011), Laffins (2009), Lima (2009); entre outros. Nesse contexto, o que se procura tratar como centralidade é a importância da família para o acolhimento e vivência da pessoa idosa e suas novas configurações. Sejam quais forem os tipos de arranjos familiares, o que vale mesmo é a importância que a família influi sobre a vida de todos os seus membros, em especial na vida dos idosos, que necessitam de cuidados peculiares. O terceiro capítulo, de teor teórico, faz um esboço sobre AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA NO BRASIL, apresenta-se através de seis itens: primeiramente faz-se um resgate histórico do surgimento das políticas assistenciais voltadas para o idoso no Brasil; no segundo item a Lei Eloy Chaves; Uma das primeiras conquistas dos idosos, a proteção social aos idosos 20 brasileiros através da Constituição Federal de 1988, depois a Lei Orgânica de Assistência Social-LOAS; mais benefício em prol do idoso não aposentado e a Lei nº 8.842, de Janeiro de 1994: uma das grandes conquistas do idoso no Brasil e por último o Estatuto do Idoso. O quarto capítulo PERCEPÇÃO E SENTIMENTOS DOS IDOSOS EM RELAÇÃO À FAMÍLIA, AOS PROFISSIONAIS E A INSTITUIÇÃO QUE OS ACOLHE, entram no universo das emoções, pois envolvem sentimentos, angústias, tristezas e desilusões. Nesse capítulo apresentam-se os resultados das entrevistas colhidas na Instituição, com os significados da convivência no abrigo. Como em todas as pesquisas surgiram obstáculos. Nem todos os idosos do abrigo puderam ser entrevistados devido a algumas doenças. Outra dificuldade foi fazer os idosos relembrarem o seu passado, memórias, reviver vários sentimentos. Uma idosa entrevistada foi impedida de continuar a entrevista devido a seu abalo emocional. Porém em meio às dificuldades conseguimos obter o mais precioso o conhecimento, o aprendizado e a vivência que os anos lhe concedem. As considerações finais descrevem as questões da compreensão e da percepção dos idosos em relação ao não convívio com seus familiares, trazendo a reflexão da pesquisa sobre o tema. Os achados da pesquisa informam das dificuldades enfrentadas e objetivos alcançados. 21 CAPÍTULO I - O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E OS IMPACTOS SOBRE A PESSOA IDOSA Este primeiro capítulo é composto por um histórico sobre o processo do envelhecimento e seus conceitos. Os subcapítulos foram inseridos de forma a organizar os assuntos para que fique claro e objetivo. O processo de envelhecimento faz parte do ciclo de vida e do desenvolvimento humano. É a fase da vida em que o individuo está cercado por determinantes sociais que tornam as concepções sobre variáveis de indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura, de época para época. Para (BEAUVOIR, 1990) a velhice é o que acontece às pessoas que ficam velhas; impossível encerrar essa pluralidade de experiências num conceito, ou mesmo numa noção. Pelo menos, podemos confrontá-las umas com as outras, tentar destacar delas as constantes e as razões de suas diferenças. Ainda sobre velhice, na concepção de SAN MARTIN E PASTOR (1996), diz não existir um consenso que se nomeia a palavra” velhice”, por que as divisões cronológicas da vida do ser humano não são absolutas e não correspondem sobre essas etapas do processo de envelhecimento natural. Afirmam ainda que a velhice não é definida por simples cronologia, mas pelas condições físicas, funcionais, mentais e de saúde das pessoas, o que equivale a afirmar que podem ser observadas diferentes idades biológicas e subjetivas em indivíduos com a mesma idade cronológicas. Para os autores em questão, as pessoas com a mesma idade podem apresentar aspectos diferentes dependendo da família, do ambiente e da situação em que se encontram. O envelhecimento produz uma mudança fundamental na posição de uma pessoa na sociedade, com perdas de papéis importantes na vida do idoso. Além do preconceito social que está relacionado ao poder aquisitivo, ao acesso à renda, à posição social, ao nível de escolaridade, ao padrão de vida, entre outros, existe também o auto-preconceito que parte da própria pessoa, a qual está com a autoestima baixa, sem amor próprio, passando por alguma situação difícil que 22 diminua a confiança ou mesmo pode ter acontecido de alguém ter falado algo que a afetou negativamente. O idoso enfrenta, ainda, as modificações psicossociais ocasionadas pela diminuição de interesses, da autoestima e das atividades, somadas aos eventos estressantes e ao isolamento, em razão das mudanças de papel. Em nossa sociedade a maioria das pessoas mais velhas é apontada em nível social, como incapaz, diminuindo o seu potencial, e isso fazem com que o próprio idoso acabe se vendo assim, no geral, ele se autodiscrimina seja por sua condição física, psíquica ou social, e a partir do momento em que não se aceita em suas condições, isto pode prejudicar outros fatores de sua vida. Ocorrem também alterações biológicas provenientes da senectude que são as alterações orgânicas, morfológicas e funcionais que ocorrem em consequência do processo de envelhecimento e a senilidade que são as modificações determinadas pelas afecções que frequentemente acometem os indivíduos idosos que os leva, muitas vezes, – por iniciativa própria ou da família, em decorrência de outros fatores – à institucionalização. Essa ambiência favorece a internalização do estigma da velhice pelo próprio grupo de idosos. Encontram-se suscetíveis aos sentimentos de tristeza e incompetência por não dominarem o presente e por se perceberem solitários num mundo onde são considerados inferiores, tratados como crianças ou como objetos. No entender de ELIAS (2000), o grupo mais forte, além de construir uma representação de si próprio como sendo humanamente superior, consegue fazer com que o outro grupo internalize a sua inferioridade. Dessa forma, a medida do desequilíbrio de poder e da desigualdade de forças na oposição estabelecidos/outsiders será determinante na configuração das relações entre esses grupos RODRIGUES (2006, p.62). Assim, em alguns trechos do livro “A solidão dos moribundos” ELIAS (1990), citado por BEAUVOIR (1990), ressalta como se sentem os velhos quando chegam à faixa etária dos 60 aos 80 anos diante de suas dificuldades, tanto físicas como psicofisiológicas. Logo vem a preocupação em relação ao seu papel dentro do meio 23 familiar e na sociedade, pois não é fácil aceitar as limitações e as dificuldades para realizar algumas atividades que antes praticavam sozinhos e que agora precisam de ajuda para realizá-las. 1.1 O envelhecimento da população no mundo, no Brasil e no Ceará. Nos séculos XX e XXI tem-se notado um crescimento exagerado da população mais velha, enquanto nos tempos medievais um velho vivia aproximadamente 60 a 70 anos, a média depois de um século é de 10 ou mais anos, isso porque as proteções sociais foram fundamentais para auxiliar nesse processo. De acordo com DEBERT, (1999, p.14). [...] nesse movimento que marca as sociedades modernas, a partir da segunda metade do século XIX, a velhice é tratada como uma etapa da vida caracterizada pela decadência física e ausência de papéis sociais. Para o autor o avanço da idade como um processo contínuo de perdas e de dependência – que daria uma identidade de condições aos idosos – é responsável por um conjunto de imagens negativas associadas à velhice, mas foi também elemento fundamental para a legitimação de direitos sociais, como a universalização da aposentadoria. Para PAPALÉO (1996), as populações dos países desenvolvidos, que possuem expectativa média de vida de aproximadamente 77 anos, já estão apresentando curvas próximas do contorno retangular, mesmo nos países em desenvolvimento, com expectativa média de vida de aproximadamente 67 anos, está ocorrendo certa tendência à retangularização da curva, embora ainda muito distante do nível atingido pelo Primeiro Mundo. Este é um dos desafios que terão que ser enfrentados. De acordo com o autor essas pesquisas realizadas para saber como reflete o envelhecimento populacional, em 1900, menos de 1% da população tinha mais de 65 anos de idade, enquanto hoje, ao se aproximar fim do século, esta pirâmide já atinge 6,2%, acreditando-se que no ano 2050 os idosos serão um quinto da população mundial. No Brasil, os idosos, que representavam 4,2% da população em 1950, hoje perfazem 10,5 milhões, ou seja 7,1% do total(PAPALÉO 1996, p,3). 24 No Brasil o fenômeno de envelhecimento populacional teve inicio no século XX. Ocorreu de forma retraída a partir dos anos 1940, mas acentuada o seu quadro de envelhecimento após os anos de 1960 devido a uma expressiva queda na taxa de fecundidade, isto é, quando o país começou a registrar baixas taxas de fecundidade entre mulheres, e com essa transformação ocasionou o aumento da população idosa no contexto social brasileiro (IBGE, 2009) CAMARANO (2002) ressalta que o envelhecimento da população idosa está relacionado a dois processos: a alta fecundidade no passado, principalmente, nos anos de 1950 e 1960, se comparada à fecundidade da atualidade; e a redução da mortalidade da população idosa. A baixa taxa de fecundidade hoje, ou seja, a diminuição de filhos nas famílias está relacionada às transformações que vêm acontecendo nas famílias brasileiras, como a inserção da mulher no mercado de trabalho, o planejamento familiar que Segundo SARTI (2002), através da pílula anticoncepcional onde teve inicio no Brasil na década de 1960, e nessa mesma década se mundializou, assim como outros métodos contraceptivos (IBGE2004). Já a queda na taxa de mortalidade entre idosos contribuíram para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros. Essa diminuição pode ser relacionada aos aspectos como: acesso ao Sistema Único de Saúde( SUS), isto é, a universalização dos serviços de saúde, as políticas e os programas de assistência social. A Política Nacional de Assistência Social, através da Proteção Social Básica por meio do Centro de Referencias de Assistência Social (CRAS), os idosos são inseridos nos Centros de Convivência para Idoso, (PNAS, 2004). Esse serviço ofertado para os idosos tem como foco desenvolver atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, desenvolvimento de autonomia e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e na prevenção de situação de riscos social, violência e o isolamento do idoso (BRASIL, 2009). “Essas políticas de atendimento aos idosos, que está garantido na Lei 10.741 Estatuto do Idoso de 2003, através do Título IV, Capítulo I artigo 46.” A política de atendimento ao idoso 25 far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e nãogovernamentais da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.” Referindo-se à situação da população brasileira, CAMARANO (2002, p.60) assinala que: Atualmente, a população brasileira com idade igual ou superior a 60 anos é da ordem de 15 milhões de habitantes. A sua participação no total da população nacional dobrou nos últimos 50 anos; passou de 4%, em 1940, para 9%, no ano de 2000. Projeções recentes indicam que esse segmento poderá ser responsável por quase 15% da população brasileira no ano 2020. Nesse período, o Brasil equiparar-se-à aos países desenvolvidos em termos de população idosa em relação à população jovem. Acompanhando essa transição demográfica, a população mais idosa, acima de 80 anos, também aumentará, levando a uma heterogeneidade dessa população. Ainda de acordo com CAMARANO (2002), de 166 mil pessoas em 1940, a população mais idosa subiu em 2000 para quase 1,9 milhão. Para CAMARANO E BELTRÃO (1997, p. 106), em seus estudos sobre as características sociodemográficas da população idosa brasileira, explicam que esse crescimento dos idosos em nosso país deve-se à queda nos índices de fecundidade e ao aumento da longevidade. Isso ocorre em detrimento da diminuição do peso da população jovem no total da população brasileira. Declaram ainda que é uma tendência mundial, e que essa mudança na distribuição etária indica novas demandas por políticas sociais. Na compreensão de BERZINS (2003, p.28), ao se considerar os aspectos da velhice, não se pode deixar de contemplar o recorte de gênero, que é determinante, inclusive, do lugar que os idosos e as idosas ocupam na vida social. Em nossa sociedade, as mulheres vêm se destacando no mercado de trabalho, devido às condições de vida. Muitas delas são obrigadas a deixar seus lares e trabalhar para garantir o sustento da família. 26 No Brasil, 55% dos idosos são mulheres. Este fenômeno se repete em praticamente quase todos os países. São vários fatores que contribuem para a maior longevidade da população feminina: proteção hormonal do estrógeno, inserção diferente no mercado de trabalho, consumo de tabaco e álcool, postura diferente em relação à saúde /doença, relação diferente com serviços de saúde (BERZINS, 2003, p.29). Outra questão demográfica que merece destaque é a feminização da velhice e suas derivações em termos de demandas de políticas públicas. As idosas têm perfil semelhante: são viúvas, moram sozinhas, não têm experiência no mercado de trabalho formal, pois suas atividades se restringem aos trabalhos no lar, têm um nível de instrução elementar, haja vista que a maioria é apenas alfabetizada. Em termos epidemiológicos, a feminização da velhice: Coincide com o aumento do número de mulheres idosas e com taxas mais altas de doenças crônicas, incapacidades física, déficit cognitivo, dor, depressão, fadiga, estresse crônico, consumo de medicamentos, quedas e hospitalização entre as mulheres idosas do que os homens idosos. Quando acometidas de demências e de doenças psiquiátricas, as manifestações são mais graves nas mulheres do que nos homens. (NERI 2007) (apud RIEKER e BIRD, 2005; CAMARANO, KANSO e LEITÃO e MELLO, 2004; LEBRÃO e DUARTE, 2003). Já em prisma sociológico, a feminização da velhice coincide com mudanças nas normas etárias e de gênero que regulam os comportamentos e as expectativas de comportamentos das mulheres idosas, as relações intergeracionais e os intercâmbios de apoio material, instrumental e afetivo entre gerações. As características das mudanças variam de acordo com o pertencimento das mulheres a diferentes classes sociais. (NERI 2007) (apud GOLDANI, 1999). Para NERI (2007, p.49), do ponto de vista psicológico, as manifestações dos processos de feminização da velhice ocorridas nos âmbitos sociodemográfico, biológico e sociológico são assimilados pelo self, que assume novas identidades, metas e atitudes em relação ao mundo externo e a si mesmo. 27 Pode-se dizer que a mulher, embora tenha um papel fundamental no seio familiar, tem uma autoimagem e imagens de velhice mais negativas do que os homens; geralmente, são mais queixosas; a perda da beleza e do vigor físico as onera mais do que a eles. Geralmente suas condições de vida e saúde são piores. Em casas de abrigos encontram-se mais mulheres fragilizadas e com dependência maior de ajuda do que os homens. Ainda segundo NERI (2007, p. 49), esses aspectos sociodemográficos, epidemiológicos, sociológicos e psicológicos da feminização da velhice refletem-se nas novas formas de a sociedade lidar com essa fase do curso da vida e com os mais velhos”. Para o IBGE, o crescimento absoluto da população do Brasil nestes últimos anos se deu principalmente em função do crescimento da população adulta, com destaque também para o aumento da participação idosa. Ainda em análises dos dados do IBGE, (2010) o aumento de idosos observados atualmente, está acima da média prevista pelas estimativas anteriores, já que segundo Sinopse do Censo, o Brasil possui 14 milhões de pessoas com mais de 65 amos em relação ao censo de 1991, onde o número de pessoas idosas era de 10.722.705. O crescimento da população de idosos, em números absolutos e relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo em um nível sem precedentes. Em 1950, eram cerca de 204 milhões de idosos no mundo e, já em 1998, quase cinco décadas depois, este contingente alcançava 579 milhões de pessoas, um crescimento de quase 8 milhões de pessoas idosas por ano. (SIQUEIRA, 2009). De acordo com o (IBGE, 2010), houve aumento significante na pirâmide: [...] ‘de 1991 ao ano de 2010, houve um alargamento do topo da pirâmide populacional observado pelo crescimento da população com 65 anos ou mais’. [...] a população com 65 anos ou mais era cerca de 4%, em 2000 a população cresceu para 5,9%, chegando a 7,4% em 2010. Os idosos vêm ocupando os espaços na esfera da pirâmide populacional, deixando o Brasil no sexto colocado em população com maiores números de idosos 28 (IBGE, 2010), o que implica que nem a população se deu conta desse crescimento exorbitante, nem as autoridades governamentais, pois as ocorrências de idosos desamparados pelas leis mostram a dificuldade que os governantes apresentam em relação aos cuidados com essa população idosa. Na concepção de CARVALHO (2010) sobre essa mudança aponta diversas consequências nos diferentes setores da vida humana, tais como na esfera econômica, na saúde, na previdência, no lazer e na cultura. Porém o envelhecimento populacional não ocorre de modo igual e isoladamente no país, estados e regiões. A taxa de fecundidade e da mortalidade influencia a ação do envelhecimento nesse sentido. Essas diferenças regionais permitem que cada Estado tenha um processo de envelhecimento diferente, por isso em cada região há um índice de envelhecimento uns mais altos que os outros, as regiões Sul e Sudeste têm índices mais elevados de idosos que as regiões Norte e Nordeste (IPECE , 2009). O processo de envelhecimento populacional, ou seja, o aumento da expectativa de vida da população com mais de 60 anos de idade faz parte da evolução da humanidade brasileira, e, consequentemente do estado do Ceará, principalmente, da cidade de Fortaleza, a capital do estado. O envelhecimento da população de Fortaleza não ocorre de forma isolada do contexto brasileiro, as taxas de redução de fecundidade e mortalidade vêm alterando a estrutura etária do país e também influenciando nas regiões e cidades, como é o caso de Fortaleza. O IBGE (2011) revelou as cidades mais populosas do país, entre elas Fortaleza teve um destaque ocupando o quinto lugar no ranking com mais de 2 milhões de habitantes. Tendo em vista que desde o ano de 2000, a capital cearense vem ocupando esta posição, entre esses mais de 2 milhões de residentes , a população idosa com mais de 60 anos de idade apresenta de forma significante. Uma matéria do Jornal Diário do Nordeste (2011) baseada em pesquisa do IBGE (2010) revela que a população de idosos com 60 anos ou mais no Ceará cresceu 61% em dez anos. Os dados do Censo 2010 confirmam que esse 29 contingente etário está em 1.063 milhões de pessoas, enquanto em 2000 esse número correspondia a exatas 658,9 mil pessoas no estado. Em 2000, Fortaleza, de acordo com o Censo Demográfico tinha uma população no total de 2.141.402 habitantes, em que destes 160.148(7.47%) eram idosos com mais de 60 anos. Já em 2010, a população absoluta, isto é o total era de 2.452.185, tendo um aumento de 310.783 habitantes. Dessa população absoluta de 2010, 237.076.(9,67%) de população relativa, ou seja, são de idosos com 60 anos ou mais, teve um crescimento em 10 anos de 2,2% em Fortaleza (IBGE2010). LAVOR (2011) ressalva em sua matéria, que muitos fatores têm contribuído para esse aumento de idosos. Por outro lado, cada vez mais as pessoas têm-se dedicado menos a proporcionar uma boa qualidade de vida para os idosos. Com isso todo o processo de gradativo da velhice chega a se apresentar mais cedo, com sinais de senescência e senilidade, fato que ocorre rapidamente quando não há recursos suficientes para se chegar à chamada terceira idade com aspecto desejável e melhor aparência. 1.2 As múltiplas formas de envelhecimento populacional e as mudanças no contexto histórico da velhice. No Brasil, como em outros países em desenvolvimento, o processo de envelhecimento vem acarretando uma grande preocupação na sociedade, devido ao fato de os idosos corresponderem a uma parcela da população cada vez mais representativa do ponto de vista numérico (SILVA, et al, 2002). A nomenclatura para os idosos se torna amplo e complexo, pois cada pesquisador do processo de envelhecimento designa uma nomenclatura para identificar o idoso. Peixoto em seu estudo (2000 apud MINAYO, 2005), faz três denominações ao idoso: terceira idade: esse grupo é formado por pessoas com 60 a 69 anos e boa parte ainda está exercendo uma atividade laborativa e há menos pessoas com dependência física. Outra a quarta idade que é atribuída às pessoas com 70 a 80 anos e, segundo o estudo da autora, já existe a classificação da quinta idade para aqueles que têm acima de 80 anos. 30 Para DEBERT (1999, p.12), considerar que as mudanças nas imagens e nas formas de gestão do envelhecimento são puros reflexos de mudanças na estrutura etária da população é fechar o acesso para a reflexão sobre o conjunto de questões que interessa pesquisar, como envelhecimento físico, idade legal, entre outras. Para o autor citado acima, Tratar da velhice, dessa perspectiva, é buscar acesso privilegiado para dar conta de mudanças culturais nas formas de pensar e de gerir a experiência cotidiana, o tempo e o especo, as idades e os gêneros, o trabalho e o lazer, analisando, de uma óptica específica, como uma sociedade projeta sua própria reprodução. (DEBERT, 1999, p.13). Em textos relatados por BEAUVOIR (1990), os “velhos”, assim chamados pela população jovem, desde os primórdios são tratados, dependendo da cultura do lugar, de forma às vezes agradável e outras não. Em uma pesquisa etnográfica realizada por dois etnógrafos, Trostchansky e Sieroshevski, no nordeste siberiano, onde as famílias viviam em extrema pobreza, os idosos eram muitas vezes desprezados por seus filhos, feitos escravos, deixados a passar fome e frio, de modo que, muitas vezes, chegavam a pedir a própria morte. Enfim, os jovens não tinham nenhum respeito ou consideração pelos mais velhos. Já no norte da África, as pessoas idosas eram tratadas com muito respeito pela sociedade. Quando os idosos não podiam mais trabalhar, eram sustentados pelos filhos e suas experiências e seu saber serviam à comunidade. Em se tratando das faixas etárias e do grau de cuidados, pode-se observar que geralmente os idosos com algumas deficiências são os que mais preenchem os números de pessoas em condições de vulnerabilidade social, devido aos maus tratos em domicílios. Muitas vezes, não tendo condições de denunciar o agressor, preferem abandonar seus lares e ir para a rua ou abrigos. De acordo com (ELIAS, 2001). A fragilidade dos velhos é muitas vezes suficiente para separar os que envelhecem dos vivos. Sua decadência os isola, Podem tornar-se menos 31 sociáveis e seus sentimentos menos calorosos, sem que se extinga sua necessidade dos outros. Isso é o mais difícil: o isolamento tácito dos velhos, o gradual esfriamento de suas relações com as pessoas a quem eram afeiçoados, a separação em relação aos seres humanos em geral, tudo o que lhes dava sentido e segurança. O processo de envelhecimento é acompanhado de demandas para o Estado, a família e a sociedade, em especial, pela disputa de recursos públicos com outros segmentos sociais, o que, por si só, é algo preocupante em países desenvolvidos e em países em desenvolvimento, como o Brasil, que não está preparado para conviver com esse contingente populacional. Desse modo, o problema assume dimensões maiores, com aumento dos custos da previdência social e da saúde. Para PEIXOTO (apud MINAYO, 2000, p.9). Atualmente, em todos os países em que a população idosa é parte significativa da população geral, estabelece-se uma classificação interna ao próprio grupo, visando à atuação das políticas sociais. O grupo dos que têm de 60 a 69 configura o que tradicionalmente se denomina terceira idade: nele há menos pessoas física e mentalmente dependentes, grande parte delas trabalha e está ativa. Geralmente, é do segmento de até 75 anos que surgem as denúncias de maus tratos e violências, uma vez que o grupo dispõe de mais autonomia e de condições para buscar ajuda. Acima dessa faixa, os velhos sentem muito mais dificuldades de reagir a agressões físicas, econômicas e psicológicas. O segmento dos idosos de 70 a 80 anos é chamado de quarta idade e já se usa a classificação quinta idade para a população acima de 80 anos. MINAYO (2005, p.10) ainda menciona que, nos diferentes contextos históricos das sociedades, há uma atribuição de poderes para cada ciclo da vida e, em quase todos, observa-se um “desinvestimento” político e social na pessoa idosa. A maioria das culturas tende a excluir os velhos e a segregá-los e, real ou simbolicamente, a desejar sua morte. Hoje, no Brasil, existem cerca de 15 milhões de idosos. O termo “idoso” refere-se a pessoas com 60 anos ou mais, de acordo com a Lei nº 8.842, de 1994, que dispõe sobre a Política Nacional do Idoso. Segundo o IBGE (2010), as 32 projeções demográficas para 2025 apontam para 34 milhões de brasileiros neste quadro. Nessa época, a proporção com o número de jovens será de um idoso para cada jovem (NÉRI, 2001). 1.3 Os aspectos do envelhecimento A etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser compreendida a partir da relação que se estabelece entre diferentes aspectos cronológicos, psicológicos e sociais. Essas interações são importantes desde que o indivíduo esteja inserido dentro dessas condições culturais. As condições históricas, políticas, econômicas, geográficas e culturais produzem diferentes representações sociais da velhice e também no idoso. Existe uma correspondência entre a concepção de velhice presente em uma sociedade e as atitudes frente às pessoas que estão envelhecendo (SCHNEIDER, IRIGARAY, 2008). 1.3.1 Envelhecimento Fisiológico Na fisiologia, o processo de envelhecimento inicia-se desde o momento em que nascemos. As transformações começam com a redução da massa magra, cabelos brancos, pele enrugada. As alterações ocorrem por todos os sistemas do organismo, de maneiras diferentes, cada qual no seu ritmo, sendo que as mudanças são nítidas e fazem parte do desenvolvimento normal da espécie humana (FERREIRA, 2006). Em relação ao sistema nervoso, responsável pela vida de relação (sensações, movimentos, funções psíquicas) e pela vida vegetativa (funções biológicas internas), há alterações importantes em nível morfofuncional, químico e fisiológico. (CANÇADO; HORTA, 2002). Ainda sobre o sistema nervoso central, UMPHRED e LEWIS (2001) apontam a redução do peso e da espessura dos giros e dos ventrículos. Também ocorre perda da velocidade de condução nos neurônios sensoriais e motores do sistema nervoso central e periférico e perdas da bainha de mielina das grandes fibras 33 mielinizadas, dificultando a manutenção da homeostase no idoso. A visão, a audição, os sistemas circulatórios e vasculares são alterados (CANÇADOS; HORTA, 2002). A função do coração é tão afetada, como os pulmões e o sangue. As ocorrências de alterações relacionadas à idade ou aos processos mórbidos nesses sistemas influenciam diretamente a função cardíaca (COHEN, 2001). De acordo com AFFIUNE (2002) e FERREIRA (2006), o sistema cardiovascular sofre significativa redução de sua capacidade funcional com o envelhecimento. O idoso não apresenta redução importante do débito cardíaco em repouso, mas em situação de maior demanda, em esforço natural, ou no caso de alguma doença coronariana, os mecanismos para sua manutenção podem falhar. No sistema respiratório, as alterações são menos percebidas em indivíduos saudáveis e estão relacionadas, principalmente, com transformações nas estruturas anatômicas do sistema pulmonar. “Os cabelos brancos e a calvície fazem parte das características do envelhecimento, apesar de ocorrer também por outras causas.” (FREITAS; MIRANDA, NERY, 2002; FERREIRA, 2006). Após analisar as mudanças ocorridas no processo de envelhecimento, entende-se melhor a preocupação do indivíduo quando começam a aparecer sinais de senescência. Isto se deve às perdas decorrentes da velhice, caracterizando profundas transformações na vida e no cotidiano do indivíduo. 1.3.2 Envelhecimento Cognitivo No processo cognitivo, as perdas vão aparecendo lentamente, por isso devese estar atento às alterações, principalmente no sistema neurológico, onde se vê perda maior. Segundo FERREIRA (2006): É possível observar o declínio das funções cognitivas causadas pelo 34 envelhecimento tais como: perda de memória, principalmente àquelas relacionadas a números, nomes de pessoas, localização de lugares e objetos guardados, até mesmo, a velocidade de processar certas informações. FERREIRA (2006) ainda chama atenção para o fato de que, na função cognitiva, ocorrem alterações importantes, pois as pessoas idosas reclamam do esquecimento, sempre relacionando com a idade, com expressões do tipo “puxa esqueci algo, acho que estou ficando velho”. O declínio cognitivo leve encontrado em idosos refere-se a um déficit nas funções cognitivas, em especial na memória. No entanto, não está relacionado a doenças. Esse comprometimento caracteriza-se por relatos de esquecimento, que afetam as atividades habituais e a autoestima (LAUTENSCHLAGER, 2002; FERREIRA, 2006). 1.3.3 Envelhecimento Psicológico Com a aproximação da velhice nos deparamos com perdas e, muitas vezes, estas nos levam a crises. Alguns idosos possuem mais facilidades para lidar com estas mudanças e decidem enfrentar o desafio de aceitar e adaptar-se a elas; outros apresentam mais dificuldades e, muitas vezes, acabam se afastando e caindo num isolamento crescente. É no envelhecimento psicológico que podemos identificar mudanças de comportamento nos idosos, pois, com o avançar da idade, muitos apresentam sentimentos de medo, angústia, sensação de não ser visto pelo outro e de não ter a aceitação da sociedade. Muitos apresentam quadro de solidão e afastamento do ambiente social. A velhice não pode ser definida como processo linear igualmente para todos; não se trata apenas de se adequar às normas, às regras, mas de sentir, reagir e viver da sua forma e sua maneira essa fase da vida (FERREIRA e SIMÕES 2011, p.37 e 38). 35 COSTA (1998, apud FERREIRA E SIMÕES 2011, p.38) diz que cada pessoa possui uma idade individual, e essa idade é, portanto, aquela que a própria pessoa determina. De acordo com o autor: A idade pessoal é aquela que seu espírito sente em que a sensação de estar com uma idade respectiva é mais forte do que qualquer ruga na face. Não existe, por conseguinte, a avaliação ou impressão do outro, isto é, nessa situação ela não é revelada. Somos nós que prescrevemos nossa idade, segundo aquilo que sentimos interiormente. Vale ressaltar que a idade pessoal não depende de raça, cor, etnia, grupo social, e sim dos aspectos psicológicos, qual a imagem que leva de si e o meio que o rodeia. Se a pessoa faz parte de grupos de faixa etária de 30 a 40 anos, isso não quer dizer que ela se sinta na mesma idade. Como diz a autora citada acima, depende de cada um e como se sente em relação a sua idade. 1.3.4 Envelhecimento Social Para compreender melhor o envelhecimento social, é preciso compreender o que é ser humano nesse aspecto social. Segundo FERREIRA, (2006), o ser humano é um ser biopsicossocial, é biológico, como todos os outros animais; psicológico, pois é dotado de identidade e personalidade; e um ser social, o que diferencia dos demais animais, pois é o único que pode conviver em sociedade. A pessoa se reconhece como ser social de acordo com o grupo, status em que está inserida na sociedade, e isso dependem da aceitação do outro para que possa dar continuidade a nossa vida. Isso depende da família, dos amigos, das crenças, da nossa história de vida. BEAUVOIR (1990, p.16) em seu estudo sobre o papel que a sociedade atribui ao idoso, deixa claro que: [...] a sociedade destina ao velho seu lugar e seu papel, levando em conta sua idiossincrasia individual: sua impotência, sua experiência; reciprocamente, o individuo é condicionado pela atitude prática e ideológica da sociedade em relação a ele. Não basta, portanto, descrever de maneira analítica os diversos aspectos da velhice: cada um dele reage sobre todos 36 os outros e é afetado por eles: é no momento indefinido desta circularidade que é preciso apreendê-la. Para FERREIRA (2006), a família é um componente relevante no relacionamento humano, pois é através dela que cada elemento que a constitui cria laços de afetividade, compromisso e interação, sendo que esses relacionamentos são expandidos na sociedade. É no contexto social que o idoso tem sofrido com maior frequência, devido a sociedade ainda configurá-lo com varias denominações, estereótipos, muitos idosos tem-se tirado o próprio privilegio de encontros sociais, lazeres por conta da discriminação à pessoa idosa, embora em todos os direitos sociais o idoso esteja incluído, nada vale se o próprio idoso não se reconhecer como cidadão de direito. Manzoni (1995) chama a atenção para o fato de que, no processo de envelhecimento, predominam sentimentos negativos sobre si e isso contribui para que o idoso deprecie sua própria imagem. Loureiro (1996) chega a afirmar que a redução das potencialidades físicas e sensoriais, combinada com a degradação estética corporal, leva o idoso a assumir um papel de vítima. BEAUVOIR (1990) é bastante enfática, ao refletir sobre as imagens sociais dos idosos. Segundo a autora, se os velhos manifestam desejo, sentimentos e reivindicações como o jovem, eles escandalizam. O amor e o ciúme sentidos por eles parecem odiosos, a sexualidade repugnante, a violência irrisória. Eles devem dar exemplo de todas as virtudes e ainda “[...] exige-se deles a serenidade; afirmase que possuem essa serenidade, o que autoriza o desinteresse pela sua infelicidade”. (BEAUVOIR, 1990, p. 10). A outra imagem, também negativa, é [...] a do velho louco que caduca e delira e de quem as crianças zombam. De qualquer maneira, por sua virtude ou por sua objeção, os velhos situam-se fora da humanidade. Pode-se, portanto, tratá-los sem escrúpulos, recusar-lhes o mínimo julgado necessário para levar uma vida de homem (RODRIGUES, 2006, p.50). É preocupante quando se fala de ser social, a maneira de como a sociedade vê os idosos e como os próprios idosos se sentem excluídos devido às novas formas de aceitação da sociedade; O mundo do trabalho cada dia mais exigente, dificulta a 37 inclusão de idosos no mercado de trabalho; as relações com a família são cada vez mais restritas, devido às dificuldades que o idoso apresenta em consequência da velhice. Após analisar as mudanças ocorridas no processo de envelhecimento, entende-se melhor a preocupação do indivíduo quando começam a aparecer sinais de senescência. Isto se deve às perdas decorrentes da velhice, caracterizando profundas transformações na vida e no cotidiano do indivíduo. 38 CAPÍTULO II - À INSTITUCIONALIZAÇÃO DO IDOSO. 2.1 A família, o idoso e as relações afetivas Para definir o conceito de família, nunca foi uma tarefa simples, uma vez que as mudanças sociais influenciam ao longo dos tempos a instituição familiar. Para os autores ARIES, (1981) e GIDDENS, (2005) ao pensar em família, a primeira ideia é aquela composta por pai, mãe e filhos convivendo em uma mesma residência, essa imagem que corresponde ao modelo de família patriarcal. Existem famílias dos mais variados tipos, adaptadas às mais variadas necessidades, gostos e afinidades. Família não precisa ser composta por um casal formado por duas pessoas (sejam uma mulher e um homem, dois homens ou duas mulheres). Família não precisa ser formada para produzir filhos, nem ser composta por laços sanguíneos (tratando a adoção como algo menor). Família não precisa estar restrita à heterossexualidade ou à heteronormatividade. A Constituição Federal de 1988, no Cap. VII, Art. 230, é clara ao nomear as instituições responsáveis pela preservação da integridade física e moral dos idosos. Em seu texto, a família vem em primeiro lugar, conforme reprodução a seguir: “A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem estar e garantindo-lhes o direito à vida” (BRASIL, 1988, p.127). A família, como principal integrante na vida do idoso, tem que aprender a lidar com essa situação, para que seu convívio com o idoso não se torne uma obrigação, uma peleja, para que o idoso não se sinta rejeitado pelos próprios familiares, uma vez que se sentindo ameaçado, desprezado pela família, tende a apresentar uma série de alterações psíquicas e fisiológicas. A presença do idoso na família pode ter muito a contribuir para o grupo, uma vez que ele, além de ter uma história pessoal a oferecer ao ambiente, representa ainda a história da estrutura familiar em si. Os idosos representam na família uma referência de família respeitada, de moral e bons costumes. São eles os transmissores de crenças e valores que contribuem para a formação de indivíduos 39 conscientes de suas raízes, ajudando a construir seus referenciais sociais. Os idosos representam, na verdade, a memória da família, do grupo, da instituição e da sociedade. Diante dessa hipótese as autoras; SALLES E FARIA (1997, p.144) lembram que: A presença de um ser diferente [...] pode alterar a dinâmica familiar, tornando-a instável e as reações dos membros também sofrerão mudanças de acordo com cada individualidade. Entretanto, essa presença também pode fortalecer as relações e ressignificar os valores familiares. A importância do relacionamento familiar reside na sua contribuição para cada membro, tornando possível a interação e as realizações individuais e grupais. Pensar na velhice na esfera da família é situá-la na experiência vivida. “Diante disso, DEBERT (1999, p.87) explica que na relação entre o idoso e a família é ora fazer um retrato trágico da experiência de envelhecimento, ora minimizar o conjunto de transformações ocorridas nas relações familiares.” O fenômeno da longevidade crescente nos últimos anos no Brasil tem provocado alterações familiares, pois o envelhecimento do segmento idoso traz demanda para a família, em que esses atores sociais (idoso) passam a necessitar de mais atenção de seus familiares. Mas o seio familiar representa um espaço de proteção ou vulnerabilidade para o idoso? Tendo em vista tantas possibilidades de organização familiar, a proteção estatal do conceito de família não deve estar vinculada ao conceito religioso cristão e conservador de família, calcado na união de homem e mulher para produzir filhos. Portanto, ao falarmos de famílias, é preciso lembrar o Estado laico e combater o discurso religioso que quer interferir no nosso cotidiano e nas políticas de Estado para restringir a liberdade e a autonomia das pessoas em formarem suas famílias sem seguir um modelo pronto, autoritário, conservador e excludente. Famílias são muitas: existem, devem ser reconhecidas e respeitadas. No contexto em que se insere o idoso no meio familiar deve-se chamar a atenção para as limitações da família contemporânea nesta tarefa de 40 responsabilizar-se pelo amparo e apoio aos seus idosos. Em meio às dificuldades decorrentes da precariedade das políticas sociais brasileiras e de fatores econômicos como o desemprego e a pauperização que acometem um grande número de famílias, a privatização (no âmbito familiar) da responsabilidade desses cuidados, muitas vezes acaba em prejuízo desses idosos devido aos recursos materiais e psicossociais das suas respectivas famílias. Essa é uma responsabilidade deve ser dividida entre o Estado, a sociedade e a família segundo a Constituição Federal de 1988. Com o passar dos tempos, a sociedade vai mudando, com isso os avanços tecnológicos, e impõem-se a necessidade de um ajuste das políticas públicas para acompanhar e sustentar essas mudanças. Alguns autores são enfáticos, sobre a responsabilidade da família com o idoso. A família, não se encontra em condições de dar conta dessa problemática, como demonstra a citação a seguir: Esta solidariedade familiar [...] só pode ser reivindicada se entender que a família, ela própria, carece de proteção para processar proteção. O potencial protetor e relacional aportado pela família, em particular em situação de pobreza e exclusão, só é passível de otimização se ela própria recebe atenções básicas (CARVALHO, 2003, p. 19). Pensar nos relacionamentos afetivos que estão cada vez mais complexos e comprometedores com as necessidades individuais de cada um, os cuidadores, que muitas vezes eram mulheres, hoje já não se encontram totalmente disponíveis no domicílio, devido ao aumento considerável da necessidade de trabalhar para ajudar, ou mesmo em muitos casos, sustentar seus lares. Muitas vezes o idoso acaba absorvendo direta ou indiretamente estas situações, principalmente as decorrentes de ordem financeira e social, pois alguns se encontram incapacitados para permanecerem sozinhos e necessitam de cuidados especiais e contínuos. O cuidado com os idosos é atribuído, ao longo da história, aos familiares, ou seja, a família tem a responsabilidade de satisfazer as necessidades físicas, psíquicas e sociais, principalmente quando seus idosos apresentam comprometimento na sua autonomia e independência, portanto, o amparo familiar é algo esperado, sendo um dever moral presente na cultura (ESPITIA; MARTINS, 41 2006). Para FERREIRA E SIMÕES (2011), é importante destacar que envelhecer não significa viver no abandono e na solidão, pois estes são símbolos criados culturamente por cada sociedade e transmitidos de geração para geração. Assim, cada cultura vê a velhice de uma forma, umas exaltando-a, colocando os idosos como conselheiros sábios; outras, respeitando-os, tornando-os guias dos mais jovens; e há mesmo aquelas que desvalorizam o idoso por não mais atender as necessidades daquela cultura. Dentro do contexto familiar deve-se destacar o tipo de relacionamento que os idosos mantêm com seus familiares. Os laços de afetividade se devem apenas pelo fato de o idoso ainda ser considerado o chefe de família. Isso inclui a situação financeira em que se encontra o idoso. Para muitos familiares, o idoso passa a ser mais valorizado quando o mesmo dá suporte financeiro dentro de casa. No estudo de ESPITIA E MARTINS (2006) há fatores que interferem na permanência dos idosos no seio familiar, entre eles, os autores destacam: o agravamento da pobreza, os conflitos familiares decorrentes da convivência geracionais, a intensidade dos laços familiares no decorrer de suas vidas, a saída dos membros da família para o mercado de trabalho o surgimento e/ou agravamento de doenças que podem gerar dependência como também o rompimento dos laços afetivos. Ainda nesse estudo os autores apontam que há autores como BULLA E ARGIMON (2009) que defendem a ideia que é fundamental a presença do ser idoso no seio da família e na sociedade, visto que participa de forma de maneira construtiva no meio em que vive. Porém a realidade dos idosos nos dias de hoje está distante do ideal. A questão da convivência com a família tem sido uma das maiores preocupações para alguns autores já citados no decorrer do estudo, pois a discrepância entre o idoso e os mais jovens tem acarretado esse deslaço familiar, que embora demonstrem carinho e afeto ao idoso mais nunca respeitarão da forma que se deve, já que a realidade é outra, com tanta tecnologia e inovações os idosos 42 são deixados de lado, muitas vezes esquecidos. No passado a família era patriarcal e, em seu bojo, viviam velhos, jovens e crianças; as gerações passavam o facho cultural de uma para a outra, e o velho patriarca coordenava a estrutura familiar até o fim, sendo substituído pelo filho primogênito. A família nuclear trouxe uma nova realidade na qual o velho passa a ser excluído. E quando o idoso dela participa seu papel é subalterno. (BULLA; LIMA, 2009, p.19). A Constituição Federal de 1988, a Política Nacional do Idoso, assim como o Estatuto do Idoso, mostram uma centralidade na família, sociedade e Estado. Porém a centralidade maior é na família, pois em primeiro lugar, a atribuição da responsabilidade com a pessoa idosa (assim como as crianças e adolescentes) é atribuída à família. Dessa forma, o artigo 3° do Estatuto do Idoso dispõe: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e a convivência familiar e comunitária. Vivemos em uma sociedade onde cada ser humano é único, e temos que aprender a conviver com as diferenças culturais, compartilhar e crescer uns com os outros. A família deve ser o centro de nossos sentimentos e experiências, pois desde que nascemos criamos um vínculo de amor e dependência por longos anos; cabe a nós fortalecer essa convivência. Acredita-se que acolher o idoso e o que ele tem de mais precioso, “a família”, é algo infindável, não só pela complexidade que o cerca, mas pela sua sabedoria. É um ser único e que tem muito a nos ensinar. É indiscutível a importância da família no processo de envelhecimento, já que a afetividade ocupa um lugar especial em nossas vidas. Considerar a importância da convivência pode ser uma forma de desenvolver e manter o equilíbrio afetivo entre o idoso e sua família. Na concepção de BULLA e LIMA, (2009, p.25) sobre o idoso e a família: À medida que o idoso passa a lidar com muitas perdas, as relações familiares que ofereçam segurança emocional tornam-se essencialmente 43 importantes para uma vida mais tranquila e satisfatória. A atenção aos idosos pode exigir de seus familiares desde tarefas simples à dedicação integral. A família tem papel essencial para o desenvolvimento do idoso, quando este chega à terceira idade sem nenhum preconceito com ele mesmo. Às vezes a própria família descrimina o idoso, deixando-o incapaz de desenvolver qualquer atividade física, seja qual for, por já não ter a idade de um jovem. Por isso muitos são levados à depressão, por se sentirem inúteis. O que o idoso quer, na verdade, é parecer ainda capaz de qualquer atividade, sem depender das pessoas ao seu lado. Os problemas de saúde são os que mais interferem na permanência do idoso em convivência com o familiar, pois muda toda a estrutura em função daquela doença, a partir da qual o idoso passa a depender dos filhos, dos netos, gerando conflitos dentro de casa, pois estes não estão preparados para lidar com a doença e com essas mudanças que ocorreram devido à doença. Desse modo, sentindo-se acolhido, amado, compreendido, com uma convivência familiar amistosa e interagindo num meio onde possa estabelecer vínculos afetivos, o idoso terá maior motivação para viver com serenidade os anos que lhe restam. (LAFINS 2009 p.30). Na citação a seguir, mesmo autor, ainda acredita que: O apoio da família, nesta etapa do ciclo da vida, não só quando vem acompanhado da aceitação, consideração e compreensão, mas também quando permite o auxílio que o velho possa oferecer, mesmo que em pequenas coisas, representa um importante fator motivacional, pela crença na sua capacidade. Ele se acredita útil. . (LAFINS 2009 p.30). É comum o idoso depender de cuidados especiais de cuidadores ou familiares para a realização de atividades da vida diária (AVD’s), como alimentar-se, vestir-se, tomar banho, realizar hábitos de higiene e até de necessidades pessoais. Devido à falta de condições financeiras e psicológicas da família, muitos idosos são internados em instituições de longa permanência para idosos (ILPI), popularmente conhecidas como asilos. 44 Em se tratando do espaço asilar, temos a palavra “asilo, que denota um significado de abrigo, refúgio, amparo, proteção e, antigamente, era oferecido não só a idosos carentes, mas também a pessoas deficientes, pessoas sem condições físicas e financeiras de manter uma moradia (FERREIRA, 2006). Quando se fala em idoso institucionalizado, logo se constrói uma imagem negativa em relação às casas de repouso ou “asilos” de pessoas abandonadas pela família, que não têm mais lugar na sociedade. Nesse tópico, busca-se aprofundar o tema com as instituições asilares e as relações familiares. E entender os desafetos que ocorreram entre o idoso e o familiar chegando a gerar uma internação na casa de abrigo. No Brasil, muitos idosos abrigados são abandonados por seus familiares, por não terem condição de sustentá-los e acabam a largá-los no asilo, pensando ser a melhor saída. Para alguns familiares, ter um teto e /as refeições parece ser a melhor saída e independente de ter a ausência dos afetos familiares, para o idoso nem sempre é o melhor. Nesse novo momento, em que a maior parte da população é preenchida por idosos, a sociedade tem por dever respeitar e valorizar esse novo contingente populacional, dando espaço para novas relações afetivas, em vez de abandoná-los em asilos. Mas, para alguns estudiosos que, a sociedade não tem cultura nem está preparada para conviver com o idoso. Isso se deve à grande falta de informação e conscientização sobre essa população, pois tudo está relacionado com o envelhecimento e a velhice carregados de preconceitos e significados negativos. FERREIRA E SIMÕES (2011) destaca, ainda, outro fator complicador em relação aos idosos, que é a diminuição dos relacionamentos entre os amigos e o isolamento do contato social, o que reflete numa possível perda de significado de algumas metas e do sentido das emoções na vida dos idosos. As autoras atribuem isto ao fato de estarem asilados, longe do aconchego familiar e que deveriam receber condições de se reintegrar na sociedade, buscar novos relacionamentos e, 45 no mínimo, ter condições dignas de moradia CARTENSEN, (1995apud FERREIRA E SIMÕES 2011, p. 86). Para as autoras supracitadas, outra preocupação de algumas instituições é oferecer um ambiente familiar ao idoso, diminuindo assim, a ansiedade sentida por ele, pela mudança causada com a institucionalização. Dessa forma, algumas instituições atribuem funções e responsabilidades aos idosos, assim como regar plantas, ajudar nos serviços administrativos, tentando ocupá-los durante a rotina do dia-a-dia, da mesma forma como ocorria em seus lares, proporcionando-lhes um sentimento de utilidade em sua nova moradia (FERREIRA & SIMÕES 2011, p.89). Esses tipos de atividades ajudam na autoestima do idoso, dando um novo olhar para quem reside nesses lares, para que não fique rotineira a sua vida, não se sinta inútil e esquecido pela sociedade. Na unidade de Abrigo Olavo Bilac, em Fortaleza, onde foi realizada a pesquisa, com o passar do tempo, alguns idosos conseguem se reintegrar à família e à vida social. Na instituição, existem atividades em que os idosos fazem passeios, recebem visitas de parentes e amigos e, com o passar do tempo, voltam ao seio familiar. Os principais motivos da admissão do idoso em asilos é, segundo uma pesquisa realizada por PRADO E PETRILLI ( 2002), a falta de respaldo familiar, relacionada a dificuldades funcionais, distúrbios de comportamento e precariedade nas condições de saúde.Quando chegam às instituições os idosos vivenciam uma radical ruptura de seus vínculos relacionais afetivos, convivendo cotidianamente com pessoas que não possuem qualquer vínculo afetivo independentemente da qualidade da instituição , ocorre normalmente afastamento da vida”normal”. 2.2 Tipos de instituições voltadas ao idoso no Brasil As instituições de longa permanência começaram a aparecer logo após a Segunda Guerra Mundial, na Espanha; já na América Latina, é mais recente esse serviço, que, a princípio, tinha um caráter de abrigar os desamparados, indigentes e abandonados. 46 Os asilos tiveram sua origem associada ao caráter filantrópico e a grande maioria foi criada por instituições religiosas católicas, como a Sociedade de São Vicente de Paulo-SSVP, criada em Paris, no ano de 1833, que se colocou a serviço dos pobres. No Brasil, são em torno de 500 instituições da SSVP destinadas a atender idosos institucionalizados por volta dos séculos XIX e XX. Denominadas como hospitais e sanatórios, eram lugares destinados a pessoas com problemas mentais, doenças de pele como a lepra, tuberculose e população idosa em situação carente, sem moradia e alimentação, mantidas através de donativos comunitários e geralmente tinham características religiosas (LIMA, PELBART, 2007). A primeira instituição asilar foi criado no Brasil em 1782, na cidade do Rio de Janeiro, pela Ordem Terceira da Imaculada Conceição, para atender trinta idosos. A maioria das instituições existentes no Brasil, hoje, é de cunho filantrópico e de congregações religiosas, porém, nos grandes centros já existem instituições com fins lucrativos, que oferecem serviços especializados com equipes interdisciplinares. As instituições, geralmente, são vistas de forma negativa, dado que o ideal para a pessoa idosa é conviver com sua família e na sua comunidade. As instituições filantrópicas, em sua maioria, não oferecem equipes interdisciplinares e as de caráter privado que oferecem são de valores elevados a serem custeados pelo idoso ou sua família e poucos têm acesso. A seguir, será abordada a legislação específica destinada à pessoa idosa, tanto em âmbito nacional como internacional. Legislação Internacional 2.2.1 Legislação Internacional Na década de 1980, a Organização das Nações Unidas (ONU) começou a discutir o tema, elaborando planos, realizando eventos sobre a questão do idoso e recomendando aos países signatários desenvolverem políticas, planos e projetos com o objetivo de implementar ações que beneficiem esse segmento populacional. Destacam-se, dentre as iniciativas da ONU, a realização da primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento, em agosto de 1982, em Viena, Áustria. Nessa Assembleia, foi aprovado o Plano Internacional de Ação para a Velhice. O Plano, 47 respaldado pela Assembleia Geral da ONU, estabeleceu 62 recomendações para ações nas áreas da saúde, nutrição, proteção dos consumidores idosos, habitação, meio ambiente, família, bem-estar social, emprego e educação. Os Princípios das Nações Unidas em Favor das Pessoas Idosas, aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1991, traz em seu bojo orientação sobre questões da independência, participação, dignidade, cuidado e auto-realização. Estes princípios são direitos essenciais em todas as fases da vida e não somente na velhice. A Associação de Instituições Residenciais para Idosos da União Europeia, reunida em 24 de setembro de 1993, na cidade de Maastricht, na Holanda, adotou a Carta Europeia dos Direitos e Liberdades dos Idosos em Instituições e assumiu o compromisso de aplicar os seus princípios em seus respectivos estabelecimentos e de procurar que sejam levados em conta nas políticas gerontológicas nacionais e internacionais. O preâmbulo da Carta diz: Declaramos que os Direito e Liberdades do Idoso não diminuem quando se encontra internado em instituição. Confirmamos nosso dever assegurar que esses Direitos e Liberdades sejam expressos, mantidos e reconhecidos, qualquer que seja o grau de autonomia dos idosos. Consideramos que os princípios fundamentais da Declaração Universal dos Direitos Humanos aplicam-se sem restrição ao cidadão idoso, qualquer que seja seu estado de saúde física e mental, sua renda, situação social ou nível educacional. Engajamo-nos a defender a pessoa idosa contra toda agressão que vá de encontro a esses princípios fundamentais. Acreditamos que uma política gerontológica europeia e políticas gerontológicas nacionais harmônicas devam ser construídas em todos os quatro temas, a saber: • Qualidade de vida; • Adaptação permanente de serviços; • Acessibilidade aos cuidados de saúde; 48 • Flexibilidade e adaptação de financiamento. (KAIRÓS, 2006, p. 169-1 90) Após vinte anos da I Assembleia, foi realizada a II Assembleia Mundial sobre o Envelhecimento, de 8 a 12 de abril de 2002, em Madri, com a participação de 159 países, sendo que os países signatários da ONU decidiram adotar o Plano Internacional para o Envelhecimento para responder às questões decorrentes do envelhecimento da população no século XXI e para promover o desenvolvimento de uma sociedade para todas as idades. No Plano, foram adotadas medidas em Instituição de longa permanência para idosos e políticas públicas todos os níveis, nacional e internacional, em três direções prioritárias: idosos e desenvolvimento, promoção da saúde e bem-estar na velhice e, ainda, criação de um ambiente propício e favorável. Constatou-se, nas discussões da Assembleia de Madri, que um dos grandes desafios deste século, dado o crescimento da população de idosos, será o de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. A tendência do envelhecimento, que começou nos países desenvolvidos em meados do século XX, torna-se evidente nos países em desenvolvimento. O objetivo do Plano de Ação consiste em garantir que, em todas as partes do mundo, a população possa envelhecer com segurança e dignidade e que os idosos possam continuar participando em suas respectivas sociedades como cidadãos de plenos direitos. Em todo o Plano de Ação para o Envelhecimento, são definidos vários temas centrais vinculados a essas metas, objetivos e compromissos, dentre eles: a promoção e proteção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, inclusive o direito ao desenvolvimento e à construção de uma sociedade para todas as idades e que haja uma relação mútua e saudável entre todas as gerações. Por ocasião da Conferência Intergovernamental sobre seguimento do Plano de Ação para o Envelhecimento/ Madri 2002, realizada em Santiago do Chile, de 19 a 21 de novembro de 2003, destacou-se, dentre os resultados, a fixação dos seguintes objetivos sobre cuidados de longa permanência a pessoas idosas: Criação 49 de marcos legal e mecanismos adequados para a proteção dos direitos das pessoas idosas que utilizam os serviços de cuidados de longa permanência. São recomendações para ação: a) programar as disposições legais para a abertura e o funcionamento dos centros e das residências, e a vigilância das condições de vida, direitos humanos e liberdades fundamentais das pessoas idosas que neles residem; b) fortalecer a capacidade governamental e institucional para estabelecer, difundir e fazer cumprir regras e normas que devam reger os estabelecimentos que oferecem cuidados de longa permanência para pessoas idosas, especialmente aquelas com deficiência, para proteger seus direitos e sua dignidade e evitar violações aos mesmos; c) capacitar o pessoal encarregado do cumprimento das referidas normas e de todos normativos internacionais, ratificados pelos Estados, e supervisionar seu desempenho; d) elaborar e atualizar permanentemente um registro dos estabelecimentos que ofereçam cuidados de longa permanência e estabelecer mecanismos de monitoramento em que participem distintas instituições do Estado, segundo corresponda; e) desenvolver uma estreita colaboração multissetorial para educar os provedores e os usuários desses serviços acerca da qualidade dos cuidados e dos direitos humanos, liberdades e condições de vida ótimas para seu bem-estar, com o estabelecimento e a difusão de mecanismos eficazes de queixas que sejam facilmente acessíveis para os usuários e seus familiares; f) fomentar a criação de redes de apoio aos cuidadores familiares para viabilizar a permanência da pessoa idosa em seu recinto e que possa prevenir o esgotamento físico e mental do cuidador; g) fomentar a criação de alternativas comunitárias aos cuidados de longa permanência para idosos. (KAIRÓS, 2006, p. 169-190) 50 2.2.2 Legislação Nacional A primeira iniciativa do governo brasileiro em apoiar a pessoa idosa ocorreu em 1974, com a Portaria nº 82, de 4 de julho, do Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS, por intermédio do Instituto Nacional de Previdência Social – INPS. Esse Instituto realizava, mediante acordos com instituições da comunidade, atendimentos por meio de internação custodial a aposentados e pensionistas do INPS a partir dos 60 anos. A admissão nas instituições era feita em decorrência do desgaste físico e mental dos idosos, insuficiência de recursos próprios e familiares para sua manutenção e a inexistência ou abandono familiar. Em 1976, por determinação da Portaria nº MPAS 838/77, Circular nº 1 de 21/10/11, o programa que estava sob a responsabilidade do INPS, passou para a Legião Brasileira de Assistência – LBA. A transferência do programa atribuiu à LBA a execução da Política Nacional de Apoio à Pessoa Idosa, de forma direta e por intermédio de convênios com repasse de per capitas, além de apoiar técnica e financeiramente a revitalização e construção de equipamentos na rede pública e privada de caráter filantrópico. A Constituição brasileira é a nossa lei maior, que tem como objetivo a afirmação dos direitos humanos fundamentais, assegurando às pessoas idosas grandes conquistas. O compromisso do Brasil, como signatário desta Carta, foi, dentre outros, o de buscar a implantação de políticas de modo a assegurar os direitos do idoso. Como exemplo desse compromisso, temos o artigo 230 da Constituição, que dispõe: “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo§ “1º os programas de amparo lhes o direito à vida”. aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.”. Este artigo foi uma grande conquista para os idosos, assim como fruto de mobilização desse segmento. No contexto da Seguridade Social, destacamse os direitos à saúde, previdência e assistência social. 51 No capítulo da assistência social, o artigo 203 Constituição Federal determina que a assistência social seja prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: da I – “a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência”, e a velhice; II – A Lei Orgânica da Assistência Social, Lei nº 8.742/93, regulamentou o artigo 230, com a concessão do benefício de caráter não contributivo às pessoas. O papel da Assistência é garantir benefícios, serviços e programas às pessoas idosas e suas famílias e, ainda, articular-se com as políticas como educação, saúde, previdência social, trabalho, transportes públicos, habitação e saneamento. Sua finalidade é assegurar qualidade de vida e avanços nos índices de inclusão social, econômica, política e cultural, além de criar barreiras protetoras contra a discriminação, a exclusão ou a deficiência das condições de vida pelo déficit de serviços sociais. O órgão coordenador da Política de Assistência Social é também o responsável, de acordo com a Lei nº 8842/94, pela coordenação da Política Nacional do Idoso. Em torno de 685 instituições de cunho filantrópico recebem, por intermédio de convênio, ajuda financeira mensal calculada em per capita aos idosos institucionalizados. Esse apoio vem sendo dado desde a época da LBA. Com a sua extinção, em 1995, esse apoio passou a ser concedido pelo órgão coordenador da Política de Assistência Social, hoje, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Cabe registrar que, no campo da Assistência Social, foi instituída uma nova forma de gestão, com critérios de elegibilidade para liberação de recursos e um piso de Proteção Social Básica e Especial. Entende-se por Proteção Social Especial os serviços e programas voltados à população em estado de exclusão, vulnerabilidade e risco social, incluindo neste sistema as modalidades, a saber: instituição de longa permanência para idosos, casa lar, centro dia e república. 52 As instituições de longa permanência para idosos estão incluídas na Proteção Social Especial, entretanto recebendo um per capita de transição, abaixo do custo real dos serviços, uma vez que estes pisos de Proteção Social Especial ainda não foram calculados (KAIRÓS 2006). Após a Constituição Federal de 1988, que garante a qualquer cidadão moradia, alimentação e saúde, sendo este dever do Estado, foram construídas as instituições de longa permanência ou asilos, como são conhecidas, para abrigar os idosos em situação de vulnerabilidade social. Mesmo assim, ainda existem instituições que são mantidas por ONGs, para com o mesmo intuito melhorar o atendimento ao idoso. No Art. 17° do Estatuto do Idoso, é garantido ao idoso que não tenha meios de prover a sua própria subsistência, que não tenha família ou cuja família não tenha condições de prover à sua manutenção, ter assegurada a assistência asilar, pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, na forma da lei. Quanto às classificações das instituições asilares, as privadas pertencem ao grupo de instituições com finalidade lucrativa e são denominadas: clínicas geriátricas, casas de repouso, colonial residencial para terceira idade. Os preços variam de acordo com o tipo de atendimento oferecido pela clínica, atendendo idosos com um poder aquisitivo mais elevado. As filantrópicas são mantidas geralmente por grupos religiosos e com longo histórico assistencial, sendo que, em média, os custos per capita variam de 3 a 8 salários mínimos, dependendo do grau de dependência do idoso (BORN; BOECHAT, 2002; FERREIRA, 2006). FERREIRA (2006) caracteriza as instituições de Longa Permanência ou LPs, como: abrigos, asilos, lar, casa de repouso, clínica geriátrica. São instituições apropriadas para atender idosos com 60 anos ou mais, havendo possibilidade de pagamento ou não, em regime de internato,, e o tempo de permanência dos moradores é indeterminado. As LPs assim como são conhecidas, possuem quadro de recursos humanos, com intuito de atender todas as necessidades do idoso, como 53 cuidados com assistência, saúde, alimentação, higiene, repouso lazer e para desenvolver outras atividades que garantam a qualidade de vida. Existem os tipos de apoio para atendimento aos idosos: o Centro-Dia, que oferece atenção integral às pessoas idosas, devido às suas carências familiares e funcionais, impossibilitando o cuidado no seu domicílio ou por serviços comunitários e a Casa-Lar que são residências participativas destinadas a idosos que estão sós ou afastados do convívio familiar e que não possuem independência financeira. Esse tipo de atendimento proporciona melhor integração entre o idoso e a comunidade, gerando mais autonomia e participação social. A alternativa de residência para idosos são as Repúblicas, que atendem principalmente idosos independentes, tanto funcionais como financeiramente; são organizadas em grupos de acordo com o número de indivíduos, e co-financiadas com rendimentos da aposentadoria, Benefício de Prestação Continuada que é“ BPCO benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais e que comprovem não possuir meios de provera própria manutenção e nem tê-la provida por sua família” (BRASIL, 1993, p. 20) . Os autores CAMARANO E PASINATO (2004, p. 268) registram o fato de que “Em 1998, a idade mínima para o recebimento do benefício foi reduzida para 67 anos e em 2004 para 65 anos”. Já da Renda Mensal Vitalícia ia (RMV) foi criada por meio da Lei n° 6.179/74 como beneficio previdenciário destinado às pessoas maiores de 70 anos de idade ou inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho que, em um ou outro caso, não exerciam atividades remuneradas e não auferiam rendimento superior a 60% do valor do salário mínimo. Além disso, não poderiam ser mantidos por pessoas de quem dependiam, bem como não poderiam ter outro meio de prover o próprio sustento ou através de outros recursos. (FERREIRA, 2006). O Atendimento Domiciliar refere-se a serviços e cuidados prestados à pessoa idosa com algum nível de dependência, visando à promoção da autonomia, da 54 permanência no próprio domicílio e do reforço dos vínculos familiares e de vizinhança, ou seja, mantém o idoso interagindo com a comunidade onde sempre viveu (FERREIRA, 2006). Antes dos direitos dos idosos serem garantidos, eles, muitas vezes, eram abandonados nas ruas, praças e becos, sem nenhum tipo de assistência. Após a criação da Política Nacional do Idoso (1994) e do Estatuto do Idoso (2003), promulgado pela Constituição Federal de 1988, quando foi declarado que todos os indivíduos têm direitos a uma vida digna, saúde, moradia e lazer. Quanto à assistência social, foi de grande importância na luta por esses direitos, garantindo dentro das políticas públicas assistenciais um atendimento de qualidade ao idoso. De acordo com a ANVISA ( 2004), as instituições de Longa Permanência para idosos podem oferecer uma ou mais das seguintes modalidades assistenciais: a) Modalidade I – são as modalidades designadas a idosos independentes, mesmo que necessitem da utilização de equipamentos de autoajuda; b) Modalidade II – são voltadas aos idosos com dependência funcional em qualquer setor de auto-cuidado, assim como: alimentação, mobilidade, higiene- e que necessitem de auxílios e cuidados específicos; c) Modalidade III – é a modalidade destinada aos idosos com dependência que necessitam de assistência total, ou seja, com todos os cuidados específicos nas atividades de autocuidado. São voltados para idosos totalmente dependentes. As instituições existentes em Fortaleza fazem parte de todas as modalidades descritas acima, algumas com mais recursos, como é o caso do Lar Torres de Melo, por fazer parte da Modalidade I e III. Outras preenchem as Modalidades II e III, as quais recebem recursos dos órgãos públicos através das políticas públicas assistenciais. Segundo Regulamentos Técnicos para Funcionamentos das Instituições Residenciais sob Sistema Participativo e de Longa Permanência para Idosos, citados pela ANVISA (2004), devem ser asseguradas as condições mínimas de 55 funcionamento das instituições de atendimento ao idoso com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, de modo a garantir a atenção integral, defendendo a sua dignidade e os seus direitos humanos. Além de cumprirem com as normas de funcionamento, as instituições têm como dever proporcionar ao idoso uma vida saudável, um ambiente aconchegante, familiar, dando-lhe oportunidades de relacionar–se com sua história, atribuindo significados a sua nova vida dentro da instituição acolhedora. Na compreensão de GOFFMAN (1974, p.11) a instituição asilar é: “Um local de residência e trabalho onde grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um considerável período de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada.”. Segundo BORN; BOECHAT (2002, p.990), consideram-se instituições de longa permanência: Instituições com denominações diversas, equipadas para atender idosos, sob regime de internato ou não, pagas ou não, por período de tempo indeterminado, que dispõem de funcionários capazes de atender a todas as necessidades da vida institucional. Embora a família seja a principal responsável pela pessoa idosa, devemos analisar a questão do abandono. Muitas vezes o próprio idoso foge de casa, por não querer mais dar trabalho, prejuízo, preocupações à família, abrigando-se em viadutos, calçadas, galpões colocando, assim toda a culpa na família a qual pertence. 56 CAPÍTULO III - AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA NO BRASIL Durante todas as lutas em defesa dos direitos da pessoa idosa, só foi possível efetivá-los como tais, a partir das políticas públicas voltadas para essas pessoas, com a criação da PNI e o Estatuto do Idoso, passaram a ser respeitados e valorizados enquanto cidadãos de direitos. 3.1 O surgimento das primeiras políticas assistenciais voltadas para idosos no Brasil As ideias da criação de programas sociais direcionados ao envelhecimento da população começaram a ganhar expressão na década de 1970, tendo como objetivo a inserção dos idosos na sociedade e a manutenção do seu papel social, bem como a prevenção da perda de sua autonomia. Várias alternativas foram surgindo para o enfrentamento dessa realidade, e os próprios idosos passaram a buscar meios para corroborar com as prospecções da política brasileira para essa parcela da população. CAMARRANO E PASINATO (2004) destacam a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 1961, e os grupos de convivência organizados pelo Serviço Social do Comércio – SESC, em 1963 como fatores preponderantes para a inclusão de temas relativos à população idosa brasileira, cujas preocupações iniciais giravam em torno do desamparo e da solidão dos aposentados. Cabe destacar que a preocupação da atenção pública com os idosos por parte das autoridades governamentais brasileiras só se intensificou em 1996, com a regulamentação da Política Nacional do Idoso, e pela mobilização em prol de políticas específicas para os idosos a partir de efeitos produzidos pela sua organização sociopolítica. 57 Chama-se a atenção para o fato de que as políticas do governo federal para a população idosa brasileira, a princípio, consistiam basicamente no provimento de renda e prestação de serviços assistencialistas para idosos carentes e condicionados. Essa visão primitiva prevaleceu até meados da década de 1980, quando, por influência do debate internacional, paulatinamente, foram introduzidas modificações que viriam a melhorar tais políticas. Para conhecermos melhor a criação e a evolução dessas políticas assistenciais à pessoa idosa no Brasil, faz-se o caminho percorrido para afirmação das políticas publicas para a aceitação incondicional assegurar o direito dos idosos (o grupo perante os grupos da sociedade). 3.2. Lei Eloy Chaves: uma das primeiras conquistas dos idosos. A evolução histórica da política assistencial ao idoso no Brasil foi marcada por uma contínua e paulatina modificação da estrutura de custeio, organização e administração dos benefícios s previdenciários, com o repasse de responsabilidades do setor privado ao Estado, bem como com o alargamento dos interesses a serem albergados pelos direitos de Seguridade Social. O Decreto nº 4.682 de 24 de janeiro de 1923, também conhecido como lei Eloy Chaves, implantou no Brasil a Previdência Social. “Com efeito, tal norma determinava a criação das caixas de aposentadorias e pensões para os ferroviários, a ser instituída de empresa a empresa” (HOMCI, 2009) sendo esse sistema mantido e administrado pela sociedade civil, independentes do governo, que em muito se assemelham aos planos fechados de previdência privada dos dias atuais, pois só congregavam empregados de uma mesma empresa. A partir de então várias caixas de aposentadorias foram criadas em favor das demais categorias de trabalho, inspirando a criação do Conselho Nacional do Trabalho em 1923, na tentativa do Estado de regulamentar à proteção salarial das classes operárias. 58 Após a criação da Lei Eloy Chaves, várias normas foram concedidas ampliando os direitos previdenciários, dentre as quais HOMCI (2009, p.20) destaca que: A Lei n°. 5.109/1926 estendeu o Regime da "Lei Elói Chaves" aos portuários e marítimos. A Lei n°. 5.485/1928 estendeu o regime da "Lei Elóy Chaves" aos trabalhadores dos serviços telegráficos e radiotelegráficos. [...] O Decreto n°. 19.433/1930 criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo como uma das atribuições orientar e supervisionar a Previdência Social, inclusive como órgão de recursos das decisões das Caixas de Aposentadorias e Pensões. [...] O Decreto n°. 22.872/1933 criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, considerado "a primeira instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional, com base na atividade genérica da empresa". Com a promulgação da Constituição de 1934, vários benefícios foram concedidos aos assalariados das mais diversas classes. Como usualmente reconhecido, o surgimento da proteção social foi fortemente propiciado pela sociedade industrial, na qual a classe trabalhadora era dizimada pelos acidentes de trabalho, a vulnerabilidade de mão de obra infantil, o alcoolismo etc. Há uma insegurança econômica excepcional pelo fato de a renda destes trabalhadores serem exclusivamente obtida pelos seus salários. Ademais, a lei da oferta e da procura mostra-se, neste estágio, perversa, haja vista a enorme afluência de pessoas da área rural para as cidades. (BALERA, 2008, p. 27). 3.3 A proteção social aos idosos brasileiros através da Constituição Federal de 1988 A importância do desenvolvimento do sistema de seguridade social brasileiro no bem-estar dos indivíduos na última etapa da vida foi estabelecida pela 59 Constituição Federal de 1988, o que veio a garantir a subsistência básica dos idosos, tanto no âmbito familiar quanto no social. O impacto da expansão das mudanças constitucionais nas condições de vida dos idosos brasileiros permitiu uma revalorização da pessoa idosa que, de posse da renda do benefício, obtém uma espécie de salvaguarda de subsistência familiar, invertendo o papel social de assistido para assistente. A nossa primeira Constituição, de 1824, tratou da seguridade social no seu art. 179, onde abordou a importância da constituição dos socorros públicos. O ato adicional de 1834, em seu art. 10 delegava competência às Assembléias Legislativas para legislar sobre as casas de socorros públicos. A referida matéria foi regulada pela Lei nº 16, de 12/08/1834. (IBRAHIM, 2010, p. 58) Em 1835, foi criada a primeira entidade privada em nosso país, o Montepio Geral dos Servidores do Estado (Mongeral). Caracterizava-se por ser um sistema mutualista, no qual os associados contribuíam para um fundo que garantiria a cobertura de certos riscos, mediante a repartição dos encargos com todo o grupo. O Código Comercial de 1850 dispôs em seu art. 79 que os empregadores deveriam manter o pagamento dos salários dos empregados por no máximo 03 meses, no caso de acidentes imprevistos e inculpados. (IBRAHIM, 2010, p. 59) Mais tarde, o Decreto nº 2.711, de 1860, regulamentou o financiamento de montepios e sociedades de socorros mútuos. (IBRAHIM, 2010, p. 59) A Constituição de 1891 foi a primeira a conter a expressão "aposentadoria". Preceituava no seu art. 75 que os funcionários públicos, no caso de invalidez, teriam direito à aposentadoria, independentemente de nenhuma contribuição para o sistema de seguro social. (VIANNA, 2010, p. 12) Em 1919, o Decreto Legislativo nº 3.724, instituiu o seguro obrigatório de acidente de trabalho, bem como uma indenização a ser paga pelos empregadores. (VIANNA, 2010, p. 12) 60 A Lei Eloy Chaves, Decreto Legislativo nº 4.682, de 24/01/1923, foi à primeira norma a instituir no país a previdência social, com a criação das Caixas de Aposentadoria e Pensão (CAP) para os ferroviários. É considerado o marco da previdência social no país. A referida lei estabeleceu que cada uma das empresas de estrada de ferro deveria ter uma caixa de aposentadoria e pensão para os seus empregados. A primeira foi a dos empregados da Great Western do Brasil. (VIANNA, 2010, p. 12) A década de 20 caracterizou-se pela criação das citadas caixas, vinculadas às empresas e de natureza privada. Eram assegurados os benefícios de aposentadoria e pensão por morte e assistência médica. O custeio era a cargo das empresas e dos trabalhadores. (IBRAHIM, 2010, p. 59) Ainda em 1923, foi publicado o Decreto n° 16.037, o qual criou o Conselho Nacional do Trabalho, com atribuições, inclusive, de decidir sobre questões relativas a previdência social, implicando uma aproximação entre Direito do Trabalho e Direito Previdenciário que somente foi rompida com a Constituição Federal de 1988 – somente em 1992 o Ministério da Previdência Social foi definitivamente apartado do Ministério do Trabalho. (VIANNA, 2010, p. 12) O Decreto Legislativo nº 5.109, de 20/12/1926, estendia os benefícios da Lei Eloy Chaves aos empregados portuários e marítimos. Posteriormente, em 1928, através da Lei nº 5.485, de 30/06/1928, os empregados das empresas de serviços telegráficos e radiotelegráficos passaram a ter direito aos mesmos benefícios. (VIANNA, 2010, p. 12) Em 1930, foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha a tarefa de administrar a previdência social. (VIANNA, 2010, p. 12) A década de 30 caracterizou-se pela unificação das Caixas de Aposentadoria e Pensão em Institutos Públicos de Aposentadoria e Pensão (IAP). O sistema previdenciário deixou de ser estruturado por empresa, passando a ser por categorias profissionais de âmbito nacional. Os IAP’s utilizaram o mesmo modelo da Itália, sendo cada categoria responsável por um fundo. A contribuição para o fundo era custeada pelo 61 empregado, empregador e pelo governo. A contribuição dos empregadores incidia sobre a folha de pagamento. O Estado financiava o sistema através de uma taxa cobrada dos produtos importados. Os empregados eram descontados em seus salários. A administração do fundo era exercida por um representante dos empregados, um dos empregadores e um do governo. Além dos benefícios de aposentadorias e pensões, o instituto prestava serviços de saúde. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 70) Assim, foram criados os Institutos de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos (IAPM) em 1933, dos Comerciários (IAPC) em 1934, dos Bancários (IAPB) em 1934, dos Industriários (IAPI) em 1936, dos empregados de Transporte e Carga (IAPETEC) em 1938. No serviço público, foi criado em 1938 um fundo previdenciário para os servidores públicos federais chamado de IPASE – Instituto de Pensão e Assistência dos Servidores do Estado. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 70) A Carta Magna de 1934 disciplinou a forma de custeio dos institutos, no caso tríplice (ente público, empregado e empregador), conforme preconizava o art. 121, § 1º, "h". Mencionava a competência do Poder Legislativo para instituir normas de aposentadoria (art. 39, VIII, item d) e proteção social ao trabalhador e à gestante (art. 121). Tratava também da aposentadoria compulsória dos funcionários públicos (art. 170, § 3º), bem como a aposentadoria por invalidez dos mesmos (art. 170, § 6º). (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 70) A Constituição de 1937, outorgada no Estado Novo, não inovou em relação às anteriores. Apenas empregou a expressão "seguro social" ao invés de previdência social em seu texto. (VIANNA, 2010, p. 12) Em contrapartida, a Constituição de 1946 aboliu a expressão "seguro social", dando ênfase pela primeira vez na Carta da República à expressão "previdência social", e consagrando-a em seu art. 157. O inciso XVI do citado artigo mencionava que a previdência social custeada através da contribuição da União, do empregador e do empregado deveria garantir a maternidade, bem como os riscos sociais, tais como: a doença, a velhice, a invalidez e a morte. Já no inciso XVII tratava da 62 obrigatoriedade da instituição do seguro de acidente de trabalho por conta do empregador. (VIANNA, 2010, p. 13) No início dos anos 50, quase toda população urbana assalariada estava coberta por um sistema de previdência, com exceção dos trabalhadores domésticos e autônomos. A uniformização da legislação sobre a previdência social ocorreu com o advento do Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão, aprovado pelo Decreto nº 35.448, de 01/05/1954. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 71) Em 1960, foi criado o Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Foi editada a Lei nº 3.807, de 26/08/1960, Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), cujo projeto tramitou desde 1947, foi considerada uma das normas previdenciárias mais importantes da época. Caracterizou-se pela fase da uniformização da previdência social. A citada lei unificou os critérios de concessão dos benefícios dos diversos institutos existentes na época, ampliando os benefícios, tais como: auxílio natalidade, auxílio-funeral, auxílio-reclusão e assistência social. (VIANNA, 2010, p.13) A Lei nº 4.214, de 02/03/1963, criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), no âmbito do estatuto do trabalhador rural. (IBRAHIM, 2010, p. 64) A Emenda Constitucional nº 11, de 31/03/65, estabeleceu o princípio da precedência da fonte de custeio e relação à criação ou majoração de benefícios. (IBRAHIM, 2010, p. 64) O Decreto-Lei nº 72, de 21/11/1966, unificou os institutos de aposentadoria e pensão, criando o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), hoje INSS. Com isso, o governo centralizou a organização previdenciária em seu poder. (IBRAHIM, 2010, p. 64) A Constituição de 1967 não inovou muito em relação à Carta anterior. O art. 158 manteve quase as mesmas disposições do art. 157 da Lei Magna de 1946. O § 2º do art. 158 da Constituição de 1967 preceituava que a contribuição da União no 63 custeio da previdência social seria atendida mediante dotação orçamentária, ou com o produto da arrecadação das contribuições previdenciárias, previstas em lei. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 71) O sistema de seguro de acidente de trabalho integrou-se ao sistema previdenciário com a Lei nº 5.316, de 14/09/1967. Foram criados adicionais obrigatórios de 0,4% a 0,8% incidentes sobre a folha de salários, objetivando o custeio das prestações de acidente de trabalho. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 71) Os Decretos-Leis nºs 564 e 704, de 01/05/1969 e 24/07/1969, respectivamente, estenderam a previdência social ao trabalhador rural. (VIANNA, 2010, p. 13) A Emenda Constitucional nº 1, de 1969, não apresentou mudanças significativas em relação às Constituições de 1946 e 1967. (VIANNA, 2010, p. 13) A Lei Complementar nº 11, de 25/05/1971, instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Pro - Rural). A partir desse momento os trabalhadores rurais passaram a ser segurados da previdência social. Não havia contribuição por parte do trabalhador, este tinha direito à aposentadoria por velhice, invalidez, pensão e auxílio-funeral. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 72) A Lei nº 5.859, de 11/12/1972, incluiu os empregados domésticos como segurados obrigatórios da previdência social. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 72). A Lei nº 6.367, de 19/10/1976, regulou o seguro de acidente de trabalho na área urbana, revogando a Lei nº 5.316/67. (CASTRO; LAZARRI, 2010, p. 72) Em 01/07/1977, através da Lei nº 6.439, foi criado o SINPAS (Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social), destinado a integrar as atividades de previdência social, da assistência social, da assistência médica e de gestão administrativa, financeira e patrimonial das entidades vinculadas ao Ministério da Previdência e Assistência Social. O SINPAS tinha a seguinte composição: a) o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) cuidava da concessão e manutenção das prestações pecuniárias; 64 b) o Instituto Nacional de Assistência Médica de Previdência Social (INAMPS) tratava da assistência médica; c) a Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA) prestava assistência social à população carente; d) a Fundação do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) promovia a execução da política do bem-estar social do menor; e) a Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social (DATAPREV) era responsável pelo processamento de dados da Previdência Social; f) o Instituto da Administração Financeira da Previdência Social (IAPAS) era responsável pela arrecadação, fiscalização, cobrança das contribuições e outros recursos e administração financeira; g) a Central de Medicamentos (CEME) era responsável pela distribuição dos medicamentos. (IBRAHIM, 2010, p. 65 e 66) A Lei nº 6.345/77 regulou a possibilidade de criação de instituições de previdência complementar, matéria regulamentada pelos Decretos nº 81.240/78 e 81.402/78, quanto às entidades de caráter fechado e aberto, respectivamente. (IBRAHIM, 2010, p. 66) Em 1984, o decreto n° 89.312 aprovou a Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), que reuniu toda a legislação de custeio e benefício em um único documento. (IBRAHIM, 2010, p. 66) Com a Constituição de 1988, houve uma estruturação completa da previdência social, saúde e assistência social, unificando esses conceitos sob a moderna definição de "seguridade social" (arts. 194 a 204). Assim, o SINPAS foi extinto. A Lei 8.029, de 12/04/1990, criou o Instituto Nacional do Seguro Social INSS (fusão do INPS e IAPAS), vinculado ao então Ministério da Previdência e Assistência Social, tendo sido regulamentado pelo Decreto nº 99.350, de 27/06/90. O Decreto nº 99.060, de 07/03/1990 vinculou o INAMPS ao Ministério da Saúde. Posteriormente, a Lei 8.689, de 27/07/1993, extinguiu o INAMPS. Houve, também, a extinção da LBA e FUNABEM em 1995 e da CEME em 1997. (VIANA, 2010, p. 14) 65 Entre os principais aspectos do novo sistema, definidos pela constituição de 1988, encontram-se: [...] a universalização da cobertura, a equivalência entre os benefícios dos trabalhadores rurais e urbanos, a seletividade na concessão dos benefícios, a irredutibilidade do valor dos mesmos, a equanimidade dos custos, a diversificação das fontes de financiamento, a descentralização e a participação dos trabalhadores na administração do sistema. (GOLDANI, 2004, p. 218). A constituição de 1988 foi um grande avanço da política de proteção social aos idosos brasileiros fazendo com que a rede de proteção social deixasse de estar vinculada apenas ao contexto estritamente social-trabalhista e assistencialista e passasse a adquirir uma conotação de direito de cidadania, incentivando a criação de diversas leis de apoio e enfrentamento a velhice, como a Lei Orgânica de Assistência Social. 3.4. Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS: um benefício do idoso não aposentado. Os direitos dos idosos assegurados na Constituição de 1988 foram regulamentados através da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93). Entre os benefícios mais importantes proporcionados por esta Lei, constitui-se o Benefício de Prestação Continuada, regulamentado em seu artigo 20. Este Benefício consiste no repasse de um salário-mínimo mensal, dirigido às pessoas idosas e às portadoras de deficiência que não tenham condições de sobrevivência, tendo como princípio central de elegibilidade a incapacidade para o trabalho (Gomes, 2002), objetivando a universalização dos benefícios, a inclusão social. Apesar disso, essa política pouco vem contribuindo para a construção da cidadania, pois aqueles que se encontram abaixo da linha de pobreza possuem tantas necessidades básicas não atendidas que um salário-mínimo não basta para 66 lhes garantir uma vida digna. Estudos de Sposati (2000), entre outros, demonstram a insuficiência do nosso salário-mínimo que apenas contempla uma cesta básica, configurando a linha da indigência e reduzindo as necessidades humanas à alimentação. SILVA (2006) destaca que o grau de seletividade existente na LOAS faz com que muitos idosos não sejam incluídos nos benefícios, seja por estarem fora do patamar de pobreza ou da faixa etária estipulados pelos critérios da lei (65 anos), seja por não terem acesso aos documentos exigidos ou por não se encontrarem na condição de “incapazes para o trabalho”. Ante essa realidade, a autora acrescenta: para ter acesso ao benefício, a pessoa precisa estar numa condição vegetativa enquanto ser humano, embora haja várias formas de deficiências que nãopermitem a inserção nas relações de trabalho. Reforçando essa assertiva, destacamos que os idosos, pela falta de qualificação e/ou pela estigmatização cultural, são, no geral, menos competitivos no mercado de trabalho, o que não deixa de ser uma “incapacidade”, pois “os capazes” asseguram a própria sobrevivência. Com a promulgação da Constituição vigente, a Assistência Social foi beneficiada, pois passou a integrar as políticas e proteção social, pautada nos paradigmas da cidadania e na concretização dos direitos sociais básicos de pessoas economicamente vulneráveis, dentre elas os idosos, diferenciando-se do assistencialismo banal praticado para tratar de alguma doença, com a instauração da Lei 8.742, também conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Com o estabelecimento da Política Nacional do Idoso (PNI), em janeiro de 1994, foi assegurado aos idosos, sob a égide dos direitos sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. 3. 5. Lei nº 8.842, de janeiro de 1994: uma das grandes conquistas do idoso no Brasil Tendo em vista que a PNI, veio para dar suporte maior aos direitos dos idosos que estão descritos na CF 1988, mesmo assim ainda existe muito casos de desrespeito para com a pessoa idosa. Sabe-se que essa luta não começou recente, 67 que desde os primórdios os idosos e os aposentados vêm lutando para que haja garantia desses direitos. A implantação no Brasil de uma política nacional para as pessoas idosas é recente. Até então, o que se tinha, em termos de proteção a essa parcela da população, consta em alguns artigos do Código Civil (1916), do Código Penal (1940), do Código Eleitoral (1965) e de inúmeros decretos, leis, portarias e outros. Considerando tudo que está posto na PNI, com o aumento de idosos abrigados em ILPs, cabem as autoridades responsáveis por essa população mais recursos para que se possam evitar tantos casos de abandono, de violência de todas as formas contra a pessoa idosa, embora tenha todo esse aparato, mas o número de idosos em abrigos vem a chamando a atenção dos órgãos prestadores desses serviço. A PNI assegura que o idoso não pode sofrer: - Violência e abandono - nenhum idoso poderá ser objeto de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão. - Àquele que discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transportes ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania, poderá ser condenado a penalidades previstas no estatuto. - Para os casos de idosos submetidos a condições consideradas desumanas, privação de alimentação e de cuidados indispensáveis, também há previsão de penalidade. Ainda sobre a PNI, pode-se observar, nas leituras referidas, que o idoso tem direito a uma moradia digna, que lhe favoreça conforto. Muitas vezes devido ao fato de os recursos serem precários, não atingem toda a população idosa, a preocupação maior considera-se a da saúde em todo território, devido a inúmeras ocorrências de idosos que por falta de recursos e materiais específicos acabam perdendo a vida. 68 A PNI passou a constituir um conjunto de ações do governo que tem como objetivo primordial assegurar os direitos sociais dos idosos, a partir do pensamento de que o idoso é um sujeito civil, com direitos regidos pela Constituição, e este deve ser atendido de maneira diferenciada em cada uma das suas necessidades: físicas, sociais, econômicas e políticas (CAMARRANO; PASINATO, 2004, p. 269) As principais propostas contidas no PNI, dizem respeito a: Implantação de sistema de mobilização comunitária, visando, dentre outros objetivos, à manutenção do idoso na família; Revisão de critérios para concessão de subvenções a entidades que abrigam idosos; Criação de serviços médicos especializados para o idoso, incluindo atendimento domiciliar; Revisão do sistema previdenciário e preparação para a aposentadoria; Formação de recursos humanos para o atendimento de idosos; Coleta de produção de informações e análises sobre a situação do idoso pelo Serviço de Processamento de Dados da Previdência e Assistência Social (Dataprev) em parceria com a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dentre outras. (BRASIL, 2002) No Brasil, a Constituição de 1988 passou a considerar como responsabilidade da família, da sociedade e do Estado o suporte integral aos idosos, garantindo sua participação na comunidade e o seu bem-estar, bem como a garantia do direito à vida. Estabelece também que os programas de apoio para os idosos devem ser realizados, preferencialmente, dentro de seus domicílios, atribuindo à família as principais responsabilidades na manutenção do conforto do idoso. O estabelecimento da PNI, juntamente aos princípios instaurados pela LOAS veio a reforçar as políticas de apoio e proteção ao idoso, garantindo a promoção de sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Novas leis e diversas medidas práticas foram empreendidas pelo Estado visando proteger a população idosa contra a discriminação, a violência e as dificuldades econômicas, tendo o Estatuto do Idoso de 2003, como principal exemplo dessas medidas legais. Nesse contexto, cabe ao Serviço Social, a luta 69 pela garantia da equidade e a universalização, através da elaboração de programas e projetos e da efetivação das políticas públicas direcionadas aos idosos, na perspectiva de que esta população tenha um envelhecimento com dignidade, autonomia e independência. 3.6 O Estatuto do Idoso: Uma forma de mostrar à sociedade que os idosos também possuem seus direitos. O Estatuto do Idoso de lei nº 3.561 de 1997 tendo como autor o deputado federal Paulo Paim, e fruto da mobilização dos aposentados, pensionistas e idosos é resultado de uma grande conquista para a sociedade civil e, principalmente, dos idosos na conquista de seus direitos. Esse instrumento conta com 118 artigos e considera assuntos como os direitos fundamentais e as necessidades de proteção dos idosos, visando reforçar as diretrizes contidas na PNI, concedendo direitos sociais à população idosa, dentre as quais predominam os sociais: saúde, previdência e assistência social, renda mínima, educação, trabalho e moradia. Durante muitos anos os brasileiros mais velhos não detinham uma lei que defendesse os seus direitos, mesmo que a Constituição assegurasse certas condições de vida. Segundo o Ministério da Saúde (2003) “no dia 23 de Setembro de 2003 o estatuto do idoso foi aprovado pela comissão da Diretoria do Senado Federal”. Após quase sete anos de espera na tramitação no Congresso Nacional, e criado com o objetivo de garantir ao idoso sua dignidade, foi sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia primeiro de outubro de 2003, dia Internacional do Idoso, o Estatuto do Idoso. No Brasil o debate que se estabeleceu na sociedade foi fundamental para o entendimento de que seria necessária uma legislação específica que foi introduzida pelo Estatuto do Idoso, para garantir a dignidade das pessoas da terceira idade, já que antes existia uma abrangência e uma carência do aprofundamento das questões fundamentais, como os conflitos intergeracionais e o entendimento da terceira idade como portadora de necessidades específicas. Essa mesma fonte 70 especifica que para ser aprovado não foi tão fácil a lei nº 10.741 – de 1º de outubro de 2003 – DOU de 03/102003 – Alterado especifica cada direito em capítulos. Para melhor entendimento no quadro abaixo se encontram os capítulos e os assuntos: DIREITOS DOS IDOSOS TITULO I – DISPOSIÇÔES PRELIMINARES Capítulo I Do Direito à Vida. Capítulo II Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade. Capítulo III Dos Alimentos. Capítulo IV Do Direito à Saúde. Capítulo V Da Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Capítulo VI Da Profissionalização e do Trabalho. Capítulo VIII Da Assistência Social. Capítulo IX Da Habitação. Capítulo X Do transporte TÍTULO II - Das Medidas de Proteção Capítulo I Das Disposições Gerais Capítulo II Das Medidas Específicas de Proteção TÍTULO IV - Da Política de Atendimento ao Idoso CAPÍTULO I Disposições Gerais CAPÍTULO II Das Entidades de Atendimento ao Idoso 71 CAPÍTULO III Da Fiscalização das Entidades de Atendimento CAPÍTULO IV Das Infrações Administrativas CAPÍTULO V Da Apuração Administrativa de Infração às Normas de Proteção ao Idoso CAPÍTULO VI Da Apuração Judicial de Irregularidades em Entidade de Atendimento TÍTULO V - Do Acesso à Justiça CAPÍTULO I Disposições Gerais CAPÍTULO II Do Ministério Público CAPÍTULO III Da Proteção Judicial dos Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Indisponíveis ou Homogêneos TÍTULO VI - Dos Crimes CAPÍTULO I Disposições Gerais CAPÍTULO II Dos Crimes em Espécie TÍTULO VII - Disposições Finais e Transitórias Quadro 1: Direitos dos idosos. Fonte: Fonte: (LEI Nº10.741 2003). O que se percebe hoje com a legislação Brasileira, embora sendo considerada uma das melhores do mundo, é que as políticas públicas voltadas para o idoso ainda estão longe de proporcionar melhor qualidade de vida para os que fazem parte da chamada terceira idade, pois o que observamos na prática é a carência de políticas públicas especificas direcionada para os idosos. As Leis existem, faltam apenas interesse e disposição de cumpri-las. 72 Mesmo com todos os direitos garantidos, muitos desses citados são violados, começando pela moradia.O que tem-se visto por aí, são idosos morando em viadutos, calçadões, vulneráveis a qualquer tipo de violência.Por isso podemos ver quando, ao visitá-los nos abrigos, começamos a conhecer a história vivida de cada um que reside lá.A saúde também é muito precária, precisa melhorar muito, já que é um direito garantido pela Constituição Federal, está na PNI e no Estatuto do Idoso.Cabe aos órgãos responsáveis a execução desses direitos com qualidade. 3.7. Local da pesquisa: Unidade de Abrigo Olavo Bilac. Esta instituição foi criada em 10 de janeiro de 1936 A unidade de abrigo é destinada ao acolhimento de idosos com grau de dependência para atividades de auto cuidado na vida diária, abandonados por seus familiares ou que não tenham condições de prover seu próprio sustento. O abrigo oferece proteção integral e cuidados para a preservação da saúde física e emocional e seus direitos e garantias em locais adequados. Visa garantir a vida e a saúde às pessoas idosas carentes, de ambos os sexos, permitindo um envelhecimento saudável e em condições de dignidade considerando os dispositivos constitucionais, Lei (8.742, de 7 de Dezembro de 1993 –LOAS – a Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS e o Estatuto do Idoso, regulamentado pela Lei nº 10.741 de 01 de Outubro de 2003) . O Abrigo dos Idosos atende, atualmente, 105 homens e mulheres entre 60 e 90 anos. Na unidade, uma equipe multidisciplinar (médicos, dentistas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e assistentes sociais) desenvolve diariamente atividades pedagógicas, terapêuticas e de lazer com os abrigados. O Governo do Estado mantém apenas um abrigo público e está localizado em Fortaleza, no bairro Olavo Bilac. O problema é que, devido à grande demanda, ele já excedeu a sua capacidade. A unidade tem capacidade para 99 idosos, mas atualmente está com 110(LIMA, 2011). 73 CAPÍTULO IV - PERCEPÇÃO E SENTIMENTOS DOS IDOSOS EM RELAÇÃO A FAMÍLIA ,AOS PROFISSIONAIS E A INSTITUIÇÃO QUE OS ACOLHE. Para o melhor entendimento do sentido desta pesquisa, os resultados foram divididos em quatro categorias de acordo com os objetivos específicos. São elas: os sentimentos dos idosos por não estarem morando com os seus familiares; o dia-adia dos idosos em contato com outros idosos; sonhos e anseios desses idosos; o significado da velhice e da experiência de envelhecer para os idosos acolhidos pelo abrigo. Devido aos aspectos éticos, foram omitidos os nomes dos entrevistados, utilizando para isso, a palavra “idoso” com uma numeração de acordo com a ordem da entrevista, e identificado com um sentimento mais significativo na fala do sujeito. Além dessa decisão, também se optou por deixar a fala dos participantes tal qual foi relatada, ao pesquisador mantendo assim a fidedignidade do ouvido. Como foram mencionados, alguns profissionais que trabalham no abrigo foi entrevistado de forma a melhor entender como se dá a convivência com essas pessoas de idade avançada em abrigos. 4.1 Os sentimentos dos idosos por não estarem morando com seus familiares. Nesta categoria foi ouvido um poço de história de cada idoso. Foi procurado saber por parte dos residentes do abrigo que sentimentos percebem do idoso em relação aos seus familiares por não estarem em suas casas e sim em um local público “isolado” do convívio familiar. Foram colocadas todas as falas respondidas pelos idosos na ordem em que foram entrevistados, sendo identificados por meio de nomes de sentimento para melhor compreensão dos depoimentos. As entrevistas foram muito demoradas, pareciam felizes por ter alguém os ouvindo, dando atenção a eles, falando sobre sua família, ou preocupado com o que sentiam, era uma felicidade estampadas, uma coisa fora de rotina que se passava 74 ali. Percebia-se que ao perguntar como eles chegaram ali? Os idosos sem exceção contavam sobre sua vida desde a infância, sobre o que sentiam naquele momento, as lágrimas caíam sobre seus rostos enrugados, marcado por uma vida cheio de sofrimento, alívios e muitas saudades. A chegada deles nem sempre contavam de uma forma clara e convincente sobre a chegada ao abrigo. O que mais chamou a atenção foi o fato de os idosos em nenhum momento culparem a família por estarem no abrigo, embora sintam muita falta de casa e de seus familiares e sofrem muito por não receber visitas, na maioria das vezes, o que se ouvia dos participantes era que já estavam muito velhos, e que a família não tinha mais tempo para cuidar deles, ou que devido às relações com genros, netos e outros, estava cada dia mais difícil conviver em família, então ou optavam sair de casa e ir ao abrigo, ou morar na rua, como muitos estiveram. IDOSO I Tem 60 anos, nasceu no Maranhão, nunca estudou, começou a trabalhar desde os 8 anos na lavoura, teve um relacionamento que durou 11 anos do qual nasceu uma filha, ( a última vez que soube notícias morava no bairro Bom Jardim em Fortaleza).Não recebe visitas, 03 anos que vive no abrigo desde de abril de 2010. Foi levado ao abrigo pelo carro da polícia, devido está bêbado e largado na rua. Diz está bom, pois toma remédio, e agora é responsável pelo portão do abrigo. Sua queixa maior foi ter sido levado pela patroa por que bebia.Não sente saudades da família, nem do lugar onde nasceu. Gosta muito do abrigo, segundo ele ama aqui! Na entrevista notava-se a dificuldade de responder algumas perguntas, por não ter conhecimento suficiente, nas palavras como, Estado, atendimento, instituição e outras. Demonstrava-se sem perspectiva de futuro na instituição. Sentiu-se bem em responder as perguntas. 75 Neri (2002), diz que executar as atividades de vida diária, o idoso sente-se mais independente ou capaz, assim, entre as atividades citadas e que consideram importantes, destacam-se a manutenção e os cuidados com a casa. Eu não tenho saudade do Maranhão nem da minha companheira. Eu não tinha uma boa relação com minha família, até minhas filhas não se lembra de mim, por que eu vou querer que eles viessem me vê.aqui vem quem quer, mas tá bom assim, não me sinto só(...) se silencia, depois diz: a gente tem o que merece. (Idoso I) Percebe-se na colocação Idoso I que muitos idosos se mostram indiferentes devido a ausência da própria família, solitários, mesmo afirmando serem bem cuidados e estando junto aos outros, é impossível não notar a expressão em suas faces de carência afetiva. Foi identificado também que se relacionam pouco entre eles, havendo maior interação com os funcionários do que entre os próprios idosos. No relato a seguir, pode-se identificar os conflitos entre o idoso e as relações afetivas, muito deles negam a existência de seu familiar devido ao fato de não os procurarem, mesmo que seja por uma simples visita. IDOSO II Tem 63 anos, nasceu em Fortaleza estudou até a 2ª serie, mora há 11 a 12 no abrigo, veio de outras instituições, citou o Hospital das Clínicas, casado, morava com a esposa e duas filhas no Pará, tinha uma relação boa com a família, veio devido conflitos familiares e nunca mais voltou ao Pará. Trabalhava na roça, tinha boa alimentação, moradia, era muito feliz. Hoje diz não sentir saudades da família, pois nunca o visitou, não esperava parar no abrigo, apesar de tudo gosta de morar no abrigo, não tem dificuldades lá, aposentado, gasta o dinheiro com comida, gosta do atendimento, não referiu nada em relação à responsabilidade do Estado. Diz não se 76 sentir sozinha, a maioria das respostas era não, quando perguntei se queria voltar para família, ele diz que as vezes pensa, mas existe muita dificuldade, e se tinha gostado de responder as perguntas falou que sim, embora tivesse um pouco rouco, estava satisfeito. Eu não tenho saudade da minha família porque eu não me lembro deles, eles nunca me visitaram, tive um problema com uma pessoa da família, aí tive que sair de casa e nunca mais ninguém me procurou, nem lembro, nem quero lembrar de nada. (Idoso II). Na fala do Idoso II, pode-se identificar que existia uma relação forte dele com seus familiares e que de repente, por um problema existente dentro da família, perdeu o apoio do restante dos membros familiares. Segundo as autoras FERREIRA & SIMÕES (2011), a família é um componente relevante no relacionamento humano, pois a través dela que cada elemento que constitui cria laços de afetividade, compromisso e interação, sendo que esses relacionamentos são expandidos na sociedade. Seguindo o pensamento das autoras entende-se que quando o idoso se encontra numa situação única de conflito com outro membro da família e não encontra apoio do restante da família esses laços vão se desfazendo, o idoso sentese desprotegido e sai de casa a procura de apoio entre outros lugares, já que a família que antes era seu “porto seguro” não pode mais contar com o mesmo apoio de outrora. Para o depoimento a seguir, a idosa se refere a família como seu bem maior, mas que por conta da violência sofrido por um parente da família deixou-a incapaz de dar continuidade a convívio da família, em seus relatos fala com carinho da convivência que antes tivera com seus familiares e a saudade de não poder mais estar em seu convívio diariamente. IDOSA III 77 Tem 72 anos, nasceu em Maracanaú, era dona de casa, faxineira e cursou ensino fundamental incompleto, casada,e tinha dois filhos.Há 03 anos vive no abrigo. Diz ter casa apartamento no Jangurussu. Apresentava-se em alguns momentos fora da realidade, diz gostar da instituição, recebe visitas dos filhos. Quando perguntei se sentia falta da família, começou a chorar. Aposentada, veio o abrigo por ter sofrido violência e maus tratos, o primo a agrediu onde a deixou cadeirante, a partir daí perdeu parte dos movimentos. Eu sinto falta sim (choro), eu era feliz, mas quando não pude mais andar, quando meu primo me judiou,me maltratou, eles me trouxeram pra cá, eles gostam de mim, vem me vê, mas queria está com eles em casa, tenho dois filhos, gostam de mim, eu amo eles (Idosa III ) Não foi possível continuar as entrevista, pois não tinha capacidade para responder. Gosta de passear, gosta do atendimento das assistentes sociais e enfermagem e cuidadores. Quando uma pessoa sofre qualquer tipo de violência seja qual for seu grau, pode deixar grandes marcas em sua vida e como Idoso III mesmo falou essa violência a deixou cadeirante, e em sua fala às vezes também as noções de tempo e espaço, sua memória já não estava tão certa do que estava falando e tudo isso por conta da violência sofrida, que Minayo (2005) classifica como abuso físico, maus tratos físicos ou violência física: são tipos de violência exercida através de força física, com intuito de ferir, provocar dor, incapacidade ou morte do idoso. No artigo4° parágrafo 1° do Estatuto do Idoso, é vetado todo e qualquer tipo de violência contra a pessoa idosa, prevendo punições para quem violar a Lei: Art. 4° Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei. 78 § 1° É dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso. Quanto à idosa não conviver mais com a família deveu-se o fato da Idosa III apresentar dificuldades e dependências nas atividades diárias (ADs) provocando a institucionalização por parte da família. Na leitura de Argimon & Vitola ( 2009), os familiares, ao ver o idoso passivo, fracassado, descuidado fisicamente, pode-se distanciar-se procurando evitá-lo(...).Nisso demonstra que enquanto sujeito responsáveis por seus atos sua permanência no seio familiar era sempre bem-vinda, a partir do momento em que foi apresentando dependências físicas e mais cuidados especiais a família não se sentiu capaz de dar assistência aquela idosa. O entrevistado a seguir vive a situação de abandono, que pode acontecer em condições muito distintas na vida do ser humano. Entende-se dessa forma que existem situações diferenciadas vividas pelo homem que podem decorrer de múltiplos fatores, como ausência da convivência social, dificuldades relacionadas à convivência familiar, inexistência de família e de parentes, relações conflituosas vividas ao longo da vida nos grupos de pertencimento, dificuldades estabelecidas nos relacionamentos sociais, incapacidades funcionais e perda total de autonomia, como é o caso que apresento: IDOSO IV Tem 60 anos, nasceu em Pentecoste. Nunca casou. Não tem filhos, morava com os irmãos. Há 04 anos mora no abrigo. Já morou na rua e depois em outros abrigos, Não lembrava quase nada, após a morte dos pais, saiu da casa da irmã Adalgiza, que faleceu depois.Lembrava de 4 irmãos .Foi trazido ao abrigo por um homem do qual não lembra o nome.Sofreu violência e maus-tratos em seus relatos. Diz sentir saudades da família. Gostaria de voltar para Pentecoste. Não recebe visita. Aposentado, o dinheiro da aposentadoria diz dar para uma doutora. Foi o primeiro a dizer que não gostava de lá, porque não podia passear, ir para rua 79 sozinho, tudo tinha que falar com a assistente social. Diz sentir saudades, não entende nada de políticas, nem de responsabilidade de Estado. Não tenho magoa, tenho saudade da minha família, uns faleceram, não recebo visitas de ninguém, a única coisa que quero é vê meus amigos de novo, eu tenho amigo, não gosto daqui, é muito ruim ficar aqui, por que a gente não pode fazer nada, fica preso, não posso nem ir à rua sozinha, tudo a doutora tem que autorizar até meu aposento ela que tira, aqui só tem vei. Queria voltar pra Pentecoste (enche os olhos d'água) (Idoso IV). As autoras ferreira & Simões, chama atenção para o fato dos idosos conviverem sempre com idosos. E destaca Beauvoir (1970), relata que não se sabe até que ponto é bom ou ruim, pessoa idosa conviverem com pessoas dessa faixa etária. E complementa que Delbert (1999, p.118) em sua pesquisa, cita o discurso de uma das residentes: ”[...] a grande desvantagem do asilo é que aqui só tem gente velha”. A mesma fala percebe-se no Idoso IV em seu desabafo. Nas palavras do Idoso IV, nota-se o quanto a família faz falta, os amigos, a convivência com pessoas em outras faixas etárias, o desejo de comandar sua própria vida, pois na instituição tem normas de funcionamento, e as entradas e saídas dos residentes só através de autorizações após ser consultado seu estado geral e condições para saírem da instituição. As autoras supracitadas, apontam outro fator complicador das relações sociais dos idosos: a diminuição dos relacionamentos entre amigos e o isolamento social, o que reflete numa possível perda de metas e do sentido das emoções na vida dos idosos. IDOSO V Têm 66 anos, nascido em novembro de 1946, nasceu no Uruguai. Cursou o ensino médio completo.Foi casado e tem dois filhos.Morava com a esposa numa casa em Fortaleza.Era artista de rua, pintava quadros e vendia na Av. Beira80 Mar.Veio ao abrigo através do consulado Uruguai.Faz 03 anos que está no abrigo. Fazia tempo que era separado, sente saudades dos filhos. Nunca sofreu violência, nem imaginava morar em abrigo. Não recebe visitas porque a mãe (dos filhos) proíbe. Sente falta de exercício. Não é aposentado. No Uruguai tinha dado entrada na documentação, mas não obteve resposta. Gosta do atendimento do abrigo, só não da alimentação, pois não varia. Sente-se injustiçado por isso. Diz não falar com ninguém lá, e não tem amigos. É ateu, segundo ele.Gosta das políticas e do Lula em particular, diz que o governo assiste muito bem o abrigo, pois não falta nada.Gostou de responder as perguntas.Não espera nada do abrigo, mas deseja voltar para Uruguai. Eu não tenho uma relação boa com minha família, fui casado no papel de corpo e alma, não sinto saudade de meu filho e nem da mulher não. [...] se a mãe de meu filho não gosta de mim e nem eu dela e ela não deixa o meu filho vir aqui, por que vou sentir saudades! Não tenho raiva, estou cumprindo apenas mais uma etapa da vida, pois não tenho nada a esperar, uma coisa eu queria!(suspira) Voltar ao Uruguai, mas ficam só me enrolando aqui.. (Idoso V). Muitos dos sentimentos de abandono são reflexos da perda de afetos, representada pela perda do companheiro, de filhos, familiares e amigos. Quando os vínculos afetivos são rompidos e as relações se mantêm apenas por meio de lembranças passadas, o idoso percebe o quanto está só e os motivos que geraram essa condição. A condição de abandono também pode estar relacionada a situações de fragilidade em que o idoso com incapacidade funcional é gradativamente isolado do circuito familiar, aumentando seu sentimento de dependência pelos limites impostos pela incapacidade. Os idosos conseguem diferenciar a situação de estar só da situação provocada pela solidão. Muitos vivem sozinhos por escolha própria, mas não se sentem isolados devido às condições que criaram para desenvolver suas atividades de vida diária, podendo inclusive sentir solidão decorrente da sua 81 condição humana, mas não associam ao sentimento de abandono. Pode-se dizer então que existem variáveis objetivas e subjetivas que influenciam essa condição. IDOSO VI Tem 63 anos, nasceu em 1º de maio, não lembra o ano. É natural de Canindé, tem ensino médio completo. Foi casado e tem três filhas. Sua família mora em Iguatu. Relata não ter vontade de voltar para a cidade citada natal. Devido desavenças familiares foi morar sozinho. Trabalhava na roça. Deixou a casa onde morava para as filhas. Trabalhava como cobrador de ônibus em várias empresas em Fortaleza.O último trabalho foi de vendedor ambulante.Já faz alguns anos que vive no abrigo. Veio através do ministério público. A primeira esposa já faleceu. Era separado da esposa devido à bebida. Ela não gostava quando ingeria bebida, pois discutiam muito por causa de ciúmes. Eram divorciados. As filhas se afastaram devido à bebida. Os relacionamentos foram ficando complicados. Diz ficar triste longe da família, mas se acostumou. Já esteve em outros abrigos onde o mesmo cita o Lar Torres de Melo.Nunca recebeu visitas da família, mas não reclama.Gosta do atendimento da unidade, diz não ter nenhum tipo de dificuldade, está bem lá.Diz que se está ali foi culpa dele. Eu tenho irmão tudo em Canindé, tenho filhos, mas não tenho contato com nenhum. Eu nunca pensei em ficar aqui, adoeci, morava em casa de aluguel ai vim parar aqui. Eu não recebo visitas, só o pessoal de fora mesmo. Eu morei no Lar Torres de Melo, depois eu vim pra cá. Eu não culpo ninguém por estar aqui, foi culpa minha mesma se eu não bebesse tanto eu num tava aqui (IDOSO VI ) . As situações de abandono são marcadas por experiências em que há sofrimento, tristeza, angústia, dor, ansiedade e solidão. Se o homem tiver consciência de seus limites, decorrentes de sua finitude, poderá se preparar para 82 enfrentar essas situações. Por isso, não precisamos esperar chegar a essas situações para ter uma vida melhor. A consciência do presente e a manutenção de valores essenciais de respeito e amor à vida podem auxiliar a minimizar os problemas que nascem do abandono. Muitas vezes as respostas dos idosos encontram-se neles mesmos, o que demonstra que nem sempre bastam recursos externos, mas principalmente tocar os recursos internos, marcando posições positivas, de reconhecimento e apreciação da vida. A riqueza das experiências está no reconhecimento do que elas trazem de conhecimento. IDOSA VII Têm 77 anos. Nasceu em 5 de dezembro de 1936. É natural de São Bernardo do Maranhão. Cursou o ensino médio completo. Era casada, teve duas filhas. Trabalhava como secretária e não queria sair do emprego, mas teve que sair do emprego por causa do pai. Diz ser vítima de violência (não relatou o tipo de violência) Reside há 5 anos no abrigo. Quanto aos motivos de sua chegada ao abrigo, diz ter sido porque quis. Morava na Parnaíba. Disse que gostava de novidade por isso foi para lá. Sempre visitou o abrigo e quando se separou do marido, seu pai a levou para lá. Tinha um relacionamento bom com a família, porém não quis ficar com eles. Tem 3 netos e recebe visitas das filhas. Relata ter sido maltratada. Sempre se referiu ao pai com carinho. Sente saudades da família, na hora lembrouse dos passeios que fizera antes, quando convivia com eles na mesma residência (começou a chorar). Chorou mas ficou indecisa quando fala em retornar a família. Diz não ter raiva de ninguém, gosta de perdoar as pessoas, mas nunca se imaginou lá como residente. Aposentada, compra roupas para os filhos. Não é esclarecida das políticas nem responsabilidades do Estado para com os idosos. Gosta do abrigo, mas diz que às vezes a trata com má vontade e ela fica triste. Não se sente só e diz ter muitos amigos lá. Gostou de participar da pesquisa 83 Eu sempre gostei de visitar o abrigo quando nova, mas nunca pensei em vir morar aqui, eu trabalhava. Todos me elogiavam como secretaria, mas aí meu pai precisou de mim, e larguei o emprego, sinto falta do emprego, da minha vida lá fora, gosto muito da minha família, mas não tenho vontade de morar com eles, tenho muito amigos, adoro perdoar as pessoas, (fica apreensiva quando se pergunta se quer retornar ao seio familiar. (IDOSA VII) Talvez pela falta de informação ou até mesmo de costume, torna-se mais fácil conviver com o conhecido do que com o desconhecido. Nem sempre estas instituições suprem as necessidades do idoso, seja no sentido do espaço estrutural ou ambiente em família, que acaba sendo inexistente na maioria desses locais (FERREIRA & SIMÕES(2011) Comparando o texto a fala da IDOSA VII, nota-se que ela prefere o abrigo do que conviver com a família, embora tenha muita saudades.Fica claro nesse momento, na visão de Compaixão,para ela se sente mais segura no abrigo e não no ambiente familiar.Nem sempre o ambiente da família é garantia de que os idosos estão protegidos, livres de qualquer tipo de maus-tratos. IDOSA VIII Têm 70 anos, nasceu no Maranhão. Cursou o ensino fundamental incompleto. Sempre trabalhou de doméstica. Tem filhos que moram no Piauí e não recebe visitas. Já morou em vários lugares do Brasil. Quem a levou para o abrigo foi a cunhada. Não tem saudades da família, pois não tem contato. Relata que a sua afilhada diz não suportá-la por isso a internou. Tem um neto e não tem atividade por ser cadeirante. Após duas quedas não se locomoveu mais. Aposentada, compra sua alimentação com o dinheiro da aposentadoria. Gosta do abrigo. Uma de suas dificuldades é não andar. Sempre trabalhou como domestica. Não sabe nada de 84 política pública e governo. Diz não ter ressentimento de nada. Relata que quando era nova pensou onde estaria um dia, e veio parar aqui, ninguém sabe o dia de amanhã. Ficou agradecida pela entrevista. Eu não sinto saudades de ninguém, sempre me virei sozinha. Me sinto muito só. As únicas pessoas com que eu convivia era minha cunhada e minha afilhada. Quando eu tinha muito dinheiro, elas gostavam muito. (comecei a rodar o Brasil a fora. Era bom demais, só por prazer. Depois vim morar com minha afilhada que não me aguentou mais)Isso devido as dificuldades, por que sou velha e dou muito trabalho.aí quem quer cuidar de velho né minha filha(suspira...)aí um belo dia ela me trouxe para cá( IDOSA VIII). No relato da IDOSA VIII, refere-se ao fato de ser sozinha. Para a literatura a palavra “sozinha”, com qualquer de seus significados, pode conduzir à solidão, e abandono. A solidão e o abandono constituem pesados fardos para os idosos, pois as famílias tendem, não raro, a excluir aqueles tidos como incômodos demais. Também há pessoas que, por suas vivências e experiências, possuem o sentimento de abandono ao longo da vida, não somente na velhice. Pelos relatos dos idosos, a situação de abandono conduz a sentimentos de sofrimento. O idoso espera que suas experiências com familiares, amigos, parentes se prolonguem para sempre, como se todos os ciclos de vida fossem iguais. Toma como referência experiências de inserção passadas em que não existiam problemas de relacionamento e nas quais ele ainda exercia o controle sobre os demais membros da família. Essa perda de poder é anulada pelas lembranças, onde o idoso se coloca ainda num lugar privilegiado, marcado apenas pelo espaço de suas memórias, sem estar preparado para enfrentar as fragilidades que seu envelhecimento trouxe. 85 Dessa forma, muitos relatos demonstram que alguns idosos preferem as lembranças do passado ao enfrentamento das relações sociais no presente, utilizando como mecanismo estar num lugar confortável do passado, negando suas condições do presente e se escondendo do sofrimento e da dor que essa falta de preparação de envelhecer lhe impôs. Há ainda aqueles que assumem a condição do abandono e expressam tristeza por estarem sós e a consciência dos limites que enfrentam e da condição irreversível em que se encontram. De acordo com as respostas, quase todos os idosos afirmam não sentir magoa ou algum sentimento ruim por estarem no abrigo. Ao contrário do imaginário da população. 90% dos idosos entrevistados não demonstraram saudades da família. Esperava-se antes das entrevistas que os idosos fossem falar da falta do convívio de seus familiares. Porém esses 90% não querem ver e nem saber de seus familiares. Um idoso afirma não conhecer mais a sua família, devido ao tempo que passou tão longe dela. Outros entrevistados dizem que as lembranças ficam devido à memória que surge em suas mentes. Observando o idoso, foi possível ver o quanto são carentes de uma pessoa para conversar. Quase todos se sentiam bem, aparentemente, em estarem contando um pouco da sua história. No abrigo eles aprendem a conviver com os outros de sua idade. O ser humano, na sua própria natureza, busca aproximar-se de quem tem afinidade. Isso acontece em qualquer ambiente e no abrigo isso não é diferente. A convivência com outros idosos os leva a construir uma nova família, os colegas de abrigo. Também foram entrevistados profissionais que lidam diretamente com os idosos. Pode-se perceber mais sobre os sentimentos dos idosos institucionalizados. Pela fala dos entrevistados percebe-se que existe um carinho muito grande com os idosos. Muitos deles trabalham a bastante tempo no abrigo. Muitos dizem não entender por que tanto descaso e abandono. Quando conhece-se de perto a realidade percebe-se que nem sempre eles estão abandonados sem ter causa . As situações que levam ao abandono são muitas vezes provocadas pela 86 condição de fragilidade do idoso, que pode passar a depender de outras pessoas, pela perda da autonomia e da independência, pelo esfriamento dos vínculos afetivos e pela conduta do grupo de relações ou ausência dele. Ainda há situações que dependem do próprio idoso, no que se refere ao modo como se dá o enfrentamento dessa problemática. Isso significa dizer que uma mesma situação pode ser motivo gerador do sentimento de abandono para uma pessoa e não o ser para outra. Depende das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada indivíduo. PROFISSIONAL I Enfermeira e há um ano trabalha na instituição; Geralmente os idosos que chegam aqui ficam tristes, perguntando pela família. Mesmo sofrendo maus-tratos eles perguntam por eles e depois com o tempo eles se acostumam [...] Tem idosos que ficam felizes com a visita das famílias, mas outros não querem nem conversar, eles ficam sentidos (Profissional I). Sobre isso, Born (1996 apud Ferreira & Simões 2011, p.89) relata a importância dos funcionários preparados para a rotina de cuidados com essa população. É importante que tenham oportunidade de conhecer alguns elementos da vida do idoso para que possam ter um relacionamento entre eles como pessoas, não como um vovô e uma vovó sem nome nem identidade. PROFISSIONAL II Cuidador e trabalha há 1 ano abrigo. Eles sentem ressentimento. Muitos aguardam a vinda de familiares. São uns amores, conheço cada um. O que gostam, como gostam de se alimentar, seus gostos artísticos, seus anseios e angustias devido a falta de visita da família. Tinha uma idosa que todos os dias ela arrumava as coisas dizendo que o filho viria visitá-la. Muito delicada essa questão de 87 abandono.Você não sabe de fato o que aconteceu, às vezes me pego em questionamentos se eu teria coragem de fazer isso com meus pais (Profissional II). Zirmerman (2000 apud Ferreira & Simões2011, p.173) afirma que nesse momento a família dos idosos não é sempre aquela que tem laços sanguíneos, segundo a autora, mesmo que tenham familiares, quem está presente no cotidiano, muitas vezes, são os cuidadores e outras pessoas fisicamente mais próximas, com quem acaba desenvolvendo fortes laços de amizade e confiança. Por estarem próximas no dia a dia, podem acabar conhecendo melhor o idoso, seus gostos e necessidades, mas do que os familiares que os visitam esporadicamente. PROFISSIONAL III Cuidadora e trabalha no abrigo há mais de 2 anos, diretamente com os idosos. Eu acompanho as visitas dos familiares aos idosos, e sempre acontecem algumas intercorrências. Quando eles sabem que vão receber visitas ficam ansiosos e às vezes com um grau de agressividade. Teve uma senhora que morreu de depressão e tristeza por causa das ignorâncias da família Ela até recebia visitas, mas quando a família vinha aqui era ignorante com ela. (Profissional 3). No entanto, não basta que o idoso simplesmente conviva junto com seus familiares para não se sentirem abandonados ou excluídos. É necessário que ele seja respeitado, amado e valorizado pelas pessoas que convivem num mesmo ambiente. Delbert (1999, p.83) nos diz: ”[...] o fato dos idosos viveram com os filhos não é garantia de presença de respeito e prestígio, nem de ausência de maus-tratos 88 [...], nem o fato de morarem juntos um sinal de relação mais amistosa entre idosos e seus filhos. Os profissionais confirmam o que os idosos relatam, durante suas as falas nas entrevistas. As ingratidões, a falta de amor, por parte dos familiares, fazem com que esses idosos do abrigo não sintam falta de seus familiares. As amizades e o conforto que encontraram nesta Instituição minimizam o romper e o ressentimento do abandono. Diante dessas confirmações, o abandono é concebido como sentir-se desamparado no meio dos outros. E não estar bem. É não ter ajuda de ninguém. É andar de um lado para o outro. É ter família e não ser protegido por ela. É ser esquecido e isolado, indiferente, não ser valorizado e não receber atenção. O idoso espera daquele que quer bem o apoio necessário para enfrentar a velhice. Talvez esse bem-querer não seja recíproco e possa produzir o sentimento de abandono. O idoso cansa de falar e não ser ouvido, e essa surdez o deixam afastado de suas esperanças e de seus desejos. À medida que suas expectativas não se realizam e se perde a motivação da espera, ele fica sem o sentido de viver. 4.2 A convivência dos idosos em contato com outros idosos e profissionais do abrigo. Foi investigada a sensação dos idosos de morarem em abrigo. Muitos idosos, antes de terem o abrigo como suas residências moravam nas ruas, passando necessidades em relação à alimentação, higiene, falta de remédios, ou com famílias que nem sempre tinham tempo ou paciência para cuidarem deles, ou até mesmo vindo de outros abrigos.Os idosos residem há muitos anos no abrigo e assim constroem fortes laços de amizades entre eles. O Idoso I: “Ave Maria eu amo aqui viu”. “Todos me tratam bem, eles são minha família.” “Aqui não falta nada”. 89 IDOSO II Eu gosto daqui, as pessoas me tratam bem, eu não me sinto sozinho, o atendimento é bom, não sinto falta de nada. [...] Sou aposentado, eles compram comida com o dinheiro. Antes vivia doente porque não tomava os remédios na hora, agora tenho tudo direitinho, não quero sair daqui, tenho amigos, todos gostam de mim, somos uma família. O significado de abandono é ser sozinho no mundo, estar só, sem ninguém para partilhar a vida, para auxiliar durante a velhice. É ficar só pela perda de companheiro, filhos, familiares ou amigos. É sentir-se sozinho, ainda que rodeado de seres humanos, pela falta de um bem-querer espontâneo e sincero, de carinho, de amor dos filhos, do aconchego da família, da intimidade com o outro. É não ter ninguém por si. É não ter a presença dos familiares, de amigos, de companhia, de visitas. É não ter filhos, não ter nada. Em meio à solidão encontra-se o abraço de um companheiro de quarto, aqui Paixão relata bem o que é isso: IDOSO III[...] Eu gosto daqui, mas sinto falta da minha família, meus filhos. Tenho amigos, as pessoas me tratam bem, mas... Gostaria de um dia poder visitar meus familiares de novo. No relato o idoso anseia algo diferente. Para ele, a qualquer momento a família vem buscá-lo. A maioria das vezes isso não acontece. IDOSO IV [...] Eu gosto do abrigo é bom, mas se aparecer alguém pra me levar pra Pentecostes eu vou. Quero meus amigos, sei que aqui tenho amigos também, mas meu lugar não é aqui, não é aqui... 90 A partir da fala do IDOSO IV, entendeu-se que abandono na velhice é um sentimento de tristeza e de solidão, provocado por circunstâncias relativas a perdas, as quais se refletem basicamente em deficiências funcionais do organismo e na fragilidade das relações afetivas e sociais, que por sua vez conduzem a um distanciamento, podendo culminar no isolamento social. IDOSO V [...] Aqui eu tenho tudo na hora, comida, remédio [...], seria melhor se tivesse verdura, nós comemos todos os dias arroz com carne moída, galinha, mas não tem nenhum pedaço de verdura. Não tenho amigos, gosto assim mesmo, prefiro ler meus livros, assistir TV. Para alguns teóricos, a fala de Eufórico quando afirma não ter amigos e gostar de ficar sozinho, é negar a condição de viver na solidão, de não aceitar está esquecido por seus familiares, deixando visível, o que sente muita falta de sua casa e de seus familiares e que sofre por não estar recebendo visita, principalmente de seu filho. Indagada sobre seu convívio com os outros idosos e sobre a instituição, IDOSO VII o diz: Eu gosto daqui e me alimento do que eu quiser, [...] eu nunca pensei em estar aqui. Eu pensava quando mais nova: Meu Deus quando envelhecer pra onde eu vou, mas não sabia que era aqui (risos). Segundo as falas percebe-se que quase todos gostam do atendimento do abrigo, principalmente das refeições e dos remédios nos horários. Esse cuidado diário é necessário a todos os idosos. Muitas vezes os familiares, pelo ativismo ou desamor, são omissos nos cuidados que devem ter com seus os idosos. 91 Já os profissionais relatam gostarem do seu trabalho no abrigo. Algumas falas colhidas pelos trabalhadores demonstram isso: PROFISSIONAL III. Eu gosto do que eu faço. Antigamente eu não me via trabalhando com idoso. Depois de começar a trabalhar não me vejo fazendo outra coisa. PROFISSIONAL II Eu gosto. Porque cuidar de idosos é o mesmo que cuidar de crianças tem que estar com ele 24 horas. Principalmente se ele tiver alguma doença. Muitos deles chegam aqui debilitados, aí a gente fica grudado neles 24 horas e acaba criando um laço de amizade muito grande. PROFISSIONAL IV Trabalhar com idosos é um trabalho diferenciado porque você tem que dar muita atenção.É difícil você tem que tá preparado para trabalhar com isso.Todo dia penso como vou cuidar do idoso quando saio de casa, mas é só fechar os olhos e lembrar da carinha deles e logo vem o prazer de trabalhar. PROFISSIONAL V Adoro, adoro trabalhar aqui [...] É preciso entender o idoso, porque ele é como se fosse uma criança.Sei que não se deve tratar o idoso como uma criança, mas a maioria deles, devido os maus-tratos e sofrimentos chegam aqui igual a criança. 4.3 Sonhos e anseios desses idosos. Neste momento, procura-se identificar a existência de sonhos por parte dos residentes do abrigo. O ser humano sempre sonha e as pessoas com mais idade 92 também possuem esses desejos, até porque por terem vivido muitos anos, conseguiram realizar muitos desejos em sua vida e continuar com esse sentimento é a esperança de saber que continuam vivos e dispostos a conquistarem outros sonhos. IDOSO I Voltar para o Uruguai. Aqui não tenho mais nada a ganhar, quero poder voltar a pintar quadros como antes. Gostaria da minha vida de volta, preocupe-me de não poder um dia alcançar esse sonho. IDOSO IV. Eu quero um dia ir pra Pentecostes [...] se aparecer alguém pra me levar pra Pentecostes eu vou. Meu maior sonho é poder um dia voltar a vêem meus amigos, voltar para onde eu nasci. Suspira: Aí meu Deus! IDOSO VI Eu sinto falta de vender lanche na rua. Eu era vendedor ambulante, ainda quero trabalhar. Tenho saudades de quando podia sair pelas ruas e conversar com todo mundo, crianças, jovens, adulto e muito mais adulto. Eu gostaria de poder vender lanche de novo, nem que fosse aqui enfrente do portão do abrigo. Muitos idosos se sentem tentados a realizarem alguns desejos, outros, porém afirmam que só em estarem vivos já é o suficiente e que já conseguiram muita coisa na vida. Nesta categoria esperava-se que todos os idosos fossem falar mais de um desejo, mas a realidade foi outra. Com isso percebeu-se a riqueza que possui a pesquisa. Perguntamos para os profissionais sobre a possibilidade dos idosos terem seus sonhos realizados. Alguns trabalhadores afirmaram que os idosos não falam muito sobre esse assunto e que só querem paz até sua morte. Vejam as falas: 93 PROFISSIONAL II Eles sentem falta da família, dos filhos, principalmente dos filhos. Eles querem mais visitas. Só o que almejam o que vejo alguns deles se reclamando. PROFISSIONAL IV [...] Olha pouco a gente os vê falando de sonho, de futuro. Às vezes até puxamos conversas, uns se retraem e outros desconversam, mas é notório que o desejo de estar com seu familiar talvez seja o mais importante de todos os seus sonhos. Em contrapartida, muitos idosos negam o fato de sentirem falta da família. Preferem morar em abrigos do que em seus lares junto a família, embora muitos digam que não tem mais lugar para eles.Onde as entrevistas acima comprovam que a falta que a família faz é pulsante em seu sangue. Ainda assim com poucas respostas sobre essa categoria chegamos à conclusão que dentre as falas dos idosos e profissionais a maioria dos residentes almejam estarem com os seus familiares. Isso é fato até porque, grande parte dos idosos possuem famílias com filhos, netos, sobrinhos, irmãos e eles sentem falta do convívio com familiar tornando este contato um desejo constante em suas vidas. 4.4 O significado da velhice e da experiência de envelhecer para os idosos acolhidos pelo abrigo Olavo Bilac. A velhice para alguns é considerada um estágio final, e por isso acabam afirmando que não esperam muito. O fato de muitos deles antes de irem para o abrigo sofrerem maus-tratos, morarem em ruas e já serem abandonados pelos seus familiares, faz com que o grau de expectativa seja baixo. O sentimento de família nem sempre é construído. Estudos apontam que os idosos em convívio como outros são indiferentes como se aquele local fosse apenas uma passagem, mesmo sendo a sua morada. Isso pode ter sido causado pelo fato de muitos idosos viverem em mundos fechados, como ficou em evidencia na observação realizada durante as visitas realizadas no abrigo. Alguns idosos não gostavam de sair com outros, gostavam de ficar sozinhos sem muita conversa, isolados, reclusos. 94 IDOSA VII Ah minha filha, a velhice é isso, ser abandonado, esquecido, eles mentem pra gente, dizem que voltam amanhã e nada. Isso é minha realidade, quando o corpo vai deixando de fazer alguns movimentos, logo somos tirados do meio da família para não atrapalhar os demais. Agora é só esperar, porque se você não aproveitou antes agora toda travada não tem mais, o povo não respeita mais nada. Na fala da Idosa VII, pode-se observar o fato de que, apesar da maioria dos idosos manter algum tipo de relação com seus familiares, isso não é o suficiente para não se sentirem excluídos e sós. Mesmo estando junto aos outros, ela se mostra-se muito solitária, demonstrando com convicção que o asilo não substitui o abandono e a negligência causada pela família. IDOSO III Como eu iria imaginar um dia vir parar aqui.Eu achava que ia ficar velhinha junto aos meus filhos.O que eu entendo de velhice é estar aqui longe de minha família, minha casa, meu lar.Logo eu que trabalhei tanto, vim parar aqui, mas não culpo eles coitados, tem a vida deles, os filhos, os empregos, a culpa de tudo é minha por ter dado trabalho a eles, tudo que precisava ocupava um, ou outro.Não era para existir velho e nem essas casas para a gente vir. Colaborando com o desabafo do Idoso III, PASCHOAL (1996 apud FERREIRA & SIMÕES, p.167) diz que desde épocas remotas, a velhice tem sido associada à dependência e à perda de controle sobre sua própria vida, mesmo para atos corriqueiros e banais de sobrevivência. O autor relata que a velhice tem sido pensada quase sempre como um processo degenerativo, oposto a qualquer progresso ou desenvolvimento humano. IDOSO V Eu não espero mais nada da velhice, ou coisa qualquer para mim é vei, todo vei dá trabalho, tá vendo eu aqui, todo dia peço a meu Deus para me tirar daqui. Pessoal diz que nós vei tem direito, mas cadê meu direito. Se fosse assim, já tinha ido para Pentecoste, eles tratam a gente como criança, vem cá bebezinho, oh moça não 95 gosto disso, me sinto novo, ainda posso trabaiá, por que nós vei não tem direito a nada, só a esse tal de aposento que nem vejo aqui. Vivemos hoje num cenário em que se valoriza o corpo da juventude, o corpo produtivo e reprodutivo, sendo assim, o corpo idoso, que não atende mais a esses requisitos tende a ser descartado e omisso. O que Saudades quer dizer está nos escritos de Simões (1998 apud Ferreira & Simões 2011, p.167) A autora relata que o idoso, cujo corpo não se inclui, mas nesse padrão, tem seus anseios anulados gerando a sensação de impotência como organismo ativo na sociedade. Assim o idoso passa a ser visto na sociedade como um ser participativo para um ser participativo, na perspectiva da civilização deixa de ser um meio de cultura e produtividade, tornando um elemento inativo. O idoso é considerado velho, não possuindo valor algum, não participando mais da vida economicamente ativa do país. Foi procurado saber o que os idosos achavam de seus amigos e colegas e o que isso representava para eles. Vejam a descrição dessas falas: IDOSO I Os amigos aqui são gente boa, quando se fica velho né o bom é ter amigos. IDOSO II [...] eu não me sinto sozinho. Mas para alguns profissionais existe de alguma forma um sentimento de família coletiva, como veremos nas entrevistas: PROFISSIONAL I [...] é bom ver que eles formam uma família. Aqui tem 94 idosos agora. Eu acho que todos aqui são uma família, eles como são irmão uns dos outros, eu tento levar mais para um lado positivo esses últimos dias de vida deles. 96 Ao recorrer à fala do profissional I observa-se [...] que são felizes por terem um lugarzinho para morar, aqui é um ambiente familiar, a gente conversa, ri, então a convivência é boa, mas outros são bem tristes por terem sido abandonados pela família. PROFISSIONAL III[...] Aqui eles estão bem melhor convivendo com outros da mesma idade e aproveitando a vida, construindo laços. Os profissionais em suas falas afirmam “que sempre tentam proporcionar um ambiente alegre, para que os idosos sintam, o mais próximo possível, de uma casa familiar”. Através dos passeios realizados todas as semanas, das normas e rotinas a ser seguido, na tentativa de fazer daquele lugar um local onde eles possam ser felizes. 97 CONSIDERAÇÕES FINAIS Trabalhar com esse assunto foi e será algo importante para toda vida. Conhecer a realidade de idosos longe do convívio familiar sempre me chamou atenção. Através das visitas e pesquisa realizada no abrigo Olavo Bilac foi percebido o quanto esta instituição pública é séria e compromissada em prestar assistência integral ao idoso com situações diversas. Os profissionais são capacitados para o trabalho e os idosos têm a possibilidade de terem um atendimento especial. Sabe-se que muitos em suas casas não teriam o mesmo cuidado, o amor e a dedicação que possuem no abrigo. Entrevistar idosos e conhecer um pouco de suas histórias foram um grande aprendizado. Por possuírem mais tempo de vida e experiências vividas conseguem com simples palavras, mas transmitir e refletir o sentido da vida. Foi triste identificar idosos que chegaram ao abrigo devido a maus-tratos e abandono familiar. Isso reflete o serio problema da violência contra a pessoa idosa. Percebe-se o quanto eles sentem falta do aconchego do lar e da convivência com seus familiares. Porém em meio à tristeza, também surgiram alegrias em saber que no abrigo eles podem construir famílias e amizades, e que eles possuem atendimento de qualidade e sossego merecido depois de uma longa vida. No desenvolver da pesquisa em leituras bibliográficas e de campo, foi percebido nas falas dos idosos, que os motivos por estarem no abrigo, foi devido a forma de como eram tratados em casa, não se sentiam mais membros da família, daí a procurar um lugar onde só tivesse gente da mesma idade. Alguns relatam que tem saudade de casa, da família, mas devidos os conflitos existentes preferem morar no abrigo. É observado pela sociedade, pela conjuntura que abrigo de idosos é um local que de certa forma coloca-se seres humanos que não tem mais como contribuir para o engrandecimento do lar e da conjuntura. Por tanto, temos que deixar claro que os estereótipos de asilos fazem com que a sociedade tenha uma 98 imagem ruim do lugar, para quem não conhece de perto, e como funcionam essas instituições, acabam criando uma imagem negativa, todavia, as instituições de Longa Permanência, talvez seja o lugar mais seguro para os idosos, como visto para alguns autores, nem sempre a família é a certeza de um ambiente agradável e seguro. Durante esta pesquisa não foi possível deixar de observar algumas colocações dos idosos que se tornam elucidante visto que determinadas expressões revela quantas tristezas, o sentimento de impotência diante dos fatos que poderia ser evitados se os idosos estivessem junto a sua família. Muitos aparentam saudades, mas devido as condições na qual viviam, preferem ficar no lar, embora longe da família , mas sabem que lá estão protegidos. Em meio relatos, muitos agradecem a Deus por terem encontrado um lar, pois recebem tratamento de saúde, fazem laços afetivos, sentem-se acolhidos e preenchem o vazio de não poderem estar com a família. É possível observar que existe preconceito por parte da sociedade em relação a terceira idade, onde são poucos os projetos sociais que incluam essa classe em seu meio. É observado também que dentro do contexto de saúde pública em relação aos idosos existem bons projetos que estão engavetados, que se tornam motivos de grandes debates e pouca prática. O que se transforma em transtorno psicológicos de grandes dimensões é a atuação familiar desses idosos, onde o desamor e o principal laço de anseio nos abrigos, onde os mesmos preferem a falta de contato por vários motivos, como por exemplo, temos a violência domestica a falta de habitação, o cuidado alimentar, saúde, a falta de diálogo entre eles. No todo fica impossível a convivência dos idosos em seu habitat natural, perto da família. Foi muito importante a pesquisa no sentido investigativo. É importante para o Serviço Social esse buscar de novos subsídios para que o número de idosos abandonados não seja mais visto como um problema isolado, mas que a sociedade tome conhecimento e veja que a situação do idoso em situação de abandono é 99 devido a falta de condições psicológicas, financeiras ou culturais. Desta forma pretende-se continuar pesquisar sobre este assunto em uma especialização futura e descobrir outras experiências com idosos. Espero que este trabalho contribua para repensar as políticas sociais voltadas aos idosos, assim despertando o interesse de outras pessoas em relação a abandono na velhice e como também para novas pesquisas. 100 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AFFIUNE, A. Envelhecimento Cardiovascular. In: FERREIRA, L et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. AGÊNCIA Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Consulta Pública nº 41, de 18 de janeiro de 2004., 2004. Disponível em: <http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/CP/CP%5B7626-1-0%5D. PDF>. Acesso em: 21 dez. 2012. ARIÉS, Philippe. História da criança e da família. 2. ed.Rio de Janeiro: LTC, 1981. BALERA, Wagner (Coord.). Previdência Social Comentada – Lei n° 8.212 e Lei n° 8.213/91. São Paulo: Quartier Latin, 2008. BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. Tradução de Maria Helena Franco Monteiro. BERZINS, Marília Anselmo Viana da silva. Envelhecimento populacional: uma conquista para ser celebrada. In: Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, Cortez, n. 75, p. 19-34. 2003. BORN, T.; BOECHAT, N. S. A qualidade dos cuidados ao idoso institucionalizado. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Cap. 9, p. 989-994. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. BRASIL. Lei n. 10.741, de 1o de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 3 out. 2003. Seção 1, p. 1. 101 Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/L10.741.htm >. Acesso em: 26 dez. 2012. BULLA, L. C. de.; LIMA, I. I. de. (Org.). Convivendo com o familiar idoso. In: LAFINS, S. H. F. As relações familiares e o idoso. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009. 98 CAMARANO, A. A. Envelhecimento da População Brasileira: Uma Contribuição Demográfica. In: FREITAS, E. V. et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Cap. 6, p. 58-71. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. CANÇADO, F. A. X.; HORTA, M. L. Envelhecimento Cerebral. In: FREITAS, E. V de et al. Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. CARDOSO, M. A. B. S. Percepção Dos Idosos Residentes em Instituição de Longa Permanência sobre a Prática da Gerontomotricidade. (Graduação), Curso de Especialização em Gerontologia. Fortaleza: Escola de Saúde Pública do Ceará, 2007. CARVALHO, R. M de. O Processo de Envelhecimento na Visão dos Idosos Participantes dos Grupos de Convivência de Volta Redonda: Subsídios Para Confecção De Cartilha Informativa. (MESTRADO), Curso Ciências da Saúde e do Meio Ambiente. Volta Redonda: Fundação Oswaldo Aranha, 2010. Disponível em: < http://www.foa.org.br/portal_ensino/pos/mecsma/arquivos/18.pdf>. Acesso em: 23 Dez, 2012. CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de DireitoPrevidenciário. 12. Ed. rev. e atual. Conforme a legislação em vigor até Janeiro/2010. Florianópolis: Conceito Editoral, 2010. COSTA. E. M. S., Gerontodrama: A velhice em Cena. São Paulo: Ágora, 1998. 102 DEBERT, G. G. A reinvenção da velhice: socialização e processos de reprivatização do envelhecimento. São Paulo: Universidade de São Paulo/Fapesp, 1999. ELIAS, N. A solidão dos moribundos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2001. ESPITIA, A. Z.; MARTINS, J. J. Relações afetivas entre idosos institucionalizados e família: encontro e desencontros. Arquivos Catarinenses de Medicina, v. 35, n.1, 2006. FERREIRA, L. A Imagem Refletida: Olhares para O Ser Envelhecido em Diferentes Contextos Sociais (Mestrado), Pós-Graduação em Educação Física. Piracicaba: Universidade Metodista de Piracicaba, 2006. p. 246. FREITAS, E. V.; MIRANDA, R. D.; NERY, M. R. Parâmetros Clínicos do Envelhecimento e Avaliação geriátrica Global, In: FERREIRA, L et al. (Org), Tratado de Geriatria e Gerontologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. GLAZIER, Jack D.; POWELL, Ronald R. Qualitative research in information management. Englewood, CO: Libraries Unlimited, 1992. 238p. GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. GOFFMAN, Erving. Manicônios, Prisões e Conventos, São Paulo: Perspectiva, 1974. HAHNE, Rosana. SOCIEDADE, ENVELHECIMENTO HUMANO E CIDADANIA, 2003 Disponível em:<http://www.ibgeron.org.br/documentos/26_rosana_sociedade_envelhecimento.p df>. Acesso em: 11 Dez, 2012. 103 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 14. Ed. rev. e atual. Riode Janeiro: Impetus, 2009. INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Primeiros resultados definitivos do Censo 2010: população do Brasil é de 190.755.799 pessoas, 2010. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php id_noticia=1866&id_pagina=1>. Acesso em: 20 Dez, 2012. LAUTENSCHLAGER, N. T. É possível prevenir o desenvolvimento da demência? Revista Brasileira de Psiquiatria, v. 24, p.22-27, 2002. LAVOR, Thays. População de idosos cresce 61% no ceará. Diário do nordeste. Fortaleza, 25 maio 2011. Caderno Cidade, 2011. Disponível em: < http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp código=988028 >. Acesso em: 21 dez 2012. LAZARRI, João Batista de et al. Prática Processual Previdenciária –Administrativa e Judicial. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010. LIMA, E. M. F de A; PELBART, P. P. Arte, clínica e loucura: um território em mutação. Hist. cienc. saúde-Manguinhos. v.14, n.3, p. 709-735, 2007. LIMA, Luana. Ceará tem apenas um abrigo público para idosos. Diário do nordeste. Fortaleza, 25 maio 2011. Caderno Cidade, 2011. Disponível em: < http://diariodonordeste.globo.com/materia.asp código=985941>. Acesso em: 31 dez 2012. MARCONI, M. D. A.; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 104 MINAYO, M. C.de S. et al. Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. 16. ed. Petrópolis: Ed. Vozes, 2000. NERI, Anita Liberalesso. Feminização da velhice. In: ____. Idosos no Brasil: vivências, desafios e expectativas na terceira idade. São Paulo: Ed. Fundação Perseu Abramo/ Edições SESC, 2007. p.47-64. RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999 SILVA, A. P. M da. et al. Aids Não Tem Idade. (Graduação), Curso de Serviço Social. Presidente Prudente/SP: Faculdades Integradas “Antônio Eufrásio De Toledo”, 2002. SIQUEIRA, Patricia Carlesso Marcelino. Desafios para a melhora da qualidade de vida frente ao processo de envelhecimento humano. Revista Digital- Efdeportes.com. Buenos Aires, n 131. Ano 14. Abr., 2009. Disponível em: < http://www.efdeportes.com/efd131/processo-de-envelhecimento-humano.htm>. Acesso em: 14 Dez, 2012. UMPHRED, D.; Lewis, R. W. O Envelhecimento e o Sistema Nervoso Central. IN: KAWFFMANN, T. L. Manual de reabilitação em Geriatria. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. . 105 APÊNDICE A TERMO DE CONSENTIMENTO Estamos realizando uma pesquisa chamada “A vida fora do convívio familiar; percepções e sentimentos dos idosos acolhidos pelo abrigo Olavo Bilac, cujo objetivo é identificar através de relatos/depoimentos dos idosos que residem no abrigo, seus sentimentos em relação à distância familiar/ e ou abandono.Serão usadas, para a coleta de dados, entrevistas semiestruturadas e observação participante. Serão feitas algumas perguntas acerca da sua vida, incluindo a fase anterior à ida a Unidade de Abrigo A pesquisa trará benefícios no sentido de aprofundar a compreensão de suas percepções de sentimentos frente problemática de abandono familiar, maus tratos, com a finalidade de melhorar a qualidade das intervenções, de forma que os resultados da pesquisa serão apresentados e discutidos com os profissionais que lhes prestam assistência. A participação dos idosos será da seguinte forma: o pesquisador fará algumas perguntas sobre um pouco da sua história de vida e sua trajetória antes e após a ida para o Abrigo. A entrevista será gravada para melhor organizar as informações, porém não terá o seu nome por questão de ética, bem como a parte escrita do trabalho. Com essas informações, gostaríamos de saber se a instituição aceita a participação dos idosos na pesquisa. É necessário esclarecer que: 1. A aceitação/autorização deverá ser de livre e espontânea vontade; 2. A pesquisa não trará nenhum risco ou problema para o idoso; 3. A identificação de todos os envolvidos será mantida em segredo; 106 4. Que qualquer um poderá desistir de participar a qualquer momento, sem qualquer problema para o idoso; 5. Será permitido o acesso às informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa; 6. Somente depois de ter entendido o que foi explicado, deverá assinar este documento. Em caso de dúvida, poderá falar com a estudante responsável pela pesquisa, atual aluna do 8° semestre do curso de Serviço Social da Faculdade Cearense. Nome: Maria de Jesus da Costa, Telefone para contato: (85) 96132931. Localidade da Faculdade: Av. João Pessoa, Bairro: Damas, Fortaleza - Ce. Fortaleza, ___de_________ de 2012 ______________________________ Assinatura do (a) orientador (a) da pesquisa ______________________________ Assinatura do pesquisador Tendo sido informado sobre a pesquisa “A vida fora do convívio familiar; percepções e sentimentos dos idosos acolhidos pelo abrigo Olavo Bilac, concordo na participação dos idosos desta. Nome:_______________________________________________ Assinatura: ___________________________________________ Digital da Instituição na pesquisa 107 APÊNDICE B Estamos realizando uma pesquisa chamada “A vida fora do convívio familiar; percepções e sentimentos dos idosos acolhidos pelo abrigo Olavo Bilac, cujo objetivo é identificar através de relatos/depoimentos dos idosos que residem no abrigo, seus sentimentos em relação à distância familiar/ e ou abandono.Serão usadas, para a coleta de dados, entrevistas semiestruturadas e observação participante. Serão feitas algumas perguntas acerca da sua vida, incluindo a fase anterior à ida a Unidade de Abrigo. A pesquisa trará benefícios no sentido de aprofundar a compreensão de suas percepções de sentimentos frente da problemática de abandono familiar , maus tratos , com a finalidade de melhorar a qualidade das intervenções, de forma que os resultados da pesquisa serão apresentados e discutidos com os profissionais que lhes prestam assistência. A participação dos profissionais será da seguinte forma: o pesquisador fará algumas perguntas sobre um pouco da sua história de vida e sua trajetória antes e após a ida para o Abrigo. A entrevista será gravada para melhor organizar as informações, porém não terá o seu nome por questão de ética, bem como a parte escrita do trabalho. Com essas informações, gostaríamos de saber se a instituição aceita a participação dos profissionais na pesquisa. É necessário esclarecer que: 7. A aceitação/autorização deverá ser de livre e espontânea vontade; 8. A pesquisa não trará nenhum risco ou problema para o idoso; 9. A identificação de todos os envolvidos será mantida em segredo; 10. Que qualquer um poderá desistir de participar a qualquer momento, sem qualquer problema para o idoso; 11. Será permitido o acesso às informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa; 108 12. Somente depois de ter entendido o que foi explicado, deverá assinar este documento. 13. Em caso de dúvida, poderá falar com a estudante responsável pela pesquisa, atual aluna do 8° semestre do curso de Serviço Social da Faculdade Cearense. 14. Nome: Maria de Jesus da Costa, Telefone para contato: (85) 96132931. Localidade da Faculdade: Av. João Pessoa, Bairro: Damas, Fortaleza - Ce. Fortaleza, ___de_________ de 2012 ______________________________ Assinatura do (a) orientador (a) da pesquisa ______________________________ Assinatura do pesquisador Tendo sido informado sobre a pesquisa “A vida fora do convívio familiar; percepções e sentimentos dos idosos acolhidos pelo abrigo Olavo Bilac, concordo na participação dos idosos desta”. Nome:_______________________________________________ Assinatura: ___________________________________________ Digital da Instituição na pesquisa 109 ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA A PESQUISA Roteiro de entrevista semi-estruturada com os idosos acolhidos na unidade de Abrigo Olavo Bilac de Fortaleza. 1-Há quanto tempo está aqui? De quem foi a iniciativa do Sr vir morar no Abrigo? Conte um pouco de sua história? 2-Onde e com quem o Sr morava? Como era sua relação com sua família? 3-O senhor lembra como era sua vida antes de vir para o abrigo? 4-Quais as suas maiores dificuldades com seus filhos e netos/? 5-Tinha alguma atividade que o sr sempre gostou de fazer e que não faz mais, antes de vir para o Abrigo? Comente um pouco como era sua alimentação, saúde, moradia, e seus relacionamentos, etc... 6-Já sofreu algum tipo de violência? 7-Como se sente longe de sua família? 8-Se sente abandonado por seus familiares? Por quê? 9-Já tentou voltar para o convívio da família? Por que não deu certo? 10-O Sr esperava chegar a essa idade longe de sua família? Como gostaria que fosse sua vida hoje? Comente. 11-Costuma receber visitas? Com que frequência/? De quem? 12-Como é a sua vida no Abrigo? De que mais sente falta? 13-Que vantagens e desvantagens o Sr percebe ao morar no Abrigo? 14-Ao longo dos anos, quais foram às principais mudanças que o (a) senhor (a) percebeu na família? 15-Quando deixou de trabalhar? Por qual motivo? 16-Recebe aposentadoria ou- benefício assistencial? O que faz com o dinheiro? 17-Como considera o atendimento ao Idoso nesta instituição? Comente. 110 18-Em sua opinião, quais as responsabilidades do Estado em relação às pessoas idosas? 19-Quais as suas maiores dificuldades hoje em dia? 20-Quais as responsabilidades da família para com o idoso? 21-Quais os seus sentimentos que surgiram com o processo de envelhecimento? 22-O que você espera da instituição que o abrigou? 19. Como foi para o (a) senhor (a) responder às perguntas desta pesquisa? Roteiro de entrevista semi-estruturada com os profissionais de saúde que trabalham na instituição. 1-Há quanto tempo trabalha no Abrigo de Idosos? 2-Qual o seu papel e suas atividades na Instituição? 3-Gosta do que faz?Comente. 4-O que você acha dos familiares que abandonou seus idosos nesta fase da vida? 5-Como você ver o comportamento dos idosos que recebem visitas de seus familiares? E o comportamento dos que foram abandonados? 6-Como você profissional de saúde, assistentes sociais contribui para o bem-estar desses idosos? 7-Como você considera o atendimento ao idoso nesta instituição? 8- Você considera que a instituição proporciona um atendimento para o bemestar aos idosos? 9-Que serviços precisam melhorar? 10-Que serviços são satisfatórios e insatisfatórios? Comente. 11- Qual sua opinião a respeito das políticas públicas para idosos ? 111 12-O que o Estado tem feito por essa população em condição de vulnerabilidade social? 13-Quais as queixas mais comuns entre idosos institucionalizados? 14-Em relação à família? 15-Em relação à instituição e aos profissionais? 16-O que significa trabalhar com idosos institucionalizados (em situação de abandono ou não)? 17-Que competências são requeridas do profissional neste trabalho? Justifique e comente. 112
Download