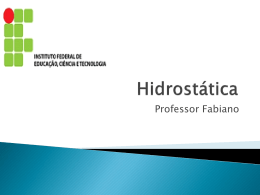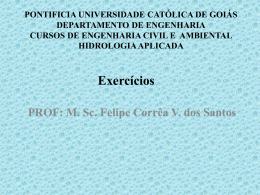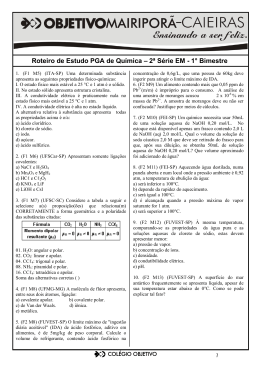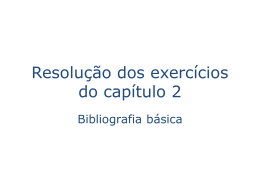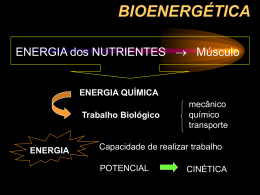Universidade de Brasília Instituto de Ciências Biológicas Departamento de Biologia Celular Disciplina Biofísica – 121045 – 01/2005 – noturno - Prova 01 R = 8.314 J*K-1*mol-1 // R = 0,082 atm*L*K-1*mol-1 ∆Go´= -R*T*ln Keq // ∆G = ∆Go´ + R*T*ln Q [ produtos ] Keq = [ reagentes ]no equilíbrio // [ produtos ] Q = [ reagentes ]arbitrário ∆H = ∆E + P*∆V // ∆X = (Xfinal – Xinicial) ou (Xproduto – Xreagente) W = - Pop*∆V ESCOLHA // para gás ideal P * V = n * R * T para gás ideal monoatômico ∆E = (3/2) * n*R*T QUATRO DENTRE AS CINCO QUESTÕES . Cada questão vale 2,5 pontos. 1) Para as reações ∆H (kJ) 2 NO ( g ) + O2 ( g ) → 2 NO2 ( g ) - 228,2 4 NO 2 ( g ) + O2 ( g ) → 2 N 2 O5 ( g ) - 440,8 N 2 ( g ) + O2 ( g ) → 2 NO ( g ) + 180,5 NaCl ( s ) + H 2 O (l ) → NaCl (aquoso) + 3,9 Faça comentários sobre as possíveis causas da variação de entalpia de cada reação, sabendo que todas ocorreram a temperatura constante. Qual a variação de energia interna para cada reação quando a pressão é constante e igual a 1 atm (considere para a determinação do volume do sistema apenas os componentes gasosos, e a estes como ideais)? RESOLUÇÃO: O primeiro ponto a ser lembrado é que: ⇒ todo sistema que diminui de volume (contra uma pressão do ambiente diferente de zero) recebe do ambiente energia na forma de trabalho. Essa energia na forma de trabalho transfere-se às partículas componentes do sistema, convertendo-se em energia cinética. Por isso tende a elevar a temperatura do sistema. Ao contrário, ⇒ se um sistema aumenta de volume (contra uma pressão do ambiente diferente de zero), ele perde energia na forma de trabalho para o ambiente, e a temperatura do sistema tende a diminuir. Em ambos os casos, se o sistema estiver em contato térmico com o ambiente (que podemos considerar o resto do universo, e portanto impossível de esquentar ou esfriar), toda a energia recebida ou perdida na forma de trabalho será devolvida ao ambiente ou reposta pelo ambiente na forma de calor, de modo que a temperatura permanece constante. Quando analisamos um sistema que se transforma o primeiro ponto a prestar atenção é se há variação de volume. Se existir variação de volume, ela é uma das causas da possível troca de energia na forma de calor entre sistema e ambiente. Tratando-se de gases ideais, ou seja, uma transformação onde não há mudança no padrão de interação (covalente ou não covalente) entre as partículas do sistema, qualquer variação de volume, supondo que a pressão externa é diferente de zero, resulta COM CERTEZA em troca de energia na forma de calor com o ambiente. E essa troca de energia na forma de calor será resultado exclusivamente das variações de volume, já que gás ideal não tem interação de nenhum tipo. O segundo ponto importante, e que é na verdade o mais importante, como origem das trocas de energia na forma de calor entre sistema e ambiente, é a mudança no padrão de interação entre as partículas do sistema. Quando há mudança no padrão de interação e se forma, como resultado da transformação, interações mais fortes (sinônimo de interações mais estáveis, em níveis mais baixos de energia) a tendência é que a diferença de energia entre as novas e as velhas interações se transforme em energia cinética, aumente a temperatura do sistema, e seja perdida na forma de calor para o ambiente. Portanto são dois os principais motivos para as trocas de energia na forma de calor entre o ambiente e um sistema que se transforma a pressão constante (variações de entalpia), como no caso das quatro reações dessa primeira questão: ⇒ primeiro, mudanças de volume. ⇒ segundo, mudanças de intensidade de interação entre os componentes. Passando ao outro ponto da questão, a relação entre entalpia e energia interna. A diferença entre a variação de entalpia ∆H e a variação de energia interna ∆E é resultado da variação de volume entre os estados inicial e final do sistema. Se não houver variação de volume mesmo quando isso for permitido ao se manter apenas a pressão constante, ∆H e ∆E terão o mesmo valor. É bom lembrar que determina-se ∆E como o calor trocado entre sistema e ambiente quando o volume do sistema é obrigado a se manter constante, realizando-se a transformação em um recipiente fechado e de fronteiras rígidas. De modo que das quatro reações da primeira questão, só haverá diferenças entre ∆H e ∆E se houver variação de volume. Temos, portanto, que determinar os volumes dos estados inicial e final do sistema para cada reação. Para simplificar convencionamos que o volume do sistema é sempre determinado pelo volume do componente no estado gasoso. Desprezamos assim na determinação de volume, os componentes sólidos, líquidos ou em solução aquosa. Além disso, consideramos para a determinação do volume, que os componentes gasosos se comportam como gases ideais, de modo que 1 mol sempre ocupará o mesmo volume quando mantido à mesma pressão e temperatura, independente do tipo do gás. É muito importante destacar um ponto: os sistemas cujas transformações estão representados pelas reações dessa questão mudam de composição. NÃO SÃO COMPOSTOS POR GASES IDEAIS! Nós apenas consideramos os componentes gasosos que porventura compõem o sistema como ideais para simplificar a determinação do volume. Olhando para as reações da primeira questão podemos de cara saber quais têm os mesmos valores de ∆E e ∆H: aquelas que não têm componentes gasosos nem nos produtos nem nos reagentes ( a reação 4), ou as que têm o mesmo número de mols de componentes gasosos nos produtos e nos reagentes (a reação 3). Já as reações 1 e 2 apresentam variação de volume entre os estados inicial e final, já que apresentam variação no número de mols de componentes gasosos. Para a reação 01, número de mols de componentes gasoso no estado inicial = 3; no estado final diminui para 2. Assumindo T = 298 K, P = 1 atm e usando a fórmula P *V = n * R * T Para o sistema 01, volume inicial é 1atm *Vinicial =3mols * 0,082.atm.L.mol −1.K −1 * 298 K Vinicial =73,308 L Para o sistema 01, volume final é 1atm * V final =2mols * 0,082.atm.L.mol −1 .K −1 * 298 K V final =48,872 L O ∆V para a reação 01 é – 24,436 L Como o ∆H dessa reação é – 228,2 kJ, ou seja, - 228 200 J, e a pressão 1 atm, temos que ∆H = ∆E + P*∆V −228200 J =∆ E +1atm * ( − 24,436 L) ∆ E =−228200 J +24,436 atm.L Como 1 atm.L = 101,325 J ∆E =−228200 J +2476 J ∆E =−225724 J ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para a reação 02, o número de mols de componentes gasoso no estado inicial = 5; no estado final diminui para 2. Para o sistema 02, volume inicial é 1atm *Vinicial =5mols * 0,082.atm.L.mol −1 .K −1 * 298 K Vinicial =122,18 L Para o sistema 02, volume final é 1atm * V final =2 mols * 0,082.atm.L.mol −1 .K −1 * 298 K V final =48,872 L O ∆V para a reação 02 é – 73,308 L Como o ∆H dessa reação é – 440,8 kJ, ou seja, - 440 800 J, e a pressão 1 atm, temos que ∆H = ∆E + P*∆V −440800 J =∆ E +1atm * ( −73,308 L ) ∆ E =− 440800 J +73,308atm.L Como 1 atm.L = 101,325 J ∆E =−440800 J +7428 J ∆E =−433372 J 2) Determine o calor e o trabalho envolvidos na seguinte transformação: Estado Inicial ` Estado Final n = 1mol de gás ideal T = 298 K P = 1 atm. n = 1 mol de gás ideal T = 298 K P = 0,5 atm A pressão foi alterada em apenas uma etapa. Quais seriam os valores de calor e trabalho se a transformação tivesse sido realizada com uma etapa intermediária com pressão oposta igual a 0,85 atm? RESOLUÇÃO: A situação descrita no primeiro caso pode ser representada assim: O sistema estava no equilíbrio, com pressão externa (imposta pelos dois “pesos” em cima do êmbolo) igual a 1 atm. Um dos pesos foi retirado, a pressão externa caiu abruptamente de 1 atm para 0,5 atm, e o sistema saiu do equilíbrio. O êmbolo foi empurrado para cima e o volume do sistema aumentou até que a pressão interna, a pressão do sistema, se igualou novamente à pressão externa de 0,5 atm. estado 1 estado 2 Os volumes dos estados 1 e 2 são determinados usando a equação P * V = n * R * T . P1 * V1 = n1 * R * T1 P2 * V2 = n 2 * R * T2 1 * V1 = 1 * 0,082 * 298 0,5 * V2 = 1 * 0,082 * 298 V1 = 24,436 L V2 = 48,872 L Concluímos que ∆V = 24,436 L Durante a expansão o sistema realizou trabalho sobre o ambiente (o sistema perdeu energia na forma de trabalho para o ambiente), o que fez com que a temperatura do sistema tendesse a diminuir. Isso só não aconteceu porque o sistema estava em contato térmico com o ambiente e a energia perdida em forma de trabalho foi reposta na forma de calor. Essas quantidades de energia, perdida na forma de trabalho e ganha na forma de calor, têm a mesma grandeza (iguais em módulo) mas sinais opostos. Enquanto o trabalho tem sinal negativo (ele saiu do sistema) o calor tem sinal positivo (ele entrou no sistema). Sabemos que essa é uma conclusão válida pois o sistema é composto por gás ideal e a temperatura inicial e final são iguais, de modo que não houve nenhuma variação de energia interna do sistema. Portanto toda a energia que saiu na forma de trabalho foi reposta na forma de calor. O trabalho é calculado como: W = −Poposta * ∆V A pressão oposta é aquela pressão que o ambiente impõe ao sistema durante a mudança de volume. No caso da primeira expansão, a pressão oposta é igual a 0,5 atm, que é a pressão final do sistema. Portanto W = −0,5 * 24,436 W = −12,218.atm.L W = −1238.J Como W=-Q, a energia ganha na forma de calor pelo sistema é 1238J. No segundo caso, a expansão é feita em duas etapas. Primeiro a pressão oposta diminui de 1 atm para 0,85 atm. Depois vai de 0,85 atm para 0,5 atm. Definem-se assim dois ∆V, que podem ser determinados quando se calcula o volume do estado intermediário, no equilíbrio, no qual a pressão é 0,85 atm. Deteminam-se também desse modo, dois valores de W e de Q, uma para cada uma das etapas. estado Inicial pressão 1 atm volume 24,436 L estado INTERMEDIÁRIO pressão 0,85 atm volume 28,748 L estado Final pressão 0,5 atm volume 48,872L O trabalho associado à primeira etapa da expansão é (-0,85atm*4,312L) ou seja, -3,6652 atm.L que equivalem a -371,4 J. O calor absorvido nessa etapa é + 371,4 J. O trabalho associado à segunda etapa da expansão é (-0,5atm*20,124L) ou seja, -10,062 atm.L que equivalem a –1019,5 J. O calor absorvido nessa etapa é + 1019,5 J. Perceba que a soma dos trabalhos das duas etapas (-1390,9 J) é diferente do trabalho realizado no item anterior (-1238 J), apesar de no início e no fim os estados serem os mesmos em ambos os casos. Por isso dizemos que trabalho e calor não são propriedades do sistema, mas dependem do caminho da transformação. 3) A reação glicina + glicina → glici lg licina + H 2 O é não espontânea nas condições celulares. Proponha um mecanismo (incluindo fórmulas estruturais), que não obrigatoriamente precisa ser o que de fato ocorre na célula, através do qual talvez fosse possível “usar a energia da quebra do ATP em AMP + PPi” para a síntese de glicilglicina. RESOLUÇÃO: O essencial dessa questão é esclarecer o que é “usar a energia do ATP”. Fazemos muitas vezes menção à energia liberada pela quebra do ATP, como se fosse possível usá-la para “tocar” outra reação. Se o ATP for hidrolisado, ou seja, reagir com uma molécula de água e produzir ADP + P i, ou AMP + PPi, toda a energia livre liberada vira energia cinética (tende a aumentar a temperatura do sistema, que por isso perde energia na forma de calor para o ambiente) e vira entropia (aumenta a desordem do sistema). Nada disso pode ser usado como “fonte de energia” para outra reação. O único modo de o ATP ser “fonte de energia” é ele participar como reagente. Ele torna assim possível a transformação do outro reagente em algo vantajoso para a célula. É fundamental compreender como o conceito útil de acoplamento de reações corre o risco de ser mal usado nesse caso. Primeiro ponto: a hidrólise do ATP é uma reação espontânea nas condições celulares; segundo ponto: a síntese de glicilglicina a partir de duas moléculas de glicina é não espontânea (impossível) nas condições celulares. ATP + H 2 O ⇒ ADP + Pi ATP + H 2 O ⇒ AMP + PPi espontânea ∆G1 < 0 glicina + glicina ⇒ glici lg licina + H 2 O não-espontânea ∆G3 > 0 espontânea ∆G 2 < 0 Estamos completamente certos em dizer que SE existir na célula uma reação glicina + glicina + ATP ⇒ glici lg licina + AMP + PPi o ∆G dessa reação será ∆G2 + ∆G3 . Isso está correto. É um procedimento prático pois permite calcular variações de propriedades de uma reação se sabemos as variações da mesma propriedade de reações que somadas resultam na reação de interesse. Mas de modo nenhum podemos pensar que houve PRIMEIRO a quebra do ATP pela molécula de água, com produção de AMP e PPi, e que DEPOIS a energia liberada nessa reação foi utilizada para a síntese de glicilglicina. Isso está completamente errado. Esse raciocínio leva à necessidade da existência de um modo inexplicável de canalização de energia livre entre duas reações. O que de fato ocorre é a interação entre o ATP e o(s) outro(s) reagente(s), resultando em uma reação que é diferente tanto da hidrólise do ATP como da síntese pura e simples do composto de interesse (nesse caso, a união de duas moléculas de glicina para a formação da glicilglicina e liberação da molécula de água). Obrigatoriamente há a formação de um composto intermediário, um misto entre as duas moléculas, que irá sofrer posteriormente transformação nos produtos finais da reação total. A síntese da glicilglicina com a participação do ATP poderia ser assim: Veja que a reação número 1 se dá entre uma molécula de glicina e o ATP. Formam-se como produtos o AMP e um composto que poderia ser chamado de glicinil-pirofosfato, ou qualquer coisa semelhante. Da reação número 2 participam como reagentes o glicinil-pirofosfato e a outra molécula de glicina, resultando em glicinil-glicina e pirofosfato (PPi). No fim das contas, somando as reações 1 e 2 o resultado é consumo de duas moléculas de glicina e de uma molécula de ATP, e formação de uma glicinil-glicina , AMP e PPi. No entanto nesse esquema a reação número 1 realmente acontece primeiro, para depois acontecer a reação número 2. E mais importante, nesse esquema a reação número 1 realmente acontece! A reação número 2 realmente acontece! As duas são espontâneas, as duas têm ∆G < que zero, e somando esses dois ∆G’s, chegaremos ao ∆G total, associado à reação total. Portanto, é fundamental saber que acoplamento de reações é algo que ocorre “no papel”, e que transferência da energia do ATP em bioquímica é, via de regra, participação do ATP como reagente. 4) De que lado você fica? pesquisador X: “O desenvolvimento do organismo humano, desde o zigoto até o indivíduo adulto, é um fenômeno espontâneo. Não interessa se a organização do indivíduo aumenta nesse processo e se atingir a maturidade é o resultado final, na grande escala temporal, dos processos anabólicos; o importante é que ocorre e portanto é espontâneo!” pesquisador Y: “É bem conhecido e aceito que nosso metabolismo se divide em dois grandes grupos: catabolismo e anabolismo. Fazem parte do catabolismo todas as reações que liberam energia livre, e portanto são espontâneas. Do anabolismo fazem parte aquelas reações que para ocorrerem precisam de uma fonte de energia livre, e por isso, são dependentes, ou seja, não espontâneas. A prova de ser essa a situação real é que, sem nos alimentarmos e transformarmos os alimentos em gás carbônico, água e energia livre (catabolismo espontâneo), não nos desenvolvemos (anabolismo não espontâneo).” Justifique sua escolha. RESOLUÇÃO: O pesquisador X é quem está certo. Tudo o que ocorre no nosso corpo é espontâneo. Se ocorre, é porque é espontâneo. De fato a organização do indivíduo aumenta no processo do zigoto ao organismo adulto. O desenvolvimento é resultado dos processos anabólicos quando encaramos que um componente dos processos anabólicos é a síntese de macromoléculas a partir dos seus monômeros (mas não apenas deles). Crescer obriga a síntese de proteínas, ácidos nucleicos, lipídeos e polissacarídeos. Mas o desenvolvimento do organismo, e esse é o ponto importante, engloba tanto a síntese de macromoléculas, como a degradação de alimentos a gás carbônico e água, unidos em um processo total, chamado de metabolismo, que é espontâneo. A divisão que o pesquisador Y faz, chamando de não-espontâneo o anabolismo, e de espontâneo o catabolismo, erra por desconsiderar a participação do ATP como reagente do anabolismo. É comum mesmo pensarmos no anabolismo apenas como síntese de macromoléculas a partir dos monômeros. Mas há obrigatoriamente uma etapa de ativação dos monômeros que torna espontânea a união em macromoléculas. É dessa ativação que participa o ATP, agindo como reagente direto, ou produzindo um reagente secundário, como o malonil-CoA da síntese da ácidos graxos. O perigo de chamarmos o anabolismo de não-espontâneo é o mesmo da questão anterior: corremos o risco de pensar que reações não-espontâneas podem ocorrer desde que haja uma fonte de energia. No entanto reações não-espontâneas numa certa condição celular serão sempre não-espontâneas se não mudarem aquelas condições celulares. O catabolismo não libera energia para ser usada no anabolismo; o catabolismo é um fenômeno espontâneo que degrada alimentos em gás carbônico e água, produz a partir de ADP e Pi, o ATP que participará como reagente nas vias anabólicas que, por isso, serão espontâneas. 5) O ∆Go´ da reação 3 − fosfoglicerato ↔ 2 − fosfoglicerato é + 4,4 kJ/mol. Numa célula em atividade glicolítica esta reação ocorre da esquerda para a direita. Como explicar isso? (faça todos os comentários necessários). RESOLUÇÃO: Explica-se porque o sinal de ∆Go´ indica o sentido de uma reação APENAS SOB CONDIÇÕES PADRÃO. Se o ∆Go´ for negativo, a reação ocorre da esquerda para a direita em condições padrão; se for positivo, a reação ocorre da direita para a esquerda, em condições padrão. Na célula podemos até considerar que a temperatura é a padrão (298K), que a solução é diluída (concentração molar da água aproximadamente 55,6 M), que o pH é 7,0, e que a pressão é de 1 atm. Mas nunca podemos aceitar como possível que a concentração dos participantes de uma reação seja na célula igual a 1 M. Portanto nas células, as concentrações não têm o valor padrão. De fato a transformação 3 − fosfoglicerato ↔ 2 − fosfoglicerato ocorre da esquerda para a direita na célula em atividade glicolítica porque nesse estado metabólico a concentração molar de 2 − fosfoglicerato é suficientemente menor que a concentração de 3 − fosfoglicerato para forçar a reação no sentido de produção de 2 − fosfoglicerato , ou seja, para forçar que o ∆G tenha sinal negativo. É a velha lei de ação das massas. Mudando as concentrações dos participantes de uma reação podemos inverter o sentido da maioria das reações celulares.
Download