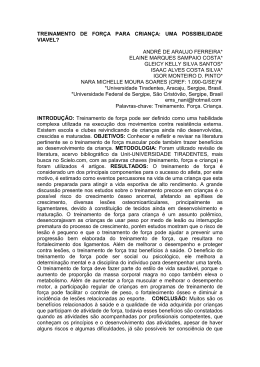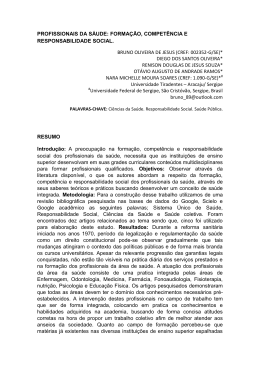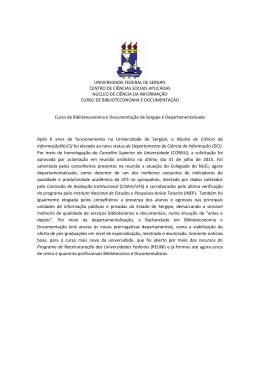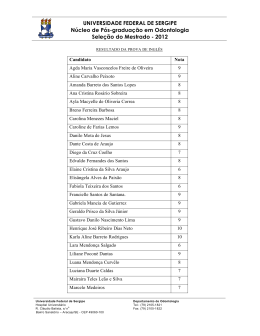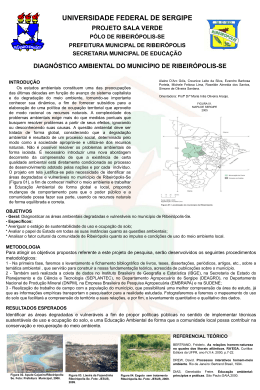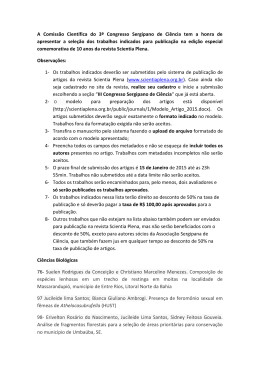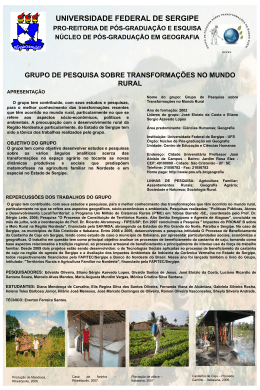LIVRO DO APRENDIZ Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Saberes e tecnologias para implantação de uma política MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE E SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 2 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Saberes e tecnologias para implantação de uma política Livro do Aprendiz Autores Cláudia Menezes Santos Flavia Priscila Souza Tenório Francis Deon Kich 1ª Edição Editora Fundação Estadual de Saúde- FUNESA Aracaju-SE 2011 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Copyrigth 2011- 1ª Edição- Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe e Fundação Estadual de Saúde/FUNESA Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e a autoria e que não seja para venda ou para fim comercial. Tiragem: 3.000 Impresso no Brasil EDITORA FUNESA Elaboração, distribuição e Informações: Av. Mamede Paes Mendonça, nº 629, Centro CEP: 409010-620, Aracaju – SE Tels.: (79) 3205-6425 E-mail: [email protected] 6 Catalogação Claudia Stocker – CRB-5 1202 F981e Funesa – Fundação Estadual de Saúde Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe - Saberes e Tecnologias para Implantação de uma Política. Livro do Aprendiz 2 /Fundação Estadual de Saúde - Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. – Aracaju: FUNESA, 2011. Material Didático-Pedagógico de Educação Permanente da FUNESA - Claudia Menezes Santos (autora), Flávia Priscila Souza Tenório (autora), Francis Deon Kich (autor). 112p. 28 cm ISBN: 978-85-64617-04-9 1. Educação Profissional 2. Educação em Saúde 3. Política em Saúde Pública 4. SUS – Sistema Único de Saúde de Sergipe I. Funesa II.Título III. Assunto CDU 614.2(813.7) Governador Marcelo Déda Chagas Vice-Governador Jackson Barreto de Lima SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE Secretário de Estado da Saúde Antônio Carlos Guimarães Sousa Pinto Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE Secretário Adjunto Jorge Viana da Silva Diretor Financeiro André Santos Andrade Diretora de Contratualização Marina Manzano Capeloza Leite FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE Diretora – Presidente Cláudia Menezes Santos Diretora Operacional Katiene da Costa Fontes Diretor Administrativo e Financeiro Carlos André Roriz da Silva Cruz Coordenação de Educação Permanente Andréia Maria Borges Iung Assessora Pedagógica Ingrid Vieira Guimarães Ferreri 7 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ Presidente Paulo Ernani Gadelha Vieira Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação Maria do Carmo Leal Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Antônio Ivo de Carvalho Vice-Diretor da Escola de Governo em Saúde Marcelo Rasga Moreira ELABORAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO Assessoria Técnica - ENSP/Fiocruz José Inácio Jardim Motta Pablo Dias Fortes Autoria 8 Cláudia Menezes Santos Flávia Priscila Souza Tenório Francis Deon Kich Revisão Técnica Daniele de Araújo Travassos Daniele Carvalho Castro Francis Deon Kich Margarite Maria Delmondes Freitas Revisão Ortográfica Edvar Freire Caetano Validadores Juliana Santos Teles Patrícia Oliveira de Andrade Suely Matos Santos Vandriana Nóbrega Azevedo de Morais Imagens Publicidade & Produções Ltda. Impressão Centauro Soluções em Impressos Ltda. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Projeto Gráfico 9 Esta publicação é uma produção da Secretaria de Estado da Saúde e Fundação Estadual de Saúde de Sergipe, com o apoio da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 10 Agradecimentos Agradecimento especial à Escola Nacional de Saúde Pública pela cooperação técnica e apoio institucional para a produção do Material Didático-Pedagógico da FUNESA. Agradecemos aos consultores José Inácio Jardim Motta e Pablo Dias Fortes pela orientação e intervenções ao longo da elaboração dos textos e desenvolvimento da proposta pedagógica dos livros. Por fim, agradecemos ao coletivo de trabalhadores da Secretaria de Estado da Saúde que construíram as Políticas de Atenção à Saúde das várias redes assistenciais utilizadas como as bases desta coleção. Este é o material didático e pedagógico proposto para ser utilizado nas capacitações para os trabalhadores do Sistema Único de Saúde – SUS em Sergipe, bem como dos docentes e facilitadores nos cursos e atividades afins. Também se propõe a ser um instrumento orientador na implantação das ações de Educação Permanente nos serviços de saúde. Como estratégia didática o livro Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe está organizado em três capítulos, onde são problematizados os conceitos norteadores, a partir das vivências e conhecimentos prévios dos alunos, possibilitando a experimentação e colocando-os em análise de sua própria prática, com o objetivo de orientar as etapas do conhecimento e de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Apresentação O primeiro capítulo apresenta um dispositivo pedagógico denominado situaçãoproblema, exibindo um cenário da prática do trabalho em saúde, a fim de introduzir as questões que irão nortear o livro. Em seguida, será discutido o conceito de educação permanente em saúde e a Política de Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe, articulando este tema com as várias categorias como o sujeito, o trabalho em saúde, a educação e a gestão. No segundo capítulo, o material discute sobre as tecnologias e ferramentas para executar uma ação de Educação Permanente em Saúde. Os autores buscaram explorar a relação trabalho e educação, enfatizando questões relacionadas à aprendizagem significativa, pedagogias, metodologias e avaliações, em suas concepções e possíveis formas de serem utilizadas nos processos de qualificação e formação dos trabalhadores do SUS. O terceiro capítulo explora outra situação-problema que propõe provocar reflexão sobre as diversas formas de saberes e culturas. Na sequência, discorre sobre os temas do conhecimento científico, senso comum e saber popular, destacando a Educação Popular em Saúde, em suas concepções e modos de fazer. Espera-se que esse processo de qualificação auxilie os trabalhadores no desenvolvimento de suas ações no cotidiano do SUS, desde o planejamento até a avaliação das ações de Educação Permanente em Saúde, possibilitando a esses sujeitos ampliar a competência técnica para o desenvolvimento de novas práticas, para um melhor atendimento às necessidades de saúde dos cidadãos, fortalecendo, assim, o SUS no Estado de Sergipe. 11 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Competências Da formação do trabalhador • Conhecer a Educação Permanente em Saúde como política que irá orientar a formação e a qualificação dos trabalhadores, apoiando os processos de mudança e a implantação da Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe; • Atuar em equipe multidisciplinar de forma integrada e participativa, articulando os fundamentos da Educação Permanente em Saúde e as relações entre educação e trabalho; • Desenvolver, junto às equipes de saúde, ações de Educação Permanente, no ambiente de trabalho e nos espaços sociais, buscando estimular a autonomia dos sujeitos; • Desenvolver, em equipe, ações de planejamento participativo e avaliação das ações de Educação Permanente nos serviços e na gestão em saúde; • Conhecer os conceitos e ferramentas para a prática da Educação Popular em Saúde a fim de desenvolver ações junto aos movimentos sociais e controle social; 12 • Ser um agente fomentador da participação popular; • Compreender a articulação entre os fundamentos da educação permanente, a formação na saúde, e a área da educação profissional; • Conhecer as pedagogias, metodologias, didática, planejamento, execução e avaliação, na implantação da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde. Competências Da formação dos docentes e facilitadores • Conhecer a Educação Permanente em Saúde como política que irá orientar a formação e a qualificação dos trabalhadores, apoiando os processos de mudança e a implantação da Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe; • Compreender a articulação entre os fundamentos da educação permanente, a formação na saúde e a área da educação profissional; • Conhecer as pedagogias, metodologias, didática, planejamento, execução e avaliação, utilizadas na implantação da política estadual de Educação Permanente em Saúde. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 13 “É fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, num dado momento, a tua fala seja a tua prática.” Paulo Freire Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Sumário Situação-problema: A Metamorfose Ambulante................................................................15 Capítulo 1 - Educação Permanente em Saúde................................................................17 1.1 Aspectos históricos.........................................................................................................22 1.2 A Política Estadual de Educação Permanente em Saúde.........................................24 1.3 Educação Permanente como Espaço de Gestão.........................................................27 1.4 Reflexões sobre a Polissemia........................................................................................29 1.5 Alteridade, Educação e Saúde.....................................................................................32 1.6 Caixa de Ferramentas e Bricolagem............................................................................33 Capítulo 2 - Organizando as Etapas de Produção da Educação Permanente em Saúde ............................................................................................................................35 14 2.1 Identificando e significando as necessidades de aprendizagem dos trabalhadores da saúde................................................................................................................................36 2.2 Desenvolvendo ações de Educação Permanente em Saúde....................................59 2.3 Avaliando ações de Educação Permanente em Saúde.............................................77 Situação-problema: Entre o Soro e a Reza.......................................................................80 Capítulo 3 - A Respeito do Conhecimento e dos Saberes...............................................83 3.1 Saber Científico e Senso Comum................................................................................84 3.2 Sobre os Conhecimentos Informal, Popular e Formal.............................................88 Referências.....................................................................................................................94 Anexos..........................................................................................................................101 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Situação-problema: A Metamorfose Ambulante Na cidade de Piranjópolis, a equipe do PSF, reunida na avaliação mensal, discutia um problema levantado pela enfermeira Natália e pelos Agentes Comunitários de Saúde – ACS. Os dados indicavam um alto índice de gravidez na adolescência. Nesta Unidade existiam duas equipes de saúde. A médica, Dra. Alícia, recém-chegada na equipe, aos poucos foi criando vínculo com a comunidade e reconhecia a situação. Apesar de prescrever os métodos e orientar todas as mulheres que iam ao seu consultório, lembrava-se que quase não atendia adolescentes, e as que procuravam o consultório, geralmente já estavam grávidas. A enfermeira, Natália, queixava-se: - tentei várias vezes reunir a comunidade para a realização de palestras, sem sucesso, pois os encontros não têm tido muito ibope. Parecia que a equipe precisava adotar uma nova forma para lidar com aquela situação, mas, por onde começar? A dentista Adriana sugeriu: - por que não começamos pedindo que os agentes tragam casos do território para pensarmos juntos algumas estratégias a partir dessas situações? Alícia gostou da ideia e se prontificou a organizar uma aula para a equipe sobre gravidez na adolescência e métodos contraceptivos para atualizar os conhecimentos de todos. A ACS Juliana propôs: - podíamos aproveitar a aula da Dra. Alícia e as situações que vamos selecionar para levantar as maiores dificuldades percebidas na prática com relação àqueles casos e outros semelhantes, já pensando, em seguida, em como faríamos para atuar na prática. A equipe ficou satisfeita, mas Natália chamou atenção de todos: - o problema que temos é mais complicado, tenho percebido que a escola da comunidade tem pouca capacidade de atrair os jovens e que as adolescentes não tinham grandes expectativas quanto ao trabalho no futuro. Adriana ponderou que precisariam mesmo ter que se articular com outras redes existentes na comunidade se quisessem interferir de forma mais efetiva sobre a situação. Alícia lembrou: - já é tão difícil conseguir uma articulação entre nós mesmos, até para fazer a reunião da equipe, imagine ter que fazer isso junto a outras redes. Quem vai ficar responsável por isso? 15 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Mesmo sem achar de imediato uma solução para o problema, aquela forma de se organizar e discutir as dificuldades entre eles parecia deixar o trabalho mais interessante. Alícia se despede de todos: - meus pacientes chegaram, preciso retornar para o consultório. A enfermeira Natália pede para que, de forma rápida, alguém fizesse uma avaliação do encontro da equipe. A ACS Juliana, bem humorada começa a cantarolar: “eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.....” e de imediato, antes que todos se dispersassem já solicita: - quem vai ajudar os agentes a organizarem as situações para a próxima reunião? ATIVIDADE 1 Discutam a situação-problema em pequenos grupos e façam as anotações dos pontos mais relevantes para posterior apresentação em plenária. 1. Como você percebe a relação entre educação e trabalho na situação apresentada? 16 2. Como você percebe essa relação entre educação e trabalho no cotidiano em sua realidade? Capítulo 1 Educação Permanente em Saúde Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 18 A partir da discussão em grupo feita sobre a situação-problema pode-se evidenciar no cotidiano das equipes a oportunidade para refletir sobre as práticas realizadas, motivadas pelos problemas identificados no cotidiano dos serviços. Essas reflexões podem se debruçar sobre questões relacionadas à gestão, ao processo de trabalho e à produção de conhecimento. Na medida em que as sociedades foram ficando complexas o processo educativo passou a ser realizado em espaços formais, nas escolas ou instituições de ensino. O conhecimento foi se tornando cada vez maior e houve a necessidade de se fazer o registro e a transmissão escrita. Assim os saberes de uma geração são selecionados e hierarquizados a fim de serem transmitidos para as gerações seguintes. No caso da formação profissional, a exemplo da saúde, etapas importantes são cumpridas nas instituições de ensino, não se encerrando, no entanto, após a conclusão dos cursos, mas estendendo-se para outros espaços, a exemplo do local de trabalho. O processo de ensino e aprendizagem acontece através de vários meios, dentre os quais podemos citar as experiências, as nossas próprias e as que podemos compartilhar com os outros, construindo com estes os sentidos das nossas práticas, e os signifi- Saberes da prática são os cados dos conhecimentos que as constituem. Dessa forma compreendemos saberes desenvolvidos na execução do trabalho em si. O a formação profissional não apenas como o acúmulo técnico de conheci- trabalhador desenvolve toda mentos, mas como um processo que se dá constantemente em cenários dife- uma habilidade prática na execução da ação, às vezes muito renciados, onde são socializados saberes científicos, valores éticos, saberes diferente das orientações adda prática, enfim todo um conjunto de elementos que conformam o modo vindas de estudos científicos e manuais. de ser e o saber-fazer dos profissionais. Rovère (1994) define a Educação Permanente em Saúde (EPS) como “a educação no trabalho, pelo trabalho e para o trabalho”. A educação permanente em saúde é um processo de aprendizagem que possibilita a construção de conhecimentos a partir de situações do trabalho, onde há a possibilidade de negociar as soluções para os problemas existentes, através do compartilhamento dos significados e sentidos dos objetos. Ao tomar como foco da aprendizagem o processo de trabalho, as ações de educação permanente trazem para a discussão coletiva também o contexto no qual se inserem as práticas de saúde. Ao enunciar coletivamente os problemas identificados no cotidiano do trabalho, e propor novos pactos de organização produtiva, os processos de educação permanente propiciam a revisão das práticas de saúde, a socialização de saberes e apontam para mudança das próprias instituições de saúde. Por isso, essa forma de educação é identificada como uma estratégia para transformação dos processos de trabalho, mudanças e implantação de novos modelos assistenciais. Nesse sentido podemos usar como Rovère faz parte de uma equipe de autores de publicações da OPAS – Organização Panamericana de Saúde que desenvolveu um arcabouço teórico voltado para a Educação Permanente em Saúde. Aqui o significado diz respeito à compreensão comum dos objetos, a que as palavras ou os conceitos se referem. Sentido diz respeito ao para que das práticas, seu sentido finalístico que envolverá percepções pessoais e coletivas sobre o trabalho. Modelo assistencial, ou modelos tecnoassistenciais correspondem à forma como se organizam os recursos para atendimento à saúde da população, incluindo ações de prevenção, promoção e cura. O modelo descreve concepções de saúde e doença, de saberes e práticas, as tecnologias utilizadas, a organização dos serviços, e traz uma definição de quem são seus usuários e trabalhadores (MERHY, 2006). Por seu caráter transformador, a educação permanente é identificada como estratégia importante para a formação de profissionais para o Sistema Único de Saúde, o que exige posturas inovadoras com relação às formas de intervenção no processo saúde-doença-cuidado. A formação dos profissionais de saúde é ponto fundamental para a reforma sanitária e implementação do SUS. Além da qualificação técnica é necessário que estes profissionais tenham acesso a saberes capazes de auxiliá-los no acolhimento das necessidades de saúde da população, possibilitando a interação trabalhador usuário em uma relação pautada pela responsabilização mútua e construção de autonomia. Os processos pedagógicos não devem se pautar unicamente na aquisição de conhecimentos de cunho científico, mas devem permitir a contextualização das práticas desses profissionais com a realidade, garantindo a reflexão sobre a dimensão ética do trabalho em saúde. Para os profissionais que se encontram formados e inseridos nos serviços do SUS, há a necessidade de qualificações constantes, provocadas pelos diversos desafios surgidos no cotidiano do trabalho. Os modelos assistenciais pautados pela integralidade, devem adotar formas ampliadas de captação das necessidades de saúde, criando possibilidades para atender não somente aquilo que está programado, ou que é identificado como relevante pelos saberes tradicionais como a epidemiologia. Os modelos de saúde integral devem dotar seus profissionais da capacidade ampliada de apreensão da realidade a partir de fontes diversas como a escuta aos usuários, o olhar sobre o território, as demandas do controle social e o planejamento participativo (MATTOS, 2010). Metáfora é uma figura de linguagem, que procura significar uma coisa a partir da qualidade definidora de outra. Segundo Aristóteles metáfora “é a palavra usada com o sentido alterado”. Ex: uma raposa política, uma flor de pessoa, um mar de lama no palácio (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006). Responsabilização pode ser definida como a capacidade do profissional de saúde tomar para si o cuidado com o usuário, estabelecendo compromisso com os atos necessários para a continuidade do cuidado, assumindo a evolução, a realização dos exames, as interconsultas até o momento da alta, onde devem ser realizados os encaminhamentos adequados, com as devidas orientações aos usuários e seus familiares. Nesta discussão, Autonomia tem uma forte relação com a compreensão do sujeito, indivíduo ciente de si e do seu entorno, capaz de tomar decisões e dar rumo à própria vida. As necessidade de saúde expressam carências, sofrimentos e desejos do indivíduo. As necessidades de saúde são singulares, refletindo a subjetividade humana. Pessoas diferentes acometidas da mesma doença, podem dar significados completamente diferentes aos fatos: para alguns a doença pode representar sofrimento ou preocupação, enquanto que para outros o mesmo agravo pode ter o significado de um evento banal. Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe metáfora da educação permanente a “Metamorfose Ambulante” (Anexo 3), música de Raul Seixas, cantarolada na situação–problema. 19 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Além da captação das necessidades de saúde, os profissionais devem buscar compreender e significá-las e serem capazes de acionar saberes para que possam intervir sobre elas. Esse processo além de contínuo, é marcado pela rotina e repetição de situações que podem ser padronizadas, mas também é repleto de necessidades novas e singulares, demandando a inovação dos saberes e das práticas profissionais. Por sua dimensão coletiva a educação permanente se desdobra em aspectos didático-pedagógicos e políticos. Do ponto de vista pedagógico, o fato de se debruçar sobre problemas do cotidiano do processo de trabalho indica a necessidade de revisão das práticas pedagógicas, substituindo métodos didáticos baseados exclusivamente na transmissão de conhecimentos, por métodos que permitam a problematização e o diálogo sobre os objetos de aprendizagem. Do ponto de vista político, essa forma de realizar a educação dos profissionais de saúde, além de possibilitar a qualificação propriamente dita, torna-se um importante espaço de negociação coletiva e democracia participativa em nível institucional. 20 Ao se constituir em espaços de pactuação coletiva, seja sobre novos saberes e práticas, seja acerca das normas e formas de organização produtiva, a educação permanente pode ser definida como espaço de gestão. Nesse sentido, é importante estratégia para implantação e inovação de projetos e de mudança institucional, mas é também uma forma de humanizar e inovar as concepções de gestão do trabalho, garantindo a participação dos trabalhadores na definição de problemas e na identificação de soluções. Imagine se a Dra. Alícia ou a enfermeira Natália resolvessem enfrentar a gravidez na adolescência, que é um problema complexo, isoladamente? Da forma como a equipe procedeu, permitiu que houvesse o diálogo e a participação de todos. O problema não chega a ser resolvido, mas o envolvimento da equipe deixou o trabalho mais interessante. Como política de saúde estratégica para a implantação do SUS, a educação permanente deve ser articulada sobre várias frentes, incidindo sobre a formação dos profissionais nas instituições de ensino; sobre a qualificação dos trabalhadores nos serviços de saúde; capacitando gestores, dotando-os de novos modos de organizar a gestão dos serviços de saúde e as redes assistenciais; e, por fim, articulando o controle social, para que esse segmento também possa ser qualificado na sua atuação junto ao delineamento e acompanhamento das políticas de saúde. Em 2004 a educação permanente em saúde assume um caráter de política governamental. A Portaria 198/ GM/ MS, de 13 de fevereiro de 2004, institui a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor (BRASIL, 2004). Esse caráter transversal da política de educação permanente em saúde foi definido por Ceccim & Feuerwerker (2003) como um quadrilátero sobre o qual a educação permanente deveria se desenvolver: p.43). Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe o quadrilátero da formação se constitui de elementos que interagem e se articulam na produção de novos saberes e práticas. Dentre eles, a formação se apresenta como produtora de subjetividade, de habilidades técnicas e de pensamento para o adequado conhecimento do SUS; as práticas de atenção à saúde como construtoras de novas práticas de saúde, tendo em vista os desafios da integralidade, da humanização e da inclusão dos usuários no planejamento terapêutico; a gestão no desafio da busca de assegurar redes de atenção às necessidades em saúde da população e considerar a satisfação dos usuários; e o controle social com a presença dos movimentos sociais no apoio às lutas pela saúde e à construção do atendimento às necessidades sociais (CECCIM; FEUERWERKER, 2004, Para a efetiva implantação da Política de Educação Permanente é importante perceber as relações entre educação e trabalho, refletindo sobre o nosso modelo de formação e as várias possibilidades de uso da educação nos serviços de saúde nas relações com os membros da nossa equipe de trabalho, nos espaços de gestão, e junto aos movimentos e controle social. A educação permanente não nega a importância do conhecimento científico, mas busca articular esse tipo de saber ao conhecimento na ação e a outros aspectos que possam potencializar a ação pedagógica na perspectiva da melhoria dos serviços de saúde. Como ação educativa, a educação permanente deve ser diferenciada de outros processos educacionais que comumente observamos acontecer na área da saúde. Uma dessas diferenças diz respeito à educação continuada, cujo foco é a aquisição de novos conhecimentos técnicos como forma de atualização e acompanhamento dos avanços científicos das áreas. A educação continuada está relacionada a processos de formação com foco nos indivíduos e não em coletivos. Em sua abordagem, não se contextualiza a realidade dos serviços, ou o trabalho em equipe. É pautada na aprendizagem individualizada e direcionada para categorias profissionais. O método mais utilizado nessa forma de capacitação é a transmissão de conhecimentos. Adotar a educação permanente como eixo para a educação na saúde não implica negar por completo a atualização científica, mas busca subordinar essa finalidade ao contexto das instituições de saúde e às necessidades dos serviços. A Educação na Saúde consiste em um conjunto de estratégias de uma política de saúde voltadas para o desenvolvimento de ações de formação profissional, qualificação dos trabalhadores e educação do controle social, com o objetivo de transformar práticas de saúde e de formação para a implantação do SUS (CECCIM; FERLA, 2009). Na situação-problema a equipe motivada por um problema detectado na atenção prestada volta o olhar para a própria realidade, procurando compreendê-la melhor. Busca apoio em conhecimentos e na construção de soluções usando os saberes complementares dos membros da equipe. Esta construção poderá ainda ser ampliada, envolvendo outros atores. A equipe da nossa situ- 21 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 22 ação-problema mesmo que não tenha clareza teórica está realizando uma ação prática de educação permanente. Em síntese: Vamos agora resgatar brevemente o que foi discutido neste tópico sobre a diferença entre Educação Continuada e Educação Permanente em Saúde. Lembrando que são propostas utilizadas em diferentes momentos para necessidades diferenciadas de qualificação. EDUCAÇÃO CONTINUADA EDUCAÇÃO PERMANENTE Âmbito individual Âmbito coletivo Atualizações técnicas Formação integral e contínua Tema de capacitação elaborado previamente O tema surge da necessidade de resolver um problema identificado no cotidiano do trabalho, na gestão e no controle social O objeto central da aprendizagem são os temas técnicos e científicos O objeto central da aprendizagem é o processo de trabalho Capacitações pontuais Educação em serviço articulada a mudanças de práticas 1.1 Aspectos históricos É interessante perceber o contexto histórico em que a proposta de educação permanente surge na década de 80. Nessa época, no Brasil e em contextos semelhantes de outros países da América Latina, era o momento em que se iniciava o processo de democratização política no país, sendo, nessa década, aprovada a nova Constituição e as Leis do SUS. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi um marco histórico na consagração dos princípios preconizados pelo Movimento da Reforma Sanitária. O capítulo dedicado à saúde na Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, retratou o resultado de todo o processo desenvolvido ao longo da década de 1970 e da própria década de 1980, criando o Sistema Único de Saúde (SUS) e determinando que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (art. 196). A Lei nº. 8.080, promulgada em 1990 para regulamentar o capítulo da saúde, previsto na Constituição Federal, firma como atribuição do SUS, em seus três entes federados, “a ordenação da formação dos seus recursos humanos, bem como o desenvolvimento científico e tecnológico em saúde” (art. 6º, incisos III e X). Paralelamente, o mundo, especialmente o Brasil, passava por transformações econômicas. Na saúde, o modelo adotado pelo Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social – INAMPS, com ênfase na contratação de hospitais e incentivo ao crescimento do setor privado da saúde, demonstrava indicadores de saúde não satisfatórios A formação do pessoal da saúde para o desenvolvimento do modelo centrado no hospital tinha o foco na educação continuada, pois era necessária a rápida assimilação de novos conhecimentos científicos para a incorporação tecnológica e a sustentação da expansão do complexo médico industrial. Nesse mesmo período, surgiram movimentos que se organizavam em torno da Reforma Sanitária Brasileira, propondo novo modelo assistencial, voltados para a medicina comunitária, para a descentralização da saúde, atenção básica e organização de sistema de saúde. Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe no país, além de resultar em desigualdade no acesso e assistência à saúde de baixa qualidade. O modelo que incentivava o complexo médico industrial era questionado, pois representava altos custos para o país com péssimos resultados sanitários. Somava-se a isso o baixo financiamento para as ações de Saúde Pública que na época eram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde. Com a aprovação do SUS inicia-se um conjunto de mudanças na área da saúde que perdura até os dias atuais. Vinte anos após a implantação do SUS, o movimento sanitário atualizado com o quadro de gestores, trabalhadores, usuários, intelectuais e demais quadros que militam em torno da saúde, continua lutando pela implementação do Sistema Único de Saúde e suas diretrizes. Nesse contexto de mudanças a formação e a qualificação dos profissionais da área da saúde foram também questionadas. A participação social reivindicava nas Conferências de Saúde a qualificação dos profissionais voltados para o novo modelo, onde as ações fossem mais integrais, utilizando-se de recursos mais próximos da comunidade e com racionalidade na escolha das tecnologias incorporadas. Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Exigia-se um perfil profissional comprometido com a qualidade da assistência, humanização do cuidado, que compreendesse o contexto da realidade dos usuários e mantivesse através dos serviços de saúde relações de solidariedade com a população. É nesse contexto que surge a Educação Permanente em Saúde (EPS) como uma prática de educação voltada para os profissionais de saúde capaz de apoiar os processos de mudança e um novo perfil profissional. Nas mesmas décadas de 80 e 90, um grupo de consultores da Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS teve o papel de organizar o corpo teórico e conceitual da educação permanente em saúde. Essa construção se deu a partir de experiências inovadoras que naquela época estavam surgindo nos sistemas de saúde da América Latina. O texto que segue foi retirado de uma revista latino-americana dedicada a temas da educação médica e também foi publicado na série da OPAS destinada ao desenvolvimento dos recursos humanos na área da saúde. Fala do processo de trabalho e da educação permanente do pessoal de saúde como uma reorientação e tendência na América Latina na década de 90: 23 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe a Organização Panamericana de Saúde tem assinalado como uma linha prioritária a busca de formas de trabalho diferentes na educação e na capacitação do pessoal de saúde que se desempenha no setor. (...) Em coerência com isso a educação do pessoal de saúde já não se visualiza como uma atividade privada das aulas e dos claustros das instituições docentes, que é pré-decidida, que obedece a padrões e esquemas de conduta individualistas e que têm suas ações em torno de um eixo (ou vários eixos) que responde a demandas acadêmicas e tradicionais “de excelência” mais que às necessidades de buscar alternativas e soluções aos problemas reais e concretos que se dão no trabalho habitual (HADDAD; ROSCHKE; DAVINI, 1990, p. 136). Nos dias atuais a Política de Educação Permanente conta com financiamento regular do Ministério da Saúde, que anualmente pactua recursos a serem investidos nessa área para os estados e regiões de saúde. Como várias diretrizes e propostas inovadoras na área da saúde, a educação permanente vem sendo uma prática desafiadora, capaz de mexer com os corações e mentes. Busca-se na prática da implantação dos projetos voltados para a educação permanente dos profissionais de saúde, a compreensão ampliada da suas potencialidades, e garantir a experimentação das suas verdadeiras finalidades. 24 1.2 A Política Estadual de Educação Permanente em Saúde A Política de Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe tem como papel central apoiar a implantação da Reforma Sanitária e promover a qualificação dos quadros profissionais do SUS e do controle social. Na Política de EPS os processos de qualificação profissional deverão vir articulados às propostas de mudanças organizacionais e à implementação do modelo de atenção e cuidado. Em linhas gerais a educação permanente em saúde deverá tomar como base as políticas específicas de cada área de atenção à saúde, traçadas a partir do diagnóstico da situação de saúde e da organização e funcionamento das redes assistenciais. As políticas definem para as áreas de atenção à saúde o conjunto de padrões que deverão estruturar as redes assistenciais: os padrões de ambiência, padrão de equipe, padrão de ofertas e padrão de processo de trabalho. O padrão de ambiência irá definir uma estrutura física que possa dar identidade às unidades assistenciais de uma determinada rede, compreendendo que o espaço físico onde se desenvolvem as ações de saúde devem ser locais que proporcionem atenção acolhedora, humana e resolutiva. O padrão de equipe irá definir para cada unidade assistencial a equipe mínima e buscar garantir a contratação e a permanência desses profissionais, a fim de que as equipes não trabalhem desfalcadas. Por fim, o padrão de processo de trabalho diz respeito ao modo de organizar o trabalho das equipes em cada rede assistencial. O modelo assistencial adotado, junto com as tecnologias de cuidado, são determinantes para a implantação desse padrão e requerem ações de educação permanente para serem compartilhadas e pactuadas junto às equipes. Diante da implantação das Políticas de Atenção à Saúde, a EPS deverá cumprir o papel de promover e facilitar aprendizagens, mas também de ser um espaço onde se realizem negociações e pactuações coletivas no sentido de trazer para o espaço público os diversos interesses dos atores que fazem o SUS em Sergipe, e que se articulam em torno da implantação dessas políticas. Rede Interfederativa de Saúde é o conjunto de estabelecimentos de saúde articulados em redes, que se complementam na tarefa de garantir atenção integral e universal à saúde dos cidadãos no Estado. Esse tema será aprofundado no livro “A Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe” desta coleção. É todo o conjunto de ofertas disponíveis aos cidadãos brasileiros no SUS em Sergipe e que devem ser garantidas pela somatória das capacidades produtivas do Estado, Municípios e União. Merhy (2002) define tecnologia como um conjunto de saberes que podem ser organizados em um modo de saber fazer. As tecnologias em saúde podem ter uma dimensão não material como o vínculo e a responsabilização, como podem estar materializadas em uma norma, um protocolo, ou uma máquina (MERHY, 2002) A educação permanente deverá ser um eixo orientador e estar presente nas ações específicas de capacitação profissional, mas também atravessar outras ações de educação na saúde como a educação profissional e a pós-graduação. Deve ainda ser usada como referência nas ações de apoio institucional realizadas pelos gestores, de modo a não haver um distanciamento entre a prática educativa e as práticas de gestão cotidiana. Dentre as diversas ações estratégicas para a implantação da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde, iremos destacar duas das quais podem ser consideradas estruturantes para essa política: √√ A produção de materiais didático-pedagógicos; √√ A criação e funcionamento da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA. O material didático-pedagógico Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe O padrão de ofertas diz respeito às ofertas que cada unidade assistencial deve ter disponível para o acesso direto à população, bem como às ofertas que poderão ser buscadas em outros pontos da rede assistencial interfederativa, que fazem parte do sistema de saúde. O padrão de oferta de cada serviço irá compor o padrão de integralidade do SUS em Sergipe. 25 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Compreendendo a necessidade de qualificação de grande contingente de profissionais de saúde, partindo do princípio de que todos têm direito à educação, bem como assumindo a necessidade de desenvolver as políticas de forma integrada, a SES propõe ações de Educação Permanente que alcancem o conjunto de trabalhadores em todas as redes assistenciais. Entende que a Educação Permanente desenvolvida pelo Estado corresponde ao papel complementar deste ente em relação à capacidade gestora dos municípios. Em uma proposta de alcance universal e integral, a EPS deverá se desenvolver em larga escala e necessita de um veículo que traga as ideias, os saberes, as tecnologias, os valores, enfim, tudo o que pode ser objeto de aprendizagem, discussão e pactuação na conformação do SUS em Sergipe. Os materiais didáticos produzidos em conjunto pela FUNESA e Secretaria Estadual de Saúde têm o papel de manter o alinhamento conceitual e pedagógico entre ações que serão desenvolvidas nas situações mais diversas no que diz respeito aos objetos, aos locais, aos educandos e educadores. Também serão publicados livros voltados para as políticas de atenção à saúde e para as práticas de cuidado, através dos protocolos assistenciais. 26 Fundação Estadual de Saúde - FUNESA A Fundação Estadual de Saúde – FUNESA é uma das fundações estatais públicas de direito privado criadas pela Secretaria de Estado da Saúde que fará parte da sua estrutura de governo na administração indireta. As fundações estatais de direito privado compõem a dimensão gerencial da proposta de Reforma Sanitária do SUS em Sergipe e serão também abordadas no livro “Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe”, desta coleção. A FUNESA é uma fundação pública, de patrimônio e recursos públicos. O fato de ser de direito privado dá a essa modalidade institucional a possibilidade de contratação de pessoal pelo regime CLT e a definição de um regulamento próprio de compras fundamentado na Lei das Licitações 8.666/93. Os recursos de manutenção da FUNESA serão provenientes da SES através do Contrato Estatal de Serviços. O contrato tem a função de definir as ações, os objetivos, as metas e os parâmetros de qualidade que a FUNESA se compromete a cumprir para atender as demandas da SES e estabelece o limite financeiro para as ações. O contrato também é um instrumento de regulação pelo qual a SES define quais as políticas que serão alvo de investimento e foco de trabalho da FUNESA, explicitando as obrigações da diretoria executiva, que terá como principal papel fazer a gestão da fundação para que ela atinja suas metas e compromissos. A Funesa terá por finalidade prestar serviços de saúde de atenção básica, de promoção, prevenção e proteção à saúde coletiva e individual, formação profissional e Educação Permanente na área de saúde pública, devendo manter a Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe - ETSUS/SE. A Funesa teve sua criação autorizada através da Lei Estadual nº 6.348 de 02 de janeiro de 2008. Diante do exposto no texto e da sua vivência elabore um conceito de educação permanente em saúde. 1.3 Educação Permanente como Espaço de Gestão É importante que a educação permanente seja compreendida de forma diferente do modelo escolar. Que as ações reflexivas sobre o processo de trabalho e as práticas possam ocorrer no cotidiano do trabalho, nos espaços reservados para reunião de equipe e mesmo nos Colegiados de Gestão. Os Colegiados de Gestão são espaços onde um coletivo representativo dos trabalhadores de uma unidade de produção ou de um serviço deverão se encontrar com a finalidade de compartilhar dificuldades, experiências, firmar pactos de funcionamento, planejamento e negociações. Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe ATIVIDADE 2 As unidades de produção agrupam processos com características comuns, envolvidos com um mesmo tipo de trabalho, e com um determinado produto ou objetivo identificável. Os colegiados se constituem em espaços de gestão compartilhada, importantes para que as práticas de gestão e cuidado estejam integradas, funcionando também como um dispositivo de responsabilização da equipe sobre as decisões a serem encaminhadas nas unidades de produção e serviços. A participação dos trabalhadores na gestão através desses espaços é importante para que se tenha a visão ampliada do processo de trabalho, bem como para que se possa exercer a prática de democracia institucional e gestão participativa. As ações de educação permanente se potencializam ao virem acompanhadas por um processo de mudança institucional. O processo de reflexão e revisão das práticas profissionais deverá vir acompanhado de um outro processo de revisão de rituais, regras e projetos institucionais (DAVINI, 2009). Os processos de mudança institucionais são processos difíceis, pois requerem mu- 27 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe dança nos “corações e mentes” dos atores e nas regras do jogo. Ao definir um projeto o ator-gestor irá disparar um “jogo” onde alguns atores estarão a favor e outros contra as propostas de mudança. Jogo aqui faz referência à incerteza da produção social que é disputado por vários atores na tentativa de efetivar seus projetos (MATUS, 1993). Dessa forma, os processos de mudança institucional vêm acompanhados de tensões constitutivas da micropolítica do processo de trabalho. No caso de instituições como as secretarias municipais e estaduais de saúde, a política que acontece fora das instituições também pode interferir na correlação de forças e interferir na micropolítica. A micropolítica do trabalho em saúde corresponde ao conjunto de forças que irão surgir no cotidiano do trabalho, e que representam desejos e interesses dos atores envolvidos na sua produção. Cada ator irá tencionar os serviços e os modelos de atenção e cuidado para uma certa direcionalidade. A fim de enfrentar essa micropolítica, o gestor deve trabalhar com espaços de publicização onde os interesses particulares possam ser expostos e redirecionados, por aquilo que deve ser o principal objeto dos serviços de saúde, que é atender a necessidade de saúde dos usuários (MERHY, 1997). Na Política de Educação Permanente da Secretaria de Estado da Saúde, a educação permanente é compreendida como um espaço de gestão, local onde as reflexões sobre as práticas vêm acompanhadas de proposta de intervenção, de mudanças nos processos de trabalho, instituídas a partir de projetos de implantação do modelo assistencial. 28 Dessa forma o espaço de educação permanente requer conhecimento do projeto e de suas tecnologias e também a capacidade de mediação frente aos diversos interesses que se fazem presentes e que disputam os sentidos do trabalho em saúde. Os espaços de educação permanente são ainda espaços de interlocução, de debate em torno de projetos de mudança, de mobilização de coletivos para a ação, de negociação e pactuação coletiva. Nestes momentos, cria-se uma base de interlocução em torno do projeto, dando divulgação e conhecimento da proposta. As propostas são inseridas em um processo de aprendizagem, ampliando-se a capacidade dos atores para colocá-las em prática. Por fim, busca-se ampliar a governabilidade do gestor, conquistando diversos atores, conformando vetores de força aproximados no sentido da afirmação dos projetos de mudança. O Condutor (gestor) dirige um processo para alcançar objetivos que escolhe e altera segundo as circunstâncias (seu Projeto), superando os obstáculos de maneira não-passiva, mas ativamente resistente (governabilidade do sistema). E, para vencer essa resistência com sua força limitada, o condutor deve demonstrar capacidade de governo (MATUS, 1993, p.59). A educação permanente como espaço de gestão, tem como potência o fortalecimento do Triângulo de Governo de Matus (1993). São ações capazes de interferir nos projetos, pois adota como método o diálogo, possibilitando a construção coletiva. Fortalece a capacidade de governo, na medida em que são espaços de aprendizagem de técnicas, métodos e tecnologias diversas que ajudam o gestor na condução do projeto, e alteram a governabilidade, ampliando a base de compreensão e sustentação. A exemplo do que propõe esse autor, podemos citar as Comissões de Integração Ensino Serviço, que em nível estadual e de suas regiões de saúde se constituem em espaços interinstituicionais e interfederativos, responsáveis pela articulação loco-regional dos atores envolvidos com a política de educação permanente em saúde, bem como com a pactuação, monitoramento e avaliação da política nesses âmbitos. No Estado de Sergipe a Comissão de Integração Ensino Serviço está inserida no Colegiado Interfederativo Estadual, que é o espaço de pactuação sobre a organização e o funcionamento do SUS em Sergipe. Os espaços de gestão e pactuação, sejam eles de alcance estadual, regional ou local, são fundamentais para alinhar as ações de EPS às necessidades de aprendizagem dos serviços, assim como seus métodos e resultados. A supervisão (apoio) institucional pode ser um importante dispositivo para a instauração de processos de educação permanente. Através das suas análises, do olhar externo, pode trazer informações importantes para a reflexão interna da equipe e revisão dos seus procederes. O apoio institucional pode ainda assumir um papel de apoio técnico pedagógico disponibilizando ferramentas e ofertando saberes, apoiando as equipes nos processos de autoanálise e na busca de novas aprendizagens. As Comissões de Integração Ensino Serviço foram definidas pela Portaria GM/ MS, N° 1.996, de 20 de agosto de 2007, como instâncias intersetoriais e interinstitucionais permanentes que participam da formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde previstas no Artigo 14 da Lei 8080/90 e na NOB/RH - SUS. Essa condução deverá ocorrer em conjunto com os Colegiados Interfederativos Regionais e Estadual. É o espaço de gestão interfederativo, formado pelos gestores representantes de cada região de saúde, pelo gestor da capital do Estado e pelo gestor estadual. Tem por atribuição ser um espaço de pactuação e consenso onde são definidas questões referentes ao financiamento, organização e funcionamento das redes interfederativas de atenção e do sistema estadual de saúde. Além do Colegiado Interfederativo Estadual, o Estado de Sergipe dispõe dos Colegiados Interfederativos Regionais onde têm assento todos os gestores das regiões de saúde. Esse tema também é abordado no livro “Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe”, desta coleção. 1.4 Reflexões sobre a Polissemia Ao longo da existência humana sempre esteve presente uma necessidade de compreensão sobre nossa própria existência. Um número considerável de sistemas de conhecimentos já foi experimentado com a finalidade de compreender a origem da vida, de onde viemos e para onde vamos, o que acontece com o corpo depois da morte, se existimos antes mesmo de nascer, por que as pessoas adoecem ou por que nos apaixonamos. As origens destes sistemas de conhecimentos não foram as mesmas em todas os momentos da história humana. Em um momento a verdade sobre as coisas era dada pela religião. Com o desenvolvimento do método científico, passa-se a trabalhar com a ideia de verdades científicas. As dúvidas sobre a realidade, as perguntas sobre a existência propulsionam ainda hoje a busca do conhecimento sobre a humanidade. Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe Segundo Rovère (1994) é importante para a gestão da EPS que as ações sejam definidas e acompanhadas de forma compartilhada por trabalhadores, gestores e usuários. Rovère cita ainda a importância de que as ações de educação permanente sejam desenvolvidas em ambientes que estejam dispostos a desenvolver gestão compartilhada e participativa. 29 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Interessante é que a conclusão que se tira é de que este processo não se conclui, ou seja, por mais que tenhamos explicações sobre a existência humana, sempre existirão novas interpretações, novas leituras, novas concepções sobre a realidade humana. Distintas formas de olhar para o mundo vão paulatinamente substituindo aquelas que, de um modo ou de outro, passam a não ser mais verdadeiras. Isto fala das crises do conhecimento ou crise epistemológica que se apresenta como um estado de desconstrução das verdades que deram sustentação aos modos de pensar conceitos como saúde, democracia, identidade, corpo, ética. Se pegarmos cada um destes conceitos e lançarmos para um momento histórico diferente, teremos diferentes explicações e compreensões para cada um deles nas diferentes épocas. Mas não é preciso ir tão distante para perceber que cada um destes termos possui a capacidade de representar distintos significados, não somente em diferentes épocas, mas em uma mesma época, e em uma mesma sociedade. Trabalhemos então com o conceito de mulher em nossa sociedade. Ser mulher no município de Aracaju pode ser diferente do que ser mulher no município de Porto Alegre. Ser mulher branca trabalhadora rural, pode ser diferente de ser mulher negra e trabalhadora médica no HUSE. Todas partilham do sentido de ser mulher, porém possuem distintas características que as diferenciam entre si. No entanto estamos falando da mesma coisa, de ser mulher. Ser mulher é tudo isso, e o que mais for necessário. 30 Distintos significados serão sempre utilizados para as definições de uma mesma coisa. E esta capacidade de atribuir distintos significados a um mesmo objeto pode ter um lado positivo ou um lado negativo. O lado positivo poderia ser expresso pela possibilidade de criação do novo, pela possibilidade de invenção de novos significados para um mesmo termo. Imagine você se o conceito de identidade continuasse sendo sinônimo de mesmo, de idêntico? O que seria das mulheres se houvesse uma única forma de ser mulher? O que seria dos negros se houvesse uma única forma de ser negro? O que seria dos homossexuais se para ser homossexual fosse necessário ter trejeitos femininos? As diferenças são necessárias e a criatividade é uma característica essencialmente humana. Porém também faz parte da condição humana a necessidade de comunicação, da partilha de significados. Ou seja, temos um conceito sobre o significado do que seja livro, e isto faz parte da rede de significados que são partilhados para que possa ser colocada em prática uma característica humana muito importante, a comunicação. Comunicação como capacidade de tornar comum o significado. Como sabemos o que é educação ou saúde? Sequer pensamos quando escutamos estas palavras, pois já estão construídas historicamente. Trata-se de uma ideia que já foi apresentada e cujo nome é apenas um atalho para lembrarmos do que estamos falando. Muitas vezes, em nosso cotidiano de trabalho em saúde, nos deparamos com formas distintas de compreender uma mesma coisa, um mesmo objeto, um mesmo conceito. Existe um conceito hegemônico, mas o próprio conceito de saúde tem vários significados que não são necessariamente consensuais. Podemos dizer que saúde seja apenas ausência Outro exemplo é educação. Educada pode ser aquela pessoa recatada, silenciosa, que pede licença ao entrar em um espaço, que fala em baixo tom de voz, que não coloca volume alto para não incomodar os vizinhos. Ou educada pode ser aquela pessoa que passou por instituições de ensino, que pôde estudar e passar pelo ensino médio e ingressar à universidade. Aqui também estaremos falando de pessoa educada. Falamos de um mesmo conceito (saúde e educação) mas vimos que existem distintos significados para definição de cada um deles. Podemos dizer que os conceitos possuem a capacidade de expressar distintos significados mas sem modificar a sua construção morfológica. A depender do contexto em que esta palavra for utilizada ela terá um significado distinto. A isso chamamos de polissemia, ou seja, os distintos significados que podemos estar utilizando para um mesmo conceito. Trabalhar a ideia de polissemia é importante pois sugere que o significado daquilo que eu estou falando, ou do que busco transmitir para o meu colega, pode ser distinto daquilo que ele esteja compreendendo ou diferente do objetivo que eu tinha para transmitir. A comunicação, neste sentido, é algo de extrema importância pois permite que duas ou mais pessoas consigam compreender o mesmo sentido de uma palavra em função de que este sentido já é comum. Assim, em determinados momentos é importante verificar se ao dizermos as mesmas palavras estamos falando das mesmas coisas, ou se essas palavras estão significando coisas diferentes. Por outro lado, através do conceito de polissemia podemos perceber que o fato de termos uma dada compreensão de um objeto, e outros compreenderem de forma diferente, não significa necessariamente que um dos sentidos esteja errado. Alguns significados de um conceito podem se adequar mais a determinados contextos que outros. Em outros momentos é possível construir consensos sobre a compreensão que possuímos dos objetos. O importante é que se busque compreender o outro. Para Morin (2000), a compreensão humana deve ser uma das finalidades da educação do futuro. A compreensão que se busca pode ser objetiva, ou seja, se chegar a um consenso sobre o que cada um tenta dizer, sobre os significados que cada conceito tenta representar. Mas o maior desafio é a compreensão humana, a compreensão do outro, que inclui um processo de empatia e abertura intersubjetiva, permitindo que a experiência de um sujeito possa ser comunicada, compartilhada por outros. Para Morin, ensinar a compreensão entre as pessoas é uma condição necessária para a garantia da solidariedade moral e intelectual da humanidade (MORIN, 2000). Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe de doença e não perceber que existem outros fatores que estão influenciando meu estado de saúde, como a poça de água que deixo no meu quintal onde o mosquito da dengue se reproduz. São novos significados que são atribuídos para o conceito de saúde. 31 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 1.5 Alteridade, Educação e Saúde A antropologia toma como objeto de estudo as diferentes culturas, buscando compreender como as pessoas constroem suas formas de sentir, pensar e agir a partir de códigos sociais, normas sociais que trarão o que é esperado pelas pessoas que fazem parte daquele grupo social. 32 Segundo Japiassú & Marcondes (2006, p.7), “alteridade do ponto de vista lógico é a negação estrita da identidade e afirmação da diferença”. Na vida social existem formas de reconhecer e lidar com a diferença. A experiência da alteridade pode se dar de forma etnocêntrica, ou baseada no relativismo. Etnocentrismo é pensar a cultura do outro tomando como referência a minha própria cultura. Tal postura termina por julgar determinado comportamento a partir dos códigos que regem o meu grupo social. Existe aí uma adjetivação ao diferente como não evoluído, contaminado, ruim, sempre pior se comparado ao que faz parte do meu sistema cultural. O relativismo, por outro lado, é um conceito/exercício que se ocupa das agruras do etnocentrismo. Relativizar implica refazer o percurso cultural daquele que consideramos como “outro” para chegar à sua lógica, aos seus códigos de forma compreensível. Seria uma forma de colocar-se no lugar do outro. Aquilo que para mim é estranho, é colocado em um outro lugar que não o da estranheza. Passa a ocupar o lugar do possível, do lógico. Assim chegaremos em um ponto de produção de um lugar que acolhe a diferença, o que implica pensá-la conservando o caráter de humano, como algo que poderia ser o eu. Alteridade pode contribuir com o nosso trabalho em saúde na medida em que aquilo que está fora do protocolo, aquilo que se apresenta de forma não regular, possa ser acolhido como possibilidade do humano. A acolhida da diferença mediada por um exercício de alteridade fortalece princípios como integralidade e equidade, incluindo o exótico sem que este perca suas características. O preconceito, a discriminação, o etnocentrismo freiam o processo de promoção à saúde. Fere-se o princípio da integralidade ao olhar o usuário com as lentes dos próprios códigos culturais. O princípio da equidade é ferido na medida em que práticas etnocêntricas terminam por afastar a população por conta de atitudes discriminatórias. Educação Educação Permanente Permanente em Saúde emno Saúde Estado de Sergipe Valemos-nos desse conceito para o nosso trabalho na medida em que, embora sejamos todos diferentes, é possível e necessária a coexistência. Para que exista um “eu” ou um “nós” é necessário que exista um “outro” como espelho. 33 1.6 Caixa de Ferramentas e Bricolagem Por todos os pressupostos teóricos apresentados ao abordar o conceito da educação permanente em saúde, percebe-se que colocá-la em prática exigirá um conjunto de saberes próprios. As referências teóricas apresentam uma diversidade de conceitos e tecnologias, que podem ser combinadas e recombinadas desde que mantenham uma coerência interna tanto do ponto de vista conceitual quanto ideológico. Com relação a essa composição onde buscamos articular e recompor pedagogias, métodos, técnicas e tecnologias diversas aos nossos objetivos na educação permanente em saúde, nos utilizamos do conceito de caixa de ferramentas de Merhy (1997). A caixa de ferramenta é o conjunto de saberes, tecnologias que o trabalhador opera e é capaz de agenciar no ato do trabalho vivo. Na caixa de ferramentas temos os conceitos-ferramentas que ajudam a compreender a realidade e também a operá-la. As tecnologias, por sua vez, especialmente as leve-duras e as leves (MERHY, 2002) podem ter seus componentes (saberes, técnicas, organização) dispostos em novos arranjos na construção de outras tecnologias mais adequadas aos objetivos e necessidades da ação. Outro conceito interessante é o da bricolagem (LÉVI-STRAUSS, 2002). Os objetos costumam ter um uso pré-estabelecido. A bricolagem surge na medida em que não dispondo de um objeto, substituímos por outro que passa a desempenhar uma função inusitada. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe O conceito de bricologem centra a responsabilidade no indivíduo, em ser criativo, a partir de sua interação com o meio. A bricolagem é, portanto, entendida como um mecanismo que o homem mobiliza para adaptar-se às diferentes situações, construindo e reconstruindo. Esse conceito é interessante na medida em que não desejamos ou não conseguimos colocar em prática uma determinada pedagogia na íntegra, mas aproveitamos seus elementos para reconstruir novas propostas pedagógicas. Ou seja, podemos beber de várias fontes e delas ir retirando conceitos, tecnologias e ferramentas que podem ser recombinadas e recompostas na construção de nossas propostas pedagógicas. ATIVIDADE 3 Dinâmica dos Lugares: Em grupo, sigam as orientações do facilitador para a realização da dinâmica. 34 Capítulo 2 Organizando as Etapas de Produção da Educação Permanente em Saúde Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe ATIVIDADE 4 Dividam-se em subgrupos para realização de leitura, levantando os pontos relevantes para posterior apresentação em plenária. 2.1 Identificando e significando as necessidades de aprendizagem dos trabalhadores da saúde Assim como diversas intervenções tecnológicas que realizamos na área da saúde, a educação permanente pode lançar mão de saberes estruturados e não estruturados na organização de um processo produtivo para chegar às suas finalidades. Tecnologia ou saber tecnológico é um modo de saber fazer. É quando articulamos diversos saberes a um processo produtivo. Segundo Merhy (1999), na nossa atuação para produzir saúde lançamos mão de diferentes tipos de tecnologias que fazem parte do nosso processo de trabalho (MERHY, 1999). 36 Entendemos como saberes estruturados aqueles baseados nas ciências como a clínica médica, a psicologia, a sociologia. Saberes não estruturados são aqueles não sistematizados, oriundos de uma relação com a prática que irá depender da forma como se dá a interação entre os sujeitos, por ex: saberes relacionados a produção de vínculo e acolhimento (MERHY, 1999). Para a realização das ações de educação permanente apresentaremos saberes e tecnologias que deverão ser articulados em diferentes momentos para a identificação e significação das necessidades de educação permanente, para a construção e intervenção dos planos de ação e no seu monitoramento e avaliação. Na maioria das vezes a identificação das necessidades de aprendizagem é realizada de uma maneira flexível e desestruturada, onde os atores vão se baseando nas suas percepções e às vezes fundamentando-se em informações sobre os serviços e o contexto. Essas percepções podem ser processadas em rodas de conversas nos serviços de saúde, ou entre gestores nos espaços de gestão. Na maioria das vezes é dessa forma que se realiza a identificação e significação das necessidades de aprendizagem que deverão ser alvo das ações de EP. Esse modo assistemático, sem etapas rígidas e não estruturado pode ser valioso desde que se preservem alguns pressupostos importantes no momento de definir que necessidades priorizar: • que o problema implique em uma ação coletiva; • que se possa ter mais de uma proposta de ação, levando o espaço da EP a funcionar como um espaço de gestão e construção de pactos; • que se possa por meio dessa ação favorecer a mudança das práticas e a revisão dos processos de trabalho; • que haja possibilidade de articular revisão das práticas, com propostas de mudança institucional, onde se possa atuar sobre regras e rituais institucionais. O processo de identificação das necessidades de aprendizagem e a definição do Plano de Educação Permanente podem ser definidos de forma ascendente ou descendente. Ascendente quando são definidos coletivamente, a partir da necessidade de aprendizagem, partindo da análise e escolhas das equipes de saúde ou dos problemas identificados na prática do trabalho; descendente, quando o plano é processado no nível central da gestão, onde os temas são previamente definidos, tomando da mesma forma, como referências, a realidade de saúde e a prática do trabalho. Nas instituições onde o modelo de gestão prevê espaços de interlocução entre trabalhadores, gestores e usuários pode-se combinar as formas ascendente e descendente, compartilhando entre os atores a compreensão e a decisão sobre a ação. Busca-se desenvolver ações de EPS que respondam a problemas dos serviços de saúde. Esses problemas podem ser percebidos como dificuldades e desconfortos das equipes ou estar relacionados com os resultados dos serviços de saúde refletindo-se no quadro sanitário e na satisfação/ insatisfação dos usuários diante da assistência prestada. Podem ainda estar relacionados à percepção das necessidades de mudança e a projetos de implantação de novos modelos assistenciais capazes de mobilizar desejos e interesses dos atores. É importante fazer uma análise do contexto de saúde mais amplo do município, do Estado ou do país. Muitos problemas identificados no cotidiano dos serviços de saúde mantêm relação com o entorno onde incidem consequências do modelo econômico adotado ou das políticas de saúde. Autores como Haddad afirmam que muitas ações desencadeadas no âmbito educacional têm pouco impacto por terem sido desenvolvidas não considerando a realidade social de um determinado local (HADDAD, 1994). São aspectos importantes a serem considerados na análise do contexto: a compreensão do modelo econômico, a forma de organização do sistema de saúde, as políticas de saúde, os dados epidemiológicos, as relações (sociais e de poder) estabelecidas na área, a forma como se dá a gestão do sistema e dos serviços, a situação de formação e as formas de inserção e vínculo dos trabalhadores na área da saúde. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde • necessidades que sejam significativas para o pessoal que deverá participar das atividades, pois é preciso que haja uma identificação entre os sujeitos e os temas a serem trabalhados, e que esses sejam capazes de motivar a participação do público-alvo; 37 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 38 Desenhado o contexto e identificados os problemas de maior relevância para gestores, usuários e trabalhadores, busca-se identificar quais dificuldades são de natureza educacional, ou seja, identificar dentre os problemas aqueles que são passíveis de serem modificados através de uma ação pedagógica. Nem todo problema poderá ser resolvido por meio de uma ação pedagógica. Por vezes, o problema está no nível de gestão, na organização e mesmo na estrutura disponíveis nos serviços. Também é importante perceber que nem sempre o pedagógico na saúde está condicionado às ações próprias do modelo escolar como as aulas, por exemplo. Um dos principais fundamentos da educação permanente em saúde é que se possa aprender com o trabalho, valorizando os conhecimentos adquiridos na prática. Desse modo, a realização de um planejamento estratégico-situacional pode ser muito pedagógica no sentido de favorecer a um maior conhecimento da realidade e promover a socialização desta compreensão entre os atores que constroem o plano. Esse sentido amplo da educação permanente como uma lógica transversal capaz de articular a formação, a gestão, o cuidado e o controle social, na ideia de um quadrilátero (CECCIM; FEUERWERKER, 2004) permite perceber a dinâmica das mudanças que, ocorrendo nos serviços, podem interferir na formação, que, partindo do cuidado, podem interrogar a gestão, e vice-versa. É o controle social, como a alteridade dentro do sistema de educação e saúde promovendo interrogações e demandando mudanças. É importante que a gestão esteja envolvida nas ações de educação permanente, pois nossas práticas fazem parte de um conjunto de regras e rituais institucionais. Muitas vezes as mudanças das práticas estão atreladas às mudanças em outro nível nas instituições, e a EP não é uma ação isolada, ela requer articulação das equipes de trabalho, dos serviços e das instituições. Na operacionalização dos planos de EP vamos usar ferramentas e tecnologias da gestão, do cuidado e da educação. Considerando algumas ferramentas que serão aqui apresentadas, reforçamos a necessidade de envolver a gestão nas discussões de EP, pois muitas vezes as equipes necessitam de apoio institucional para utilização dessas ferramentas. Uma forma de identificar as necessidades de aprendizagem é utilizando saberes e ferramentas que ajudem na leitura da realidade, identificando os problemas, desconfortos e dificuldades dos serviços. Escolhemos algumas ferramentas e saberes com os quais temos mais “intimidade” pelo uso que fazemos em nossos processos de gestão, cuidado e formação: • o PES – Planejamento Estratégico Situacional; • o fluxograma analisador; • os casos para estudo; • a descrição do Saber Tecnológico. Neste tópico iremos utilizar os conceitos e, de modo bastante simplificado, os momentos do método do Planejamento Estratégico-Situacional – PES, desenvolvido por Carlos Matus. No Planejamento Estratégico-Situacional (PES) o ato de planejar precede e preside a ação, ou seja, o planejamento não vem apenas antes, mas articula-se com a gestão, no momento de execução do plano. Pode-se pensar no planejamento não apenas como um método, mas como uma forma de pensar estrategicamente (MATUS, 1993). O PES foi originalmente desenvolvido para governos. A utilização desse tipo de planejamento no nível local requer uma simplificação do método, pois busca trabalhar com uma visão dos vários atores envolvidos com a situação. Neste texto utilizamos como referência para uso o PES no nível local (ARTMANN, 2000). A situação é referenciada ao ator, porém é policêntrica sendo determinada a partir de vários centros de ação. O importante é que mesmo utilizando uma simplificação do método, não se perca de vista a possibilidade de ter uma visão ampliada do problema, inserindo sua explicação em um contexto mais amplo, e buscando desenhar ações que considerem a viabilidade de intervenção na realidade (MATUS, 1993). Matus compara a produção social a um jogo, onde os vários atores interferem nos fatos, acumulações e regras sociais. Os fatos são os acontecimentos, as jogadas produzidas pelos jogadores; as acumulações, as habilidades pessoais, e as próprias acumulações produzidas no ato de jogar; as regras são as leis e convenções sociais que condicionam o jogo, são produzidas pelo homem e não são imutáveis. Este mesmo autor chama atenção para a grande acumulação que é necessária para se mudar as regas sociais que muitas vezes são desiguais, favorecendo alguns atores em detrimento de outros. O ator é o sujeito da ação, é aquele que declara o problema e assina o plano, deve preencher três critérios: ter base organizativa; ter um projeto definido; controlar variáveis importantes para a situação. O problema é algo que provoca um resultado insatisfatório, algo que pode ser mo- Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Planejamento Estratégico-Situacional na identificação das necessidades de aprendizagem e educação permanente 39 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe dificado por meio da ação. A intenção não é de se eliminar totalmente o problema, mas substituir por outros com aspectos positivos, resultado da ação implementada. O Planejamento Estratégico-Situacional (PES) tem um método desenhado em momentos. A ideia dos momentos é de se contrapor à rigidez de etapas estanques. O PES prevê quatro momentos: 1. Momento explicativo – é o momento da identificação, explicação e seleção dos problemas; 2. Momento normativo – momento em que o ator define onde se deseja chegar, desenhando o plano de ação; 3. Momento estratégico – é o momento de avaliar as forças e o acúmulo de poder em relação ao Plano. O ator tem poder suficiente para colocar o Plano em ação? Quais recursos serão necessários? Quem detém os recursos, e como esses atores deverão se posicionar frente ao plano? Como lidar com esses atores: fazendo enfrentamento, convencendo-os, negociando etapas do Plano? Esse é o momento de definir as estratégias para colocar o Plano em ação; 4. Momento tático-operacional – quando será executado o Plano. No momento da ação, o Plano exige acompanhamento e pensamento estratégico. 40 O Momento Explicativo √√ Seleção de problemas Esse é o momento em que se selecionam e analisam os problemas considerados importantes. Geralmente esse primeiro momento é feito por meio de uma “tempestade de ideias”. Depois do levantamento dos problemas, estes deverão passar por uma primeira seleção que deverá servir para analisar a relevância, observando aspectos estratégicos, custo econômico das soluções, custo do enfrentamento do problema ou sua postergação, eficácia da intervenção, entre outros. √√ Descrição de problemas Após a seleção dos problemas passa-se à sua descrição. Os descritores devem ser claros, diferenciando os problemas de outros e das suas causas e consequências. Os descritores representam os “sintomas” dos problemas e podem ser qualitativo ou quantitativo. √√ Explicação dos problemas Após a descrição dos problemas passa-se para o momento explicativo, onde as causas são levantadas e organizadas em uma rede simplificada onde ficam hierarquizadas de acordo com as causas mais imediatas, intermediárias e causas de “fundo”. A hierarquização das causas e descritores do problema forma uma rede explicativa. Nessa explicação podem-se identificar as determinações entre as causas, e das causas com o problema central. As causas de fundo, intermediárias e imediatas e as consequências (descritores) do Árvore de problemas Consequência Consequência Consequência (Descritor 01) (Descritor 02) (Descritor 03) PROBLEMA CAUSAS CAUSAS CAUSAS (Nó Crítico 01) (Nó Crítico 02) (Nó Crítico 03) Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde problema também podem ser processados na forma de uma “Árvore de problemas”, conforme apresentado na figura abaixo: 41 CAUSAS CAUSAS CAUSAS CAUSAS Fonte: (Silva Bueno; Rollo, [S.D]) √√ Seleção dos nós críticos Após determinada a rede causal o ator já deve fazer uma primeira demarcação estratégica, identificando os problemas que estão dentro do seu campo de governabilidade e aqueles que estão fora. Os que estão no seu campo de governabilidade envolvem causas e soluções cujos recursos estão sob o controle do ator. Quando o ator não domina os recursos significativos para a intervenção sobre o problema, este se encontra fora da sua governabilidade. Dentre as causas dos problemas, os nós-críticos são aquelas que serão o ponto de enfrentamento sobre as quais serão elaboradas as propostas de ação. Na seleção dos nós-críticos devem ser observados os seguintes critérios: 1. A intervenção sobre esta causa trará um impacto representativo sobre os descritores do problema, no sentido de modificá-los positivamente? 2. A causa constitui-se num centro prático de ação, ou seja, há possibilidade de intervenção direta sobre este nó causal (mesmo que não seja pelo ator que explica)? Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 3. É oportuno, politicamente, intervir? Quando todas as três questões são respondidas afirmativamente, o nó deve ser selecionado como crítico, ou seja, como ponto de enfrentamento. Após a seleção do nó crítico pode ser necessário que este seja descrito através de aspectos qualitativos e indicadores. Nesse momento em que o problema foi compreendido é possível identificar as relações dos problemas com a educação e detectar entre as causas aquelas que podem sofrer modificação positiva por meio de uma ação pedagógica. Voltando à nossa situação-problema a equipe não chegou a uma explicação definitiva do problema, mas buscou estratégias para compreendê-lo com mais profundidade. Pois só é possível fazer uma boa descrição e explicação do problema quando se detém bastante conhecimento sobre ele. O Momento Normativo 42 No momento normativo se define as ações que deverão impactar sobre os descritores do problema, será traçado um plano de atuação. Nesse momento poderão ser identificadas as modalidades de ações de educação permanente que se poderá desenvolver, seu público-alvo e os objetivos que deverá atingir. Para o momento normativo deve ser traçada uma situação objetivo, onde o problema seja substituído por uma situação positiva. A situação objetivo pode ser descrita, substituindo os descritores do problema por vetores de resultado, que representem os indicadores da nova situação que se deseja atingir. No momento normativo, definem-se as operações, que são formadas por um conjunto de ações, e envolvem diversos recursos de natureza econômica, política, cognitiva e administrativa. As operações deverão ainda chegar a produtos e resultados. Os produtos correspondem a metas bem concretas e os resultados ao impacto produzido pelas operações. Para cada operação/ação deverão ser definidos os responsáveis e o tempo para sua execução. Na nossa situação-problema o plano elaborado foi no sentido de conhecer melhor o problema. A equipe considerou que essa ação deveria ser a primeira a ser realizada, e dividiu as tarefas entre eles. O Momento Normativo pode ter como síntese a seguinte planilha: Objetivo Operações Ações Recursos Necessários Produtos Resultados Responsável Prazo É o momento de construção da viabilidade do Plano. Momento em que se definem os recursos e os atores estratégicos e qual a melhor estratégia para lidar com os atores que controlam recursos significativos para o plano. A análise do recurso consiste na análise da viabilidade do plano, que pode ser de natureza financeira, política, organizacional e cognitiva. É preciso definir quais os recursos que o ator controla e os que ele não controla. Para os recursos que são importantes para o plano e que estão sob o controle de outros atores, deve-se analisar qual a posição dos atores e o valor que cada um confere à ação. Para os atores cuja motivação é positiva deve ser assinalada (+); para os que têm motivação negativa deve ser assinalada (-), para os atores de motivação indiferente deve ser assinalado (0). Os valores que os atores dão para o plano devem ser sinalizados como Alto (A), Médio (M) e Baixo (B). O resultado dessa análise poderá identificar um ator que, por exemplo, tenha uma posição negativa frente à ação, mas que em compensação dê um valor baixo para ela, o que pode resultar em uma situação menos conflitante do que se essa ação tivesse um valor muito alto para esse ator. Identificada a posição e o valor que cada ator detém sobre as ações do plano passa-se a construir um conjunto de estratégias para modificar a posição do ator positivamente com relação ao plano. Estas ações estratégicas podem ser da seguinte natureza: Imposição: quando o convencimento se dá pela autoridade. Estratégia possível quando existe uma relação de hierarquia entre os atores. Persuasão: quando há o convencimento, sem que para isso haja necessidade de fazer concessões com relação ao Projeto. Negociação cooperativa: quando é necessário negociar, e os interesses são diferentes, mas não conflitantes. O resultado da negociação é positiva para os envolvidos. Negociação conflitiva: tipo de negociação onde os interesses são conflitantes, e a perda de um dos atores corresponde ao ganho do outro. Confrontação: onde os atores irão para o confronto com medição de forças. Ao pensar no plano devem-se considerar os limites financeiros, de pessoal, organizacional, político e de disponibilidade de agenda. No caso da nossa situação-problema, caso a equipe detecte que não tem recursos Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde O Momento Estratégico 43 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe suficientes para intervirem sozinhos sobre o problema da gravidez na adolescência, poderá traçar estratégias de envolvimento de outros atores, como a escola, o controle social, a Secretaria de Saúde. O Momento Tático-operacional É o momento de execução e gestão do Plano. Faz parte da gestão do Plano o monitoramento e a avaliação. Com relação à avaliação das ações de educação permanente será um tema desenvolvido em um tópico adiante neste texto. Com relação à gestão do Plano, nesse momento também é importante ter uma visão estratégica dedicando à agenda do dirigente o que é central e delegando aos demais níveis as ações de rotina. Deve-se ainda realizar a petição e prestação de contas do andamento do plano, definindo responsáveis pelo gerenciamento das operações. É importante avaliar qual operação é mais importante no contexto como um todo do plano da instituição e que deverá merecer uma centralidade na execução. Às vezes os profissionais da Educação na Saúde têm uma tendência a querer atender à totalidade das demandas que são recebidas, porém isso nem sempre orienta a ação para o foco estratégico. 44 Você sabia? Esta anedota normativa e humorística ocorreu realmente, pelo menos segundo a versão de um jornalista desportivo brasileiro. Em 1958, durante o Campeonato Mundial de Futebol na Suécia, o técnico Feola desenvolve uma sessão de trabalho teórico com a equipe do Brasil. Em algumas horas deverão enfrentar a Inglaterra, um sério oponente às aspirações da equipe de Pelé, Vavá e Garrincha. O Técnico Feola planeja a partida com a seriedade exigida pelas circunstâncias. É uma longa sessão em que o técnico explica aos jogadores, com toda precisão, o que devem fazer para confundir os ingleses. Assim desenvolve no Quadro os primeiros quinze minutos do jogo, depois os quinze minutos seguintes e assim até o término, com vitória do Brasil. A ideia é brilhante, mas há algo que não convence os jogadores. Após um silêncio prolongado, Garrincha diz: “Posso falar, Professor Feola?”. “Pode”, responde o técnico. Garrincha então pergunta: “O Senhor já acertou tudo isso com os ingleses?” (MATUS, 1993, p.35). 88 Sugestões de Leitura Para aprofundar os conhecimentos sobre o Planejamento Estratégico para nível local, sugerimos a leitura do texto: Planejamento estratégico situacional Autora: Elizabeth Artmann. Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/portal/publico/ apresentar Conteudo Mestre. aspx?TIPO_ID=1 ATIVIDADE 5 Dividam-se em pequenos grupos para leitura do Anexo 1 “Cenário da Saúde no Estado de Sergipe”, em seguida, respondam às questões abaixo para posterior apresentação em plenária. 1.Como seu município se organiza para atender às necessidades de saúde da população? 2.Como podemos identificar problemas do trabalho que possam se beneficiar das ações de educação permanente em saúde? 3.Dentro do contexto do município identifique necessidades de saúde que possam ser beneficiadas por uma ação de educação permanente em saúde, descrevendo-as, levantando suas causas e identificando o nó crítico para a intervenção sobre a necessidade. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde no nível local: um instrumento a favor da visão multissetorial. Cadernos da Oficina Social 3: Desenvolvimento Local, p. 98-119. Rio de Janeiro, 2000. ATIVIDADE 6 Construção de representações do trabalho: Dividam-se em subgrupos, pensem em uma imagem que represente o seu processo de trabalho e elaborem uma escultura somente com os materiais disponibilizados pelo facilitador. Analisando o Processo de trabalho Voltando à nossa situação-problema, podemos nos perguntar se existe diferença entre o trabalho da Dra. Alícia, quando está aplicando um protocolo para prescrição de métodos contraceptivos, e quando está discutindo sobre o problema da gravidez na adolescência junto à equipe. Podemos nos questionar se há formas de transformar nosso trabalho em algo mais interessante, envolvente, em que trabalhadores e usuários sintam-se mais satisfeitos e comprometidos. A análise do processo de trabalho pode ser uma fonte de identificação de problemas e das relações entre os atores. Considerando que a educação permanente deverá atuar nas relações entre trabalho e educação, é importante conhecermos mais sobre o trabalho humano, seus significados e as especificidades correspondentes na área da saúde. O trabalho tem valor material e simbólico para o homem. Alterar os processos de trabalho pode tornar os processos produtivos mais resolutivos, mais eficientes, mas também em processos mais criativos, significativos e satisfatórios. 45 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe O espaço do processo de trabalho como já sinalizamos no início do livro pode ser espaço de transformação e instituição de novas formas de agir. As ações de educação permanente tanto podem resultar na transformação do trabalho, como podem ser uma necessidade identificada a partir da análise que se faça sobre os processos produtivos. Como estamos inseridos em nosso processo de trabalho, é difícil observá-lo e analisá-lo do “lado de fora”. Podemos comparar o nosso espaço de trabalho como um aquário que para compreendê-lo melhor teríamos que sair dele e observá-lo de fora. Com essa ação tentaríamos “estranhar” aquilo que é comum e corriqueiro e que para nós tornou-se hábito. 46 Para fazer esse movimento é importante conhecer alguns conceitos sobre trabalho e o seu processo produtivo na saúde. Existem as chamadas “Ferramentas Analisadoras”, cuja função é auxiliar equipes no momento de olhar e analisar o processo de trabalho. Ferramentas aqui diz respeito a conceitos, construções teóricas, saberes, que podem ser utilizadas para intervenção na prática (MERHY, 1997). O Trabalho em Saúde O trabalho pode ser definido como uma ação intencional do homem sobre a natureza, na busca de produção de bens e produtos que podem ser materiais e simbólicos e que atendam às necessidades (MERHY, 1999). Nessa ação interessada do homem sobre a natureza podemos identificar como elementos essencias ao trabalho humano: o projeto, que antecede a ação; as matérias primas; os saberes e as técnicas que a inteligência humana domina para agir sobre os objetos; as ferramentas utilizadas na operacionalização do trabalho; o modo produtivo, que é o jeito de fazer e organizar as etapas do processo de trabalho; e um produto, que corresponde ao resultado final da ação do homem. Da mesma forma que os produtos têm uma dimensão material e simbólica, o trabalho também tem uma dimensão produtiva e outra subjetiva. A dimensão produtiva diz respeito à capacidade de produzir coisas úteis, correspondendo à forma operacional de execução. Já a dimensão subjetiva diz respeito à forma como o homem se relaciona com o seu trabalho, com os demais trabalhadores e outros sujeitos envolvidos em sua produção (MERHY; FEUERWERKER, 2009). O processo de trabalho pode ser analisado do ponto de vista da forma de organização das etapas produtivas, ou do ponto de vista do conteúdo e sua dinâmica. Os processos decisórios, onde se manifestam as relações entre os atores, seus interesses e desejos fazem parte do conteúdo que dá vida, movimento e sentido ao trabalho concreto. Também faz parte da dinâmica dos processos produtivos o modo como os sujeitos articulam seus conhecimentos, na possibilidade de serem mais ou menos criativos, de se colocarem ou não como sujeitos nos processos produtivos. Na saúde, o processo de trabalho é atravessado por lógicas internas e externas. Dentro das condições externas podem-se citar as políticas de saúde, os modelos assistenciais, os modelos de gestão adotados pelas instituições. Do ponto de vista interno ele ficará na dependência dos sujeitos que o produz, da forma como se organizam, da inteligência e do saber fazer que detêm e acumulam sobre o objeto. O objeto do trabalho em saúde, que são as necessidades de saúde coletivas e individuais, tem grande poder de instituição de mudanças sobre os processos de trabalho na área. Uma vez que estas necessidades são singulares, e construídas históricas e socialmente, estão sempre se renovando, apresentando-se como desafios para os saberes e práticas dos trabalhadores da saúde. O Trabalho humano tende a ter um certo grau de autonomia, diferente do trabalho animal como o de uma abelha, por exemplo. O modo de produzir casas de uma abelha é determinado geneticamente, e todas as abelhas de uma determinada espécie constroem colmeias iguais por várias gerações. Já o homem, possui a capacidade de criar novos modelos de casas. A ação do homem é influenciada pelo seu tempo, contexto social e cultural, o homem é por isso um ser histórico. Determinados tipos de trabalho permitem mais liberdade do que outros. O trabalho do artesão, ainda que obedecendo a uma certa organização produtiva é mais criativo, menos capturado do que o trabalho de um operário da linha de produção de automóveis que deverá seguir uma série de padrões e procedimentos. Taylor era um estudioso do trabalho. Atuando no campo da admi- Frederick Winslow Taylor (1856-1915) nasceu na Filadélfia nos Estados Unidos, foi o fundador da Administração Científica. Além da organização do chão da fábrica, com a administração científica houve uma repartição do trabalho. A administração fica com o planejamento e com a supervisão, enquanto que o trabalhador fica somente com a responsabilidade de execução do trabalho. A gerência pensa enquanto o trabalhador executa. (CHIAVENATO, 2003). Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Esse produto por sua vez terá uma função específica, o que lhe atribuirá um “valor de uso” determinado pelo tipo de necessidade que satisfaz, e “um valor de troca”, que também está atrelado ao valor simbólico. Ambos valores são construídos socialmente. 47 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe nistração percebeu o quanto o trabalho humano tende a ser de difícil captura. Diante das suas observações desenvolveu a administração científica onde o trabalho da fábrica foi dividido em chão da fábrica e nos níveis de organização e gestão, estabelecendo a separação entre o planejamento, o pensar e a execução (CHIAVENATO, 2003). Taylor também estudou modos de tornar o processo produtivo mais eficiente. O trabalho foi estudado em seus movimentos e criou-se a linha de produção, dividindo o trabalho em etapas, de modo a poder controlar os tempos e os movimentos de cada etapa. Ao organizar o processo produtivo em uma linha de produção, cada trabalhador ficou responsável por um pedaço da produção, de modo que se perdia a visão do processo como um todo. Por estarem restritos a um pedaço do processo produtivo, o trabalho às vezes consistia na reprodução por inúmeras vezes de um único movimento durante toda a carga horária de trabalho. A essa forma de organizar o trabalho, dividindo o pensar da execução, organizando-o em etapas, com controle dos tempos e dividindo cada etapa entre os trabalhadores em uma linha de produção, chamou-se de forma de produção Taylorista. E apesar de ser um fenômeno estudado no campo da administração científica, o mesmo impactou na forma de trabalhar em quase todas as áreas da produção humana, incluindo a saúde. 48 Nesse modo de organização do trabalho, há a captura da iniciativa e da criatividade do homem pelo modo de produção. A divisão do trabalho em etapas estanques provoca a alienação do trabalhador do seu trabalho, pois a visão que detém é restrita à etapa que desenvolve, perdendo a dimensão do todo. Nessa forma de produção aposta-se no controle extremo do processo de trabalho como forma de garantir eficiência máxima e lucratividade à empresa. Foi demonstrado que mesmo nas indústrias, onde prevalece o trabalho operário e manual existe a possibilidade de modificações do trabalho pelo trabalhador. Logo percebemos a existência de uma tensão, pois mesmo sendo criativo é possível capturar o trabalho humano, e ainda sendo capturado é possível que seja reinventado, modificado, pela ação e criatividade humana. Essa possibilidade de adaptação, de haver um espaço onde se possa fazer investimento, demonstrar sua capacidade e ter reconhecimento é extremamente importante para a motivação, sendo um componente de proteção, satisfação e de saúde mental do trabalhador. Voltando para a natureza e a constituição dos diferentes tipos de trabalho, pode-se buscar uma comparação entre o trabalho em uma fábrica onde são produzidos medicamentos anticoncepcionais e o trabalho de educação em saúde que os ACS realizam com as adolescentes no território. Nesses dois tipos de trabalho existem semelhanças e diferenças. Os elementos presentes tanto na produção de medicamentos como no trabalho de educação em saúde realizado pela equipe da unidade de saúde são semelhantes (matéria prima, saberes, ferramentas, organização produtiva), mas o conteúdo e a dinâmica de cada etapa revelam as diferenças. A relação que se estabelece entre trabalhador e usuário é diferente da relação entre operário e os insumos para a produção de medicamentos. A matéria prima dos medicamentos pode ser totalmente tomada pelo trabalhador como objeto. Já os usuários, em parte, são tomados como objeto dos serviços de saúde, mas não podem ser totalmente contidos nessa relação, pois no ato de produção da saúde eles também são sujeitos. Merhy (1997) define essa relação ente trabalhador e usuário como relação intercessora, uma relação entre sujeitos, onde há um espaço relacional passível de trocas, intersubjetividades, e circulação de afetos. Dado à natureza humana e relacional que prevalece no trabalho em saúde, pode-se dizer que esse trabalho é marcado pelo trabalho vivo em ato. Na situação-problema a equipe se reúne para refletir e repensar as práticas, na busca pela solução dos problemas identificados. Os trabalhadores pensam, pesquisam, analisam e buscam construir novas práticas. Isso pode ser considerado um trabalho vivo em ato, pois não está cristalizado e acabado. O trabalho vivo é o trabalho em si no ato da produção. O trabalho morto consumiu o trabalho vivo e encontra-se acabado, pronto para ser utilizado como um produto, como os medicamentos produzidos pela fábrica (MERHY, 1997). As Tecnologias do Trabalho em Saúde Tecnologia para o senso comum equivale a máquinas modernas. No trabalho em saúde não lidamos apenas com máquinas, nos utilizamos delas para intervir em determinadas situações, mas em outras usamos conhecimento estruturados, como a clínica e o exame físico do paciente. Observando o trabalho em saúde pode-se perceber tecnologias de diversas naturezas. As tecnologias do trabalho podem ser definidas em saúde como a interrelação com as tecnologias leves, leves-duras e duras (MERHY, 2002). As tecnologias leves são as tecnologias para atuar no campo relacional, como no acolhimento, vínculo e na gestão de processos. Olhando para a nossa situação-problema a capacidade de conduzir a reunião de forma produtiva, capaz de motivar os participantes, pode ser considerada uma tecnologia leve. As tecnologias leve-duras serão, por exemplo, acionadas quando os agentes de saúde estiverem conversando com as adolescentes no território, lançando mão de seus saberes bem estruturados sobre métodos contraceptivos, e ao mesmo tempo buscando fazer uma escuta e compreensão das necessidades trazidas pelas adolescentes, para a construção de Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Merhy (1997), traz como principal diferença para o trabalho em saúde o fato de que seu produto final não é um produto acabado, que poderá ser consumido distante do momento de produção. O produto do trabalho em saúde resultante da interação entre trabalhador e usuário é produzido e consumido em ato. 49 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe vínculo e a troca de conhecimentos no processo educativo. A tecnologia dura, por exemplo, no caso de uma gravidez na adolescência, pode ser o ultrassom utilizado no acompanhamento do pré-natal (MERHY, 2002). A todo tempo estamos combinando o trabalho vivo com o trabalho morto. O trabalho em ato se faz a partir de um trabalho pré-existente, que foi consolidado. Nós usamos os saberes estruturados da clínica e da epidemiologia nos nossos atos de saúde, ao mesmo tempo que acolhemos e escutamos. O nosso trabalho é feito ao mesmo tempo de rotinas e singularidades, do caso que se repete por várias vezes e do diferente e inusitado. O interessante é perceber que nas interrelações do trabalho vivo/trabalho morto e nas composições tecnológicas que dispomos e podemos combinar tecnologias leves, leve-duras e duras podem afetar o resultado e o sentido do trabalho em saúde. Uma das coisas que se pode deduzir é que o trabalho em saúde, por sua característica relacional, por ser produzido e consumido em ato, é marcado pelo trabalho vivo, pois esse espaço relacional é de difícil captura por métodos de controle do trabalho. 50 Por ter uma dimensão que é de difícil captura podemos dizer que o trabalho em saúde também dispõe de um alto grau de autonomia. Apesar do alto grau de autonomia e da possibilidade de presidir o trabalho em saúde como um ato vivo aberto às necessidades dos usuários, a depender da forma como seja concebido, gerido, organizado e desenvolvido, o trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto. Se o sistema de saúde passa a dar valor extremo aos atos de produção de consulta e exames, se concentra sua valorização em procedimentos que envolvam exclusivamente tecnologias duras, pode-se estar favorecendo uma dimensão do trabalho em saúde que é focado nos procedimentos, onde domina o trabalho morto, em detrimento do cuidado onde presidiria o trabalho vivo. Compreender as diversas formas de tecnologia permite que fiquemos atentos para formas de saberes menos estruturados e tão necessários na prática do dia a dia. A formação dos profissionais de saúde traz forte peso nos saberes estruturados, porém no trabalho em saúde sentimos a necessidade de conhecer formas de acolher, produzir vínculo e autonomia, o que aponta para a necessidade de dominarmos tecnologias do campo relacional, e de perceber que essas tecnologias existentes têm uma importância fundamental no nosso trabalho. Para o trabalho em saúde as tecnologias leves têm uma importância fundamental, pois elas estariam sendo utilizadas em situações em que o processo produtivo não está amarrado, demandando a capacidade de reconstrução e criação em ato. Por meio das tecnologias leves pode-se interrogar o trabalho em saúde, abrindo brechas para construção de novos procederes, ou novas formas de atuar. É partindo do pró- O Trabalho em Equipe Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde prio processo de trabalho que é possível iniciar transformações, não precisando que as forças transformadoras venham sempre de fora para dentro. Pode-se e deve-se apostar nessa capacidade que tem o trabalho vivo de se expressar. 51 O trabalho em equipe tem assumido importância significativa dentro de modelos assistenciais onde se aposta na capacidade de desenvolver o cuidado integral. A possibilidade de vincular uma equipe de saúde aos usuários para acompanhamento longitudinal é fator de qualificação do cuidado e produção de vínculo. O olhar de vários profissionais pode ser um fator de auxílio na clínica ampliada que, além dos aspectos biológicos, dê relevância ao contexto e à singularidade dos sujeitos. No cuidado desenvolvido por equipes que compartilham os casos e as situações em comum, pode-se construir um olhar integral sobre os sujeitos e articular projetos terapêuticos singulares. Na situação-problema aparecem as dificuldades e a potência do trabalho em equipe. Vários saberes se cruzam e articulam em uma lógica interdisciplinar, que aumenta a compreensão do objeto e constrói possibilidades de novas intervenções. Acompanhamento ao longo do tempo. Diz respeito a uma prática clínica que considera os aspectos sociais e psíquicos relacionados com a saúde e doença. Busca-se fazer uma contraposição à clínica degradada, com foco na queixa-conduta, onde prevalece o procedimento sobre a atenção integral (CAMPOS, 2003). O Projeto Terapêutico Singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. Geralmente é dedicado a situações mais complexas (BRASIL, 2009). Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe A Micropolítica do Trabalho em Saúde Como visto no texto anterior o trabalho em saúde, por ser produzido em ato, e realizado em um espaço relacional, permite que os trabalhadores gozem de um certo grau de autonomia. É possível capturar etapas dos processos produtivos, mas não de forma completa em seu conteúdo e dinâmica. Por essas características, ainda que organizados sobre um modo de produção que separe o planejamento da execução, a ação da reflexão, mesmo que os processos analíticos e decisórios sejam centralizados, a autonomia que marca o trabalho em saúde se expressa de modo que todos os atores governam e disputam a direcionalidade do sentido do trabalho em saúde. Os gestores e governantes podem ter uma capacidade de controle maior do que acontece no cenário da produção da saúde, na medida em que controlam políticas, normas e financiamentos. Porém, eles não governam sozinhos, pois dividem a direcionalidade com os demais atores envolvidos na ação. Os interesses e desejos dos diferentes atores que se manifestam no trabalho vivo e nos microespaços decisórios no cotidiano geram tensões e produzem coletivos organizados e sujeitos protagonistas, constituindo, assim, a micropolítica do trabalho em saúde (MERHY, 1997). 52 Como forma de lidar com a micropolítica do trabalho em saúde, propõe-se a construção de espaços coletivos e públicos, onde os diversos interesses e desejos dos diferentes autores possam se manifestar, e estarem em disputas, sendo redirecionados ao sentido principal dos serviços de saúde, que é de atender às necessidades de saúde dos usuários. Os espaços coletivos de gestão e decisão são espaços com funções diversas (CAMPOS, 2000), de natureza política, analítica, pedagógica e gerencial. São espaços de natureza política e gerencial porque permitem a disputa pela direcionalidade do trabalho em saúde, o compartilhamento do poder nas instituições bem como das decisões gerenciais. São espaços analíticos e pedagógicos pois permitem o compartilhamento das experiências, a análise situacional, a emergência da visão de mundo dos sujeitos, bem como a compreensão da necessidade e a aquisição de novas tecnologias para o trabalho. Esses espaços coletivos de gestão podem assumir a forma da educação permanente, espaços de análise e apoio institucional, de colegiados de gestão. Espaços duradouros, ou pontuais que possam se construir sob a forma de gestão participativa. É produzindo e manejando tensões, mas também compartilhando sentidos, e mobilizando coletivos em torno de projetos, onde possam expressar dificuldades, desejos, e investir de forma criatividade, que podemos construir um sentido de comprometimento com a vida e satisfação dos usuários, além do sentimento de realização dos trabalhadores envolvidos com a produção na saúde. Observem as figuras do Anexo 2, socializando com o grupo as percepções que resultarem da observação das imagens. Algumas Ferramentas Analisadoras do Trabalho em Saúde As ferramentas analisadoras auxiliam o olhar para interrogar o processo de trabalho. Permitem a observação de tensões, conflitos, ruídos que estão presentes na micropolítica do trabalho em saúde. São ferramentas que podem ser comandadas pelo trabalho vivo e podem auxiliar na reconstrução dos processos de trabalho e mudança das práticas. Podem envolver na construção da análise do ambiente de trabalho diversos atores e ser processadas de modo coletivo, tendo potencial autopedagógico, favorecendo os processos reflexivos da equipe. Ruídos são gerados como o resultado de pactos não cumpridos, de insatisfações e questionamento sobre o processo de trabalho e seus resultados, que não são tornados públicos, e por isso não são devidamente trabalhados em um espaço de gestão. Os ruídos ressoam nos “corredores” dos serviços de saúde e das organizações (MERHY et al, 1997). Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde ATIVIDADE 7 53 O Fluxograma Analisador O fluxograma analisador (MERHY et al, 1997) é uma ferramenta que possibilita a descrição do processo de trabalho, destacando a entrada, as etapas do processo de trabalho, os momentos de decisão e as saídas. O fluxograma é formado por figuras geométricas, representando cada uma dessas etapas. O círculo representa a entrada e a saída; o losango, os momentos de decisão; e o quadrado, as etapas do processo de trabalho. Significa o início ou o fim da cadeia produtiva, ou seja, entrada ou saída de algum serviço. Significa etapa – o momento importante da cadeia produtiva no qual ocorre consumo de recursos e produção de produtos bem definidos. É o momento de decisão, que sempre oferece dois caminhos, etapas diferentes. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe A montagem de um fluxograma analisador busca reconstruir o caminho do usuário dentro do serviço de saúde, por isso pode-se dizer que ele é usuário centrado, pois toma a trajetória do usuário dentro dos serviços como seu foco de análise. Na construção de um fluxograma pode-se tomar um caso que seja representativo da rotina do serviço. A rota percorrida pelo usuário é representada no fluxograma analisador, que no momento de construção pode contemplar informações dos pacientes, dos gestores, e trabalhadores, enfim dos atores que estejam participando do momento da elaboração. Construído o fluxograma pode-se levantar pontos a serem questionados e ruídos a serem problematizados junto à equipe de saúde. Neste momento de análise vários aspectos do trabalho podem ser observados, como os modelos assistenciais colocados em prática, trabalho em equipe, tecnologias utilizadas pela equipe, acesso, vínculo, cuidado continuado, integralidade, produção de autonomia. O fluxograma ajuda a perceber como se dá o cuidado prestado na prática dos serviços, contribuindo para colocar em análise as diretrizes do modelo assistencial anunciado, mas nem sempre efetivado. Além do processo em si ser pedagógico para o coletivo, a análise pode levantar problemas a serem trabalhados em vários campos de saberes como o planejamento e apontar demandas de capacitação e formação profissional. 54 Na construção do fluxograma analisador sugerimos que a equipe solicite apoio institucional, uma vez que é importante ter alguém que conheça a aplicação da ferramenta e ao mesmo tempo possa ofertar um olhar externo ao processo de trabalho da equipe. Casos para Estudo Na nossa situação-problema a escolha dos casos que serão levantados pelos trabalhadores pode ser realizada, inicialmente, de forma aleatória; depois eles podem fazer uma segunda seleção, mais refinada, escolhendo os casos cujas características possam contribuir com os objetivos da reunião e ir aprofundando o estudo sobre o caso de acordo com as necessidades de aprendizagem da equipe. O mais importante na escolha dos casos é definir bem os critérios, os quais possam ajudar a alcançar os objetivos traçados. Os casos para estudo podem ter formas de aplicações diversas, o que irá depender dos objetivos que orientam a análise e o estudo. Podem ser utilizados como uma forma de compreender melhor as necessidades de saúde e o contexto em que essas necessidades se expressam; contribuir na análise do processo de trabalho, permitindo a reflexão e revisão das intervenções realizadas; enfim, podem servir a processos analíticos e pedagógicos. Um exemplo da utilização dos casos para a análise dos serviços de saúde é o estudo do “Evento Sentinela”, que se constitui em um evento de saúde evitável, por exemplo: morte de criança no território da equipe do PSF por desnutrição e diarreia. A morte é evitável porque dispomos de tecnologia para combater esses agravos e porque a área tem Na ocorrência do evento-sentinela, deverá ser disparada uma série de investigações para analisar o que nesta situação favoreceu a ocorrência de casos dessa natureza. No dia a dia dos serviços não precisamos esperar que ocorram eventos sentinelas, para parar e observar a qualidade do nosso trabalho. Podemos ao contrário buscar analisar casos que sejam comuns, que reflitam a rotina dos serviços. Esse tipo de caso, se bem caracterizado, poderá ser bastante esclarecedor sobre a responsabilidade dos profissionais envolvidos, sobre as etapas do processo de trabalho desenvolvido, das tecnologias utilizadas e da articulação do trabalho da equipe para a efetivação do cuidado. Para a identificação de problemas e ruídos os casos tanto podem ser articulados ao fluxograma analisador como também a outras ferramentas de análise do processo produtivo como veremos a seguir. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde cobertura de equipe de saúde o que favoreceria o acompanhamento do caso e a detecção de situações graves. Descrição do Saber Tecnológico Conforme já citado anteriormente, tecnologia ou saber tecnológico é um modo de saber fazer. Consiste em articular um conjunto complexo de saberes e profissionais em torno de uma organização produtiva. Também já foi dito que as tecnologias em saúde podem ser do tipo leve, leve-dura e dura. Como vimos, para auxiliar na análise do processo de trabalho devemos buscar ferramentas que contribuam para explicitar o que fazemos de forma rotineira, a fim de que possamos visualizar o nosso saber-fazer e a partir daí levantar questionamentos e problemas vivenciados no dia a dia. Na descrição do saber tecnológico propomos a descrição das etapas e dos conteúdos do processo de trabalho, através de algumas questões que podem ser organizadas em uma planilha, de modo a representar as tecnologias que utilizamos para a sua execução. Como tecnologia o processo de trabalho em saúde pode ser descrito na perspectiva da organização produtiva: Quem faz? O que faz? O que precisa para fazer? Etapas do Processo Produtivo O que faz? Descrição do conjunto de atividades realizadas. Quem faz? Identificar os profissionais responsáveis. O que precisa para fazer? Recursos necessários à ação como saberes, ferramentas, insumos materiais. 55 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe O trabalho pode ainda ser descrito a partir do seu conteúdo. Tomando-se as necessidades de saúde individuais e coletivas, o trabalhador/equipe deverá identificar essas necessidades, compreender e significá-las, e posteriormente intervir. Após a intervenção, de um modo geral, deverá ocorrer o monitoramento da ação. De acordo com seus conteúdos, poderíamos definir as etapas do processo de trabalho nos seguintes momentos: identificação, compreensão e significação, intervenção e monitoramento. Etapas do Processo Produtivo Identificação: Momento de detecção e reconhecimento das necessidades de saúde individual ou coletiva. Essa identificação pode se dar no acolhimento na Unidade Básica de Saúde – UBS ou no território. Poderá ser resultado de busca ativa de casos, através de campanhas de captação e diagnóstico precoce, por exemplo: campanha da mancha para identificação de hanseníase. Poderá ser resultado da análise das informações de saúde, por exemplo: alto índice de adolescentes grávidas, detectadas pelo SIAB1. Poderá ainda ser o resultado de uma demanda do Conselho de Saúde. Compreensão e Significação: 56 Refere-se à compreensão dos sentidos e significação das necessidades apresentadas, definição de um diagnóstico, compreensão do contexto social e psíquico do caso, bem como delimitação de riscos e vulnerabilidades, e por fim elaboração do projeto terapêutico ou plano de intervenção. Intervenção: Consiste em colocar em ação as várias tecnologias disponíveis em saúde: visitas domiciliares, ações coletivas no território, atendimento individual nos serviços de saúde, ações programáticas, ações coletivas nos serviços de saúde, vigilância em saúde, análise de informação em saúde, reunião de equipe, discussão de caso, planejamento, participação social e articulação intersetorial. Essas ações deverão ocorrer em um plano articulado e projeto terapêutico integrado. Monitoramento: É o acompanhamento da ação ao longo do tempo, com observação dos resultados da intervenção. No caso do cuidado continuado muitas vezes o monitoramento faz parte da intervenção. Algumas necessidades de saúde como a hipertensão arterial, por exemplo, exigem cuidado continuado e as ações como as consultas individuais, as ações coletivas que se realizam ao longo do tempo, em uma linha de cuidado. Assim, estarão ao mesmo tempo produzindo uma intervenção e realizando um monitoramento. No Estado de Sergipe, utiliza-se a nomenclatura Clínica de Saúde da Família. Uma descrição mais detalhada poderá ser encontrado no Livro “Atenção Básica no Estado de Sergipe” desta coleção. 1 SIAB Sistema de Informação da Atenção Básica: é o sistema de informação utilizado pelas equipes do Programa Saúde da Família, onde são registrados os cadastros das famílias, os dados de acompanhamento das gestantes, hipertensos, diabéticos e pacientes portadores de Hanseníase e Tuberculose. Também compõe o SIAB o Cartão da Criança e o registro das ações dos Agentes Comunitários de Saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares de enfermagem. A compreensão e a significação envolvem os nossos saberes, que podem ser estruturados e não estruturados, e como vimos muitas vezes são desenvolvidos no ato do cuidado em um trabalho vivo. As nossas concepções do processo saúde-doença e de cuidado são determinantes para fazermos a abordagem da necessidade de saúde para olharmos o objeto e definirmos com quais tecnologias iremos intervir. É nesse momento que se define, a partir da compreensão do profissional ou da equipe, qual a intervenção que será realizada. É o momento das equipes agenciarem as suas caixas de ferramentas. Essa descrição das etapas do processo de trabalho possibilita a tomada de consciência do seu conteúdo. É uma ferramenta importante para a organização dos processos de trabalho das equipes e dos serviços e contribui para a desalienação do trabalhador. Nas ações de educação permanente do Centro de Educação Permanente da Saúde de Aracaju, realizadas no período de 2002 a 2006, lançou-se mão de uma planilha para descrição dos saberes tecnológicos que permitia sistematizar e revelar a organização do processo de trabalho da equipe e das tecnologias utilizadas na sua operacionalização (SANTOS, 2006). A planilha traz na horizontal uma sequência que organiza o saber-fazer nos momentos de identificação, significação, intervenção e monitoramento de uma ação produtiva em saúde. Na vertical traz a sequência da descrição operacional da ação: Quem faz? O que faz? O que precisa para fazer? Quanto às formas de aplicação, a planilha pode ser utilizada como um instrumento para: complementar os estudos de casos; sistematizar e organizar das etapas produtivas do processo de trabalho; clarear a definição de papéis e promover a percepção de saberes necessários ao desenvolvimento da atuação dos profissionais. Descrevendo os saberes tecnológicos Caso: A equipe do PSF de Piranjópolis está preocupada com os altos índices de gravidez na adolescência. Apesar de disponibilizar o programa de planejamento familiar, a ação preventiva junto às adolescentes da área não está surtindo o efeito desejado. De posse de dados do SIAB a equipe definiu um plano de intervenção articulado que consistia em várias ações: levantamento do perfil social epidemiológico das adolescentes grávidas; organizar casos para estudo a fim de ampliar a compreensão da equipe sobre o contexto de saúde; convidar adolescentes para grupo de pré-natal, pautado na escuta, motivação e expectativas das adolescentes; organizar ações junto à escola. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Sobre a análise dos conteúdos do processo produtivo percebemos que a etapa de compreensão e significação é transversal a todo o processo, pois desde o momento da identificação até o momento do monitoramento estamos buscando escutar, compreender e dar significado às necessidades apresentadas pelos usuários. 57 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Planilha do saber tecnológico Abaixo uma exemplificação da descrição do Saber Tecnológico desenvolvido pela equipe no caso acima apresentado, para a ação do ACS: ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO O que faz? Identificação Significação Intervenção Monitoramento - Registra os casos identificados nas visitas domiciliares e no território. - Discussão e análise da situação de saúde e informações sobre as adolescentes grávidas no território; - Levantamento do perfil epidemiológico dos casos existentes no território; - Manutenção do registro dos casos identificados no território; - Avaliação e análise da situação de saúde orientadas pelos dados levantados junto aos sistemas de informação em saúde; - Avaliação a partir das informações levantadas nas ações individuais e coletivas realizadas na UBS e no território; - Avaliação das entrevistas coletadas junto às adolescentes grávidas. - Analisa e reconhece os dados no SIAB e demais sistemas de informação em saúde; - Estudo e discussão dos casos junto à equipe. - Entrevista com adolescentes grávidas sob cuidados; - Organização de casos para estudo; - Discute os casos na reunião da equipe. - Manutenção do registro dos casos no território; - Ações educativas no território e unidade de saúde. 58 Quem faz? O que precisa para fazer? (Ferramentas, Saberes, Insumos físicos e materiais). - ACS Juntamente com a enfermeira e demais membros da equipe. - ACS e equipe. - ACS e equipe. - Conhecimento do território; - Material e planilha para registro dos casos identificados; - Acesso e compreensão das informações de saúde; - Espaço para discussão dos casos junto à equipe. - Compreensão dos dados levantados e das informações em saúde disponível para análise; - Espaço para discussão dos casos em equipe. - Questionários que organizem o levantamento do perfil epidemiológico e para as entrevistas com as adolescentes gestantes; - Conhecimentos sobre educação em saúde; - Conhecimento sobre Planejamento Familiar; - Conhecimento do território. - ACS e equipe. - Conhecimento do território; - Compreensão dos dados levantados e das informações em saúde disponíveis para análise; - Espaço para discussão dos casos em equipe. Comentários: a Planilha foi descrita com foco na ação do Agente Comunitário de Saúde. A descrição do processo de trabalho dos demais profissionais que participam da ação permite contemplar a amplitude e a diversidade de tecnologias mobilizadas. Sugerimos a leitura do texto “Refletindo sobre o ato de cuidar da saúde” que traz de forma didática e prática a experiência de análise do processo de trabalho em saúde com o uso do fluxograma analisador. Autores: Aluísio Gomes da Silva Júnior; Emerson Elias Merhy, Luís Cláudio de Carvalho. Disponível: http://www.uff.br/cedoc/arquivos/9.pdf ATIVIDADE 8 Nos subgrupos retomem o problema identificado e processado na atividade 5. 2.2. Desenvolvendo ações de Educação Permanente em Saúde Definidas as necessidades de aprendizagem, a próxima etapa é a construção de uma ação pedagógica. Na atividade 5 foi proposto um exercício que explorasse um planejamento inicial para o desenvolvimento de uma ação pedagógica. Apresentamos outras questões que poderão ser acrescentadas ao roteiro inicialmente elaborado e que vão surgindo a medida que se avança no desenvolvimento da ação: • Qual o objetivo da ação? • Quais os interesses desse público? • Que necessidades essas pessoas trazem para o processo de ensino-aprendizagem? • O que já sabem sobre o assunto e sobre outros que estejam correlacionados? • Como motivar a participação de todos? • Existe algo inerente ao seu objeto (matéria) que tende à organização progressiva do seu conteúdo? • Que mudanças na instituição serão foco da ação educativa? • Que pactos serão necessários para o fechamento da proposta? • Como esses possíveis pactos serão recebidos pelo pessoal do serviço, ou da gestão? • Que consequências os novos pactos trarão para gestão e trabalhadores? • Como a mediação pedagógica pode auxiliar na produção da pactuação coletiva? • Qual o perfil dos facilitadores capazes de assumir tal mediação e interlocução? • Como fazer a preparação desses facilitadores? Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde 88 Sugestões de Leitura 59 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam mediatizados pelo mundo” (Paulo Freire). Trabalho e educação 60 Considerando que todo trabalho é mediado por tecnologias, e dependendo de como estas são manejadas, podemos produzir trabalhos mais criativos, humanizados, centrados nas relações, ou trabalhos mais presos a uma lógica estanque e, por isso mesmo, mortificada, danificando a produção do cuidado ofertado. Kuenzer (2002), entende o homem como um único ser na natureza que pensa sobre sua ação e planeja a execução para determinados fins. Portanto, segundo a autora, é inadmissível que: o operário, que nada mais é do que força de trabalho, empregue todo seu tempo disponível a serviço da produção ampliada do capital, não dispondo de qualquer tempo para educação, para o desenvolvimento intelectual, para preencher funções sociais, para o convívio social, para o livre exercício das forças físicas e espirituais (KUENZER, 2002, p.47). Assim, caberá ao aluno-trabalhador uma nova codificação da atividade laboral, que tende a exigir um trabalhador diferenciado, que não se encaixa no perfil do operário especializado, que se limita a conhecer e repetir os procedimentos restritos e rotineiros de um determinado posto de trabalho, favorecendo uma nova configuração do trabalhador comprometido e convocando-o irremediavelmente para o centro dos processos de trabalho, os quais devem servir de conteúdo para qualificação. A educação é, nesse sentido, o deslocamento e a transformação dos parâmetros do pensamento, a modificação dos valores recebidos e todo trabalho que se faz para pensar de outra maneira, para fazer outra coisa, e se tornar diferente do que se é (FOUCAULT, 1980). Por isso, é preciso considerar os níveis de singularização e construções coletivas que impliquem em invenções de mundo, estimulando o protagonismo e, acima de tudo, a criatividade. Para projetos de mudanças na área da saúde há que se reconhecer a força transformadora dos processos de trabalho que devem ser tomados, como um dos principais focos de intervenção. A educação permanente em saúde, conforme já discutido no início do texto, nasce de uma corrente de pensamento que modifica concepções tanto da educação como do trabalho. Passa-se a valorizar o adulto como sujeito da educação (tradicionalmente centrada na criança) e todo um conjunto de práticas e tecnologias desenvolvidas no trabalho como um espaço privilegiado de aprendizagem e de produção de conhecimento (DAVINI, 2009). Os conhecimentos que se originam na ação passam a ser valorizados, esses podem ser verificáveis e acumuláveis com níveis crescentes de consciência quando associados a uma ação reflexiva (SHÖN, 1994, apud, DAVINI, 2009). A Ferramenta para fazê-lo é a observação consciente, verbalizada, do processo de reflexão cuja prática é fundamental. Ela permite questionar nosso conhecimento prático e refazer a própria ação que conduz a essa situação não esperada. A reflexão abre caminhos para a experimentação de outras ações para encarar o fenômeno observado: imaginam-se alternativas e inventam-se provas que conduzem à soluções de problemas e testam a própria percepção (DAVINI, 2009, p. 50). O fato de tomar o ambiente do trabalho como local de aprendizagem, e o saber como ação importante para a educação permanente diferenciada do modo e do local onde esta poderá ocorrer, amplia as possibilidades de realização da educação para além das salas de aula ou do ambiente de capacitação. A educação permanente se aproxima no campo da educação de referenciais teóricos e práticas voltadas para a educação de adultos. Passa a valorizar metodologias que permitam articular a teoria à prática, considerando a realidade e seus desafios como eixos orientadores do processo de aprendizagem. A Aprendizagem Significativa O grande desafio de uma proposta de ensino é desenvolver reflexões e questionamentos do tipo: como lidar com as necessidades de aprendizagem dos alunos-trabalhadores? O que deve ser ensinado? Que saberes serão significativos para sua aprendizagem? Quais são os interesses, frente aos conflitos sociais que se vivenciam? As situações didáticas são pontos fundamentais para desencadear o processo de aprendizagem. O docente, ao criar condições para que o aluno possa sentir – pensar – agir, promove a integração dos conteúdos, dos alunos entre si, e a relação professor – alunos. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Essa capacidade do trabalhador reinventar o próprio trabalho traz novas perspectivas e enfoques para o campo da educação na saúde. Ou seja, pode-se aproveitar essa força do trabalho vivo, como orientador de todo o conjunto de tecnologias e diretrizes, nas propostas de implantação de novos modelos assistenciais. 61 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 62 É preciso que a ação educativa esteja pautada na vivência dos aprendizes, oportunizando a elaboração de novos conceitos, a resolução de problemas e a tomada de decisões, tanto individual como coletivamente. Assim, dizemos que esse processo tem como resultados as aprendizagens significativas desses alunos. A proposta de trabalho, a partir da vivência do aluno, tanto oportuniza a sua participação nas atividades, como facilita sua aprendizagem. Ele consegue relacionar o que “já sabe” com a situação didática que lhe está sendo proposta para a construção de um novo conhecimento (LOMONICO, 2003). A aprendizagem significativa busca relacionar de maneira substantiva os novos conhecimentos aos conhecimentos prévios do aprendiz. Nesse tipo de aprendizagem busca-se trabalhar com conceitos e experiências que possam utilizar como base um “ancoradouro”, representados pelos saberes e experiências que o aprendiz já sedimentou em sua estrutura cognitiva (AUSUBEL, 1963, 1968, 1978 apud MOREIRA, 1999). Ausubel diferencia essa forma de educação com a aprendizagem mecânica (ou automática), na qual as novas informações são apreendidas sem interagir com conceitos e experiências prévias dos educandos. “Isto é, a nova informação é armazenada de maneira arbitrária e literal, não interagindo com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo para a sua elaboração ou diferenciação.” (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999, p. 13 a 14). Ausubel chama atenção para a aprendizagem por recepção e por descoberta. Na aprendizagem por recepção o conteúdo é apresentado na sua forma final; já na aprendizagem por descoberta o conteúdo principal deverá ser descoberto pelo aprendiz. Para que a aprendizagem seja significativa tanto em um, como no outro caso, é necessário que haja uma relação entre os novos conhecimentos apresentados, ou descobertos, com os conhecimentos prévios dos aprendizes (AUSUBEL apud MOREIRA, 1999). Paulo Freire (1971/1997) ATIVIDADE 9 Assista ao clip do “Pink Floyd – Another Brick in the Wall” para posterior discussão. A educação como prática de liberdade e transformação Paulo Freire, educador brasileiro, trabalhou com a educação de adultos, desenvolvendo uma pedagogia com concepção crítica da educação e um método de alfabetização de grande potência. Em 1968 Freire escreveu a obra ‘Pedagogia do Oprimido’, onde propunha uma prática pedagógica capaz de trazer à consciência das classes oprimidas a sua situação no mundo, desmistificando, ou desconstruindo o saber ingênuo sobre os mecanismos de dominação de uma classe sobre foi um dos mais importantes pensadores brasileiros. Trabalhou na área da Educação Popular, voltando-se para a escolarização e a formação da consciência. Influenciou o movimento da Pedagogia Crítica. O livro Pedagogia do Oprimido foi uma das suas principais obras, tendo sido escrito em 1968. Na concepção crítica da educação importa questionar os pressupostos entre os arranjos sociais e os educacionais. A Educação é questionada como uma forma de manutenção de uma estrutura social (status quo), ao mesmo tempo em que se coloca para a educação o sentido da transformação social (SILVA, 2007). Freire trabalhava com o conceito da aprendizagem significativa, onde todo o processo pedagógico era construído em torno do ambiente cultural do educando. Freire também fez críticas à educação bancária, e a define como uma educação baseada no depósito do conhecimento do professor sobre o aluno. Nessa educação o conhecimento não é contextualizado com as experiências dos educandos, e tampouco traduz a realidade como um todo, mas apenas fragmentos, não podendo dessa forma se tornar significativo. A crítica de Freire a essa concepção de educação é o fato dela ser baseada exclusivamente na memorização, cujo papel é de manter os homens alienados, distante do verdadeiro saber e dos significados das coisas. O aluno é um ser passivo que apenas recebe os conhecimentos, o professor é ativo e detém todo o conhecimento. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde a outra. Ao mesmo tempo promovia uma aprendizagem que favorecesse a colaboração, a união e organização como uma base para movimentos sociais e de libertação das classes oprimidas. 63 Na educação bancária a relação educando/educador e saber se estabelecem da seguinte forma (FREIRE, 2004, p.59): 1. o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; 2. o educador é o que sabe; os educandos os que não sabem; 3. o educador é o que pensa; os educandos, os pensados; 4. o educador é o que diz a palavra; os educandos os que a escutam docilmente; 5. o educador é o que disciplina; os educandos os disciplinados; 6. o educador é o que opta e prescreve a sua opção; os educandos, os que seguem a prescrição; Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 7. o educador é o que atua; os educandos os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do educador; 8. o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta escolha, se acomodam a ele; 9. educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações daquele; 10. o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos. A Educação Problematizadora Para superação da concepção bancária Freire propõe a educação problematizadora. O saber é o resultado de uma ação ativa que se inicia com o olhar do homem sobre o mundo, ao mesmo tempo admirando e estranhando o desconhecido, seguido de questionamentos e da construção de significados, que não se realiza de forma isolada, mas juntamente com outros olhares. Nessa concepção pedagógica o homem é um ser em relação com o mundo, capaz de contemplar, e também de “investigar”, interrogando e refletindo sobre sua realidade e os objetos que o cercam. 64 Esse processo de conhecer o mundo do homem não é um processo solitário. Ele o faz com outros, em uma relação de diálogo. O diálogo é colocado por Freire como a essência da educação como prática de liberdade. Esse diálogo, cujo propósito é pedagógico, é diferenciado do debate ou da simples troca de informações entre duas pessoas. Consiste em permitir que as pessoas possam colocar seus conhecimentos e experiências, ao mesmo tempo em que interrogam sobre o objeto. Nesse encontro a aprendizagem vai se dando como um processo construído a partir dos saberes e questionamentos do grupo, como algo que foi construído em comunhão. Os novos conhecimentos a serem socializados pelo docente, ou adquiridos a partir da pesquisa dos alunos, devem ser inseridos de modo a estar articulados aos saberes e experiências do grupo. O docente também aprende nessa experiência com o grupo, pois diante das diversas visões de mundo que serão colocados pelos alunos, que são referenciadas a uma dada realidade e diante dos novos questionamentos que surgem, o docente tem a oportunidade de reconstruir seu próprio saber. Para que o diálogo se estabeleça é necessário que haja uma relação de reconhecimento do outro, da sua humanidade, do direito a pronunciar a palavra, da sua condição de sujeito portador de saber, de ser e de pensar de forma diferente. É importante a compreensão de que somos seres históricos, logo existe passado, presente e futuro. Com a temporalidade vem a mudança, logo a vida está associada à mudanças e os homens podem interferir na realidade. A partir da reflexão, do pronunciamento da nossa palavra é possível melhorar o homem e o mundo. Assim a educação é compreen- A palavra do diálogo é práxis, resulta da articulação da ação com a reflexão, da prática com a teoria, da experiência com o conhecimento. Teoria - Prática Prática - Teoria Prática - Teoria Teoria - Prática Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde dida como uma prática de transformação do mundo e uma prática de libertação. O Currículo na Concepção problematizadora da educação proposta por Freire era construído a partir dos temas geradores. Esses temas eram identificados no momento de interação entre os educandos e educadores, mediante questionamentos ao contexto de vida e às “situações-limites”, que representavam uma barreira ao bem estar e crescimento de uma dada comunidade. Esses temas geradores eram organizados a partir dos temas mais gerais aos mais particulares. Vários dos princípios pedagógicos apresentados por Freire em sua Pedagogia podem ser trazidos para o momento de construção de uma experiência da educação permanente. Ainda na situação-problema é possível perceber vários desses princípios sendo vivenciados no processo de problematização do trabalho da equipe da UBS sobre situações concretas da prática. ATIVIDADE 10 Em grupo, sigam as orientações do facilitador e construam com o material disponibilizado uma escultura que represente seu conceito de educação. 65 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Aprender com o índio “Há muitos anos nos Estados Unidos, Virgínia e Maryland assinaram um tratado de paz com os índios das seis nações. Ora, como as promessas e o símbolo da educação sempre foram muito adequados a momentos solenes como aqueles, logo depois os seus governantes mandaram cartas aos índios para que enviassem alguns de seus jovens às escolas dos brancos. Os chefes responderam agradecendo e recusando. A carta acabou conhecida porque alguns anos mais tarde Benjamin Franklin adotou o costume de divulgá-la aqui e ali. Eis o trecho que nos interessa: 66 Nós estamos convencidos, portanto, que os senhores desejam o bem para nós e agradecemos de todo o coração. Mas aqueles que são sábios reconhecem que diferentes nações têm concepções diferentes das coisas e, sendo assim, os senhores não ficarão ofendidos ao saber que a vossa ideia de educação não é a mesma que a nossa. ...Muitos de nossos bravos guerreiros foram formados nas escolas do norte e aprenderam toda a vossa ciência. Mas, quando eles voltaram para nós, eles eram maus corredores, ignorantes da vida da floresta e incapazes de suportarem o frio e a fome. Não sabiam como caçar um veado, matar o inimigo e construir uma cabana, e falavam nossa língua muito mal. Eles eram, portanto totalmente inúteis. Não serviam como guerreiros, como caçadores ou como conselheiros. Ficamos extremamente agradecidos pela vossa oferta e, embora não possamos aceitá-la, para mostrar a nossa gratidão oferecemos aos nobres senhores da Virgínia que nos enviem alguns dos seus jovens, que lhes ensinaremos tudo o que sabemos e faremos, deles, homens” (BRANDÃO, 2007, p.8-9). ATIVIDADE 11 Em grupo, leiam a história “Aprender com o índio”, façam registro individual das questões abaixo para posterior apresentação em plenária. Pedagogias problematizadoras A educação pode ser definida como um processo de socialização que permite ao homem passar seus conhecimentos teóricos e práticos sobre a vida em geral, incluindo saberes, técnicas, valores, credos, ideologias e códigos de forma a garantir por meio dela a subsistência do grupo social e a sobrevivência de um modo de vida e cultura por meio das trocas entre as gerações. Pode-se dizer que é um meio pelo qual se busca formar um ideal de homem para uma determinada sociedade. Na história “Aprender com o índio” percebem-se resultados diferentes que podem ser produzidos em um processo educativo. Na medida em que o índio é educado pelo homem branco vai perdendo a sua identidade cultural, dessa forma a educação pode também servir como um instrumento de dominação de uma cultura sobre a outra, ou de um grupo social sobre o outro. Assim, a educação não só forma os homens, mas é um importante meio onde se dá a reprodução das relações sociais, das relações de poder, ajudando a manter ou a transformar a cultura e formas de organização social vigentes. O que motiva as pessoas a participarem de um processo pedagógico? Essa pergunta é central para quem irá realizar um processo pedagógico, pois, esta ação só se faz com o outro e com a sua participação. Não existe uma resposta única para essa pergunta. Vários estudiosos do campo da educação falam desse tema, sem, entretanto, fechar a questão. Como vimos no texto anterior, para Paulo Freire a concepção problematizadora da educação era um caminho de transformação dos homens na sua relação com o mundo e uma transformação do próprio mundo. John Dewey foi um filósofo da educação americano e suas ideias também tiveram forte influência em todo o mundo. Apesar de seu foco de trabalho estar voltado para a criança, existe um ponto em comum entre Paulo Freire e a pedagogia proposta por Dewey que residia na valorização do problema como um dispositivo pedagógico e mobilizador dos sujeitos em um processo educativo. Dentre os princípios da pedagogia proposta por Dewey estava a socialização dos alunos, que deveriam ser educados em meio a valores e atividades que propiciassem a colaboração entre o grupo. A partir de atividades que tinham um objetivo comum, as crianças poderiam desenvolver um senso de solidariedade e respeito, além de desenvolver a noção de responsabilidade social. O convívio desde cedo em uma forma coletiva, com interesses compartilhados era considerado como uma forma de garantir a construção de sociedades democráticas. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde “A educação, em seu sentido mais amplo, é o principal instrumento de continuidade da vida humana” (DEWEY). 67 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 68 Dewey definia a educação como a reconstrução da experiência: a aprendizagem se iniciava partindo da experiência do aluno, e por meio de uma atividade prática que articulasse a experiência com uma ação significativa para a vida em sociedade. Os conhecimentos eram então agregados, possibilitando a compreensão das explicações e da lógica dos fatos. Apesar da ênfase dada à atividade, essa concepção pedagógica não focava a educação como uma aquisição única e exclusiva de habilidades motoras, mas compreendia-se que a educação humana era um produto da socialização, que envolvia a aquisição de valores intelectuais, morais e estéticos. Dewey colocava ainda como um valor para a educação o crescimento humano, no sentido da evolução e da maturidade : aprendemos mais para sermos mais, numa viagem de rota constantemente reinventada, sem ponto final de destino. Educação justifica-se, unicamente, como um instrumento para gerar uma vida mais rica e mais bela, não em um tempo futuro, mas nos instantes plenos e absolutos em que a experiência educativa acontece (DEWEY, apud, PENAFORTE, 2001, p.77). Para que o processo de reconstrução da experiência se desse com uma incorporação da matéria de forma ativa, os alunos deveriam partir de questões e tentar resolvê-las no processo de aprendizagem. Foi essa ideia em particular - de que o método experimental pode ser aplicado a vários tipos de problema – que Dewey estabeleceu como uma abordagem revolucionária para a educação: a ideia de que pensar é resolver problemas, questões. Para Dewey, investigar, pensar e resolver problemas eram o mesmo (TUNER, 1997, p. 83, apud, MOREIRA, 2002, p.96). Percebe-se que as concepções de Dewey e Paulo Freire têm muitas semelhanças e diferenças, o interessante é que ambos falam de problema como um princípio pedagógico. Em ambos pode-se perceber o problema como um elemento motivador capaz de mobilizar os sujeitos, seja questionando sua condição de vida, como vimos na pedagogia libertadora de Freire, seja pensando sobre questões práticas do dia a dia como propõe Dewey. Em ambos há um destaque para o questionamento, a interrogação como um meio de aproximação dos aprendizes aos objetos, relacionando o ato de aprender com um ato investigativo, envolvendo várias funções mentais. A problematização é posteriormente resgatada na formação profissional, inclusive na área da saúde, sob várias formas de articulação desses princípios pedagógicos até então apresentados com uma lógica curricular proposta. Iremos apresentar nessa linha a Metodologia da Problematização, o PBL – A Aprendizagem Baseada em Problemas e a Pedagogia do Fator de Exposição. Reúnam-se em grupo para discussão e registrem em uma folha para posterior apresentação em plenária. 1.Considerando os conceitos trazidos pelo livro e os princípios pedagógicos até então apresentados, como vocês desenvolveriam uma ação de educação permanente para os demais membros da equipe? 2.Formulem um processo avaliativo para ação proposta. Metodologia da Problematização A metodologia da problematização propõe a construção do processo pedagógico a partir de problemas. Os problemas para serem significativos não devem ser elaborados pelos professores ou pelos próprios alunos, mas problemas reais percebidos a partir da observação direta da realidade (BORDENAVE; PEREIRA, 1982 apud BERBEL, 1999). Essa metodologia é uma aplicação dos vários princípios pedagógicos já discutidos nesse texto, tendo como referência a pedagogia de Paulo Freire. Essa proposta tem como compromisso a transformação social. As etapas desse método são descritas na seguinte sequência (BERBEL, 1999): Observação da totalidade problemática: o método inicia-se no momento da observação da realidade e de sua totalidade problemática. Problematização ocorre a partir de um olhar sobre essa realidade realizando um recorte e formulando um problema diante do que causa inquietação, instigação ou do que seja considerado inadequado. Ressalta-se que desde o momento de interação com a realidade, e no diálogo entre docentes e alunos, já se observam transformações e processos de aprendizagem. A forma de ver a realidade e identificar os pontos problemáticos também depende do grupo, de suas diferentes visões de mundo e valores. Levantamento dos pontos chave: nessa etapa os alunos passam a analisar o problema, buscando compreendê-lo e levantando o conhecimento existente do grupo sobre ele mesmo. A partir dessa análise busca-se distinguir o que é relevante do que é mais superficial e contingente do problema. Os pontos relevantes são considerados os pontos chaves do problema. Teorização: esse momento é construído com a busca de informações dos alunos sobre o problema que possam explicar o porquê, o como, o onde. Essa busca deverá ser orientada pelo professor, e poderá contar com várias fontes desde a pesquisa à referência bibliográfica, até o levantamento de informações junto à comunidade e de dados e registros dos serviços. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde ATIVIDADE 12 69 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Elaboração das hipóteses de solução: nesse momento são propostas formas de intervenção sobre a realidade tendo em vista a transformação, com aquisição de novos padrões capazes de levar a superação do problema, de exercitar o compromisso com a ação e fortalecendo a articulação entre teoria e prática. Esse momento irá olhar a teoria analisando a viabilidade e oportunidade de utilização dos vários saberes em contexto real. Retorno à realidade para aplicação das hipóteses de solução: os alunos retornam para aplicar as hipóteses de solução. Nesse momento o aluno terá a oportunidade de confrontar a teoria e hipóteses formuladas à prática. Será o momento de intervenção sobre a realidade, que pode ser realizada de várias formas, desde dando retorno dos estudos e dados à população, até a possibilidade de manejar e exercitar determinadas habilidades. Nesse momento ocorre o fechamento do arco, completando a articulação da teoria à prática, da reflexão à ação. Apesar de ser representado pelo arco, esse processo também não implica um voltar sempre para o mesmo ponto, pois ao reiniciar o arco espera-se que a realidade e a própria visão dos alunos tenham se transformado minimamente, de modo que o novo arco se iniciará em um ponto diferente. As etapas desse método foram organizadas em um esquema representativo, proposto por Marguerez e utilizado por Bordenave e Pereira (1982) que formam o arco da problematização: 70 Arco de Marguerez Teorização Pontos-Chave Hipóteses de solução Observação da realidade Aplicação à realidade Realidade FONTE: BORDENAVE; PEREIRA, 1982 apud BERBEL, 1999. Nos anos 60, a Universidade de McMaster, em Hamilton, no Canadá promovem uma reforma na educação médica, propondo um novo currículo, onde a aprendizagem se inicia e se estrutura em torno da resolução de problemas. A ideia de adotar a problematização na educação não era nessa época inédita, uma vez que este princípio já havia sido defendido por Freire e Dewey. A inovação estava no fato de que em McMaster esse princípio foi o ponto central da articulação e organização curricular. Essa experiência se propagou para várias universidades no mundo, tendo experiências dessa natureza também no Brasil. As situações-problema colocadas para o aluno devem ser semelhantes às encontradas na “vida real”. Na PBL o Currículo deve ser organizado de acordo com os seguintes princípios pedagógicos: Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde PBL – Aprendizagem Baseada em Problemas • a aprendizagem será acumulativa e nunca se esgota em uma única abordagem, devendo haver várias reentradas no currículo para um mesmo tema; • a aprendizagem é integrada, ou seja, os conteúdos são apresentados à medida que se apresenta o problema; • a aprendizagem é progressiva de modo que as habilidades vão se transformando ao longo do tempo; • a aprendizagem deverá ser consistente de modo a articular os objetivos da aprendizagem à avaliação. O problema apropriado para esse tipo de aprendizagem se diferencia dos exercícios e atividades comuns utilizadas nas escolas, pois para que o problema seja pedagogicamente relevante, ele não dispõe de uma solução pronta, que possa ser copiada de um livro, ou facilmente encontrar respostas na estrutura cognitiva do aprendiz. O problema deverá ser complexo e demandar estudos e pesquisa para ser respondido, sendo passível de mais de uma solução ao final. Espera-se que ao longo do processo de aprendizagem haja uma modificação de um ponto ao outro do problema, sem ser previamente definido quais as estratégias para se passar de um ponto ao outro. Para o desenvolvimento da aprendizagem baseada em problemas foram definidos vários procedimentos, dentre eles “os sete passos da aprendizagem baseada em problemas” (COELHO, 2006). 1. Escolhe-se um coordenador e um secretário para cada sessão do grupo. O coordenador lê o problema e verifica se todos compreenderam; 2. O grupo deve expressar a sua compreensão sobre o problema. Ainda que algumas respostas sejam inadequadas o coordenador não deve fazer nenhum tipo de trans- 71 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 72 missão de conhecimentos nesse momento, deixando prevalecer as dúvidas; 3. R ealiza-se uma “chuva de ideias” para que o grupo apresente seus conhecimentos prévios sobre o problema; 4. O grupo irá tentar compreender os aspectos relativos ao problema, para isso anota os pontos-chave do que foi discutido, daquilo que se sabe sobre o problema, do que é desconhecido e do que está pouco claro; 5. O grupo deverá sistematizar seus objetivos de aprendizagem e as tarefas que deverão colocar em prática até o próximo encontro. O registro dessas definições é realizado pela secretária do grupo; 6. Os alunos irão fazer uma pesquisa para buscar as informações relativas aos objetivos levantados no item 5. Pode-se dividir as tarefas entre os membros do grupo, ou todos do grupo ficarão responsáveis por todas as tarefas. O educador deverá ficar responsável por orientar aos alunos as referências para a pesquisa; 7. O grupo se reúne para ler os objetivos e cada aprendiz irá apresentar os resultados das suas pesquisas. A cada aula o aluno deverá apresentar para o educador uma lista das suas anotações. O aluno será avaliado pela entrega das pesquisas, participação nas discussões do grupo, pela qualidade das pesquisas e pela participação no grupo como coordenador ou secretário. Ao final o secretário deverá entregar uma síntese das investigações e conclusões que deverão ser entregues a cada um dos alunos. O ciclo continua com a apresentação de um outro problema interessante. Vale ressaltar alguns desafios relativos aos alunos, docentes e ao próprio método. Do ponto de vista dos alunos, existe a dificuldade destes se colocarem no papel de investigadores, uma vez que muitos estão acostumados às respostas prontas. Do ponto de vista do professor este deverá também lidar para uma situação em que não poderá ir para uma aula fechada, dando abertura para o inusitado e questionamentos. É importante que seja construído um banco de problemas relevantes e que se desenvolva a capacidade de gerenciar grupos. Algumas críticas foram dirigidas a esse tipo de atividade, pelo fato dos problemas não serem “reais” mas parecidos com a realidade, correndo-se o risco de se dar maior ênfase à capacidade de resolver problemas e desenvolver as habilidades mentais sem levar a maiores questionamentos sobre as formas de vida na sociedade, e com baixa dedicação a reflexões sobre o compromisso social do profissional. Por outro lado, o fato de serem casos “preparados” ajuda a manter o controle do conteúdo considerado relevante para a formação profissional. formação dos profissionais de saúde Esta proposta será apresentada como experiências vivenciadas, na tentativa de transformar a formação dos profissionais de saúde e na busca de aproximar a educação das demandas sociais. A pedagogia do fator de exposição (SANTOS, 2006) tem origem na proposta de transformação da educação médica, construída pela CINAEM – Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico, em um processo coletivo que envolveu atores das instituições de ensino superior, dirigentes, docentes e alunos. A CINAEM tinha como foco a transformação da educação na perspectiva da formação de profissionais de saúde adequados às demandas sociais. A Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico foi formada por 12 (doze) entidades, sendo onze delas de representação médica, envolvendo associações, conselhos regionais, sindicato, movimento estudantil e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS. Na proposta curricular da CINAEM, as necessidades de saúde eram o centro da formação profissional. O processo pedagógico iniciava-se a partir da exposição do estudante às necessidades de saúde acolhidas nos serviços onde se dessem a interação entre trabalhador de saúde/estudante/usuário. A ideia de partir de situações vivenciadas na prática resgata o princípio pedagógico do problema como fonte disparadora da aprendizagem, provocando uma série de busca de conhecimentos, operações mentais e aquisição de habilidades para construção de uma intervenção. Por outro lado a referência à realidade reflete a preocupação em desenvolver o compromisso social, apostando na capacidade do profissional em provocar mudanças e transformação social através da sua prática. O movimento que se iniciava a partir da exposição às necessidades de saúde, seguida de um processo de teorização e retorno a essa realidade, com nova É um conceito que se fundacapacidade de intervenção sobre a mesma, corresponde à práxis. menta na crítica das formas de As necessidades de saúde, por sua vez, trazem várias consequências ao serem adotadas como eixo central das questões pedagógicas. Primeiro traz os usuários portadores das necessidades para o centro da formação. Como as necessidades são produzidas social e culturalmente, estas passarão por mudanças acompanhando o contexto social, o que significa que o currículo deveria ser capaz de incorporar as novas demandas sociais adotando uma certa dinâmica e abertura. Por fim a escolha pelas necessidades como um eixo integrador da formação médica possibilitava a interdisciplinaridade na construção do currículo. conhecer isento e distanciado da realidade. Aponta para a complexidade do real e à necessidade de considerar as relações entre os seus diferentes e contraditórios aspectos. A interdisciplinaridade questiona a segmentação dos diversos campos de conhecimento, produzidos por uma abordagem que não leva em conta a inter-relação e a influência entre eles – questiona a visão compartimentada (disciplinar) da realidade. (BRASIL, 1998, p.29-30) Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Pedagogia do fator de exposição: experiências em busca da transformação da 73 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe É importante destacar que todo o trabalho produzido pela CINAEM tinha como foco a transformação do ensino médico e dos demais profissionais da área da saúde. A CINAEM construiu uma proposta curricular integralmente desenhada a partir da exposição dos alunos às necessidades de saúde e aos desdobramentos pedagógicos que desta interação inicial resultasse. Esta proposta não chegou a ser integralmente implantada, mas a experiência da CINAEM deixa um legado teórico e de construção coletiva bastante significativo para os militantes que atuam na área da Formação na Saúde. O Centro de Educação Permanente em Saúde de Aracaju, no período de 2002 a 2006 adotou a “Pedagogia do Fator de Exposição” como orientação pedagógica das ações de educação permanente desenvolvidas durante aquele período (SANTOS, 2006). A Pedagogia do Fator de Exposição teve como protagonistas criativos mais atuantes os membros da equipe técnica da Comissão Insterinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) do período de 1994 a 2001. Mas a denominação e o batismo foram feitos por Heider Aurélio Pinto e Cláudia Menezes Santos, que também protagonizaram o Projeto CINAEM, mas só em 2004 nas formulações e sistematizações das versões de propostas de curso de especialização em saúde coletiva da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju é que a denominação aparece e batiza a formulação teórica da CINAEM (SANTOS, 2006, p.143). Esta opção deveu-se ao fato de que a política de educação permanente tinha como proposta desenvolver processos pedagógicos que trouxessem para o espaço de reflexão a vivência dos trabalhadores e suas práticas nos serviços de saúde. É significativo trazer para o espaço pedagógico a realidade como objeto de problematização, e construir propostas de intervenção como um dos resultados da ação pedagógica. 74 Essa mesma orientação pedagógica também é adotada pela Política Estadual de Educação Permanente em Saúde do Estado de Sergipe. Nesse contexto, em torno das necessidades de saúde, surgem outros objetos que fazem parte da exposição cotidiana do trabalhador ao processo de trabalho, como a gestão, a organização das redes assistenciais e dos serviços, as tecnologias para o cuidado e o controle social. Os fatores de exposição representam objetos conhecidos sobre os quais existem saberes estruturados e também objetos pouco conhecidos, que representavam desafios para o campo da saúde coletiva. Objetos passíveis de investigação, questionamentos, compreensão, significação e intervenção. Na prática do trabalho, os desafios se relacionam com objetos e fatores de exposição, sobre os quais temos que desenvolver uma compreensão, um saber e uma capacidade de intervenção, para depois tornarmos a refletir sobre os mesmos objetos no monitoramento e avaliação das intervenções realizadas. O conhecimento sobre esses objetos não se dá de forma isolada, é produzido por meio de diálogo e processamento dos problemas existentes nos espaços de gestão como colegiados de gestão. Nessa proposta as relações entre educando/educador e saber poderiam ser assim resumidas: o educando como sujeito ativo no processo de aprendizagem; o educador como facilitador e orientador deste processo; os saberes como insumos a serem adquiridos, construídos e consumidos ao longo do processo; a relação entre educando e educador mediada pelo diálogo e apoiada na aprendizagem ativa. A autonomia dos sujeitos é um O meio pelo qual a interação entre objeto e sujeito é trazido para o processo pedagógico lança mão de várias ferramentas, já apresentadas nesse texto, tanto pertencentes ao campo da gestão e do trabalho como ao campo pedagógico. Assim utilizamos os fluxogramas analisadores, os casos para estudo, a análise do saberes tecnológicos, as situações-problema, a problematização, exercícios, atividades, dinâmicas, enfim, tudo que, respeitando os princípios pedagógicos aqui apresentados, possa nos apoiar no desenvolvimento das ações a fim de propiciar o encontro entre a educação e o trabalho. A pedagogia do fator de exposição permite acoplar a disposição permanente de compreensão, significação e intervenção dos sujeitos sobre os objetos que se apresentam na gestão e no cuidado do SUS em Sergipe. Quadro síntese METODOLOGIAS PROBLEMATIZAÇÃO OBJETO Trabalha com os problemas reais, identificados no cotidiano dos serviços. Inicialmente não determina um objeto ou delimita o campo da problematização. PAPEL DO ALUNO Tem papel ativo, devendo contribuir com os conhecimentos prévios e questionamentos desde o levantamento dos problemas até a construção da proposta de intervenção na realidade. PAPEL DO DOCENTE Delimitar o espaço da problematização; apoiar os alunos na construção do arco, que vai do levantamento de problemas à construção da intervenção. Tem papel fundamental na definição dos pontos chaves e teorização. RELAÇÃO ALUNO/ CONHECIMENTO Relação de construção de conhecimentos, partindo dos próprios saberes e da capacidade de questionamento e visão crítica. Ação pedagógica com alto compromisso sobre a realidade social. PBL Constrói um problema “parecido” com o real ou fictício. Participa de todas as etapas do método, levantando problemas, necessidades de aprendizagem, realizando pesquisas, construindo novos conhecimentos, propondo soluções para os problemas. Orientador do grupo de problematização. Mediador dos grupos, orientador da pesquisa de referências, apoio aos grupos nos momentos de teorização e construção da solução para os casos. Construção do conhecimento, forte ênfase no momento de teorização. Busca ativa de conhecimentos. PEDAGOGIA DO FATOR DE EXPOSIÇÃO Trabalha com um objeto central, definido inicialmente como as necessidades de saúde, mas que se amplia aos objetos de exposição na realidade e que implicam na aquisição de conhecimentos para intervenção. Papel ativo, na busca dos saberes, busca a compreensão e significação dos objetos de aprendizagem e a construção das propostas de intervenção. Orientador do processo de aprendizagem, facilitador, condutor da teorização sobre os objetos. Construção de conhecimentos com ênfase para a produção de autonomia dos alunos para a intervenção social, política e técnica. Desenvolvimento da capacidade de ação sobre um contexto, atrelando a aprendizagem às demandas sociais. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde dos resultados esperados, mas também o compromisso diante dos usuários e a crença na capacidade de transformação da realidade. 75 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe DEFINIÇÃO CURRICULAR Nessa proposta não há uma delimitação muito precisa da proposta curricular. APLICAÇÕES Na formação, utilizado em disciplinas na Universidade, em propostas de currículo, ações de educação popular e educação permanente. Definição curricular delimitada. Temas pré-definidos e casos preparados e pré-processados. Na formação de médicos e profissionais de saúde. Delimitação prévia dos objetos, com espaços para as necessidades de aprendizagem apresentadas pelos alunos. Experiência de utilização na Educação Permanente do município de Aracaju (2002 a 2006) e na Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Sergipe experiência em curso (2007 a 2010). ATIVIDADE 13 Em subgrupos troquem as ações elaboradas na atividade 12 entre si. Realizem uma análise crítica da ação proposta pelo outro grupo, contribuindo com a proposta traçada. 76 1.Um grupo irá propor mudanças nas atividades elaboradas pelo outro grupo. 2.Apresentação do resultado do trabalho dos grupos. ATIVIDADE 14 Em grupo discutam as questões abaixo e registrem as anotações para posterior apresentação em plenária. 1. Pra você, o que é avaliação? 2. Qual o objetivo da avaliação na proposta planejada? Você sabia? A avaliação sempre foi uma atividade de controle que tinha o propósito de incluir alguns sujeitos e excluir outros. Aliás, essa denominação é recente, foi por muito tempo uma prática que recebia o nome de exame. A primeira notícia que temos de exame nos é trazida por Weber quando se refere ao uso pela burocracia chinesa, nos idos 1200 A.C., para selecionar entre os sujeitos do sexo masculino, os que poderiam ingressar nos serviço público, através de exames públicos aberto a todos, para que esses fizessem a arte da burocracia. Nesse período o exame se constituía, não como uma ação educativa, mas como um instrumento de controle social (ESTEBAN, 2003). A avaliação que iremos enfocar nesse texto se refere ao processo de ensino e aprendizagem. Avaliação dos alunos, que se transforma em um dos elementos associados à avaliação docente e de processo. Primeiro vamos diferenciar avaliação de exame. O exame não é a única forma de avaliar, é a mais comumente praticada no modelo escolar. Foucault (1977) nos mostra que exame é um ato que prioriza as relações de poder ao invés do saber. Segundo ele, o exame é algo pontual, que reflete bem as técnicas utilizadas na hierarquia: vigiar e sancionar. Historicamente a prática da avaliação foi exercida para controlar, para escalonar, para classificar como certo ou errado (DEMO, 2002). É preciso desmistificar essa ideia de norma desvio, entendendo que existem conhecimentos variados construídos a partir de diferentes óticas, multiplicidade de culturas, de pensamentos, de discursos, e que é preciso valorizar o saber informal considerando que a partir daí pode-se tecer novos conhecimentos. A avaliação constitui parte fundamental e integrante do processo de ensino e aprendizagem, e é preciso que esta se apresente articulada aos seus respectivos objetivos, conteúdos e métodos. A definição mais comum que encontramos hoje de avaliação é que ela significa um julgamento de valor, a partir de um determinado processo, tendo em vista uma tomada de decisão. Assim, o ato de avaliar é um meio de julgar uma prática e estratificá-la. Essa é uma prática referente à chamada avaliação classificatória, a qual não é capaz de auxiliar na perspectiva do progresso do aluno, diferente da avaliação diagnóstica, com o caráter dialógico do processo. Para que a avaliação assuma o seu papel dialético, deverá estar articulada com uma pedagogia que esteja preocupada com a transformação social. Trata-se da avaliação formativa, a qual deixa de significar simplesmente julgamento, e passa a ser sinônimo de mecanismo capaz de revelar em que fase do processo de aprendizagem o aluno se encontra, o que o aluno já sabe, a trajetória percorrida e o que ainda não sabe, suas necessidades e Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde 2.3 Avaliando ações de Educação Permanente em Saúde 77 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 78 possibilidades de avanço para superar as dificuldades. Estamos falando de uma substituição de paradigma tradicional da avaliação – que enfatiza a quantidade, a exatidão das informações, pela busca de uma avaliação participativa, democrática, integradora e emancipatória. Philipe Perrenoud (1992) chama a atenção para a necessidade de uma relação de extrema confiança e cumplicidade, nesse tipo de avaliação, cabendo ao docente desafiar o aprendiz a superar suas dificuldades e continuar progredindo na construção dos conhecimentos. Podemos ainda abordar uma outra forma de avaliar. É aquela baseada em competências, que corresponde a: um conjunto de padrões válidos em diferentes ambientes produtivos, fornecendo parâmetros de referência e de comparação para avaliar o que o trabalhador é ou deve vir a ser capaz de fazer. Espera-se que a elaboração e a validação dessas normas sejam pactuadas entre os diversos sujeitos sociais interessados nas competências dos trabalhadores (RAMOS, 2006, p.35). Esse tipo de avaliação baseia-se no desempenho e para tanto é necessário selecionar e mesclar os métodos a serem utilizados. É importante compreender que a avaliação por competências se estrutura nos conhecimentos e habilidades, entendendo que os elementos subjetivos estão relacionados às estruturas mentais e às capacidades de enfrentar desafios, por meio de mobilização de conhecimentos em diversas situações e contextos. Diante do exposto, destacamos que a avaliação deve ser conscientemente vinculada à concepção de mundo, de sociedade e de ensino que queremos, permeando toda a prática pedagógica e as decisões metodológicas. Sendo assim, a avaliação não deve determinar o fim do processo de aprendizagem, mas a escolha de um caminho para o melhor desenvolvimento de processos pedagógicos. A seguir algumas questões orientadoras para refletir sobre o planejamento de uma avaliação: Para que avaliar? Quem avaliar – o aluno individualmente ou o grupo? Quando avaliar? Como avaliar? Que experiências de aprendizagem consigo identificar no grupo em que desejo instituir um processo avaliativo? Para Perrenoud (1999), esse processo de avaliação deve ser constantemente reinventado. O docente deve ter meios de construir seu sistema de observação, interpretação, seleção de procedimentos e de intervenção baseado nas suas vivências, objetivos e nas concepções didático-pedagógicas que permeiam a ação educativa. Nos processos formais os instrumentos avaliativos mais utilizados são: provas dissertativas e objetivas, trabalhos escritos, como produção de textos, questionários, relatórios e pesquisas. Numa avaliação formativa são enfatizados principalmente os instrumen- A entrevista possibilita aproximar o docente do discente, e compreender não só a trajetória de aprendizagem do aluno, mas também conhecê-lo como sujeito, com necessidades, interesses, expectativas e limitações. A observação permite investigar as características individuais e grupais dos alunos, ajudando a identificar os fatores que facilitam e que dificultam o desenvolvimento do trabalho, tais como: as condições prévias para o processo de ensino e aprendizagem, as características sócio-culturais dos discentes, a linguagem e as experiências. E por fim, o Portfólio, que se constitui um instrumento muito rico, que em alguns casos extrapola seu propósito avaliativo e passa a ser um orientador do trabalho pedagógico. Segundo o dicionário Michaelis (2010), portfólio significa, “uma pasta para guardar amostras, álbuns, folhetos, etc”. Em um processo pedagógico o portfólio é uma estratégia, uma espécie de diário do aluno, onde são colecionados trabalhos realizados no decorrer da formação do indivíduo, permitindo construir, entre outras coisas, o perfil do discente, seu ritmo e crescimento, temas que mais lhe interessam e também as dificuldades que ele costuma encontrar. Os dados e impressões devem ser registrados diariamente no portfólio, pois essas anotações fornecem uma imagem em movimento contínuo, identificando o percurso caminhado. Além disso, a ordem cronológica da produção mostra o ritmo e o sentido do desenvolvimento, enquanto as provas constituem a expressão de um momento. Portanto, o portfólio reúne não só os produtos finais, mas também a evidência do processo continuado de reflexão e tomada de decisão ao longo de todo o percurso. Este conjunto de elementos evidencia o processo de autorreflexão e implica participação do estudante na seleção de conteúdos, na identificação dos critérios para avaliação. Os registros que poderão estar contido no portfólio podem ser: entrevistas, gráficos, tabela de dados, desenhos, frases, fotos, vídeos, relatórios, análise de casos, depoimentos, pesquisas, registros narrativos de aulas, observações, situações de aprendizagem. O portfólio constitui-se de um instrumento de avaliação diferenciado dos demais normalmente utilizados, permite que os alunos participem da tomada de decisão, de suas próprias ideias, que eles façam escolhas e não apenas cumpra as prescrições do docente. Porém, para que esse instrumento seja efetivo, é importante que os docentes e discentes trabalhem em conjunto de forma a definir os critérios prioritários a usar como base da avaliação. Esse processo possibilita a prática de uma avaliação comprometida com a formação do cidadão, em busca da construção da autonomia dos sujeitos. Nesse sentido a autoavaliação é um componente importante para utilização desse instrumento, entendendo que os alunos devem estar preparados para se avaliarem, com propósitos claros e coerentes com os indivíduos que se deseja formar. Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde tos: a entrevista, a observação, e o portfólio. 79 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe ATIVIDADE 15 Reunidos em subgrupos, discutam e registrem as anotações, respondendo às questões abaixo para posterior apresentação em plenária. 1.Qual a avaliação que buscamos construir no que foi planejado? 2.Você mudaria alguma coisa em sua ação pedagógica? O quê? Avalie sua proposta e se for preciso refaça-a, recorrendo aos elementos trabalhados. Situação-problema: Entre o Soro e a Reza Naquele povoado de Goela, no interior de Piranjópolis, dona Maria, casada com o seu Edgar e mãe de Jislaine, uma recém-nascida de oito meses, não sabia mais o que fazer tendo em vista que a menina estava há dois dias com diarreia. A pequena estava chorosa, irritada, vomitava bastante, o que deixou dona Maria em desespero. 80 O agente de saúde foi até a casa de dona Maria para ver o que estava acontecendo com a menina. Ele falou: ₋₋ Acho melhor que a gente leve essa menina para Unidade de Saúde da Família. Lá a enfermeira Rita pode cuidar melhor dela. Ela está precisando tomar soro caseiro também. ₋₋ Que é isso, meu filho? Já tive doze e Deus levou três. Sempre levei eles para a rezadeira lá do riacho, e sempre funcionou. Isso é mau olhado da ex-mulher do Edgar! Chegue, chegue! Vamos levar pra lá, vamos! Com um olhar sobranceiro o ACS falou: ₋₋ Dona Raimunda! Isso não existe, isso é besteira, a menina precisa é de soro e de cuidados médicos. Dona Raimunda respondeu: ₋₋ Olhe meu filho, eu sou mãe de nove e sei do que eles precisam. Dona Raimunda e o Agente Comunitário de Saúde ficaram tentando convencer um ao outro que seu remédio era melhor. Maria ficou parada olhando a conversa dos dois e para a pequena Jislaine sem saber o que fazer. E agora, Maria? Organizando Educação as Etapas Permanente de Produção em Saúde da Educação no Estado Permanente de Sergipe em Saúde Depois de ver a situação da neta, dona Raimunda, avó de Jislaine, disse para o agente de saúde: ATIVIDADE 16 Em grupo, façam a leitura da situação-problema, discutindo os pontos relevantes. 81 82 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Capítulo 3 A Respeito do Conhecimento e dos Saberes Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 84 “Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei Transformai as velhas formas do viver Ensinai-me, ó, pai, o que eu ainda não sei Mãe Senhora do Perpétuo, socorrei.” Gilberto Gil 3.1 Saber Científico e Senso Comum Nosso cotidiano de trabalho é o local onde colocamos em prática os saberes que aprendemos em nossos cursos técnicos, em nossas faculdades, nas capacitações e nos espaços de educação permanente. Nesse local temos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre como colocar teoria em prática, bem como, por meio da experiência prática produzir novas teorias. Existe um campo de estudos dentro da filosofia que se chama epistemologia. Este campo está preocupado em saber “o que é o conhecimento”. Quando falamos em orientação epistemológica estamos nos referindo a um conjunto de teorias, que se inter-relacionam e têm uma coerência no modo de pensar a realidade, podendo ser complementares. Vamos agora fazer algumas diferenciações entre conhecimento cientifico e conhecimento de senso comum. O conhecimento de senso comum é uma forma de saber que se constrói a partir da percepção direta das pessoas, como elas interpretam a realidade que as estão envolvendo. O saber de senso comum não é construído a partir de um método de investigação, que seja baseado em regras ou fundamentação teórico-científica. As representações a respeito da realidade são construídas a partir da experiência imediata que, muitas vezes são tomadas como “verdades” últimas sobre determinado assunto. Um bom exemplo são as “verdades” sobre sexualidade, as quais vêm tomando diferentes significados. Até pouco tempo atrás, e mesmo atualmente em algumas sociedades, era impensável conceber que a sexualidade pudesse ser uma fonte de prazer para as mulheres. Hoje já sabemos que tomar a atividade sexual como prazerosa pode representar inclusive uma fonte de saúde física e mental. Podemos fazer uma pequena retrospectiva para entender quando é que o conhecimento científico mais moderno surge. Vamos lembrar do tempo em que Assista ao filme “Giordano estávamos no 2° grau, das aulas de história quando o professor falava de Bruno”, sob direção de GiuIluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico com dimensões liano Montaldo, e observe as ideias que levaram este hisartísticas, literárias e políticas, que ocorreu em países como França, Ingla- tórico pensador à morte. Meterra e Alemanha, no século XVIII. O conjunto de ideias do Iluminismo diante sua história, discuta se é possível e como podemos defendiam o racionalismo crítico e as liberdades individuais e religiosas, transpor os conflitos ocorridos e criticavam a fé, os dogmas religiosos e o abuso de poder (JAPIASSÚ; naquela época para a atualidade. MARCONDES, 2006). Antes mesmo do Iluminismo, as ideias do Renascimento, um movimento cultural que ocorreu do século XIV ao século XVI já contestava uma forma de explicação do mundo baseada apenas na fé e em dogmas religiosos. Os renascentistas defendiam uma ciência que fosse baseada na racionalidade e na experimentação prática, a verdade deveria ser Essas ideias por sua vez se contrapunham a toda uma forma de conhecer e de conceber a verdade que dominou o mundo durante a Idade Média, (Século V ao Século XV), período no qual a igreja teve o monopólio da explicação das coisas do mundo, e que procurava através da filosofia comprovar a fé e os dogmas católicos. “Concepção filosófica que não admite a existência de nada que seja exterior à natureza, reduzindo a realidade ao mundo natural e à experiência deste. O naturalismo, recusa, portanto, qualquer elemento sobrenatural ou princípio transcendente. Mesmo a moral deveria basear-se nos princípios que regem a natureza, tomados como fundamentos das regras e preceitos de conduta” (Japiassú; Marcondes, p.181, 2006). A Ciência moderna além do pensamento racional e da experimentação tem ainda outra marca importante, não produz conhecimentos apenas para compreender o mundo e produzir teorias. A ciência mo- O Pensamento humanista derna visa, através de seus métodos e pensamento a produzir conheci- surgiu com o renascimento, acreditavam na dignidade do mentos para intervir sobre o mundo, para controlar e dominar a nature- espírito humano e apostavam za. É uma ciência produtora de objetos tecnológicos, de tecnologias que na razão e espírito crítico. condensam diversos saberes e inteligência que modificam a relação do homem com o mundo, que permitem a intervenção sobre o mundo e a própria construção de conhecimentos (CHAUÍ, 2004). Educação A Respeito Permanente do Conhecimento em Saúde enodos Estado Saberes de Sergipe fruto do desenvolvimento do pensamento racional e comprovado pela prática. O Renascimento defendia ainda o naturalismo e o humanismo (VICENTINO, 1997). 85 O conhecimento científico se baseia em procedimentos racionais que seguirão um método que, no caso, é o método científico, e terá como objetivo chegar a leis universais, ou teorias gerais sobre os fenômenos, que sejam passiveis de verificação e controle. Assim o conhecimento científico se distingue do conhecimento de senso comum na medida em que segue um método que permite chegar às verdades sobre as coisas. Ao mesmo tempo Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 86 as verdades passam a ser passíveis de falseabilidade, isto é, a ideia de que as leis universais, ou regras gerais alcançadas pelo método científico ou, o conhecimento cientifico ainda podem ser invalidadas (POPPER, 1993). O conhecimento de senso comum, por sua vez, são modos de pensar construídos a partir das experiências que as pessoas vivenciam no seu dia a dia. Conforme encontramos em Japiasú & Marcondes (2006), o senso comum é um conjunto de opiniões e valores característicos daquilo que é correntemente aceito em um meio social determinado. “O senso comum consiste em uma série de crenças admitidas no seio de uma sociedade determinada e que seus membros presumem serem partilhados por todo ser racional” (PERELMAN, apud JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 250). Ao mesmo tempo a expressão “é científico” é muito utilizada quando alguém quer legitimar uma determinada ideia. Esta intenção de considerar a ciência como único saber verdadeiro sobre a realidade chamamos de cientificismo, ou seja: ideologia daqueles que, por deterem o monopólio do saber objetivo e racional, julgam-se detentores do verdadeiro conhecimento da realidade, e acreditam na possibilidade de uma racionalização completa do saber. Trata-se sobretudo de uma atitude prática segundo a qual “fora da ciência não há salvação” (...) Essa atitude está fundada em certas normas latentes que se expressam em três “artigos de fé”: 1) a ciência é o único saber verdadeiro; logo o melhor dos sabedores; 2) a ciência é capaz de responder a todas as questões teóricas e de resolver todos os problemas práticos, desde que bem formulados, quer dizer, positiva e racionalmente; 3) não somente é legítimo mas sumamente desejável que seja confiado aos cientistas e aos técnicos o cuidado exclusivo de dirigirem todos os negócios humanos e sociais: como somente eles sabem o que é verdadeiro, somente eles podem dizer o que é bom e justo nos planos ético, político, econômico, educacional etc. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 45-46). Possivelmente era este o recado que o agente de saúde queria transmitir quando disse que a menina precisava de “soro”. Dizer que a pequena Jislaine precisa de “soro” pode parecer que não precisa de mais nada, o que confronta com as crenças de dona Raimunda de que a falta de saúde seja resultado do mau-olhado lançado pela ex-mulher do seu Edgar. Esta afirmação parece emprestar maior caráter de verdade aos argumentos. Paradoxalmente a ciência, por mais que seja fruto de um processo de construção de conhecimento baseado em métodos, que segue os mesmos procedimentos, replicáveis em qualquer outro lugar, não pode ser considerada a única forma de produção de saber. Existem outras formas de produção de saber, e em nossa sociedade se atribuiu um valor tão miraculoso ao conhecimento científico quanto o que era atribuído aos dogmas religiosos antes do advento da ciência. Não estamos advogando contra os saberes científicos e estruturados, mas reconhecemos que existem outras formas de saberes que não só podem, mas que devem existir Os saberes populares podem ajudar e muito no cuidado em saúde na medida em que possuem uma história e estão inseridos em uma rede de significados. São construídos através de evidências experimentadas ao longo da vida das pessoas e ultrapassam os tempos, são importantes e podem ser úteis na medida em que os saberes nunca são acabados e sua expressão pode produzir protagonismo social. O que as comunidades têm a falar sobre si, e sobre os seus processos de produção de conhecimento em saúde e doença é muito importante para o trabalho que nos propomos a realizar. Tomamos a saúde como um campo híbrido, onde sua produção não estará restrita apenas aos conhecimentos especializados, mas também religada aos conhecimentos “macroscópicos”. Estamos falando dos conhecimentos de natureza analítica e sistêmica. O conhecimento de natureza analítica é aquele conhecimento microscópico, especializado, o qual pode ser separado em disciplinas. A imagem do cientista com um microscópio, ou com uma lupa tentando descobrir minúcias sobre a saúde, corre sério risco de permanecer nos detalhes do conhecimento a ponto de se desligar do sistema no qual este detalhe é produzido. O conhecimento sistêmico estará baseado nas relações que os conhecimentos especializados estabelecem de forma ampla, permitindo a produção de sínteses e de compreensão da suas relações sistêmicas (RONAY, 2001). Educação A Respeito Permanente do Conhecimento em Saúde enodos Estado Saberes de Sergipe lado a lado quando a questão é produção de saúde. Um destes exemplos são os saberes de medicina popular, as rezadeiras, chazeiros, benzedeiras, raizeiros e os saberes dos povos indígenas sobre ervas medicinais. 87 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe A qualidade integradora do trabalho em saúde dependerá da capacidade de relação dos múltiplos saberes que temos à disposição. Assim, será de fundamental importância que possamos fazer articulações entre saberes construídos a partir de disciplinas como sociologia, medicina, psicologia, biologia, antropologia, enfermagem e educação na medida em que todos estes campos oferecem contribuições ao campo da saúde como um todo. ATIVIDADE 17 Reunidos assistam ao filme “O Ponto de Mutação”, e realizem pausas para a discussão dos pontos que mais chamaram sua atenção, ao longo da exibição do filme. 3.2 Sobre os Conhecimentos Informal, Popular e Formal 88 Neste tópico falaremos um pouco sobre os distintos sistemas disponíveis ao acesso à saúde utilizados pelas pessoas quando necessitam de cuidados em saúde. As principais ideias sobre os três sistemas que apresentaremos, foram encontradas na obra “Cultura, Saúde e Doença”, escrito pelo médico e antropólogo Cecil Helman (2003). Na maioria das sociedades, as pessoas acometidas de alguma forma de enfermidade, geralmente buscam a resolução de seus problemas por conta própria, ou buscam ajuda de outras pessoas. Podemos dizer que esta busca vai desde o autotratamento no seio familiar, consultas a vizinhos, curandeiros e médicos. Embora sejam múltiplas as possibilidades dessa busca, para o sujeito importa menos a origem de sua sanidade, e mais que esta seja alcançada. Helman (2003) nos diz que estudos antropológicos vêm demonstrando que o setor saúde não pode ser estudado sem levar em consideração as outras formas de organização social, como a econômica, a política, e a religiosa. O fato é que a saúde está atrelada a estes sistemas e partilha seus códigos, valores e crenças. Podemos dizer que existem dois aspectos inter-relacionados neste setor cultural, o qual envolve “conceitos básicos, teorias, práticas normativas e modos de percepção compartilhado”; e o aspecto social, o qual envolve “a organização da assistência em certos papéis específicos (como o de paciente e de médico) e regras que regem as relações entre estes papéis em ambientes especializados (como em hospitais ou em consultórios médicos).”(HELMAN, 2003, p. 71) Os sistemas culturais e sociais irão se desdobrar em subsistemas menores que compreenderão práticas distintas da medicina ocidental como a quiropraxia, herbarismo, cura espiritual etc. Cada sistema possui seu modo próprio de compreender, explicar e tratar as doenças, assim como os modos de relação entre curandeiro e paciente, os códigos e normas de admissão e condutas esperadas por parte de cada profissional. O primeiro deles é o local onde são reconhecidas e iniciadas as atividades de cuidado à saúde, ou seja, na família. Este é o domínio leigo em que se lançam mão de conhecimentos não profissionalizados, tampouco especializados, que incluem todas as formas de tratamentos que não envolvem pagamentos, nem consulta. Este setor é composto por pessoas que possuem vínculo com sujeitos como: familiares, vizinhos, amigos, ou pelo pertencimento a grupos. Geralmente a concepção de saúde e doença é partilhada entre as pessoas que fazem parte desta rede, tanto as que curam quanto as que são curadas, o que torna os equívocos relativamente raros. Educação A Respeito Permanente do Conhecimento em Saúde enodos Estado Saberes de Sergipe Ao tratar da saúde como um objeto complexo é necessário levar em consideração os aspectos sociais em conjunto aos aspectos culturais dos tipos de assistência à saúde, utilizados pelas pessoas de forma individualizada. Podemos dizer que as populações dispõem de três setores de assistência que se encontram relacionados e sobrepostos: o setor informal, o setor popular e o setor profissional. 89 No setor popular é bastante notória a figura do curandeiro, que é aquela pessoa que realiza práticas de cura a exemplo dos herboristas, raizeiros, espiritualistas, magos, sacerdotes, assim como a rezadeira do riacho que a dona Raimunda havia sugerido. É um setor intermediário, em relação ao informal e o profissional, e suas práticas estão baseadas em saberes sagrados e seculares, ou os dois ao mesmo tempo associados. Por ser geralmente de foco holístico, envolve todos os aspectos da vida dos sujeitos, a saúde corporal, mental e também a sobrenatural ou espiritual, e a ideia de saúde será composta pelo equilíbrio entre estas dimensões. Uma das vantagens das práticas contidas neste setor é o fato de que os curandeiros, por fazerem parte das comunidades que atuam, conhecem os códigos locais, que correspondem à cultura na qual o paciente está inserido. Esses códigos e as regras dizem respeito àquilo que é esperado e o que é proibido para a cultura local. A apropriação dos códigos permite uma maior aproximação e compreensão dos valores e significados que são legítimos para a comunidade. Resultado disto são modos mais amplos e familiares de explicação da falta de saúde, bem como a relação com os aspectos naturais e sobrenaturais preenchidos de significado para quem busca saúde. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Embora as explicações dadas por curandeiros e médicos sejam diferentes, elas possuem aspectos comuns. Uma delas é o dualismo entre mente e corpo, e corpo e espírito. Tanto curandeiros populares como médicos buscam olhar para dentro do corpo do sujeito a fim de diagnosticar os motivos da falta de saúde. 90 Por outro lado, o cenário terapêutico é diferente, atuando o médico em espaços assépticos e isolados de outras pessoas, exceto estudantes de medicina e parentes próximos do paciente, enquanto a cura pela espiritualidade poderá ser realizada em um templo, onde é possível a presença de outras pessoas, como familiares e a comunidade. Eymard Mourão Vasconcelos nos ensina que saúde e práticas religiosas sempre estiveram ligadas entre si. O pensamento cartesiano produziu um afastamento destas duas dimensões na medida em que a saúde, apenas localizada na dimensão do corpo, passa a restringir a espiritualidade, dimensão extra corporal das práticas de saúde. Muito embora haja uma crescente produção bibliográfica, a partir da segunda metade do século XX, que retoma o vínculo entre corporalidade e espiritualidade, estas discussões têm sido abordadas de forma bastante modesta como ferramentas de trabalho. A fragilização da pessoa que está em um momento de crise trazido pela doença, provoca sentimentos como dependência, insuficiência, raiva, inveja, autopiedade, medo, desespero assim como são acirradas as fantasias em função da doença. Todos estes sentimentos fazem parte de uma rede de significados que está inserida em um contexto histórico que revela as formas encontradas pelos sujeitos de lidar com a realidade (VASCONCELOS, 2004). O autor complementa que o profissional de saúde está no olho do furacão na medida em que pode absorver todos estes elementos sobre a vida dos sujeitos. Assim, este Por fim, podemos falar do setor profissional, que corresponde aos serviços de saúde, sejam ele públicos ou privados, composto por equipamentos e profissionais com formação técnica reconhecida, na sua maioria, com base nas ciências biomédicas. A medicina científica, na maior parte dos países ocidentais, é a base de formação para os profissionais, muito embora sistemas médicos tradicionais também estão compondo os sistemas de assistência à saúde, como é o caso de algumas escolas médicas na Índia. Um fato importante é que a medicina científica ocidental representa uma pequena parte dos atendimentos em saúde na maior parte dos países do mundo, como demonstrado nas estatísticas da OMS correspondente ao ano de 1980 (HELMAN, 2003, p. 82). Questões como remuneração, maiores condições de infraestrutura para a prática médica, que são mais facilmente encontrados nas grandes cidades, podem ser consideradas como atrativos para que os profissionais de medicina busquem os grandes centros. Para a população que vive no interior, esta realidade representa uma maior busca de serviços de saúde informais e populares. Pode-se dizer que os profissionais médicos fazem parte do único grupo de profissionais que trabalha com a cura e que têm sua prática assegurada pela lei. Além de gozarem de um status social, estes profissionais possuem uma licença para exame e prescrição de tratamentos e medicamentos que não são permitidos a outros setores e categorias profissionais. A eles são dados poderes de controle rigoroso de dietas e comportamentos, assim como de emissão de diagnóstico dos pacientes. É importante lembrar que tais diagnósticos têm uma grande ressonância sobre a vida das pessoas, podendo entrar em conflito com a perspectiva das mesmas, na medida em que tais rótulos possuem impactos sociais (normal-patológico) e econômicos (tratamentos onerosos, planos de saúde, estilo de vida). É importante buscar um equilíbrio quanto à visão que se tem em relação aos profissionais que operam nestes setores de assistência à saúde, especificamente sobre os curandeiros. É sugerido que não se tenha uma visão romantizada, pois assim como acontece com toda e qualquer área, podem haver bons e maus profissionais. Nos dizeres de Lucas e Barret, (apud HELMAN, 2003) visão arcádica significa interpretar os curandeiros populares como vivendo em harmonia e paz entre si, evitando uma visão bárbara, que os encara como primitivos, atrasados, desprovidos de saberes, subdesenvolvidos e incompetentes, visão que deve ser evitada. Quando o agente de saúde diz para a dona Raimunda que aquilo que ela havia sugerido “não existe”, e que ir para a rezadeira era “besteira”, ele deslegitima o modo como dona Raimunda lida com aquelas questões. Educação A Respeito Permanente do Conhecimento em Saúde enodos Estado Saberes de Sergipe profissional ocupa um lugar extremamente delicado, pois para o usuário ele pode significar a possibilidade de saúde e, consequentemente, de vida. Ao mesmo tempo o contrário também pode representar mais desorganização e sofrimento se o profissional estiver protegido, não o permitindo absorver a realidade significativa destes usuários (VASCONCELOS, 2004). 91 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 92 Da mesma forma, devemos evitar ver os profissionais de nível superior como donos da verdade, e que este saber seja único, mas reconhecendo que seu saber é resultado de um acúmulo de experiências que contribuem para a saúde. A integração entre os três setores, informal, popular e formal, coloca uma horizontalidade entre o valor que atribuímos aos vários saberes existentes. Aos usuários do Sistema Único de Saúde, os principais atores desta discussão, parece interessar menos a origem epistemológica em que se baseia o serviço que lhe está sendo prestado, do que se este serviço responde a suas demandas, as quais são complexas, passando pelo corpo, pela psique e pelo espírito. Acolher as demandas sem julgamento de valor, respeitando as crenças de forma relativista, potencializa a produção de saúde e autonomia por parte dos sujeitos. Mas, enfim, questiona-se: como desenvolver uma forma de trabalho que integre estas dimensões? Uma ferramenta apontada por Vasconcelos (2004), diz respeito aos sentidos da chamada “tomada de consciência”. A tomada de consciência exprime a compreensão que as pessoas possuem sobre os seus direitos e deveres, assim como os caminhos a percorrer para que estes sejam levados a cabo, sobretudo por parte daquelas pessoas que não têm acesso a eles. Este processo, conforme demonstrado pelo autor, é produtor de uma ampla capacidade de respeito e reconhecimento do outro na sua máxima condição de cidadão. Porém, pode ser acompanhado de um mínimo de acolhimento em sua totalidade, o que corresponderia aos aspectos espirituais, inconscientes, simbólicos, subjetivos, os quais não podem ser protocoláveis. É sugerido o desenvolvimento de uma forma de trabalho que integre a tomada de consciência, mas que deve ser acompanhada de uma tomada de “inconsciência”. A inconsciência se refere aos aspectos que fogem à lógica racional de trabalho, que não se encontram nos saberes estruturados. A tomada de inconsciência dá importância a aspectos que habitam o território do desconhecido e, para podermos tirar um melhor proveito, é necessário que prestemos atenção àquilo que acontece na ordem da exceção, na ordem do acaso, e busquemos em valores como respeito à diferença a abertura ao novo, a ideia de impermanência. Podemos observar que na história da pequena Jislaine, tanto o agente comunitário de saúde quanto a dona Raimunda tomaram seus saberes como verdades absolutas, o que revelou um determinado grau de intolerância de ambas as partes. Desta forma, um trabalho de Educação Popular toma por base os aspectos formais e informais da produção de saúde, na medida em que os últimos utilizam o idioma dos grupos populares com os quais quer trabalhar. Uma alternativa pode ser a conjugação de saberes onde o aprendizado mais importante entre técnicos e a população é aquele que se estabeleça entre os diferentes modos de conhecer e de dar sentido à existência (VASCONCELOS, 2004). Dividam- se em cinco grupos, façam a discussão de acordo as orientações abaixo, registrando para posterior apresentação em plenária. Considerações finais Agora que já falamos bastante sobre modos de pensar e agir, resta o desafio de colocar este momento de formação teórica em prática. Buscamos com este texto apresentar propostas teóricas e práticas que somem recursos para que cada participante desse encontro possa, de forma coletiva, com seus colegas, iniciar ou em alguns casos dar continuidade ao processo de educação permanente em saúde, dando destaque ao aspecto contínuo. Educação A Respeito Permanente do Conhecimento em Saúde enodos Estado Saberes de Sergipe ATIVIDADE 18 Esperamos que essas discussões tenham contribuído para ampliação das caixas de ferramentas de cada aprendiz, e que estes voltem para os seus espaços de trabalho não apenas com maior acúmulo de conhecimento, mas, sobretudo, com desejo de crescimento e transformação social. 93 ATIVIDADE 19 Reunidos em subgrupo, retomem a situação-problema, dando continuidade à história de acordo com as orientações do facilitador. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Referências ARTMANN, Elizabeth. Planejamento estratégico situacional no nível local: um instrumento a favor da visão multissetorial. Cadernos da Oficina Social 3: Desenvolvimento Local, p. 98-119. Rio de Janeiro, 2000. BERBEL, Neusi Aparecida Navas (Org.). Metodologia da problematização: fundamentos e aplicações. Londrina-SP: UEL – COMPED/INEP, 1999. BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O que é educação. São Paulo: Brasiliense, 2007 (Coleção primeiros passos; 20). BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Texto promulgado em 05 de outubro de 1988. Brasília, Senado Federal. Secretaria Especial de Editoração e Publicações. Subsecretarias de Edições Técnicas, 2006. ______. Lei N. 8.080, de 19 de setembro de 1990. Diário Oficial de 20 de setembro de 1990. ______. Lei N. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União de 31 de dezembro de 1990. 94 ______. Ministério da Saúde. Política de educação e desenvolvimento para o SUS: caminhos para a educação permanente em saúde: pólos de educação permanente em saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Brasília, 2004. ______. Portaria GM/MS nº 198/2004, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a política nacional de educação permanente em saúde como estratégia do Sistema Único de Saúde para a formação e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e dá outras providências. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2004, seção I, p. 37 a 41. ______. Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implantação da política nacional de educação permanente em saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União. Poder Executivo, Brasília, DF, Nº 162, 22 de agosto, 2007. ______. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. HumanizaSUS: ambiência. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. ______. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: terceiros e quarto ciclos: apresentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998. ______. HumanizaSUS: clínica ampliada e compartilhada. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. BERBEL, Neusi Aparecida Navas (org). Metodologia da problematização. Paraná: UEL, 1999. CAMPOS, Gastão Wagner. Saúde Paideia. São Paulo: Hucitec, 2003. CECCIM, Ricardo Burg; FERLA, Alcindo Antônio. Educação e saúde: ensino e cidadania como travessia de fronteiras. Revista Trabalho Educação Saúde, v. 6 n. 3, p. 443-456, nov.2008 /fev.2009. Disponível em:< http://www.bvseps.epsjv.fiocruz.br> .Acesso em: 18 mai 2009. ______. Educação permanente em saúde. In: Pereira, Isabel Brasil; Lima, Júlio César (Coords). Dicionário da educação profissional em saúde. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Estação de Trabalho Observatório de Técnicos em Saúde (Orgs). Rio de janeiro: EPSJV, 2006. CECCIM, Ricardo B.; Feuerwerker, Laura C. M. O quadrilátero da formação para área de saúde; ensino, gestão atenção e controle social. Pysis: Rev. Saúde Coletiva. Rio de Janeiro, N 14, V. 1 P 41-65, 2004. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe ______. Um método para análise e co-gestão de coletivos: a constituição de sujeito, a produção de valor de uso e a democracia em instituições: o método da roda. São Paulo: Hucitec, 2000. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. 13ª ed. – São Paulo: Editora Ática, 2004. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. COELHO, Suzana Lanna Burnier. Pedagogia de Problemas. In: Pereira, Isabel Brasil; Lima, Júlio César (Coords). Dicionário da educação profissional em saúde. Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Estação de Trabalho Observatório de Técnicos em Saúde (Orgs). Rio de janeiro: EPSJV, 2006. DAVINI, Maria Cristina. Enfoques, problemas e perspectivas na educação permanente dos recursos humanos de saúde. In. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília/DF: Ministério da Saúde, 2009. DEMO, Pedro. Mitologias da Avaliação: de como ignorar em vez de enfrentar problemas. Campinas- SP, 2002. DEWEY, John. Experiência e Educação. Tradução de TEIXEIRA, Anísio. 2ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. DURÃO, Anna Violeta R. Educação Permanente em Saúde: história e redirecionamentos atuais. Rio de Janeiro: EPSJV/FIOCRUZ. [s.d]. Disponível em: <http://www.coc.fiocruz. br/> observatoriohistoria/simpósio/resumos/ durão AV. htm. Acesso em: 21 set 2009. ESTEBAN, Maria Teresa (Org). Avaliação: uma prática em busca de novos sentidos. 4 ed. Rio de Janeiro. DP&A, 2003. FOUCAULT, Michel, Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes,1977. ______. Microfísica do poder. 8 ed. Rio de Janeiro: Graal,1980. 95 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30. ed. São Paulo: Paz e Terra , 1996. (Coleção Leitura). FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. Giordano Bruno. Giuliano Montaldo. Itália, França, 1973. (DVD) HADDAD, J.; ROSCHKE, M. A.; DAVINI, M. C. Proceso de trabajo y educacion permanente de personal de salud: reorientacion y tendencias en america latina. Educación Médica y Salud. Vol. 24, N. 2, p 136 – 203. 1990. Haddad QJ. Elementos para el análisis y la caracterización del contexto em que se dan los processos educativos en los servicios de salud. Tendencias y perspectivas. In: Haddad QJ, Roschke MAC, Davini MC, editores. Educacion permanente de personal de salud. Washington, D.C.: OPS; 1994. Série desarollo de recursos humanos en salud, 100. HELMAN, Cecil G.. Cultura, Saúde e Doença. 4ª ed. – Porto Alegre: Artmed, 2003. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 11 ago 2010. Ilusão de ótica. Disponível em:< http://www.imol.com.br/ilusao_otica.htm >. Acesso em: 11 ago 2010. 96 JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de filosofia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. JODELET, Denise. As representações Sociais. Rio de Janeiro: Eduerj, 2002. KUENZER, Acácia Zeneida. Pedagogia da fábrica: as relações de produção e a educação do trabalhador. 6. ed., São Paulo: Cortez,2002. LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Tradução de PELLEGRINI, Tânia. 3ª ed. Campinas, São Paulo: Papirus: 2002. LOMONICO, Circe Ferreira . Coordenador pedagógico: o técnico e psicopedagogo institucional. 2. ed., São Paulo: Educon., 2003. MATTOS, Ruben Araújo. Os sentidos da integralidade: algumas reflexões acerca de valores que merecem ser defendidos. Disponível em: < http://www.uefs.br/pepscentroleste/ arquivos/artigos/os_sentidos_integralidade.pdf.> Acesso em: 25 jul. 2010. MATUS, Carlos. Política, planejamento & governo. Brasília: IPEA; 1993. Merhy EE. Em busca do tempo perdido: a micropolítica do trabalho vivo em saúde. In: Merhy EE, Onoko R, Organizadores. Agir em saúde: um desafio para o público. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 1997. MERHY, Emerson Elias. A Saúde pública como política: São Paulo, 1920-1948 os movimentos sanitários, os modelos tecnoassistenciais e a formação das políticas governamen- ______. Saúde: a cartografia do trabalho vivo. São Paulo: HUCITEC, 2002. ______. Do protagonismo/ liberdade à captura: um dilema permanente do agir e algumas de suas implicações para a prática da vigilância à saúde. In. ______ Introdução a Saúde Pública. São Paulo. Texto mimeo. Campinas, 1999. MERHY, E.E. et al. Em busca das ferramentas analisadoras das tecnologias em saúde: a informação do dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo o trabalho em saúde. In: MERHY, Emerson Elias; ONOKO, Rosana (Org). Agir em saúde: um desafio para o público. 2º ed. São Paulo: Hucitec, 1997. MERHY, Emerson Elias; ONOKO, Rosana (Org). Agir em saúde: um desafio para o público. 2º ed. São Paulo: Hucitec, 1997. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe tais. 2ª Ed. São Paulo: HUCITEC, 2006. MERHY, E. E; CAMPOS, G. W. S.; CECÍLIO, L. C. O. (Org). Inventando a mudança na saúde. 2 ed. São Paulo: Hucitec, 1997. MERHY EE, Feuerwerker LCM. Novo olhar sobre as tecnologias de saúde: uma necessidade contemporânea. In: Mandarino ACS, Gomberg E, organizadores. Leituras de novas tecnologias e saúde. São Cristóvão: Editora Universidade Federal de Sergipe, 2009. MERLOM, Álvaro Roberto Crespo. Psicodinâmica do Trabalho. In. JACQUES, Maria da Graça; CODO, Wanderley (orgs.). Saúde mental & trabalho: leituras. Rio de Janeiro, Petrópolis: Editora Vozes, 2002. MINAYO, Maria Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9ª Edição. São Paulo: Hucitec, 2006. MICHAELIS. Moderno dicionário da língua portuguesa. Disponível: www.michaelis.uol. com.br. Acesso em 28 out 2010. MOREIRA, Carlos Otávio Fiúza. Entre o indivíduo e a sociedade: um estudo da filosofia da educação de John Dewey. Bragança Paulista: EDUSF, São Paulo, 2002. MOREIRA, Marco Antônio. Aprendizagem Significativa. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1999. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de SILVA, Catarina Eleonora F. da; SAWAYA, Jeanne. Revisão técnica de CARVALHO, Edgard de Assis. 2ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000. PENAFORTE, Júlio César. John Dewey a as raízes filosóficas da aprendizagem baseada em problemas. In: Mamede, Silva; Penaforte, Júlio (Orgs). Anatomia de uma nova abordagem educacional. São Paulo: Ed. HUCITEC; Fortaleza: Escola de Saúde Pública, 2001. PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. (trad. Bruno Charles Magne); Porto Alegre: Artmed, 1999. 97 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe PERRENOUD, Phillipe. Práticas pedagógicas, profissão docente e formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992 PICCINI, R. X.; FACCHINI, L. A.; SANTOS, R.C. Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico. Preparando a transformação da educação médica brasileira: projeto CINAEM III fase: relatório 1999 -2000 / CINAEM. Pelotas: UFPel, 2000. POPPER, Karl. A lógica da Pesquisa Científica. 9ª ed. Editora Cultrix: São Paulo, 1993. RAMOS, M, N. A Pedagogia das competências: autonomia ou adaptação? 3 ed. São Paulo: Cortez, 2001. RIBEIRO et al. Atenção ao pré-natal na percepção das usuárias do Sistema Único de Saúde: um estudo comparativo. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 20(2):534-545, 2004. RONAY, Joel de. Conceitos e operadores transversais. In: MORIN, Edgar. A religação dos Saberes: O desafio do século XXI. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. cap 1, p 493-499. ROVERE, Mário R. ‘Gestion Estrategica de la Educacion Permanente em Salud’. In: Haddad Q, Jorge; Roschke, Maria Alice Clasen; Davini, Maria Cristina. Educacion Permanente de Personal de Salud. Série desarollo de recursos humanos en salud, Nº 100. Editores Washington, D.C.: OPS, E.U.A, 1994. 98 SANTOS, Rogério Carvalho. Saúde todo dia uma construção coletiva. São Paulo: HUCITEC, 2006. ______. A Reforma Sanitária do SUS Sergipe. Texto mimeo. Aracaju/ SE, 2009. Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. Centro de Educação Permanente da Saúde (CEPS). Detalhamento e roteiro metodológico. Oficina acolhimento do risco no território. Aracaju, SE, 2002. SERGIPE. Secretaria de Estado da Saúde/SES. Indicadores de Saúde. Disponível em: < www.ses.se.gov.br.> Acesso em:11 ago 2010. ______. Lei Estadual Nº 6.345 de 02 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde no Estado de Sergipe. Aracaju, Diário Oficial Nº 25.424, 2008. ______. Lei Estadual Nº 6.348 de 02 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a autorização para a criação da Fundação Estadual de Saúde – FUNESA. Aracaju, Diário Oficial Nº 25.424, 2008. ______. Lei Estadual nº 6.346 de 02 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a autorização da criação da Fundação de Saúde “Parreiras Horta” - FSPH. Aracaju, Diário Oficial nº 25.424, 2008. ______. Lei Estadual nº 6.347 de 02 de janeiro de 2008. Dispõe sobre a autorização para a criação da Fundação Hospitalar de Saúde – FHS. Aracaju, Diário Oficial nº 25.424, 2008. ______. Secretaria de Estado da Saúde. Plano Estadual de Educação Permanente. Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe – ETSUS/SE. Aracaju/SE, 2007. ______. Plano Estadual de Educação Permanente. Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe – ETSUS/SE. Aracaju/SE, 2008. ______. Política Estadual de Educação Permanente. Escola Técnica de Saúde do SUS em Sergipe – ETSUS/SE. Aracaju/SE, 2008. ______. Escola Técnica de Saúde do SUS. Termo de referência para elaboração do material didático pedagógico a ser utilizado nas atividades de educação permanente da Secretaria de Estado da Saúde. Aracaju: Escola Técnica de Saúde do SUS 2008. Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe ______. Lei Estadual nº 6.299 de 19 de dezembro de 2007. Institui o Programa Estadual de Parcerias Público Privada de Sergipe. Aracaju, Diário Oficial nº 25418, 2007. ______. Resolução Nº 48/07 da Comissão Intergestores Bipartite de Sergipe de 15 de outubro de 2007. Comissão Intergestores Bipartite de Sergipe. Aracaju/SE, 2007. ______. Deliberação Nº 11/08 do Colegiado Interfederativo Estadual de Sergipe de 05 de dezembro de 2008. Colegiado Interfederativo Estadual de Sergipe. Aracaju/ SE, 2008. ______. Política Estadual de Atenção Básica. Coordenação Estadual de Atenção Básica. Aracaju/SE, 2007. ______. Projeto de Reforma do Estado – Atenção Ambulatória Especializada. Coordenação Estadual de Atenção Especializada. Aracaju/SE, 2008. ______. Diretrizes da Atenção Hospitalar no Estado de Sergipe. Coordenação Estadual de Atenção Hospitalar. Aracaju/SE, 2007. ______. Política de Atenção Psicossocial do Estado de Sergipe. Coordenação Estadual de Atenção Psicossocial. Aracaju/SE, 2007. ______. Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas. Implantação de serviços ambulatoriais e hospitalares de diagnose e cuidado especializado: uma obra do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de Sergipe. Aracaju: PROPPPSE; 2009. SILVA BUENO, Wanderlei; ROLLO, Adail Almeida. Planejamento Estratégico e Sistema de Gestão. LAPA – Laboratório Aplicado de Planejamento e Administração. Apoio: Projeto Escola de Governo – UNICAMP. Programa temático multiinstitucional em Planejamento e Gestão (PROTEM PG) - CNPQ. SP:Campinas, [S.D]. SILVA JÚNIOR, João dos Reis; CARVALHO, Celso Prado de Ferraz. Novas faces da educação superior no Brasil: o neopragmatismo institucionalizado. EccoS – Revista Científica, v. 5, n. 1, 2003. SILVA JÚNIOR, Aluísio Gomes; MERHY, Emerson Elias; CARVALHO, Luis Cláudio. Refletindo sobre o ato de cuidar da saúde. Disponível em:< http://www.uff.br/cedoc/arqui- 99 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 100 vos/9.pdf.> Acesso em: 11 ago 2010. SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 2ª Ed. 11ª reimpressão. Belo Horizonte: autêntica, 2007. VASCONCELOS, E. M. . A espiritualidade na educação popular em saúde. In: 27 Reunião Anual da Anped - Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, 2004, Caxambu, 2004. VICENTINO, Cláudio. História Geral. 8ª Edição e 6ª Reimpressão. São Pulo: Scipione, 1997. Anexos Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Anexo 1 Informações Sociais e de Saúde do Estado de Sergipe As informações abaixo possibilitam uma visão geral do cenário do Estado de Sergipe, tanto do âmbito social como de Saúde. 1. INTRODUÇÃO: O Estado de Sergipe, de acordo com os dados do IBGE do ano de 2009, apresenta um território de 21.910,348 km, possui 75 municípios, e tem uma população estimada de 2.019.679 pessoas. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade em 2009 foi de 16,9%, enquanto a taxa de analfabetismo funcional das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi de 26,5%. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, 2008, Sergipe possuía no ano de 2008, 77,4% dos domicílios particulares permanentes cadastrados a uma Unidade do Programa de Saúde da Família. 102 O Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003, identificaram no Estado de Sergipe a incidência de pobreza de 47,80%. 2. SISTEMA DE SAÚDE E REDES INTERFEDERATIVAS: Do ponto de vista Sanitário, o Estado de Sergipe pode ser considerado uma macrorregião de saúde, dividido em sete regiões de saúde conforme apresenta o quadro abaixo: Quadro 01: regiões de saúde do estado de Sergipe ESTIMATIVA 2010 731.394 303.300 227.257 230.544 240.792 155.172 147.818 Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - SE, 2010. Busca-se desta forma construir um sistema que seja o resultado da integração e cooperação solidária entre os entes federados: Estado, municípios e União, e não a soma das partes. Para a consolidação da atenção à saúde integral os entes federados estão organizando a rede interfederativa de saúde, que é o conjunto de estabelecimentos de saúde articulados em redes, que se complementam na tarefa de garantir atenção integral e universal à saúde dos cidadãos no Estado. Educação Permanente ANEXOS em Saúde no Estado de Sergipe O SUS no Estado de Sergipe está organizado de modo a se constituir como um Sistema de Saúde que seja a somatória das capacidades de gerência, gestão, normatização, produção e financiamento dos entes federados para viabilizar a execução do planejamento elaborado conjuntamente, a fim de garantir acesso universal e atenção integral à população prevalente no território estadual. Para regular o acesso universal, integral e equânime o Sistema Estadual de Saúde conta com o SIGAU – Sistema Interfederativo de Garantia de Acesso que já vem funcionando com três centrais de regulação: central de serviços ambulatoriais especializados, central de tratamento fora do domicílio e central dos serviços de transplantes. As centrais de urgência e emergência e central de serviços hospitalares se encontram em fase de implantação. O sistema estadual de saúde tem como porta de entrada os serviços que atendem demanda espontânea: clínicas de saúde da família; unidades de urgência e emergência, incluindo o SAMU; centros de atenção psicossocial (CAPS); e os centros de testagem e aconselhamento para DST/AIDS. Os gestores do SUS dispõem no Estado de um espaço de pactuação e consenso onde são definidas questões referentes ao financiamento, organização e funcionamento das redes interfederativas de atenção e do Sistema Estadual de Saúde. O Colegiado Interfederativo Estadual – CIE se constitui no espaço de gestão interfederativo, formado pelos gestores representantes de cada região de saúde, pelo gestor da capital do Estado e pelo gestor estadual. Os Colegiados Interfederativos Regionais – CIRs são formados por todos os gestores da região de saúde e pelo gestor estadual. É papel do Estado como gestor de sistema estadual: ser indutor de políticas, produtor complementar de ações e serviços de saúde e coordenador de sistema estadual. A rede interfederativa de saúde no Estado de Sergipe é composta por cinco tipos de estabelecimentos de saúde: clínicas de saúde da família; CAPS (Centros de Atenção Psicossocial); centros ambulatoriais especializados, hospitais e unidades de urgência e emergência. Para um panorama geral destas redes podemos apresentar as seguintes informações: Atenção Básica: possui cobertura em todo o Estado de Sergipe. A rede de 103 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe atenção básica adotou para a organização das suas ações a estratégia do Programa Saúde da Família (PSF). Os dados apresentam a seguinte situação para a atenção básica no Estado de Sergipe: - Número de Equipes PSF: 574 - Número de Equipes de Saúde Bucal: 363 - Número de Agentes comunitários de saúde: 3.883 - Número de Famílias Cadastradas: 549.556 - Cobertura do PSF no território de Sergipe: 87,24% Fonte: SIAB, competência setembro/2010 – Secretaria de Estado da Saúde - SE Atenção Psicossocial: trabalha com a concepção do cuidado em liberdade e em modalidades assistenciais que resultem na desospitalização e reabilitação psicossocial dos pacientes. No ano de 2009 o Estado de Sergipe contava com a seguinte rede de atenção psicossocial: 104 - 18 Residências terapêuticas (RT) distribuídas da seguinte forma: Aracaju (4 RT), Nossa Senhora de Socorro (8 RT), Nossa Senhora da Glória (3 RT), Itabaiana (1 RT) e Lagarto (1 RT). - Contava com 1 Clínica para internação psiquiátrica em Aracaju e 1 Serviço para Atendimento de Urgência e Emergência em Saúde Mental também localizado em Aracaju. - Contava ainda com 30 Centros de Atenção Psicossocial distribuídos nas sete regiões de saúde: Aracaju (3 CAPS III, 1 CAPS I, 1 CAPS AD (álcool e outras drogas) e 1 CAPS infantil); Itabaiana (1 CAPS I e 1 CAPS AD); São Cristóvão (1 CAPS I e 1 CAPS II); Nossa Senhora de Socorro (1 CAPS AD e 02 CAPS II); Itabaianinha, Itaporanga D’ajuda, Japoatã, Aquidabã, Barra dos Coqueiros, Estância, Canindé de São Francisco, Lagarto, Maruim, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Poço verde, Propriá, Riachão do Dantas, Salgado, Simão Dias e Tobias Barreto (1 CASPS I em cada um destes municípios). Atenção ambulatorial especializada: a atenção especializada conta com serviços especializados de gestão estadual localizados no município de Aracaju: o Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM); o Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (CADI); e o CASE. Além desses equipamentos o Estado conta ainda com uma rede de Centros de Especialidades Regionais (CER) com capacidade de realização de atendimento especializado à população, e Centro de Reabilitação, localizados nos município de Itabaiana e Propriá. Para complementar a capacidade de ofertar exames e consultas especializadas em nível ambulatorial, o Estado conta com uma rede de clínicas e laboratórios contratados. Atenção Hospitalar: conforme levantamento de dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES), em dezembro de 2009 a rede hospitalar do Estado de Sergipe é constituída por 58 hospitais e 3.596 leitos, sendo 19 hospitais e 2.103 leitos na capital e 39 hospitais e 1.493 leitos no interior, distribuídos geograficamente em 40 municípios. Quanto à natureza jurídica, 31 privados, sendo 10 com fins lucrativos e 21 privados sem fins lucrativos; 27 públicos, sendo 09 estaduais, 17 municipais e 1 federal. Trinta e quatro (34) unidades hospitalares estão sob gestão estadual e 15 unidades sob gestão municipal. Estes dados são constantemente atualizados com frequentes modificações em seus números. A rede hospitalar passa por investimentos com reformas, ampliações, construções e investimentos em adensamento tecnológico que estão resultando na organização de uma rede descentralizada formada por hospitais locais, hospitais regionais e hospitais especializados onde estão incluídos o HUSE, e as maternidades de baixa e alta complexidade. SAMU: adotou organização geocêntrica das bases descentralizadas, para garantir resposta às emergências em todo o território estadual. Sua estrutura conta com viaturas e bases descentralizadas de atendimento para tempo-resposta máximo de 30 minutos em qualquer ponto do Estado. Atua com 36 bases descentralizadas no Estado de Sergipe. 3. ALGUNS INDICADORES SOCIAIS E DE SAÚDE DO ESTADO DE SERGIPE: PNAD - Acesso e Utilização dos Serviços, Condições de Saúde e Fatores de Risco e Proteção à Saúde 2008. População residente que autoavaliou seu estado de saúde como muito bom ou bom 73,7 % População residente que realizou consulta médica nos 12 meses anteriores à data da entrevista 70,3 % População residente que consultou dentista nos 12 meses anteriores à data da entrevista 37,1% População residente que declarou ter alguma doença crônica 26,0 % População residente com cobertura de plano de saúde 16,4 % População residente que sofreu alguma internação hospitalar nos 12 meses anteriores à data da entrevista 6,7 % Mulheres de 40 anos ou mais de idade que fizeram exame clínico das mamas realizado por médico ou enfermeiro nos 12 meses anteriores à data da entrevista 28,7 % Mulheres de 50 a 69 anos de idade que fizeram exame de mamografia nos 2 anos anteriores à data da entrevista 46,9 % Educação Permanente ANEXOS em Saúde no Estado de Sergipe Estimativas da Secretaria Estadual de Saúde apontam para a necessidade de ampliar em até 75% a oferta de exames e consultas especializadas em algumas áreas. Por isso é que existe um plano de investimento para ampliar a oferta através das seguintes ações: dotar todas as regiões de saúde de Centros de Especialidades Regionais e Centros de Reabilitação, ampliar a capacidade produtiva nas especialidades clínicas e o adensamento tecnológico nos serviços próprios do Estado localizados na capital do Estado, construção e implantação de Centros de Especialidades Odontológicas e Farmácias Populares nas regiões de saúde. 105 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe 106 Mulheres de 25 a 59 anos de idade que fizeram exame preventivo para câncer do colo do útero nos 3 anos anteriores à data da entrevista 77,9 % População residente, que sempre ou quase sempre dirigia ou andava como passageiro de automóvel 24,2 % Pessoas que dirigiam ou andavam como passageiros no banco da frente de automóvel ou van, que sempre ou quase sempre usavam cinto de segurança no banco da frente 56,8 % Domicílios particulares permanentes cadastrados no programa Unidade de Saúde da Família 77,4 % Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Acesso e Utilização dos Serviços, Condições de Saúde e Fatores de Risco e Proteção à Saúde 2008. Mapa de Pobreza e Desigualdade - Municípios Brasileiros 2003 Incidência da Pobreza47,80 % Limite inferior da Incidência da Pobreza 45,05 % Limite superior da Incidência da Pobreza 50,55 % Incidência da Pobreza Subjetiva51,46 % Limite inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva 48,80 % Limite superior da Incidência da Pobreza Subjetiva 54,13 % Índice de Gini0,50 % Limite Inferior do Índice de Gini 0,47 % Limite Superior do Índice de Gini 0,52 % Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF 2002/2003. NOTA: a estimativa do consumo para a geração destes indicadores foi obtida utilizando o método da estimativa de pequenas áreas dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002). Indicadores Sócio-demográficos e de Saúde em Sergipe Percentual de nascidos vivos, cujas mães têm idade entre 15 e 19 anos, 2006 21,1 % Percentual de nascidos vivos, cujas mães realizaram 7 ou mais consultas pré-natal, 2006 45,7 % Taxa de Fecundidade Total, 20052,15 TFT Taxa de Fecundidade Total, mulheres com até 3 anos de estudo, 2005 3,10 TFT Taxa de Fecundidade Total, mulheres com 8 anos ou mais de estudo, 2005 1,34 TFT Diferença entre o número de filhos de mulheres com até 3 anos de estudo e as de 8 anos ou mais, segundo as Unidades da Federação, 2005 - Diferenças no número de filhos 1,76 TFT Anos de vida perdidos por causas violentas 2005 – Mulheres 0,64 Anos Anos de vida perdidos por causas violentas 2005 - Homens 3,50 Ano Figuras Vasos ou faces ? Educação Permanente ANEXOS em Saúde no Estado de Sergipe Anexo 2 Onde é o teto e onde é o chão? 107 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Focalize seu olhar no pontinho preto no centro do círculo... Agora movimente-se para frente e para trás... (ainda olhando para o pontinho) 108 Imagens disponíveis em: http://www.imol.com.br/ilusao_otica.htm. Acesso em: 11 ago 2010 Metamorfose Ambulante Raul Seixas Prefiro ser essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes Educação Permanente ANEXOS em Saúde no Estado de Sergipe Anexo 3 Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator É chato chegar a um objetivo num instante Eu quero viver essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que é o amor Sobre o que eu nem sei quem sou Hoje eu sou estrela amanhã já se apagou 109 Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou lhes dizer aquilo tudo que eu lhes disse antes Prefiro ser essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo 110 Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo LIVROS DA COLEÇÃO LIVROS DA COLEÇÃO Volume 1 – A Reforma Sanitária e Gerencial do SUS no Estado de Sergipe Volume 2 – Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Volume 3 – Atenção Hospitalar no Estado de Sergipe Volume 4 – Manual Técnico Operacional da Central SAMU 192 Sergipe Volume 5 – Atenção Básica no Estado de Sergipe Volume 6 – Vigilância Epidemiológica no Estado de Sergipe Volume 7 – Atenção à Saúde Bucal no Estado de Sergipe Volume 8 – Atenção Psicossocial no Estado de Sergipe Educação Permanente em Saúde no Estado de Sergipe Saberes e tecnologias para implantação de uma política
Download